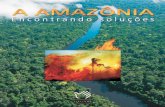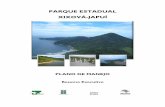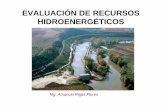de recursos pesqueiros em reservatórios do brasil - Meio ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of de recursos pesqueiros em reservatórios do brasil - Meio ...
Editora da Universidade Estadual de Maringá
Reitor:Vice-Reitor:Diretor da Eduem:Editor-Chefe da Eduem:
CONSELHO EDITORIALProf. Dr. Antonio Belincanta, Prof. Dr. Benedito Prado Dias Filho, Prof. Dr. CarlosAlberto Scapim, Prof. Dr. Edson Carlos Romualdo, Prof. Dr. Eduardo AugustoTomanik, Prof. Dr. Edvard Elias de Souza Filho, Profa. Dra. Hilka Pelizza Vier Machado,Prof. Dr. José Carlos de Sousa, Prof. Dr. Luiz Antonio de Souza, Prof. Dr. LupércioAntonio Pereira, Prof. Dr. Neio Lucio Peres Gualda.
Prof. Dr. Décio SperandioProf. Dr. Mário Luiz Neves de AzevedoProf. Dr. Ivanor Nunes do PradoProf. Dr. Alessandro de Lucca e Braccini
ECOLOGIA E MANEJODE RECURSOS PESQUEIROS
EM RESERVATÓRIOSDO BRASIL
Angelo Antonio AgostinhoLuiz Carlos Gomes
Fernando Mayer Pelicice
Maringá2007
“Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)”(Biblioteca Setorial – UEM. Nupélia, Maringá, PR, Brasil)
Copyright © 2007 para os autoresTodos os direitos reservados. Proibida a reprodução, mesmo parcial, por qualquer processo mecânico,
eletrônico, reprográfico, etc., sem a autorização, por escrito, dos autores.Todos os direitos reservados desta edição © 2007 para Eduem.
Divisão de Projeto GráficoMarcos Kazuyoshi Sassaka
Divisão de MarketingMarcos Cipriano da Silva
Revisão de Língua PortuguesaProf. Dr. Antonio Augusto de Assis
Capa – arte finalJaime Luiz Lopes Pereira
Projeto Gráfico e EditoraçãoJaime Luiz Lopes Pereira
NormalizaçãoBiblioteca Setorial do NupéliaMaria Salete Ribelatto AritaMárcia Regina Paiva
Tiragem1000 exemplares
Maria Salete Ribelatto Arita CRB 9/858João Fábio Hildebrandt CRB 9/1140Márcia Regina Paiva CRB 9/1267
Endereço para correspondência:Eduem – Editora da Universidade Estadual de MaringáAvenida Colombo, 5790 – Campus Universitário – 87020 – 900 –Maringá – Paraná – BrasilFone: (0XX44) 3261-4527/3261-4394 – Fax: (0XX44) 3261-4394Site: http://www.eduem.uem.br – E-mail: [email protected]
As descobertas, interpretações e conclusões expressas neste livro são de responsabilidade dos autores,e não refletem, necessariamente, as posições da Eletrobrás ou do governo que ela representa.
Agostinho, Angelo Antonio, 1950-A275e Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil / Angelo
Antonio Agostinho, Luiz Carlos Gomes, Fernando Mayer Pelicice. -- Maringá :Eduem, 2007.
501 p. : il.
Bibliografia: p.[455]-501.ISBN
1. Pesca de água doce – Reservatórios – Brasil. 2. Recursos pesqueiros –Manejo – Reservatórios – Brasil. 3. Ecologia de reservatórios – Brasil. I. Gomes,Luiz Carlos, 1965- . II. Pelicice, Fernando Mayer, 1977-.
CDD 22. ed. - 639.210981 NBR/CIP - 12899 AACR/2
UEM - Nupélia
Universidade Estadual de Maringá - UEMNúcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura – Nupélia
Diretora do Centro de Ciências Biológicas: Prof. Dr. Sonia Lucy Molinari. Vice-Diretora doCentro de Ciências Biológicas: Prof. Dr. Izabel de Fátima Andrian. Coordenador Geral do Nupélia:Prof. Dr. Horácio Ferreira Júlio Junior. Vice-Coordenador Geral do Nupélia: Prof. Dr. SamuelVeríssimo. Coordenadora Administrativa do Nupélia: Maria Claudia Zimmermann Callegari.Coordenador Científico do Nupélia: Prof. Dr. Luiz Carlos Gomes. Coordenador Geral do Projeto:Prof. Dr. Angelo Antonio Agostinho
Patrocínio
Apoio
EletrobrásDepto. do Meio Ambiente
U M PA ÍS D E T O D O S
U M PA ÍS D E T O D O SMinistério de Minas e energiaMinas e Energia
Ministério de Ciências e TecnologiaCiências e Tecnologia
Agradecimentos
A Eletrobrás. pelo patrocínio desta obra;
Ao Setor Elétrico Brasileiro, que disponibilizou dados históricos sobre os estudos conduzidosnos seus diversos reservatórios. Especial agradecimento para as concessionárias ligadas aEletrobrás (Chesf, Eletronorte, Furnas e Itaipu Binacional) ou não (Cemig, Cesp, Copel, DukeEnergy e Tractebel), cujas informações foram fundamentais para essa realização;
Ao Pronex/CNPq pelo apoio aos estudos de 30 reservatórios paranaenses;
A Carla Canzi, Maria Luiza Millazo e Rodrigo Martins Amorim, do Departamento do MeioAmbiente da Eletrobrás, pela leitura criteriosa e importantes contribuições dadas durante ostrabalhos de revisão;
Ao Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia), que disponibilizoudados e infra-estrutura;
A Bibliotecária Maria Salete Ribelatto Arita, pelo rigor na normalização da obra e o incentivodado;
Ao Jaime Luiz Lopes Pereira, pela diagramação e arte do livro e a paciência na correção dosnossos erros;
Ao Dr Miguel Petrere Jr, pela revisão do manuscrito e as palavras de incentivo;
Ao Professor Antonio Augusto de Assis, pela paciente revisão gramatical;
Aos alunos da disciplina “Ecologia e Administração Pesqueira em Reservatórios”, que pacientee compulsoriamente leram todos os capítulos dessa obra, com numerosas sugestões, sendoque a maior parte delas considerada em nossa revisão;
A Editora da Universidade Estadual de Maringá (Eduem) e ao seu diretor pela atençãodispensada na etapa de impressão;
A Helena São Thiago (Furnas Centrais Elétricas) e ao Domingo Rodriguez Fernandez (ItaipuBinacional) pela disponibilidade nas discussões de alguns dos temas tratados nessa obra.
Ao economista Jair Gregoris, pelo empenho no gerenciamento do projeto;
Ao Pitágoras Augusto Piana, pela sistematização das informações enviadas pelo Setor Elétrico;
E, por fim, aos nossos familiares, pela tolerância com a nossa ausência.
Sumário
Capítulo 1Introdução ......................................................................................................................... 1
Dificuldades na conservação e preservação de recursos pesqueiros ..................... 3
Capitulo 2A Ictiofauna Sul-Americana .......................................................................................... 11
Introdução ...................................................................................................................... 12História natural de peixes neotropicais ..................................................................... 13Estratégias de vida ........................................................................................................ 14Reprodução e sazonalidade ........................................................................................ 15Migração ......................................................................................................................... 17Uso do espaço ................................................................................................................ 27Alimentação natural ..................................................................................................... 33Considerações finais ..................................................................................................... 37
Capítulo 3Os Reservatórios Brasileiros e sua Ictiofauna ............................................................ 39
3.1 Os Reservatórios Brasileiros .................................................................................. 41Introdução.................................................................................................................... 41A evolução dos represamentos no Brasil ................................................................. 43Os reservatórios por bacias hidrográficas ............................................................... 49Considerações finais .................................................................................................. 59
3.2 A Ictiofauna de Reservatórios ................................................................................ 69Introdução.................................................................................................................... 69Diagnóstico da ictiofauna ......................................................................................... 74Riqueza de espécies .................................................................................................... 78Abundância ................................................................................................................. 81Riqueza e composição dominante ............................................................................ 85Espécies migradoras ................................................................................................... 92Estrutura trófica .......................................................................................................... 94Considerações finais .................................................................................................. 97
Capítulo 4Impactos dos Represamentos ...................................................................................... 107
Introdução ..................................................................................................................... 108Corpo do reservatório ................................................................................................... 109Jusante do reservatório ................................................................................................. 138Montante do reservatório ............................................................................................. 148Na barragem .................................................................................................................. 148Efeitos cumulativos ...................................................................................................... 149Considerações finais .................................................................................................... 151
Capítulo 5A Pesca em Reservatórios ............................................................................................. 153
5.1 A Exploração e os Recursos Pesqueiros ............................................................... 155Introdução .................................................................................................................... 155A complexidade da conservação de recursos pesqueiros ..................................... 156
5.2 Rendimento da Pesca em Reservatórios ............................................................... 163Introdução .................................................................................................................... 163A pesca em reservatórios tropicais ........................................................................... 165Diagnóstico da pesca em reservatórios brasileiros ................................................ 168Considerações finais ................................................................................................... 190
5.3 Aspectos Socioeconômicos da Pesca .................................................................... 195Introdução .................................................................................................................... 195Diagnóstico socioeconômico da pesca ..................................................................... 198Considerações finais ................................................................................................... 225
Capítulo 6Manejo da Pesca em Reservatórios Brasileiros ........................................................ 227
6.1 Mecanismos de Transposição ............................................................................... 231Introdução .................................................................................................................... 231A experiência brasileira ............................................................................................. 237Transposição x conservação ..................................................................................... 239Considerações finais ................................................................................................... 251
6.2 Estocagem ................................................................................................................. 253Introdução .................................................................................................................... 253
Aspectos históricos das estocagens .......................................................................... 255O insucesso da estocagem: lições a serem aprendidas .......................................... 260Implicações nos recursos naturais ........................................................................... 267Considerações finais ................................................................................................... 273
6.3 Aqüicultura .............................................................................................................. 275Introdução .................................................................................................................... 275Problemas na aqüicultura brasileira ........................................................................ 276Distorções na atividade .............................................................................................. 280Problemas socioambientais ....................................................................................... 285Pescador x aqüicultor ................................................................................................. 300Considerações finais ................................................................................................... 305
6.4 Mortandade de Peixes em Barragens .................................................................... 307Introdução .................................................................................................................... 307Causas das injúrias e mortes de peixes .................................................................... 308Vertedouro ................................................................................................................... 310Turbinas ....................................................................................................................... 314Atração e mortalidade de peixes no tubo de sucção .............................................. 320Considerações finais ................................................................................................... 322
6.5 A Remoção Prévia da Vegetação ........................................................................... 323Introdução .................................................................................................................... 323Importância da estruturação dos hábitats ............................................................... 323Processo de decomposição ......................................................................................... 327Erosão ........................................................................................................................... 328Qualidade da água ..................................................................................................... 328Produtores primários .................................................................................................. 330Invertebrados do plâncton e bentos .......................................................................... 332Peixes ............................................................................................................................ 333Pesca ............................................................................................................................. 336Considerações finais ................................................................................................... 336
6.6 Introdução de Espécies ........................................................................................... 339Introdução .................................................................................................................... 339Aspectos conceituais, teóricos e operacionais ........................................................ 341Processos envolvidos nas introduções ..................................................................... 344Razões para introduções ............................................................................................ 347Impactos das introduções .......................................................................................... 349Espécies não-nativas em reservatórios ..................................................................... 356Predição da colonização e de impactos ................................................................... 364
Considerações finais ................................................................................................... 371
6.7 O Controle da Pesca ............................................................................................... 373Introdução .................................................................................................................... 373Formas de controle da pesca ..................................................................................... 375Considerações finais ................................................................................................... 381
Capítulo 7As Ações Ambientais em Andamento no Setor Elétrico Brasileiro ...................... 383
Introdução .................................................................................................................... 384Recursos humanos e instalações .............................................................................. 384Ações ambientais ........................................................................................................ 386Instrumentos de manejo da pesca ............................................................................. 388Usos múltiplos ............................................................................................................ 390Monitoramento ambiental .......................................................................................... 391Disponibilidade da informação ................................................................................ 396Considerações finais ................................................................................................... 402
Capítulo 8Perspectivas para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios ............... 403
Introdução .................................................................................................................... 404Pressupostos para ações bem sucedidas ................................................................. 405Natureza das ações ambientais ................................................................................ 413Manejo de populações ................................................................................................ 423Manipulação de hábitats ........................................................................................... 432Controle da pesca ........................................................................................................ 439Outras ações ................................................................................................................ 442
Capítulo 9Referências ...................................................................................................................... 455
Apresentação
Quando uma nova represa é construída, oupor qualquer motivo se faz referência aalguma já existente, em geral osplanejadores se esquecem da pesca depequena escala que rapidamente nela sedesenvolve. E os recursos pesqueiros são afonte de proteína mais facilmentedisponível e mais barata para o pobre,gerando emprego, renda e senso decidadania, além de se constituírem empermanente lazer através da pescaesportiva.
Assim este livro, escrito a seis mãos, éoportuníssimo, lançando luzes sobre esseimportante tema. Ele é conseqüência de umconvênio pioneiro e exemplar, firmado hámais de 20 anos, entre a UEM/Nupélia e aItaipu Binacional, que tornou Itaipu oreservatório de grande porte melhorestudado na região Neotropical, epossibilitou aos seus autores uma raraoportunidade em nosso país, a deestudarem e aprenderem de modocontínuo, como funciona sua biocenose.
Daí, baseados nesse estudo de caso, etambém em outros estudos resultantes deparcerias mais recentes entre o Nupelia eoutras concessionárias de energia (Furnas eCopel) ou órgãos de fomento (Pronex-CNPq), seus autores fizeram uma extensãomuitíssimo apropriada para outrosreservatórios brasileiros.
As idéias que jorram deste livro belotornam sua leitura um encantopermanente, revelando grande dedicaçãoao trabalho de campo, absoluto domínio daliteratura e extraordinária criatividadecientífica.
Sua publicação dignifica a ciênciabrasileira, e de modo muito particular,sutil até, faz bem para nossa auto-estima,(nós) colegas de seus autores.
Prof. Dr. Miguel Petrere JuniorUnesp – Rio Claro
Prefácio
Os reservatórios são hoje componentesindissociáveis da paisagem brasileira,presentes em todas as grandes baciashidrográficas. Resultado da opção feitapelo país para a geração de energiaelétrica, essas obras de engenharia têmproliferado de forma fantástica edesempenham papel preponderante namatriz energética nacional.
Embora a operação dessas obras para finsenergéticos produza inegáveis benefíciossociais e econômicos para o país, é tambémincontestável a importância dos impactosnegativos que causam sobre o ambiente, asociedade, a cultura e mesmo a setores daeconomia.
Na tentativa de atenuar esses impactosnegativos, especialmente sobre os recursospesqueiros, o setor hidrelétrico, muitasvezes constrangido por determinaçõeslegais, adotou medidas de manejo que, namaioria dos casos, se revelaram ineficazesou mesmo produziram resultadosadversos. A escassez de informações sobreo sistema a ser manejado, o predomínio dadecisão político-eleitoreira sobre a técnica,os equívocos da legislação sobre o tema e aausência de um planejamento global paraas ações são aspectos responsáveis poresses resultados. Além disso, a ausência demonitoramento das ações empreendidasnão nos permitiu aprender com os erroscometidos.
Nas últimas duas décadas, entretanto, osetor vem investindo em levantamentos eestudos de seus reservatórios, buscando oentendimento do sistema que quermanejar. Essa busca gerou grande parte doconhecimento hoje disponível sobre alimnologia, a ictiologia e a exploração dosrecursos pesqueiros de ambientesaquáticos continentais na regiãoneotropical. Essa obra pretendecontextualizar os problemas (Capítulo 1),sumarizar esse conhecimento (Capítulos 2a 5), avaliar as ações de manejoempreendidas e em andamento (Capítulo 6e 7) e apresentar as perspectivas para aracionalização dos esforços para mitigaçãodos impactos dos represamentos e dasações de manejo (Capítulo 8).
Nesse sentido, cabe agradecer à Eletrobráspelo patrocínio deste documento,isentando-a da responsabilidade pelasopiniões, interpretações e conclusõesapresentadas, atribuindo-asexclusivamente aos autores. Por oportuno,agradecemos às concessionárias ligadas aessa holding (Chesf, Eletronorte, Furnas eItaipu Binacional) ou não (Cemig, Cesp,Duke Energy, Tractebel e Copel) peladisponibilização de dados e informações.
Finalmente, ressalta-se que esse livro nãotem a pretensão de esgotar o assunto ousequer se constituir em obra acabada.Como todo conhecimento ele estará
sempre em revisão e construção. O caráterprovocativo na abordagem de assuntospolêmicos, muitas vezes apresentandoconclusões sobre temas que ainda carecemde estudos e discussões, foi proposital evisa receber contestação. É oportunodestacar também que a obra está pronta háquase um ano e, por questões burocráticas,somente agora foi publicada. A julgar o
crescente desenvolvimento científiconacional sobre o assunto nas últimasdécadas, um ano é bastante tempo emrelação a geração de novos conhecimentos.Entretanto, embora não citados, estesnovos aportes não alteram nossasconclusões. Pelo contrário, as confirmam.
Os autores
Capítulo 1Introdução
Nos últimos anos, o foco das ações de governo sobre o
combate à fome mediante o uso de águas públicas para a
produção de alimento lançou luzes sobre o grave problema da
pesca e dos recursos pesqueiros em águas interiores,
especialmente em reservatórios. A despeito da necessária
urgência de ações de manejo que incrementem a produção de
pescado, estas devem ser planejadas com base em um amplo
diagnóstico do uso múltiplo em reservatórios e, principalmente,
de uma avaliação de experiências anteriores no uso de táticas
similares. Neste documento, concebido com o objetivo de
subsidiar as discussões sobre o tema, pretende-se elaborar um
diagnóstico abrangente acerca da produção de peixes em
reservatórios e avaliar as iniciativas de manejo pregressas,
analisando as perspectivas para novas ações.
2 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Atualmente, os reservatórios artificiais, emespecial aqueles de usinas hidrelétricas, estãopresentes em todas as grandes baciashidrográficas brasileiras e, em algumasregiões, caracterizam de forma marcante apaisagem local. Essas obras de engenhariaprovocam importantes modificações deordem econômica, social e ambiental nasbacias em que são instaladas, em grandeparte decorrente das alterações impostas nadinâmica natural dos recursos pesqueiros.
Em algumas bacias, como a do rio Paraná eSão Francisco, poucos trechos de riopermanecem sem a influência derepresamentos, preservando suascaracterísticas lóticas originais. A opçãobrasileira pela hidroeletricidade e a crescentedemanda de energia permitem antever que aocupação de novas bacias hidrográficas ousub-bacias será inevitável. As perdas nabiodiversidade local e as alterações impostasno funcionamento dos ecossistemas sãofenômenos cada vez mais popularmentecompreensíveis e a implementação demedidas atenuadoras de impacto é agora umaexigência ética demandada pela sociedade.
Ao longo do século XX, a construção dereservatórios nos rios brasileiros foiacompanhada pela adoção de uma série deações de manejo, com ênfase na pesca.Entretanto, as ações implementadas pelosetor elétrico com o objetivo de minimizaros impactos dos represamentos, preservarestoques pesqueiros ou aumentar o rendi-mento da pesca em seus reservatórios podemser, até agora, consideradas malsucedidas,exceto em casos esporádicos.
O baixo rendimento da pesca profissionalnos reservatórios do Sul-Sudeste do Brasil(PETRERE JUNIOR; AGOSTINHO, 1993; CESP, 1996) eo virtual desaparecimento das espécies demaior porte naqueles do alto rio Paraná(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994;
PETRERE JUNIOR; AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR,
2002) demonstram de maneira irrefutávelesse fato. Mesmo o rendimento das espéciesnativas não mostrou, para os reservatóriosestudados, relação com o esforço derepovoamento. Embora os dados de pescanão estejam disponíveis para reservatóriosde outras bacias que foram objeto dessasações de manejo, não há indicações de que oquadro seja diferente.
Obviamente, esses insucessos representamequívocos na alocação de recursos eesforços, e podem ser atribuídos, entreoutros fatores, (i) à insuficiência ouinadequação das informações disponíveis;(ii) ao enfoque reducionista com que osprojetos de manejo são apresentados eimplementados; (iii) à ausência demonitoramento como parte do programa demanejo; (iv) a equívocos históricos nalegislação pertinente; (v) a deficiências naintegração interinstitucional.
Ressalta-se que essas medidas foramtomadas sob forte pressão política econstrangimento legal. Tais fatos, aliados aoquadro de evidente decréscimo nos estoquesde peixes migradores de grande porte, nãofacultaram ao tomador de decisão apossibilidade da investigação ou aalternativa de manejo do “nada fazer”, que,em muitas circunstâncias, seria preferível.
Introdução 33333
O monitoramento do resultado, seconduzido de modo apropriado, teriacontribuído não apenas para oaprimoramento ou abandono de algumastécnicas, como também para a formação derecursos humanos na área. Ele foi, noentanto, esporádico.
Decorridas mais de quatro décadas demanejo, os recursos pesqueiros emreservatórios hidrelétricos brasileirosapresentam ainda graves deficiências em suaforma de exploração e rentabilidade, além deoutros problemas no sistema de pesca, comoa conservação, processamento ecomercialização do pescado. Essa exploraçãoé exercida especialmente nas regiões Sul-Sudeste e Nordeste, em sua maioria, porpessoas excluídas de outras atividadesprodutivas. As deficiências do sistema têmproduzido um quadro de miséria quecontrasta, em algumas regiões, com apujança da economia regional.
Na última década, verificou-se umatendência promissora no setor hidrelétricode abandono de práticas de manejo baseadasna tentativa e erro, particularmente aquelasrelativas à estocagem de espécies alóctones.O enfoque predominante, atualmente, é odos levantamentos, estudos, repovoamento emonitoramento dos desembarquespesqueiros como meio de avaliar as açõesimplementadas.
Essa tendência foi reforçada nas discussõesrealizadas no setor em diversas reuniõestemáticas promovidas pelo ComitêCoordenador das Atividades de Meio
Para que as ações de manejo alcancem osobjetivos de conservação e preservação dosrecursos pesqueiros, é necessária uma grandequantidade de informações, obtidas emescala espacial e temporal adequadas, detodos os componentes envolvidos nosistema. Assim, são necessárias informações
Ambiente do Setor Elétrico Brasileiro -COMASE, como parte do Seminário SobreFauna Aquática e o Setor Elétrico Brasileiro(SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA ..., 1994).
As políticas públicas implantadasrecentemente no Brasil, em especial aquelasrelacionadas ao combate à fome, têmestimulado iniciativas de uso das águaspúblicas que a história do manejo dosrecursos pesqueiros em reservatórios doBrasil sugere ser ambiental, social eeconomicamente inadequadas. A produçãomassiva e rápida de pescado visando atendera uma demanda real por alimento éaspiração legítima e tem forte e justo apelopolítico. A estratégia para atender a esseanseio deve, entretanto, considerar asimplicações ambientais e a viabilidadesocioeconômica. Nesse contexto, cremos queiniciativas de avaliação das ações tomadasem relação à conservação dos estoquespesqueiros, sua exploração e a preservaçãodas espécies, como a que é buscada nestaobra, sejam oportunas.
Dificuldades na Conservaçãoe Preservação de RecursosPesqueiros
4 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
dos organismos (tais como taxonomia,ecologia, dinâmica populacional e históriade vida), do ambiente em que vivem (taiscomo limnologia, qualidade e quantidade deágua), dos usuários (tais comosocioeconomia, percepções e leis) e dasatividades pesqueiras (tais como espéciespreferenciais, rendimento e estratégias depesca) (NIELSEN, 1993; MIRANDA, 1996; MCMULLIN,
1996; NEY, 1996; AGOSTINHO; GOMES, 1997).
O entendimento preciso das alteraçõesimpostas pela formação do reservatóriodurante seu enchimento e no períodosubseqüente é fundamental para a definiçãoda natureza e no dimensionamento das açõesa serem implementadas. A efetividade dessasações depende do nível de conhecimentodisponível e de sua abrangência.
A seguir, faremos uma breve descrição doestado da arte desses componentes para osreservatórios brasileiros, que serão objeto dediscussão mais detalhada em capítulosespecíficos ao longo desta obra.
O conhecimento da ictiofauna neotropical éainda incipiente, sendo que a carência deinformações não está restrita apenas aosaspectos bioecológicos, mas inclui, paragrande parte dos rios, até uma lista básica deespécies presentes. Na Amazônia, mesmo aidentidade de peixes de grande porte,relevantes na pesca, é ainda desconhecida ouerrônea (GARAVELLO, 1994). Na bacia do rioParaná ou do Leste, novas espécies de peixessão descritas a cada ano e as famílias maisdiversificadas requerem revisões. No rioIguaçu, bacia do rio Paraná, cerca de 20% das
espécies reconhecidas carecem ainda de umadenominação científica.
Os estudos de natureza ecológica são aindamais escassos. Várias bacias, mesmo algumassituadas próximo a instituições de pesquisa,jamais foram investigadas em relação a estetema e em outras os estudos iniciaramrecentemente.
O estado ainda incipiente do conhecimentodeve-se não apenas às dificuldades inerentesao seu estudo e ao reduzido número deespecialistas que atuam nessas áreas, mastambém à insuficiência de recursosfinanceiros e à descontinuidade que atérecentemente caracterizava a pesquisacientífica no país.
Em relação aos impactos dos represamentos,a despeito do grande número dessesempreendimentos e, portanto, deoportunidades de estudos, especialmente nasbacias hidrográficas do Sul-Sudeste, não hánenhuma investigação sistemática comabrangência temporal suficiente paraidentificá-los de modo conclusivo.
Além disso, a qualidade e o detalhamentodos dados requeridos para o corretodimensionamento dos impactos negativospromovidos pelos represamentos sobre afauna aquática, bem como para umaadequada racionalização das açõesatenuadoras, são ainda desafios com quedeparam tanto o Setor Elétrico quanto osórgãos de controle ambiental e o MinistérioPúblico. As razões básicas desse quadro são(i) a precariedade dos dados disponíveis
Introdução 55555
sobre nossa fauna e (ii) a inadequação dosrecursos metodológicos, instrumentais,científicos e de modelagem para obtê-los.
Numa situação ideal, o diagnóstico ouprognóstico dos impactos pressupõe aexistência de informações sobredistribuição, abundância, ciclo de vida(incluindo alimentação, reprodução ecrescimento), requerimentos de espaço vitalhome range, movimentos migratórios,relações interespecíficas (teia alimentar),limiares de tolerância a fatores ambientais ea localização e delimitação de áreas críticas.A qualidade dessas informações depende doconhecimento de sua variabilidade espaciale temporal em diferentes escalas, visto queos sistemas biológicos apresentamflutuações naturais amplas. Isso contrastacom o grau de conhecimento disponívelsobre a ictiofauna brasileira.
Nenhum rio brasileiro tem sua faunacompletamente identificada, e mesmoalguns com extensões superiores a1.000 km jamais foram amostrados com esseobjetivo. Os primeiros inventários no altorio Paraná (quarta maior bacia hidrográficado mundo), por exemplo, iniciaram-se hámenos de 25 anos, embora a maioria dos130 reservatórios com barragens de alturasuperior a 10 m, hoje existentes na bacia, jáestivessem construídos, e o fato desta baciaconcentrar os maiores e mais antigoscentros de investigação ecológica do país.
É obvio, portanto, que o nível dasinformações disponíveis está distante doideal. A obtenção dessas informações
demandaria décadas de trabalho de equipesaltamente qualificadas e um investimentomuito maior que aquele que vem sendoaplicado.
Em relação aos procedimentosmetodológicos e recursos instrumentaispara a obtenção de dados, bem como aoembasamento científico e aos modelosdisponíveis, a maior dificuldade está no fatode que eles não são utilizáveis, ou o sãoapenas parcialmente, para estudos deavaliação de impactos ambientais. Foramdesenvolvidos para outras finalidades e têmsua aplicação limitada em estudos tãoabrangentes.
Uma simples listagem de espécies, que,como visto, tem aplicação limitada nodimensionamento do impacto, requer ouso de técnicas e instrumentos (redes,arrastes, anzóis, covos, tarrafas, peneiras,pesca elétrica, etc.) com seletividadeelevada e variada. Métodos menosseletivos têm seu uso limitado porrestrições na fisiografia local ou podemacarretar modificações adicionais na fauna(bombas, ictiocidas). Os inventáriosintensivos têm nesses fatores o maiorobstáculo para que sejam aceitáveis. Alémdisso, quando realizados em regiões deacesso difícil, raramente contemplam todosos hábitats e, se expeditos, deixam deconsiderar a variação sazonal nacapturabilidade apresentada por algumasespécies. As melhores listagens de espéciessão produzidas por trabalhos continuadosdurante anos e com a utilização dediferentes estratégias de pesca.
6 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
As diferenças na seletividade dosinstrumentos de pesca e na forma como sãoempregados (coleta passiva, ativa, com isca)impedem o uso de uma unidade de esforçocomum (m2 rede/dia, número de anzóis,número de lances, área de arraste, etc.) e,portanto, restringem a obtenção deinformações de abundância fidedignas ecomparáveis da ictiofauna como um todo(captura por unidade de esforço para oconjunto das amostras).
A avaliação dos estoques existentes antes eapós a implantação do empreendimento, queseria uma informação útil para aferir oprejuízo ambiental decorrente dorepresamento, não é factível. Os modelosdisponíveis têm como pré-requisitos asobrepesca deliberada dos estoques (RIGLER,1982, considera acertadamente como eventosnão passíveis de predição aqueles para cujaidentificação necessitamos promover umdistúrbio no sistema), séries históricas depesca, marcações/recapturas massivas e/ouparâmetros de crescimento e mortalidade.
Para que medidas mitigadoras e/oucompensatórias se tornem possíveis eefetivas seria necessário o seudimensionamento adequado a priori,requerimento que, como salientadoanteriormente, não é realizável, tanto pelocaráter imprevisível da resposta dada pelacomunidade biótica, como pelacomplexidade dos distúrbios decorrentes derepresamentos. É sabido, por exemplo, queos represamentos alteram a estrutura dascomunidades de peixes, com prejuízos aosgrandes migradores. A intensidade do
impacto negativo sobre essas espéciesdepende, no entanto, da posição do eixo dabarragem em relação às áreas de vida, quevariam entre as espécies, da extensão dasáreas de várzeas subtraídas do sistema, daexistência de rios alternativos com condiçõesadequadas para migração e desova, daqualidade da água e de procedimentosoperacionais na barragem relacionados àvazão de jusante, do nível de pesca e deoutras atividades antropogênicas na região.
As medidas mitigadoras, por outro lado, nãopodem ser tomadas no contexto geral doimpacto, sob pena de fracassarem ouapresentarem resultados insatisfatórios, oumesmo resultarem em novos impactos nãoprevistos. Medidas tomadas dessa maneiraresultaram em perda de esforços, recursos etempo nos reservatórios da bacia do rioParaná. Estações de piscicultura destinadas aoutras finalidades, a soltura de milhões dealevinos que, provavelmente, jamais setransformaram em adultos e mecanismos detransposição que ecologicamente nãofuncionam são o saldo desses procedimentos.
Toda ação sobre o ambiente, inclusive suaausência, tem impacto sobre ofuncionamento de sistemas regulados, quenecessariamente devem ser considerados. Osresultados obtidos pela obrigatoriedadelegal da adoçãode medidas mitigadoras decaráter geral, como a construção de escadasde peixes, peixamentos ou estações depiscicultura, vigentes no Brasil durantemuito tempo, se configuram agora comopunições ao empreendedor, sem resultadossatisfatórios para a conservação.
Introdução 77777
Para a eficiência das medidas que visamatenuar os impactos, requerem-se umadefinição clara e precisa do problema, umbanco de informações com abrangência eprofundidade suficiente para avaliar asimplicações que essas ações terão sobre osdemais componentes do sistema, aidentificação de outros usos do ambiente esuas implicações na consecução dosobjetivos, a existência de mecanismos paraavaliar o grau de efetividade da medidaadotada e dos fatores intervenientes.Questões como qual é exatamente o objetivoda ação mitigadora a ser adotada, como podeser alcançado o objetivo, como serãoanalisadas as informações, quando éesperado que os objetivos sejam alcançados,são básicas nesse mister.
Parece óbvio que estudos mais prolongadose intensivos possam resultar em maisinformações. Nada assegura, entretanto, queo volume de informações melhore de modosubstancial o seu valor intrínseco para asfinalidades de avaliação de impacto emanejo. O esforço e os custos elevam-sepotencialmente com a quantidade equalidade da informação. Entretanto, o seuvalor intrínseco tende a um valor assintótico(BISWAS, 1988). Teoricamente, a decisãoracional estará no ponto em que a diferençaentre o valor intrínseco da informação e oesforço aplicado seja máxima e positiva.
Adicionalmente, deve-se considerar oproblema prático para se conhecer de formaintegral os aspectos comportamentais einterações bióticas. Rigler (1982) faz algumasconsiderações oportunas em relação às
interações. O número de interaçõespotenciais em um sistema composto por 200espécies é de 19.900 [(200 x 199)/2]. Visto queas interações deveriam ser demonstradascomo insignificantes ou quantificadas eavaliadas sazonalmente, cada umaenvolveria o esforço de um homem/ano.Isso resultaria que para um pesquisadorconhecer apenas as interações entre asespécies em uma bacia como a do alto rioParaná seriam necessários 19.900 anos. Éóbvio que esse número é utópico, porém nosdá uma idéia da grandeza do desafio a serenfrentado.
Outras informações fundamentais referem-seà pesca e aos pescadores. Para a pesca, devemestar disponíveis as informações sobre orendimento específico, em uma escalatemporal suficientemente abrangente paracontemplar a elevada variabilidade dosrecursos (RICKER, 1975; KING, 1995). Além disso,a zonação espacial, particularmente alongitudinal, presente em grandesreservatórios e pouco considerada nosestudos, deve receber mais atenção, pois osgradientes nos processos de transporte esedimentação influenciam, além daqualidade da água, a distribuição dos peixes,o rendimento pesqueiro e as estratégias depesca (OKADA; AGOSTINHO; GOMES, 2005).
O monitoramento do rendimento da pesca sótem sentido se produzir dados passíveis decomparação no tempo e no espaço. Para isso,é necessário que o esforço de pescaenvolvido na captura seja adequadamentedimensionado. As informações disponíveissão, em geral, pouco úteis à tomada de
8 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
decisão nas ações de manejo. Na maioria dasvezes carecem de abrangência espacial e/outemporal, ou não são passíveis decomparação.
Informações fidedignas da pesca permitemobter a captura por unidade de esforço(CPUE), e seu acompanhamento ao longo dotempo é importante para avaliar aexploração pesqueira de um reservatório.Essas informações também permitem aaplicação de modelos matemáticosmultiespecíficos, que fornecem o rendimentomáximo sustentável, os quais podem servircomo critério para avaliar e ordenar a pesca.
Informações sobre os pescadores, geralmentecolocadas na literatura de manejo como adimensão humana da pesca, vêm sendo,recentemente, consideradas como um dosaspectos mais críticos para o sucesso dasações de manejo e, aparentemente, estãomudando os paradigmas da área (MIRANDA,
1996).
O sucesso das ações de manejo da pescadepende igualmente do conhecimento daspercepções e aspirações sociais, bem comodas condições socioeconômicas e culturaisdos usuários dos recursos. Assim, ações bem-sucedidas têm incorporado a dimensãohumana como parte integrante do plano demanejo.
Uma comunicação social eficiente e oenvolvimento das organizações dospescadores nas decisões de manejo sãofundamentais para a manipulação do sistemade pesca. Inclusive, a comunicação poderia
ser usada para tornar claro que a pesca é umindicador da “saúde” dos estoques e que ospescadores desempenham papelfundamental na sua conservação. Melhoriasna comunicação devem envolver, além dostécnicos responsáveis pelo manejo, ospescadores, os órgãos de controle ambiental,os cientistas e os demais usuários doreservatório.
A complexidade dos sistemas ecológicosbrasileiros, bem como a carência deinformações de longo prazo e as dificuldadesmetodológicas, fazem com que os estudosprévios tenham marcantes limitações emrelação à sua aplicação no dimensionamentodos impactos e das medidas preventivas,mitigadoras e/ou compensatórias. Isso nãosignifica que tais estudos sejamprescindíveis. Ao contrário: devem seraprimorados, dada a carência de informaçõesjá mencionada. Significa, entretanto, que osesforços devem ser concentrados na obtençãode informações biológicas e auto-ecológicascom maior valor ao manejo. Nesse contexto,destacam-se aquelas relacionadas àidentificação dos fatores críticos para orecrutamento de novos indivíduos aosestoques (proteção, ampliação e/oumelhoria dos locais de desova, criadourosnaturais, procedimentos operacionais nabarragem, etc.). Além disso, inferênciassobre a dieta das espécies têm amplaaplicação no entendimento das relaçõestróficas, podendo fornecer evidências acercado processo de colonização do novoambiente. Simples listagens das espéciesresultantes de inventários na área doempreendimento, embora com algum valor
Introdução 99999
acadêmico, têm limitada relevância tanto naavaliação do impacto quanto para subsidiaras medidas atenuadoras, apesar deadquirirem algum significado se baseadasem levantamentos realizados em todos ostipos de biótopos ao longo da baciahidrográfica.
Nos últimos anos, entretanto, o número deespecialistas e os investimentos nainvestigação da biota aquática vêmcrescendo, tanto em razão dodesenvolvimento científico patrocinadopelos cursos de pós-graduação, no âmbitodas universidades, quanto de uma novapostura de várias concessionárias do setorhidrelétrico, onde o conhecimento dosrecursos, do seu ambiente e das formas deexplotação vem sendo considerado comorequisito para o manejo da pesca.
Assim, nesta obra é apresentado de modosucinto e discutido de forma preliminar oconhecimento disponível acerca do estado deconservação da ictiofauna brasileira de águadoce, sua exploração pela pesca e os impactosa que algumas espécies estão sujeitas pelosrepresamentos. Além disso, são avaliadas asmedidas mitigadoras e compensatórias dosimpactos dos represamentos tomadas pelosetor elétrico e apresentadas algumasconsiderações e perspectivas de ações futurasnesse campo. Pretende-se, com este trabalho,fornecer subsídios às discussões sobre otema, sem a pretensão de fazê-lo de modocompleto, visto que a maioria dasinformações disponíveis teve caráterdisperso e provisório (trabalhos de pós-graduação, comunicações em eventoscientíficos, monografias e relatórios decirculação restrita).
Capítulo 2A Ictiofauna Sul-Americana:
composição e história de vida
E mbora os levantamentos da ictiofauna Neotropical ainda
sejam incompletos e não haja consenso acerca do status
taxonômico de muitas espécies, o número de espécies de peixes
dessa região é estimado em 8.000, representando cerca de 24%
de toda a diversidade de peixes do planeta, tanto de água doce
quanto marinha (VARI; MALABARBA, 1998). Além da elevada
diversidade, as espécies dessa região apresentam fantástica
heterogeneidade de formas e histórias de vida.
12 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Introdução
Diferentemente de outras regiõeszoogeográficas, onde predominamciprinídeos (exceto Austrália), os peixesneotropicais de água doce pertencemmajoritariamente ao grupo Otophysi (± 90%;BRITSKI, 1992). Nesse grupo estão incluídos osrepresentantes das ordens Characiformes(peixes de escamas, ex: lambaris), com cercade 1.200 espécies, Siluriformes (couro ouplacas, ex: bagres), com cerca de 1.300espécies e Gymnotiformes (tuviras), comaproximadamente 80 espécies (MOYLE; CECH,
Jr., 1996; LOWE-MCCONNELL, 1999).
Entre os demais grupos destacam-se osPerciformes ciclídeos (100 a 150 espécies, ex.:acarás), Ciprinodontiformes (± 100 espécies,ex: guarus), osteoglossídeos (dois gêneros,pirarucu e aruanãs) e lepidosirenídeos (umaespécie, pirambóia) - Moyle e Cech, Jr.(1996). Cerca de 50 representantes endêmicosde grupos marinhos, como raias(potamotrigonídeos), linguados (soleídeos),sardinhas (clupeídeos), manjubas(engraulídeos), pescadas e curvinas(cianídeos), agulhas (belonídeos), entreoutros, complementam essa fauna. Somam-se ainda a ela várias espécies de peixesmarinhos eurihalinos que ascendem emgraus variados os grandes cursos de água(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR., 1999).
Apesar do predomínio de espécies deCharaciformes e Siluriformes em todas asbacias sul-americanas, a composiçãoespecífica e o número de espécies entrebacias varia consideravelmente. O
isolamento geográfico do continente sul-americano e de algumas bacias de drenagemem épocas passadas, associado a uma grandediversidade de hábitats (lagos, poças,riachos, corredeiras, rios, planíciesinundadas), são fatores que contribuírampara o elevado número de espécies de peixese a grande variedade de formas e estratégiasde vida que observamos hoje.
Na bacia Amazônica, onde os levantamentossão ainda mais incompletos, já foramcatalogadas mais de 1.300 espécies (LOWE-
MCCONNELL, 1999), com dominância deCharaciformes (43%) e Siluriformes (39%).As estimativas para números totais alcançam5.000 espécies (SANTOS; FERREIRA, 1999).
A ictiofauna da bacia do rio Paraná éestimada em 600 espécies (BONETTO, 1986),sendo que apenas o Pantanal deve apresentar400 espécies (FERRAZ DE LIMA, 1981). O númerode espécies da bacia deve, no entanto, sermaior, visto que em sua estimativa Bonetto(1986) relata 130 espécies para o quedenominou Província do Paraná Superior(alto Paraná + Iguaçu); por outro lado,Agostinho, Vazzoler e Thomaz (1995), emrevisão dos levantamentos realizados no altorio Paraná, compreendendo 110 áreas deamostragem (rios, riachos, lagoas, poças,canais secundários e reservatórios), listaram221 espécies, apenas para esse trecho.Incluindo-se as do rio Iguaçu, onde oendemismo é elevado, esse número podealcançar 300.
No rio São Francisco, a despeito de asprimeiras coletas terem sido feitas há doisséculos, os levantamentos estão restritos aos
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 1313131313
História Natural de PeixesNeotropicais
Essa fantástica diversidade de espéciesreflete uma incrível diversidade de formas epadrões comportamentais. Tais padrões,relacionados basicamente às formas dealimentação, manutenção e reprodução,definem a estratégia de vida das espécies(WOOTTON, 1990). Os peixes de água docecaracterizam-se por apresentarem a maiorvariedade de tipos de estratégias de vidaentre os vertebrados. Como exemplo dagama de possibilidades, existem espéciesque vivem em lagoas e que são capazes dese reproduzir no primeiro ano de vida(lambaris); outras, que habitam grandesrios, podem levar anos para atingir amaturidade sexual (grandes bagres); algu-mas, habitantes de lagoas sazonais, sereproduzem uma única vez na vida (peixes-anuais).
As estratégias exibidas por uma dadaespécie são resultantes evolutivas da buscaempreendida pelos indivíduos em reduziros custos com sua manutenção e aumentar aeficiência na obtenção da energia,investindo o saldo energético nareprodução, o que eleva seu fitness, aquientendido como o número de descendentesviáveis deixados pelo indivíduo. Asadversidades pregressas impostas peloambiente constituíram a força seletivadessas estratégias. O sucesso dessaempreitada pode ser aferido pelapersistência da espécie ao longo de gerações(AGOSTINHO, 1994).
trechos altos da bacia. Sato e Godinho (1999)registram 133 espécies para esses trechos,enquanto Godinho e Vieira (1998), baseadosem levantamentos secundários, estimaramtal número em 170, para o trecho mineirodesta bacia. Esses autores estimam que cercade 68% das espécies desse rio são restritas a ele.
A exemplo do rio São Francisco, outros riosda bacia Leste são caracterizados pelo altograu de endemismo, devido ao seu históricoisolamento das demais bacias. No rioJequitinhonha (36 espécies identificadas) onúmero de espécies restritas a ele chega a70%; no Doce, 48% das 77 espéciesregistradas; no Paraíba do Sul, 46% das 59espécies (GODINHO; VIEIRA, 1998). Tendênciassimilares são registradas nos riosnordestinos e nos riachos costeiros (IBAMA,
2002), assim como no rio Iguaçu, que tevesua ictiofauna isolada do restante da bacia dorio Paraná no período Oligoceno, compostade pequenos peixes e elevado endemismo(ABILHOA, 2004).
É evidente que a ictiofauna neotropical éuma das mais ricas do planeta. Suadistribuição no continente é desigual, emuitas espécies estão restritas a locaisespecíficos. Apesar de muitas espécies aindanão estarem descritas, as alteraçõespromovidas em ambientes aquáticoscontinentais nas últimas décadas(principalmente com a introdução deespécies exóticas, a construção de barragens ea poluição) vêm ameaçando a perpetuação depopulações naturais. Para efetivar a suaconservação, o valor da ictiofauna precisa serrapidamente melhor apreciado, em termoseconômicos, científicos e ecológicos.
14 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Os atributos da história de vida(alimentação, reprodução), que determinama estratégia de vida, são os alicerces onde aseleção natural atua, além de serem, emgrande parte, responsáveis pelos padrõesecológicos existentes na distribuição eabundância das espécies (HARRIS, 1999). Dessaforma, fica claro que o conhecimento dahistória natural das espécies é essencial aoentendimento dos processos de ocupação denovos ambientes, como os reservatórios,além de ser crucial para a efetivação demedidas de preservação ou conservação.
Estratégias de Vida
Durante a década de 1960, com a publicaçãodos trabalhos de Robert MacArthur, foidesenvolvido o conceito de estrategistas r e k,uma forma generalizada de explicar como asespécies conseguem sua perpetuação. Desdeentão os pesquisadores vêm tentandocategorizar a estratégia de vida das espéciesnesses dois grupos, que representam pólosextremos de um gradiente: os estrategistas r,espécies oportunistas, que alocam energiaprincipalmente para a reprodução; osestrategistas k, espécies de “equilíbrio”, queutilizam a maior parte de sua energia para ocrescimento somático (ADAMS, 1980).Independentemente da estratégia, o produtofinal é o mesmo: garantir a existência dasespécies.
A identificação da estratégia de vida dospeixes tem grandes implicações práticas,como, por exemplo, o manejo da pesca e aconservação dos estoques. As espécies r-estrategistas podem sustentar pescarias mais
produtivas, ser capturadas com idadesmenores e seus estoques podem suportaraltos níveis de mortalidade por pesca,recuperando-se mais rapidamente dos efeitosde sobrepesca. Apresentam, no entanto,flutuações populacionais mais amplas, vistoque são mais susceptíveis a variaçõesambientais. Dessa maneira, a manutenção deum dado nível de explotação ao longo dosanos pode levar à depleção dos estoques(VAZZOLER, 1996). Embora sem um bomexemplo de depleção em água doce, ararefação dos estoques de sardinha no litoralsul-brasileiro é ilustrativa. Entre as espéciesr-estrategistas neotropicais estão espécies depequeno porte das ordensCyprinodontiformes e Characiformes, comoos guarus, e diversos lambaris e pequiras.
Por outro lado, as espécies k-estrategistassão, em geral, menos abundantes eapresentam um rendimento máximo porrecruta mais elevado. São capturadas emidades maiores e não suportam níveis altosde mortalidade por pesca, sendo, portanto,mais susceptíveis à sobrepesca. Embora commenor variação interanual, em caso dedepleção de estoques, sua recuperaçãoexigirá um tempo mais prolongado. Comoexemplo de espécies desse grupo, podemoscitar os grandes bagres e várias espécies comcuidado parental. Já para exemplificardepleções de estoque, é emblemática a quaseextinção comercial de alguns tipos debacalhau, em ambientes marinhos.
Apesar dessa evidente aplicação prática, acategorização de espécies de peixes emestrategistas r ou k torna-se difícil, em vistada elevada diversidade de histórias de vida
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 1515151515
Reprodução e Sazonalidade
Entre as espécies de peixes sul-americanos, as estratégias reprodutivaspodem estar expressas de diferentesmaneiras, como pela fecundação externa ouinterna, diferenças na idade de maturação,cuidado parental bem-desenvolvido ouausência de cuidado parental, desovas
parceladas ou totais, desovas únicas oumúltiplas no ano, migrações, etc.(VAZZOLER, 1996). Como mencionadoanteriormente, o desenvolvimentoevolutivo dessas estratégias estáintimamente ligado ao ambiente e àsforças seletivas que atuaram durante suahistória. Mesmo assim, é comumenteobservado um alto grau de flexibilidadenas estratégias (WOOTTON, 1990).
já mencionada. Winemiller (1989),analisando atributos da história de vida depeixes da Venezuela, e com base no conceitor-k estrategistas, propôs uma classificaçãodiferente para os peixes neotropicais,amplamente aceita pelos pesquisadores daárea de ecologia de peixes. Em suaclassificação, esse autor considera um grupo
intermediário entre r e k-estrategista, queinclui espécies com reproduçãoestreitamente sazonal e que desempenhamlongas migrações reprodutivas. Estaestratégia foi denominada sazonal (S) einclui os grandes bagres e caracídeosmigradores neotropicais. O Box 2.1 mostraos atributos considerados nessa classificação.
BoBoBoBoBox 2.1x 2.1x 2.1x 2.1x 2.1
Padrões de variação na história de vida entre peixes sul-americanos em ambientes sazonais
WINEMILLER, K. Patterns of variation in life historyamong South American fishes in seasonal environments.Oecologia (Berlin) , v. 81, no. 2, p. 225-241, 1989.
“Dez características relacionadas à teoria de história de vida foram medidas ou estimadas de 71 espécies depeixes de água doce, de dois locais nas planícies venezuelanas. Estatísticas multivariadas e análises deagrupamento revelaram três padrões finais básicos ao longo de um contínuo bidimensional. Um grupo deatributos associados com cuidado parental e reprodução não-sazonal parece corresponder à estratégia deequilíbrio. Um segundo grupo de pequenos peixes foi identificado pelas características associadas à habilidadede rápida colonização: maturação precoce, reprodução contínua e desova em pequenas parcelas. O terceiropadrão básico foi associado com reprodução sincronizada, durante o início da estação chuvosa, alta fecundidade,ausência de cuidado parental e migração reprodutiva. Um subgrupo de peixes, principalmente pequenos,que exibia escasso ou nenhum cuidado parental, desovas em parcelas e reprodução com duração de dois aquatro meses, foi intermediário entre os oportunistas (colonização rápida) e a estratégia sazonal. Todas asdez variáveis do ciclo de vida mostraram efeitos significativos da filogenia. O grupo de espécies correspondenteao de equilíbrio foi dominado por peixes siluriformes e perciformes (ciclídeos). O grupo dos oportunistas foidominado por Cyprinodontiformes e Characiformes, enquanto que o grupo sazonal era compostoessencialmente por Characiformes e Siluriformes. Sete de nove características foram significativamentecorrelacionadas com o comprimento do peixe. Os três padrões reprodutivos são interpretados como sendoadaptativos em relação à intensidade e predictibilidade das variações espaciais e temporais nos fatoresabióticos, disponibilidade alimentar e pressão de predação.”
16 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
250
300
350
400
450
500
Nív
eld
orio
(cm
)
0
MesesFev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Se t Out Nov De z
20
40
60
80
100
Re
pro
du
ção
(%)
Jan
Figura 2.1 - Variação média diária do nível da água (1978-2000)e freqüência mensal de indivíduos maduros e semi-esgotados (RPD) na assembléia de peixes na planície deinundação do alto rio Paraná (modificado de
, 1997;, 2001).
VAZZOLER;
SUZUKI; MARQUES; PEREZ LIZAMA AGOSTINHO;
GOMES; ZALEWSKI
RPDNível do rio (cm)
Uma característica importantenas grandes bacias hidrográficassul-americanas é que asprincipais forças seletivas queatuaram no desenvolvimentode estratégias reprodutivasparecem ter sido aquelasrelacionadas ao regime decheias. Isso pode serevidenciado pelo altosincronismo existente entre ascheias e os principais eventosdo ciclo biológico dos peixes,tais como a maturação gonadal,migração, desova e desenvolvimento inicialdas larvas e alevinos (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR,
1999; AGOSTINHO; THOMAZ; MINTE-VERA;
WINEMILLER, 2000) (Figura 2.1).
O monitoramento da desova de peixesmigradores em Cachoeira das Emas (rio MogiGuaçu, alto rio Paraná), realizado por Godoy(1975) de 1943 a 1970, demonstrou que a cheiaé importante como sincronizadora da desovae que as águas lóticas são fundamentais para afertilização dos ovócitos, flutuação e deriva.
Para a bacia Amazônica, Goulding (c1980)relata que caracídeos migradores abandonamos tributários e várzeas em direção ao canaldo rio principal, onde provavelmente é feitaa desova. Essas migrações ocorrem entre oinicio e a metade da época de águas altas. Osgrandes bagres também empregam longasmigrações reprodutivas na Amazônia.Algumas espécies de pimelodídeos viajamincríveis distâncias, abandonando a regiãoestuarina do rio Amazonas rumo àscabeceiras, em direção oeste (GOULDING;
SMITH; MAHAR, 1996).
Gomes e Agostinho (1997), por outro lado,demonstraram que somente a ocorrência dascheias pode não ser suficiente. Outrosatributos, como a época, duração eintensidade das cheias, são fatores críticospara o sucesso no recrutamento de peixes.Esses autores relatam drásticas reduções nacoorte do ano em que as cheias não ocorrem.
Assim, a reprodução das espécies de peixesde grandes rios neotropicais é,independentemente da estratégia utilizada,altamente sazonal. Essa sazonalidade está,em geral, associada ao regime de cheias, coma desova ocorrendo sob condições de níveisde água crescente, particularmente entre asespécies migradoras (AGOSTINHO; GOMES;
VERÍSSIMO; OKADA, 2004).
Lamentavelmente, os reservatóriospromovem a redistribuição das vazõessazonais, elevando o nível mínimo do riodurante o período de seca e o reduzindodurante o de cheias. Esse fato se constituinuma das principais fontes de alteração daictiofauna a jusante, como será visto adiante.
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 1717171717
Em corpos de água menores, especialmenteaqueles sujeitos a cheias repentinas e de curtaduração (riachos), a sazonalidade nareprodução é menos evidente. Nesses casos,o período reprodutivo pode ocorrer emépocas do ano em que as precipitações sãomenores (GARUTTI, 1988), constituindo-senuma estratégia para assegurar odesenvolvimento da prole, evitando queovos e larvas sejam arrastados para trechosinferiores da bacia, onde as condiçõesambientais podem ser adversas aodesenvolvimento inicial (WINEMILLER;
AGOSTINHO; CARAMASCHI, no prelo). Tem sidodemonstrado, por outro lado, que algumasespécies de lambaris superam aimprevisibilidade das cheias em riachos,estendendo sua atividade reprodutiva portodo o ano (BARBIERI, 1992). A duração doperíodo reprodutivo e a época de maiorintensidade parecem depender do grau devariabilidade imposto pelo regime de cheiasao longo da bacia. Assim, nas cabeceiras deriachos, onde as condições são mais adversase variáveis, o período reprodutivo dolambari Astyanax bimaculatus (= A. altiparanae)
Migração
Considerando-se o espaço vital requeridopelas espécies durante seu ciclo de vida,podemos classificar os peixes neotropicaisem duas categorias principais: espéciessedentárias e grandes migradoras. Ressalta-se, entretanto, que um grande número deespécies se posiciona ao longo de um gradi-ente de continuidade entre essas duascategorias. Em geral, as respostas dadas pelasespécies posicionadas nos extremos dessegradiente aos estímulos ambientais, entre osquais se destaca o já mencionado regime decheias, são distintas (Tabela 2.1).
é longo, tendência oposta àquela verificadaem seus trechos inferiores (GARUTTI, 1989).
Os reservatórios de pequenas centraishidrelétricas, pelo fato de promoverempulsos diários e semanais na vazão dejusante, tornam os ambientes mais variáveis,com reflexos negativos às diferentesestratégias reprodutivas.
Tabela 2.1 - Atributos reprodutivos gerais que diferenciam espécies migradoras esedentárias (baseado em , 1996;
, 2004)VAZZOLER SUZUKI; VAZOLLER; MARQUES; PEREZ LIZAMA;
INADA
Atributos Migradoras Sedentárias
Fecundidade alta baixa/moderada
Fecundação externa externa/interna
Desova total total/parcelada
Período reprodutivo curto curto/longo
Ovócitos (tamanho) pequenos médio/grandes
Ovócitos (tipo) livres adesivos
Cuidado parental ausente presente
Tempo de primeira maturação longo curto
Porte adulto grande pequeno/médio
18 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
As espécies sedentárias são aquelas aptas adesenvolver todas as atividades vitais(alimentação, reprodução e crescimento)numa área restrita da bacia. Osdeslocamentos, quando ocorrem, são decurta extensão. Essa categoria é freqüente emambientes lênticos, onde apresentamadaptações respiratórias a períodos de baixaoxigenação, tolerando grandes variaçõestérmicas.
Mesmo vivendo em áreas restritas, algumasespécies sedentárias apresentam sazonalidadepronunciada no período reprodutivo, como ocascudo-chinelo Loricariichthys anus e o peixe-cachorro Oligosarcus jenynsii em lagoas no Suldo Brasil (BRUSCHI JUNIOR.; PERET; VERANI; FIALHO,
1997; HARTZ; VILELLA; BARBIERI, 1997). Variaçõesna estratégia em uma mesma população ouentre populações da mesma espécie podemocorrer em razão das condições ambientaisvigentes. A traíra Hoplias malabaricus, porexemplo, tem a habilidade de se reproduzirdurante todo o ano (AZEVEDO; GOMES, 1942) ouapresentar ciclo sazonal definido (BARBIERI,
1989), dependendo do ambiente em que seencontra. Esse fato representa táticas distintasde uma mesma estratégia.
Espécies sedentárias são também freqüentesem riachos e ribeirões, onde apresentammorfologia adaptada a uma existência emáguas correntes, sendo nesse caso sensíveis abaixas concentrações de oxigênio. Aictiofauna de riachos é compostamajoritariamente por espécies sedentárias,sendo essa tendência registrada em pequenoscorpos de água tanto da bacia do rio Paraná(CASTRO; CASATTI, 1997; LEMES; GARUTTI, 2002),quanto de outras do Sul do Brasil (TAGLIANI,
1994; CÂMARA; HAHN, 2002) e da baciaAmazônica (SILVA, 1995; SABINO; ZUANON, 1998).A reprodução ocorre, geralmente, duranteperíodo prolongado e está associada adesovas parceladas. Incluem-se nessacategoria as espécies com ovócitos grandes,baixa fecundidade e que são menosdependentes das cheias. Alguns cascudostambém apresentam prolongada épocareprodutiva em rios de pequeno porte(BARBIERI, 1994), estratégia que pareceaumentar o fitness dos indivíduos.
Algumas espécies sedentárias são bem-sucedidas na ocupação dos novos ambientesformados pelos represamentos, ou mesmo emrios de vazão controlada. São espécies compré-adaptações à vida em ambientes lênticos,como lagos e lagoas, ou que são capazes deapresentar elevada plasticidadecomportamental. Destacam-se, entre essespeixes, os ciclídeos, alguns loricarídeos,eritrinídeos, gymnotídeos e vários caracídeostetragonopteríneos. Apesar da drásticaalteração provocada no ambiente, algumasespécies podem completar todo o ciclo nopróprio reservatório. Na represa de TrêsMarias, rio São Francisco, uma espécie depirambeba Serrassalmus brandtii é capaz dereproduzir-se durante todo o ano noreservatório (TELES; GODINHO, 1997). Em SaltoGrande, alto rio Paraná, a piranhaSerrassalmus spilopleura (= S. maculatus)também completa seu ciclo dentro doreservatório, mas a reprodução é sazonal(FERREIRA; HOFLING; RIBEIRO NETO; SOARES;
TOMAZINI, 1998), a exemplo do que ocorre como lambari Astyanax bimaculatus (= A.altiparanae) na represa de Bariri (RODRIGUES;
RODRIGUES; CAMPOS; FERREIRA, 1989).
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 1919191919
Diferentemente, porém muito comuns, sãoespécies sedentárias que se adaptam àscondições represadas, mas que dependem deoutros ambientes para completar etapas deseu ciclo de vida, principalmente relacionadasà reprodução (AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ,
1995). Esse é o caso de uma espécie de piau narepresa de Três Marias, o qual necessita delagoas a montante para completar o cicloreprodutivo, apesar de viver na regiãorepresada (RIZZO; SATO; FERREIRA; CHIARINI-
GARCIA; BAZZOLI, 1996). Fato similar tem sidoregistrado no reservatório de Segredo, no rioIguaçu, onde as espécies melhor sucedidas nacolonização do novo ambiente, em geralsedentárias, buscam os segmentos maislóticos a montante ou os tributários para adesova (SUZUKI; AGOSTINHO, 1997).
A outra categoria, das espécies grandesmigradoras, conhecidas também comoespécies potamódromas, requerem amplostrechos livres da bacia, onde se deslocam porgrandes distâncias. Embora os deslocamentosmais relevantes sejam os reprodutivos, épossível reconhecer outras motivações.
Assim, ocorrem também migrações de carátertérmico ou sazonal, trófico ou nutricional, eontogenético ou de crescimento, quase todas,de alguma forma, associadas ao regimehidrológico (BONETTO; CASTELLO, 1985;
GOULDING; SMITH; MAHAR, 1996). É comum queessas migrações se combinem ou sesobreponham em grau variável, ou mesmoque uma dependa das outras (BONETTO, 1963).
Muitas espécies, entretanto, desenvolvemcurtas migrações laterais para a reprodução,ou algo mais extensivo, como mecanismo dedispersão. Neste último caso, osdeslocamentos podem tomar direçõesdistintas. Em rios com amplas várzeas, essesmovimentos de dispersão ocorrem durante avazante, quando a retração da água trazconsigo grande quantidade de jovens, e estes,geralmente, são seguidos por cardumes depredadores. Esse tipo de migração,importante no processo de dispersão, temsido observado em lambaris e saguirus. NoPantanal, onde ele tem grande importância naatividade pesqueira, é conhecido como lufada(ver Box 2.2).
BoBoBoBoBox 2.2x 2.2x 2.2x 2.2x 2.2[A lufada]
Pantanal-Peixeshttp://www.pantanalms.tur.br/peixes_pantanal3.htm
“Na estação chuvosa, as espécies mais procuradas deixam os rios e vão para as áreas inundadas, onde hámuito alimento. No final de abril, quando as chuvas se tornam menos freqüentes e as águas começam abaixar, voltam aos rios novamente, sinal evidente de que as chuvas teminaram. Inexplicavalmente, pois adesova só vai ocorrer meses mais tarde, diversas espécies de peixes, reunindo-se em vastos cardumes,começam de novo a nadar rio acima. Os cardumes são tão extensos, densos e dramáticos que podem serouvidos chapinhando a grandes distâncias. O fenômeno é conhecido no Pantanal como lufada, pois quandoaparece um cardume na curva do rio, a água parece açoitada por um temporal. A superfície fica fervilhandode peixes e milhares de lambaris, curimbatás, piavas, piavuçus, dourados, peixes-cachorros e piraputangassaltam nas águas, irradiando um brilho de ouro e prata nas rápidas trajetórias pelo ar. Não confundir coma piracema, que ocorre na época da reprodução (novembro a fevereiro) quando cardumes sobem os rios,transpondo as corredeiras aos saltos, para desovarem nas águas calmas das cabeceiras.”
20 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Dourado
Brilhante
Vacaria
Cabeceira
Alto Ivinheima
Baixo IvinheimaFoz
15 12 9 6 3 0 3 6 9 12 15Ind/10m3 Ind/10m3
Ovos Larvas
Figura 2.2 - Gradientes longitudinais de ovos e larvas depeixes migradores na bacia do rio Ivinheima, umtributário do alto rio Paraná, durante o períodoreprodutivo (modificado de
, 1997).NAKATANI; BAUMGARTNER;
CAVICCHIOLI
Na Amazônia, considerando a motivação paraos deslocamentos, foram identificados trêstipos de migração de peixes, ou seja, aslaterais, geralmente ligadas à dispersão ealimentação, que ocorre em direção à várzeaalagada; as reprodutivas, que podem serascendentes ou descendentes; e as tróficas,geralmente ascendentes (SANTOS; FERREIRA,
1999). Entretanto, o sentido das migraçõespode depender muito da espécie de peixeconsiderada. Por exemplo, na busca porhábitats adequados para o desenvolvimentodas formas iniciais, Characiformes tendem apermanecer em várzeas e outras áreasalagadas, enquanto que os juvenis de grandesbagres migram rio abaixo, na direção dosestuários (GOULDING, SMITH; MAHAR, 1996;
RUFINO; BARTHEM, 1996).
A migração exerce papel fundamental nosucesso reprodutivo dos peixes, porque elapermite a busca de ambientes adequados paraa fertilização dos ovos (encontro de umelevado número de indivíduos de ambos ossexos), desenvolvimento inicial (elevadaoxigenação e disponibilidade alimentar) econdições de baixas taxas de predação (baixatransparência da água).
Os migradores de longa distânciasão, geralmente, de maior porte emaior valor comercial, e têm ovospequenos e numerosos, que sãoeliminados em curto intervalo detempo (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1999).Não dispensam à prole qualquercuidado. A desova, em geral, ocorreem áreas lóticas de trechos mais altosda bacia, quando o nível do rio estáem ascensão, sendo essa tendência
amplamente relatada na literaturaespecializada (GODOY, 1975; BONETTO; CASTELLO,
1985; CARVALHO; MERONA, 1986; AGOSTINHO;
VAZZOLER; GOMES; OKADA, 1993; AGOSTINHO;
GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003). Embora aelevação dos níveis hidrométricos tenha papeldecisivo, um conjunto de fatores atua comogatilho para o desenvolvimento gonadal(VAZZOLER, 1996). Barbieri, Salles e Cestarolli(2000), estudando o ciclo reprodutivo dodourado e do curimbatá no rio Mogi Guaçu,evidenciaram a correlação positiva entre odesenvolvimento gonadal e as precipitaçõespluviométricas, o aumento da temperatura edo fotoperíodo. Estes dois últimos fatores têmsido considerados como determinantes doprocesso de maturação gonadal e de desovade peixes de maiores latitudes, onde sãoverificadas as maiores variações destes.
Após a desova, os ovos de espécies com essaestratégia reprodutiva derivam rio abaixoenquanto se desenvolvem, sendo lançados,geralmente na forma de larvas, para asdepressões laterais (várzea) durante otransbordamento da calha (GODOY, 1975;
CARVALHO; MÉRONA, 1986; AGOSTINHO; THOMAZ;
MINTE-VERA; WINEMILLER, 2000) (Figura 2.2).
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 2121212121
Nessas depressões laterais (lagoasmarginais, lagos, canais), as larvas ealevinos de tais espécies encontramcondições ideais para o desenvolvimentoinicial (alimento, temperatura e oxigênio) eabrigo que os protegem da predação. Com aretração da água durante a vazante, essesjovens concentram-se em corpos de águaremanescentes na várzea ou são levadospara a calha principal. Neste último caso,podem procurar ativamente os acessos àsbaias e lagoas. Os jovens permanecemnesses ambientes por um tempo variável,conforme a espécie considerada. O curimbaProchilodus lineatus os abandona e passam aintegrar o estrato adulto da população nosegundo ano de vida (AGOSTINHO; VAZZOLER;
GOMES; OKADA, 1993). No rio Tocantins, omapará Hypophthalmus marginatus e ocurimatã Prochilodus nigricans ascendem orio para desova e os alevinos derivam rioabaixo, como forma de dispersão(CARVALHO; MÉRONA, 1986). A construção dahidrelétrica de Tucuruí em 1984 bloqueouessa rota de migração (MÉRONA; CARVALHO;
BITTENCOURT, 1987).
A vazante é marcada pela grandemortalidade natural de juvenis, tanto pelapredação nas “bocas de vazante” (Figura 2.3) quanto em poçasremanescentes que secam (Figura 2.4).Como visto, características hidrológicas,como duração, regularidade, época eintensidade das cheias relacionam-se aosvalores dessa mortalidade e, portanto, aosucesso do recrutamento de novosindivíduos às populações de peixes (GOMES;
AGOSTINHO, 1997).
Embora seja consenso que os grandesCharaciformes e alguns Siluriformesdesenvolvam migrações ascendentes noinício das cheias e com finalidadereprodutiva, essa generalização não podeainda ser estendida a todos os peixesmigradores neotropicais. Mesmo parapeixes de escama, Bonetto e Castello (1985)relatam que uma considerável parte docardume marcado de espéciesreconhecidamente migradoras (curimba edourado) permaneceu nos locais de solturapor períodos prolongados. O fato levouesses pesquisadores a sugerir que osestoques dessas espécies seriam compostos
Figura 2.3 - “Boca de vazante” ou “corixo” naplanície de inundação do alto rioParaná.
Figura 2.4 - Lagoa marginal em processo dedessecação na planície de inundação doalto rio Paraná.
22 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
por “ecótipos” distintos, alguns requerendoamplos deslocamentos para manter suaspopulações e reproduzir, e outros podendofazê-lo em áreas mais restritas.
Dessa maneira, o trecho mínimo de rionecessário para que as atividades vitais depeixes se realizem em toda a sua plenitude édesconhecido. Deve variar com a espécieconsiderada, as condições ambientais dotrecho e mesmo dentro de uma dadapopulação.
Godoy (1975) menciona deslocamentossuperiores a 1.000 km para caracídeos do rioParaná. Barthem e Goulding (1997)apresentam evidências de deslocamentosainda maiores (3.500 km) em bagresmigradores da bacia Amazônica, que sedeslocam entre o estuário do rio Amazonase seus tributários superiores.
No trecho compreendido entre osreservatórios de Itaipu e Porto Primavera,isolado do restante da bacia desde 1994,durante a construção desta última, aextensão de 230 km parece ser suficientepara a manutenção de populações viáveis deespécies migradoras (dourado, pintado,curimba, piava, piracanjuba, etc.)(AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1996; VAZZOLER; SUZUKI,
MARQUES; PEREZ LIZAMA, 1997; NAKATANI;
BAUMGARTNER; CAVICCHIOLI , 1997). Mesmo norio Paranapanema, num trecho lótico decerca de 80 km entre os reservatórios deCapivara e Salto Grande, construídos hámais de 15 anos, eram registrados cardumesde dourados e pintados, durante a piracema(o trecho é atualmente represado pelosreservatórios de Canoas I e II).
Bonetto e Castello (1985) crêem tambémque os peixes não necessitam alcançar ascabeceiras dos rios ou afluentes parareproduzir, como sugeriam os estudosiniciais. O que se sabe é que os peixesmigram águas acima até alcançar locaisapropriados para a desova, sendo que essasáreas podem se situar a distâncias variáveis.
Ao contrário dos salmonídeos doHemisfério Norte, os peixes migradoresneotropicais parecem não ser tãoconservativos em relação ao local dedesova. Uma indicação disso pôde serconstatada no rio Piquiri, um afluente dorio Paraná, cuja foz localiza-seimediatamente acima dos antigos Saltos deSete Quedas, e que não recebia cardumes dedourados e curimbas antes da formação doreservatório de Itaipu. Com a formação doreservatório e o afogamento de SeteQuedas, cardumes provenientes dos 170 kma jusante de sua desembocadura passaram autilizar esse rio como área de desova(AGOSTINHO; VAZZOLER; GOMES; OKADA, 1993).
Experimentos de marcação realizados apósa interrupção do fluxo de peixes pelabarragem de Porto Primavera demonstramque os peixes em migração ascendente,capturados, marcados e liberados a jusantedessa barragem, foram recapturados, após48 horas, em um tributário da margemdireita desse rio, cuja foz localiza-se a 40 kma jusante do ponto de soltura (ANTÔNIO;
OKADA; DIAS; AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1999).Esse resultado demonstra que, durante amigração ascendente, uma eventualinterceptação na rota pode levar o peixe aprocurar outra.
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 2323232323
ENGRAULIDAE
CHARACIDAE
Fowler, 1940 Sardinha X
(Günther, 1868) Sardinha de lata X
(Agassiz, 1829) Sardinha X X
(Günther, 1869) Matrinxã X
Müller & Troschel, 1844 Ladina X
Anchoviella carrikeri
Lycengraulis batensii
Lycengraulis grossidens
Brycon cephalus
Brycon falcatus
PRISTIGASTERIDAE
ANOSTOMIDAE
spp. Sardinha X X
spp. Piau X X X
, 1850 Piapara X X X
(Bloch, 1794) Piau cabeça-gorda X X
Garavello e Britski, 1988 Piaussu X
(Valenciennes, 1836) Piava X X X
(Boulenger, 1900) Ximboré X
Agassiz, 1829 Aracu-pintado X
Kner, 1858 Taguara X X
(Valenciennes, 1850) Piau boca-de-flor X
Pellona
Leporinus
Leporinus elongatus Valenciennes
Leporinus friderici
Leporinus macrocephalus
Leporinus obtusidens
Schizodon borellii
Schizodon fasciatus
Schizodon nasutus
Schizodon vittatus
ESPÉCIES NOME COMUM 1 2 3 4
Tabela 2.2 - Espécies migradoras de grandes distâncias nas principais bacias hidrográficasbrasileiras. 1.Bacia do Uruguai, 2.Bacia do Paraná/Paraguai, 3.Bacia do São Francisco,4. Bacia do Amazonas (modificado de , c2003)CAROLSFELD; HARVEY; ROSS; BAER
(continua)
O completo entendimento dos mecanismosmigratórios das diferentes espécies depeixes e sua flexibilidade em relação aosrequerimentos espaciais para a desovacarece de um grande esforço de pesquisa. Émuito provável, entretanto, que asrestrições de movimento, impostas pelosrepresamentos, tenham implicações sobreas espécies migradoras, se não sobreextinções globais e locais, ao menos naheterogeneidade genética de suaspopulações, o que também é altamentepreocupante. Assim, é esperado que apermanência de curtos trechos lóticos possafavorecer pools gênicos (ecótipos) menos
exigentes em relação aos longosdeslocamentos e, portanto, promoverimpactos relevantes sobre a variabilidadegenética inicial, com a extinção de ecótiposmigradores de longas distâncias.
Concluindo, embora o comportamentoreprodutivo da maioria das espéciesconhecidas ainda não esteja elucidado,evidências obtidas para algumas delaspermitem algum consenso em relação aohábito migratório. A Tabela 2.2 lista asprincipais espécies brasileiras com taisestratégias. Algumas dessas espécies sãomostradas nas Figuras 2.5 e 2.6.
24 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ESPÉCIES NOME COMUM 1 2 3 4
Brycon orthotaen
Brycon hilarii
Brycon orbignyanus
Brycon amazonicus
Colossoma macropomum
Mylossoma Myleus
Piaractus brachypomus
Piaractus mesopotamicus
Salminus affinis
Salminus brasiliensis
Salminus hilarii
Triportheus
ia Günther, 1864 Matrinchã X
(Valenciennes, 1850) Piraputanga X
(Valenciennes, 1850) Piracanjuba X X
(Agassiz, 1829) Jatuarana X
(Cuvier, 1818) Tambaqui X X X
e spp. Pacu X X X
(Cuvier, 1818) Pirapitinga X
(Holmberg, 1887) Pacu caranha X
Steindachner, 1880 Dorada
(Cuvier, 1816) Dourado X X X X
Valenciennes, 1850 Tabarana X X X
spp. Sardinha X X X
CYNODONTIDAE
HEMIODONTIDAE
PROCHILODONTIDAE
AUCHENIPTERIDAE
DORADIDAE
Cachorra X
, 1829 Peixe cachorro X X X
Kner, 1858 Voador X
(Eigenmann & Kennedy, 1903) Peixe-banana X
Myers, 1927 Voador X
(Bloch, 1794) Piau pirco X
Valenciennes, 1850 Curimatã-pioa X
(Valenciennes, 1836) Curimbatá X X
Agassiz, 1829 Curimbatá-pacu X
Agassiz, 1829 Curimatã X
Jardine e Schomburgk, 1841 Bocachica X
spp. Jaraqui X
Valenciennes, 1840 Bocudo X X
Bleeker, 1862 Abotoado X X X
(Valenciennes, 1821) Cuiú-cuiú X
(Valenciennes, 1821) Armado X X X
Hydrolycus spp.
Rhaphiodon vulpinus Agassiz
Hemiodus microlepis
Hemiodus orthonops
Hemiodus ternetzi
Hemiodus unimaculatus
Prochilodus costatus
Prochilodus lineatus
Prochilodus argenteus
Prochilodus nigricans
Prochilodus rubrotaeniatus
Semaprochilodus
Ageneiosus brevifilis
Oxydoras knerii
Oxydoras niger
Pterodoras granulosus
Tabela 2.2 - Espécies migradoras de grandes distâncias nas principais bacias hidrográficasbrasileiras. 1.Bacia do Uruguai, 2.Bacia do Paraná/Paraguai, 3.Bacia do São Francisco,4. Bacia do Amazonas (modificado de , c2003)CAROLSFELD; HARVEY; ROSS; BAER
(continuação)
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 2525252525
ESPÉCIES NOME COMUM 1 2 3 4
Rhinodoras boehlkei
Rhamdia quelen
Rhinelepis aspera
Brachyplatystoma filamentosum
Brachyplatystoma flavicans
Brachyplatystoma juruense
Brachyplatystoma rousseauxii
Goslinia platynema
Brachyplatystoma vaillantii
Calophysus macropterus
Conorhynchus conirostris
Hemisorubim platyrhynchos
Leiarius marmoratus
Megalonema platanus
Megalonema platycephalum
Phractocephalus hemioliopterus
Pimelodus blochii
Pimelodus maculatus
Pimelodus ornatus
Pimelodus pictus
Pinirampus pirinampu
Platynematichthys notatus
Pseudoplatystoma corruscans
Pseudoplatystoma fasciatum
Pseudoplatystoma tigrinum
Sorubim lima
Sorubimichthys planiceps
Steindachneridion scripta
Zungaro zungaro
Glodek, Whitmire & Orcés, 1976 Abotoado X
(Quoy e Gaimard, 1824) Jundiá X X X X
Agassiz, 1829 Cascudo-preto X X
(Lichtenstein, 1819) Piraíba X
(Castelnau, 1855) Dourada X
(Boulenger, 1898) Zebra X
(Castelnau, 1855) X
(Boulenger, 1898) Babão X
(Valenciennes, 1840) Piramutaba X
(Lichtenstein, 1819) Zumurito X
(Valenciennes, 1840) Pirá X
(Valenciennes, 1840) Jurupoca X X
(Gill, 1870) Jundiá X
(Günther, 1880) Fidalgo X X
Eigenmann, 1912 Dourada X
(Schneider, 1801) Pirarara X
Valenciennes, 1840 Mandi X
Lacépède, 1803 Mandi-amarelo X X X
Kner, 1858 Mandi X X
Steindachner, 1877 X
(Spix, 1829) Barbado X X
(Jardine, 1841) Coroatá X
(Agassiz, 1829) Pintado X X X
(Linnaeus, 1766) Cachara X X X
(Valenciennes, 1840) Caparari X
(Schneider, 1801) Jurupecem X X
(Agassiz, 1829) Peixe lenha X
Ribeiro, 1918 Surubi X X
(Humboldt, 1821) Jaú X X X
HEPTAPTERIDAE
LORICARIIDAE
PIMELODIDAE
Tabela 2.2 - Espécies migradoras de grandes distâncias nas principais bacias hidrográficasbrasileiras. 1.Bacia do Uruguai, 2.Bacia do Paraná/Paraguai, 3.Bacia do São Francisco,4. Bacia do Amazonas (modificado de , c2003)CAROLSFELD; HARVEY; ROSS; BAER
(conclusão)
26 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
a b c
de
f
g
k
h
j
m
Figura 2.5 - Espécies migradoras de peixes de escama da fauna neotropical (a= ,b= , c= , d= , e=
, f= , g= , h= ,i= , j= , k= , l=
, m= . Ver Tabela 2.2 para os nomes populares.
Pellona flavipinnisLeporinus elongatus Leporinus friderici Triportheus nematurus Leporinus
obtusidens Prochilodus lineatus Schizodon borellii Mylossoma orbignyanusRhaphiodon vulpinus Brycon microlepis Salminus brasiliensis Leporinus
macrocephalus Piaractus mesopotamicus
i
l
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 2727272727
Figura 2.6 - Espécies migradoras de peixes de couro da fauna neotropical (a=, b= , c= , d= ,
e= , f= , g= , h= ,i= ). Ver Tabela 2.2 para os nomes populares.
Hemisorubimplatyrhynchos Zungaro zungaro Pseudoplatystoma fasciatum Pimelodus maculatus
Oxydoras knerii Pinirampus pirinampu Sorubim lima Pterodoras granulosusRhinelepis aspera
i
a b
cd
g
h
e f
Uso do Espaço
As espécies sedentárias são capazes decompletar todas as etapas de seu ciclo devida em um mesmo ambiente, realizando,em alguns casos, curtos deslocamentos.Representantes desse grupo podem serencontrados em todos os tipos deambientes, mas principalmente em riachos
e lagoas. Envolve basicamente espécies depequeno e médio porte, como cascudos,pequenos bagres, caracídeos, gimnotídeos,ciclídeos e poecilídeos. Devido ao pequenotamanho, são geralmente encontradasassociadas a algum tipo de substrato, comotroncos, rochas, macrófitas aquáticas e atémesmo junto ao sedimento. Nesses locaisencontram proteção, alimento e superfícieadequada para a deposição dos ovos.
28 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
O predomínio de espécies sedentárias empequenos rios e lagoas foi também observadona bacia Amazônica (SANTOS; FERREIRA, 1999),em lagoas da planície de inundação do rioParaná (OLIVEIRA; LUIZ; AGOSTINHO; BENEDITO-
CECÍLIO, 2001) e córregos da mata Atlântica(ESTEVES; LOBÓN-CERVIÁ, 2001).
Para algumas espécies os hábitats dealimentação, crescimento e reproduçãopodem ser os mesmos. Outras necessitam delocais diferentes numa determinada fase davida, porém dentro de um mesmo ambiente.Estudos elaborados para identificar esseshábitats requerem abordagens diferenciadas,como a biotelemetria, a marcação-recaptura ea observação subaquática direta. Sabino eCastro (1990) observaram a mudança dehábitats em pequena escala temporal(períodos de dia/noite) em peixes de umriacho atlântico. Algumas espécies nadamdurante o dia próximo ao fluxo de água, masdurante a noite procuram locais abrigadosjunto à vegetação.
Uma característica importante das espéciessedentárias reside no fato de que elas são,geralmente, as mais pré-adaptadas àsobrevivência em reservatórios,principalmente aquelas que habitam águaslênticas. Muitos reservatórios comportamextensas áreas litorâneas, ocupadas pormacrófitas aquáticas, que podem sercolonizadas por espécies com essa estratégiade vida. O predomínio de espécies sedentáriasde pequeno porte é relatado para oreservatório de Jurumirim, no rioParanapanema, onde foi constatada a extinçãolocal das espécies migradoras (CARVALHO;
SILVA, 1999). Padrão similar é registrado para
o reservatório de Lajes, bacia do rio Paraíbado Sul, um dos mais antigos do Brasil (ARAÚJO;
SANTOS, 2001).
Os grandes peixes migradores de água docetêm como atributo de seu comportamento aseparação, no tempo e no espaço, dos hábitatsusados para reprodução, crescimento ealimentação durante diferentes estágios devida (NORTHCOTE, 1998). Assim, esses três tiposde hábitats são necessários para que essasespécies completem seus ciclos de vida. Naregião amazônica, onde o número de espéciesmigradoras é muito maior, e também emoutras grandes bacias hidrográficasbrasileiras, as informações disponíveis acercados hábitats de espécies migradoras são aindarestritas a poucas espécies. Na bacia do rioParaná, alguns desses hábitats foramlocalizados e mais extensivamente estudados(AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003).
Hábitat de reprodução: de modo geral, esseshábitats estão localizados nas porçõessuperiores de grandes rios e afluentes. Issotem sido inferido pela elevada ocorrência deindivíduos no estádio de reprodução e peladistribuição e abundância de ovos, queaumenta em direção à parte superior detributários (VAZZOLER; SUZUKI, MARQUES; PEREZ
LIZAMA, 1997). Characiformes preferem,geralmente, cursos de águas rasos (menos de3 m), não muito largos (menos de 80 m), commoderada turbulência e fundo rochoso, comdepósitos de areia ou cascalho. A reproduçãoocorre durante a elevação do nível do rio,quando a água está mais túrbida e com acondutividade e temperatura elevadas.Embora alguns Siluriformes requeiramhábitats desse tipo, muitos podem desovar
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 2929292929
em águas mais lênticas, com fundo arenoso(VAZZOLER; SUZUKI, MARQUES; PEREZ LIZAMA, 1997;
NAKATANI; BAUMGARTNER; CAVICCHIOLI, 1997).Outras espécies são encontradas reproduzindona calha do rio principal, como é o caso do jaúZungaro zungaro e do pacu Piaractusmesopotamicus no rio Paraná (AGOSTINHO;
GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003).
Na Amazônia, os caracídeos migradorestambém procuram locais onde a turbidez émais elevada, como o leito principal de riosde água branca (GOULDING; SMITH; MAHAR, 1996)ou na confluência de tributários (GOULDING,
c1980). Para isso eles abandonam várzeas etributários de águas claras ou pretas, com umpadrão de migração reprodutiva diferentedaquele registrado nas demais baciasbrasileiras, com os peixes realizandomigrações descendentes até o leito do rioprincipal (SANTOS; FERREIRA, 1999). Como jámencionado, os grandes bagres migradoresamazônicos realizam grandes viagens nadireção oeste, provavelmente desovando emlocais do alto rio Solimões (RUFFINO; BARTHEM,
1996).
Na bacia do rio São Francisco, apesar daocorrência de grandes migradores, como odourado, o pintado e o curimba, pouco sesabe dos seus locais de desova (SATO; GODINHO,
1999). Sabe-se que reproduzem na época deáguas altas, sendo provável que desovem nacalha dos rios principais e tributários (SATO;
GODINHO, c2003).
Entretanto, qualquer que seja a bacia, asespécies migradoras lançam seus gametas emáguas movimentadas, que facilitam o contatoentre eles e a fecundação. Os ovos fecundados
são levados pelas correntes até os trechosinferiores do rio ou tributários enquanto sedesenvolvem e eclodem. Todo o processoparece ocorrer durante a elevação de nível daágua, sendo que as larvas são levadaspassivamente pelas cheias para as áreasrecém- alagadas onde ocorre seudesenvolvimento inicial.
Hábitat de crescimento: são, em geral, áreasde várzeas situadas nas partes mais baixas detributários, ao longo do canal principal ou emilhas de grandes rios. Nas várzeas, depressõesarmazenam água de forma temporária oupermanente (lagoas marginais) sendo essescorpos d’água heterogêneos em relação àforma, área superficial, profundidade média egrau de conexão com o rio principal. Larvas àderiva alcançam essas lagoas quando o riotem seu volume de água aumentado,permitindo a conexão. O uso desses hábitatspelos juvenis tem sido reportado para rios dasbacias Amazônica, Paraná e São Francisco,sendo sugeridas ainda para o rio Paraíba doSul (ARAÚJO, 1996).
Na vazante, quando a água está retraindo, osjovens que abandonam as lagoas temporáriaspodem entrar ativamente nas lagoaspermanentes através dos canais de conexãoremanescentes. Estudos sugerem que aslagoas são os ambientes com a maiordiversidade de fitoplâncton, perifíton,rotíferos, zooplâncton, macrófitas aquáticas,bentos e peixes. Além disso, apresentamabundância mais elevada de fitoplâncton,zooplâncton, macrófitas aquáticas e peixes(AGOSTINHO; THOMAZ; MINTE-VERA; WINEMILLER,
2000). Em lagos de planícies de inundação, asmacrófitas aquáticas constituem importante
30 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 2.7. Projeção labial em, decorrente da
diminuição da concentração deoxigênio em lagoas da planície doalto rio Paraná (Foto: F.M. Pelicice).
Astyanaxaltiparanae
hábitat, assegurando o desenvolvimento dejuvenis, ao fornecer abrigo e recursosalimentares (SÁNCHEZ-BOTERO; ARAÚJO-LIMA,
2001). Estudos recentes em região tropicalvêm mostrando que complexas relações seestabelecem entre assembléias de peixes ebancos de macrófitas (AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO
JÚNIOR, 2003; MAZZEO; RODRÍGUEZ-GALEGO; KRUK;
MEERHOFF; GORGA; LACEROT; QUINTANS; LOUREIRO;
LARREA; GARCIA-RODRÍGUEZ, 2003; PETRY; BAYLEY;
MARKLE, 2003; PELICICE; AGOSTINHO; THOMAZ,
2005).
Um fato peculiar em lagos tropicais e quepossivelmente teve influência decisiva naevolução da ictiofauna é que, durante a fasede altos níveis do rio, quando as lagoas sãomais profundas, estratificação térmica podepersistir por mais que 24 horas, levando aestratificação vertical de nutrientes e gases(THOMAZ; LANSAC-TÔHA; ROBERTO; ESTEVES; LIMA,
1992; LANSAC-TÔHA; THOMAZ; LIMA; ROBERTO;
GARCIA, 1995). Freqüentemente surgemcamadas anóxicas próximas ao sedimento(THOMAZ, 1991). Quando ocorre a mistura dacoluna nessas circunstâncias, uma grandemortandade de peixes pode ocorrer,fenômeno conhecido como “friagem” noPantanal (ESTEVES, 1988). Isso ocorre peladiminuição da concentração de oxigênio nascamadas superficiais, aumentando também aconcentração de gases tóxicos.
Muitas espécies de peixes desenvolveramadaptações que permitem sobreviver emcondições de baixa concentração de oxigênioou até mesmo respirar o ar atmosférico. Estasestratégias respiratórias, presentes tanto emalgumas espécies sedentárias quanto nasmigradoras, incluem a utilização da bexiga
natatória como pulmão (piararucu, pirambóiae eritrinídeos) (FARREL; RANDALL, 1978; MATTIAS;
MORON; FERNANDES, 1996), a vascularização dacavidade bucal (poraquê) ou o estômagocomo órgão auxiliar na respiração (cascudos)(PERNA; FERNANDES, 1996). Entre os caracídeos,uma estratégia bem difundida é a projeção dolábio inferior formando uma barbela,permitindo que aproveitem a camadasuperior da coluna d’água mais rica emoxigênio (WINEMILLER, 1989). Após a queda datensão de oxigênio, esta projeção pode sedesenvolver em questão de horas (Figura 2.7).
A despeito dos baixos níveis de oxigêniodissolvido nas camadas mais profundas, aslagoas fornecem grande quantidade deabrigo e alimento para os jovens de peixes(GOMES; AGOSTINHO, 1997). Na falta de lagoas,os remansos laterais, assim como bancos demacrófitas aquáticas no canal principal dorio, parecem desempenhar papelimportante para o desenvolvimento inicial.
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 3131313131
No alto rio Uruguai, onde as áreas alagadassão restritas, acredita-se que as imediações dafoz dos grandes tributários, que comportagrandes áreas de remanso pela vazãoaumentada do rio principal, desempenhemimportante papel no desenvolvimento inicialde larvas (David A. R. Tataje, informaçãoverbal). Mesmo assim, existe uma hipótesealternativa de que os peixes que desovamnesta região têm suas larvas carreadas porcentenas de quilômetros até lagoas marginaislocalizadas no trecho médio do rio Uruguai(HAHN, 2000).
Como já mencionado, os grandes bagresamazônicos utilizam estratégia diferente nodesenvolvimento de formas jovens. Após adesova na região do alto rio Solimões, ovos elarvas derivam milhares de quilômetros até aregião dos estuários, na foz do rio Amazonas(GOULDING; SMITH; MAHAR, 1996). Essa é umaregião de alta produtividade planctônica. Ospeixes lá permanecem até atingirem a faseadulta ou pré-adulta, quando iniciam jornadario acima.
Hábitat de alimentação: os hábitats dealimentação são aqui definidos como locaisutilizados pelos indivíduos adultos, com finsalimentares. Após a desova, os grandes peixesmigradores permanecem, geralmente, noleito dos rios ou em hábitats criados com oalagamento de florestas e planícies.
Na Amazônia, os caracídeos retornam àsregiões de várzea de rios de água branca oumigram para locais superiores de rios deáguas claras e pretas. Fato interessante é quenessa bacia as espécies migradorasapresentam alta atividade alimentar durante
o período de águas altas, época de maiordisponibilidade alimentar, o que resulta emgrande acúmulo de gorduras (JUNK, 1985).Espécies herbívoras aproveitam o acesso aáreas de floresta alagada, onde consomemfrutos e sementes, como o tambaqui Colossomamacropomum e a pirarara Phractocephalushemiolopterus (GOULDING, c1980; GOULDING;
SMITH; MAHAR, 1996).
Espécies piscívoras caçam suas presas no leitodos rios, especialmente na desembocadurados corixos e dos tributários, e dentro delagoas marginais (ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO;
FABRÉ, 1995). Os grandes bagres amazônicospermanecem no leito dos grandes rios,aproveitando ou até mesmo acompanhandocardumes de Characiformes que estão sedeslocando (BARTHEM; RIBEIRO; PETRERE JUNIOR,
1991; GOULDING; SMITH; MAHAR, 1996).
Os iliófagos migradores (curimbas e jaraquis)concentram-se nas margens de grandes rios,ou adentram as regiões alagadas (CARVALHO;
MERONA, 1986; GOULDING; CARVALHO; FERREIRA,
1988). Nesses ambientes encontram substratosonde detritos e algas perifíticas se aderem,como troncos e pedras.
Nas áreas de várzeas do rio Paraná, osiliófagos prochilodontídeos podempermanecer nas lagoas, se alimentando(MARÇAL-SIMABUKU; PERET, 2002), enquanto queem rios de águas claras na Amazônia écomum que permaneçam também em praiasarenosas marginais.
Durante as águas altas na planície deinundação do alto rio Paraná, o armadoPterodoras granulosus, uma espécie onívora,consome frutos/sementes de Ficus, Cecropia e
32 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Polygonum, funcionando como dispersordessas espécies (SOUZA-STEVAUX; NEGRELLE;
CITADINI-ZANETTE, 1994; PILATI; ANDRIAN;
CARNEIRO, 1999).
Com a construção de reservatórios, oshábitats de alimentação dos peixesmigradores podem mudar. Na planície deinundação do alto rio Paraná, o curimba P.lineatus sobe os tributários para desovar,voltando à calha principal dos rios, seu sítio
de alimentação. Após a construção doreservatório de Itaipu, essa espécie passou autilizar a região superior do reservatóriopara fins de alimentação, permanecendonesse ambiente até o próximo eventoreprodutivo (AGOSTINHO; VAZZOLER; GOMES;
OKADA, 1993) (Figura 2.8). Exceto pela suaporção fluvial, os reservatórios parecem nãose constituir em hábitat adequado para amaioria das espécies migradoras (ARAÚJO-
LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ, 1995).
A
Barragem
Rese
rvató
rio
de
Itaip
u
Áre
ad
ea
lime
nta
cão
Rio Piquiri
Rio Iguatemi
Rio
Pa
ran
á
Lagoas
Canais
Rio Ivinheima
JUL
-N
OV
AB
R-
JUN
AB
R-
JUN
SET- N
OV
NOV - FEV
NOV - FEV
NO
V-
FE
V
FE
V-
AB
R
DEZ - MAR
DE
Z-
JAN
Áreas de crescimentoe alimentacão
Áreas de Reproducão
Repouso
Esgotado
Reproducão
Maturacão
Repouso
ImaturoLarvas
Adu
ltos
>18
,9cm
Jove
ns
Legenda
B
Lê
ntic
oe
Can
ais
Res
erva
t.Lótic
oAnualCiclo
1º Ano
2º Ano
Figura 2.8 - Modelo conceitual representando o comportamento do curimbana bacia do alto rio Paraná (A) e ambientes usados durante seu ciclo de vida (B) (modificadode AGOSTINHO; VAZZOLER; GOMES; OKADA, 1993).
Prochilodus lineatus
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 3333333333
Alimentação Natural
Uma característica marcante da maioriadas espécies de peixes neotropicais é a altaplasticidade na dieta (ver Box 2.3). Muitoshábitats de água doce, ao contrário damaioria daqueles terrestres, são marcadospor elevada variabilidade em seus atributoshidrológicos e limnológicos, o queprovavelmente impediu que as espécies depeixes seguissem trilhas evolutivas rumo àespecialização trófica. Em águas tropicais, a
especialização da dieta se constitui emestratégia arriscada, já que a disponibilidadede alimento é altamente flutuante edependente de fatores pluviométricos,variáveis sazonal e anualmente. Podeocorrer que em determinados anos algunsrecursos não estejam disponíveis, e umaespecialização extrema pode significarsolução evolutiva perigosa. Como exemplo,podemos citar a relevante variação na época,intensidade e duração das cheias na regiãodo alto rio Paraná, antes do fechamento darepresa de Porto Primavera (AGOSTINHO;
THOMAZ; NAKATANI, 2002). Dessa forma écompreensível que a seleção natural tenhafavorecido espécies com grande amplitudena dieta.
Mesmo com esse elevado grau deplasticidade, a variedade de formasmorfológicas é imensa, com relação àdentição, posição da boca e sistemadigestório (LOWE-McCONNELL, 1999).Considerando que hábitos alimentaresgeneralistas não precisam de aparelhagem
Além disso, considerando que espéciesverdadeiramente pelágicas em águas sul-americanas são raras (GOMES; MIRANDA, 2001),somente as regiões litorâneas dosreservatórios são ocupadas, basicamente porespécies de pequeno porte não-migradoras.As áreas abertas dos reservatórios, que seconstituem na maior parte destes, sãocaracterizadas pela baixa densidade de peixes(AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999).
BoBoBoBoBox 2.3x 2.3x 2.3x 2.3x 2.3
Plasticidade trófica em peixes de água doce
ABELHA, M.C.F.; AGOSTINHO,A.A.; GOULART, E.Plasticidade trófica em peixes de água doce. ActaScientiarum, Maringá, v. 23, no. 2, p. 425-434, Apr. 2001.
“Esta revisão apresenta uma síntese a respeito da plasticidade alimentar em teleósteos de água doce emrelação às variações espaço-temporais, ontogenéticas, individuais e comportamentais. A ocorrência de dietaflexível é uma característica marcante da ictiofauna fluvial tropical, onde a maioria das espécies pode mudarde um alimento para outro tão logo ocorram oscilações na abundância relativa do recurso alimentar em uso,motivada por alterações ambientais espaço-temporais. Quase todas as espécies mudam troficamente durantea ontogenia, e em muitas populações os indivíduos podem apresentar preferências alimentares ou fazer usode táticas alimentares distintas, conduzindo a um forrageamento intra-específico diferenciado. Essasconsiderações evidenciam dificuldades que podem ser encontradas no estabelecimento de padrões alimentaresespecíficos fidedignos para as espécies de teleósteos.”
34 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
alimentar especial, não seria esperado que asespécies apresentassem padrõesmorfológicos semelhantes entre si?Entretanto, cada espécie tem sua históriaevolutiva particular e é provável quefizessem algum uso de suas adaptações emépocas passadas. Além disso, o isolamentopode permitir que a evolução desenvolvasoluções tróficas distintas para situaçõessemelhantes. Mesmo hoje, podemosobservar espécies que tendem a se alimentarpreferencialmente de determinados itens,mas que na sua ausência podem assimilarfacilmente outros. Como exemplo, piranhasdos gêneros Serrassalmus e Pygocentrus, commandíbulas e dentes adaptados a capturarpeixes e dilacerar tecidos, consomem tambéminsetos e material vegetal (WINEMILLER, 1989).
Os itens mais consumidos, principalmentepor espécies de pequeno e médio porte, sãoalgas filamentosas, microcrustáceos, larvasde insetos, outros invertebrados aquáticos eterrestres, material vegetal terrestre e restosde peixes (ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ,
1995). A representatividade desses itensdepende basicamente da espécie de peixeconsiderada, do ambiente e da época do ano.Macrófitas aquáticas, apesar de muitoabundantes (SANTAMARÍA, 2002), sãoraramente consumidas por peixes sul-americanos (AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO JÚNIOR,
2003).
Entretanto, existem exceções quanto àamplitude alimentar; por exemplo, algumasespécies apresentam restrições morfológicasa eurifagia, como os planctívoros filtradorese os iliófagos (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1999).Nesses casos as espécies desenvolveram
adaptações morfológicas bucais que vãodesde lábios suctoriais ou suctoriais-raspadores, como nos cascudos (loricarídeos)e curimbas (prochilodontídeos), atémandíbulas em forma de pá, nos canivetes(parodontídeos) e sagüirus (curimatídeos).Adaptações morfológicas no estômago eintestino também são comuns. Os intestinossão longos, excedendo em muito o tamanhodo corpo do peixe, o que possibilita adigestão e absorção de alimentos comofibras vegetais e microorganismos. Éimportante destacar que, especialmente paraas detritívoras, o detrito é um recursoabundante e presente em todos os hábitats.Ao longo da história evolutiva, oaparecimento de espécies aptas a explorarexclusivamente detritos não parece ter sidotão arriscado quando comparamos comespécies hipotéticas especialistas,dependentes exclusivamente de certasespécies de insetos (chironomídeos, porexemplo), que têm distribuição e abundânciamais incerta. Dessa forma, a detritivoria setornou um hábito presente em todas asbacias sul-americanas, formando, inclusive, abase de muitas teias tróficas (CATELLA;
PETRERE JUNIOR, 1996). Interessantemente, agrande biomassa de detritívoros ébalanceada por um baixo número de espéciesespecializadas neste recurso, à exceção doscascudos (BOWEN, 1983). Outras espécies, semadaptações específicas, também consomemdetritos em conjunto com outros recursos,porém seu valor proteíco e energético éincerto.
Outro hábito muito difundido é a piscivoria,tanto em número de indivíduos quanto deespécies (ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ,
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 3535353535
1995), e vale destacar que muitas espéciesmigradoras pertencem a esta guilda trófica.Dentre as estratégias de predação, existemespécies que caçam emboscando suasvítimas (eritrinídeos, pirarucu e grandesbagres), outras que formam cardumes paracaçar (dourado, cachorras, tucunarés),enquanto outras predam de formaoportunística (piranhas e saicangas).
Os padrões alimentares em assembléias depeixes são pouco consistentes, dada aflexibilidade na dieta de muitas espécies,como já discutido. Entretanto, algunspadrões de consumo relacionados aoambiente em que a assembléia está inseridapodem ser detectados, provavelmente emrazão da disponibilidade dos recursos.
As assembléias de peixes de córregos eribeirões consomem principalmente insetose partes vegetais, resultando numpredomínio de espécies onívoras. Essesitens, geralmente de origem alóctone(externa), são abundantes nesse tipo deambiente, dada a maior relação doambiente aquático com as encostas. Emboraos riachos com grande incidência de luzpossam apresentar elevada disponibilidadede algas, especialmente perifítica (aderida),o material alóctone parece predominar(ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ, 1995). Essatendência encontra respaldo em diferentesbacias brasileiras. Assim, em um riacho defloresta Atlântica, Sabino e Castro (1990)constataram que os insetos aquáticos eterrestres, além de algas, foram os itensmais consumidos. Sabino e Zuanon (1998)obtiveram resultado semelhante em umriacho na Amazônia Central, com a
assembléia de peixes comendopredominantemente insetos, outrosinvertebrados, algas e detritos. Padrõessemelhantes são descritos para a bacia doalto rio Paraná (CASTRO; CASATTI, 1997; LEMES;
GARUTTI, 2002).
Em rios, a natureza dos recursos alimentaresutilizados é muito variada, dependente dascaracterísticas particulares de cada ambiente(declividade, planícies alagáveis, substrato,etc.). De modo geral os itens consumidospelos peixes são partes vegetais e detritos,algas, zooplâncton, insetos (adultos e larvas),outros invertebrados aquáticos (caranguejos,camarões, moluscos, poríferos, anelídeos,briozoários) e peixes (inteiros, sangue,escama e nadadeiras). Embora algum nívelde especialização alimentar possa serencontrado nos rios, essa não deve ser umaboa estratégia para os ambientes altamenteflutuantes das planícies de inundação.
Em rios e ambientes de planícies deinundação, as espécies detritívoras episcívoras apresentam geralmente altabiomassa total. Esse padrão estáevidenciado em trabalhos realizados emdiversas bacias.
No rio Mujacai, Rondônia, a biomassa depiscívoros/carnívoros e detritívorossomaram 70% e 20% do total,respectivamente (FERREIRA; SANTOS; JÉGU,
1988). No rio Trombetas, bacia Amazônica,a biomassa dominante foi a de piscívoros,em diversos locais amostrados (FERREIRA,
1993). No alto rio São Francisco, Alvim ePeret (2004) relataram a dominância dasguildas iliófaga, herbívora e piscívora.
36 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Na região de planície do alto rio Paraná,seus ambientes apresentam elevada riquezade espécies piscívoras e insetívoras,enquanto que, em termos de biomassa, osmaiores valores são de espécies piscívoras,iliófagas e detritívoras (AGOSTINHO; JÚLIO
JÚNIOR; GOMES; BINI; AGOSTINHO, 1997). Emlagoas dessa região, Peretti e Andrian (2004)verificaram que os itens mais consumidossão peixes, material vegetal e detrito/sedimento, sendo que a guildapredominante foi a detritívora/iliófaga. Emlagoas da planície de inundação do rioMogi-Guaçu, bacia do rio Paraná, asespécies mais abundantes foram o curimbae saguirus, espécies detritívoras/iliófagas(MARÇAL-SIMABUKU; PERET, 2002).
Em reservatórios, as assembléias de peixessão sustentadas essencialmente por recursosautóctones (locais). Agostinho e Zalewski(1995) estimam que, no reservatório deItaipu, cerca de 70% da biomassa é compostapor espécies que se alimentam de elementosautóctones (plâncton, bentos e peixes), 25%utiliza detritos com origem mista e apenas5% é sustentada por itens de origemalóctone. Já nos cinco primeiros anos após aformação deste reservatório, mais de 75%das capturas eram baseadas em espéciesinsetívoras, planctófagas e piscívoras (HAHN,
1991).
Nos reservatórios pequenos, que preservammaior relação com as encostas, a entrada dematerial alóctone pode ser importante(ABELHA; GOULART; PERETTI, 2005). Contudo, acontribuição deste material é, em geral,maior nos trechos mais altos dosreservatórios ou durante o primeiro ano de
sua formação. A incorporação de matériaorgânica terrestre ao sistema aquáticodurante a fase de enchimento eimediatamente após o represamento produzum incremento acentuado nadisponibilidade de alimento, especialmentepara peixes de pequeno porte, que, emgeral, são insetívoros, herbívoros ouonívoros. Esse incremento pode levar àproliferação de piscívoros em momentossubseqüentes. Após o fechamento dabarragem de Tucuruí, Mérona, Santos eAlmeida (2001) observaram um aumento dabiomassa piscívora. Em 31 reservatórios doestado do Paraná e bacias limítrofes, umestudo recente evidenciou a enormeparticipação da biomassa piscívoracompondo as assembléias, discutindoinclusive os possíveis efeitos controladorespromovidos por essa predação (top-down) naprodutividade de peixes dessesreservatórios (PELICICE; ABUJANRA; FUGI; LATINI;
GOMES; AGOSTINHO, 2005).
Já a mineralização da matéria orgânica e adecorrente elevação de nutrientes nosreservatórios permite uma elevadaprodução primária e o desenvolvimento dezooplâncton, resultando no incremento dabiomassa de planctívoros (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).No reservatório de Itaipu, ocorreu enormecrescimento populacional de Hypophtalmusedentatus, espécie planctófaga filtradora,permitindo inclusive o estabelecimento deuma importante pesca comercial (AMBRÓSIO;
AGOSTINHO; GOMES; OKADA, 2001; ABUJANRA;
AGOSTINHO, 2002). Como é comum a ausênciade espécies filtradoras planctófagas emáguas sul-americanas, os recursos
A Ictiofauna Sul-Americana: composição e história de vida 3737373737
planctônicos (fito e zooplâncton) sãoconsumidos em grande parte por espéciesde pequeno porte que habitam as regiõeslitorâneas, e pelos juvenis (CASATTI; MENDES;
FERREIRA, 2003; PELICICE; AGOSTINHO, 2006).
Por outro lado, a vegetação inundadapermite o florescimento do perifíton e,portanto, elevada disponibilidade desserecurso alimentar, que é valioso para osiliófagos (PETRERE JUNIOR, 1996; AGOSTINHO;
GOMES, 1998). Ainda, em reservatórios rasos,o detrito pode assumir maior importânciana dieta, seguido pelo consumo de insetos(ARCIFA; MESCHIATTI, 1993).
Entretanto, a capacidade de uso de recursosalimentares variados pela ictiofauna limitaqualquer tentativa de generalização sobresua ecologia alimentar. Mudançasontogenéticas, sazonais, espaciais eindividuais na dieta, aliadas a um amplorepertório de táticas alimentares, fornecemexemplos dessa flexibilidade e dificultam oestabelecimento de padrões que viabilizemcomparações fidedignas entreecossistemas, e classificações da ictiocenoseem categorias tróficas consistentes (ABELHA;
AGOSTINHO; GOULART, 2001). Talvez o maisindicado seja o estudo da amplitude davariabilidade natural na dieta dos peixes.Somente conhecendo os limites dessavariabilidade e os principais fatoresresponsáveis pelas variações, poderemosfazer inferências mais precisas acerca daecologia trófica das espécies, podendoinclusive predizer impactosantropogênicos sobre a dieta e, por fim,predizer alterações na estrutura dasassembléias.
Considerações Finais
Os peixes neotropicais de águas interioressão marcados por uma imensa diversidadede espécies e padrões comportamentais.Apesar de as espécies apresentarem históriasde vida específicas, com inúmeras adaptaçõesmorfo-fisiológicas, estreitamente associadasà sua história evolutiva, podemos destacar aelevada flexibilidade em suas estratégias devida, amplamente dependentes do contextoonde o indivíduo está inserido.
Mesmo com uma enorme variedade de tiposde estratégias reprodutivas e alimentaresentre as espécies, a sazonalidade é acaracterística mais conspícua da maioria,estando fortemente associada a ciclos decheia/seca. Espécies com hábitossedentários e migradores são encontradasem todas as bacias e nos mais variadosambientes sul-americanos, sendoimportantes componentes das assembléiasícticas e desempenhando papéis distintos nofuncionamento dos ecossistemas. Emboracom adaptações distintas, essas espéciesdependem do regime hidrológico, sendoessa dependência maior entre osmigradores.
É inerente aos objetivos da construção deum reservatório, qualquer que seja suafinalidade, a redistribuição das vazões aolongo do ano (produção de energia,navegação, controle de cheias) ou aderivação da água (irrigação,abastecimento). Assim, o impacto maispronunciado dos represamentos incidesobre a ictiofauna, especialmente os peixes
38 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
migradores. Além do controle do regimehidrológico, a interceptação de rotasmigratórias e a redução de hábitats dedesova e criadouros naturais estão entre osfatores que afetam esse grupo de peixes.No grupo dos migradores, estão incluídosos maiores peixes de nossa fauna, amaioria predadores de topo, comimportante papel na cadeia alimentar denossas águas. Portanto, além de ser os maisprejudicados pelos represamentos,constitui um grupo de elevado interessesocial, econômico e ecológico, devendo serobjeto especial de interesse de manejo.Lamentavelmente, o trecho do reservatóriopassível de ocupação por eles é geralmenteo superior. Assim, ações de preservaçãodevem ser implementadas nos trechosainda livres da bacia, e ações deconservação dos estoques nas pescarias do
terço superior da área represada, ounaqueles onde estes sejam objetos deinteresse na pesca.
As espécies sedentárias podem manter suaspopulações desde que amplamentedistribuídas e mantidos os seus processosmetapopulacionais, especialmente os denatureza genética. As espécies sedentárias eendêmicas requerem atenção especial,principalmente se concentradas em áreas aserem represadas ou nos primeirosquilômetros a jusante da barragem. Dequalquer forma, é nesse grupo que osimpactos sociais decorrentes dorepresamento podem ser compensados,visto que muitas dessas espécies podemproliferar no ambiente represado e manteruma pesca sustentada, desde queadequadamente manejada.
Capítulo 3Os Reservatórios Brasileiros e sua
Ictiofauna
Os grandes reservatórios brasileiros foram construídos, em sua
maioria, na segunda metade do século XX. Com fins
primariamente hidrelétricos, inundaram extensas áreas, superando
hoje 35.000 km2. As bacias do Sul e Sudeste do país, por
apresentarem densos aglomerados urbanos e uma zona industrial
bem -desenvolvida, contêm a maior parte desses empreendimentos,
sendo também as mais impactadas quanto à conservação de seus
recursos pesqueiros. Isso porque o barramento de rios provoca
transformações profundas na ictiofauna local, geralmente com perda
de biodiversidade. A fauna de peixes que habita reservatórios é
composta primariamente por espécies sedentárias de pequeno porte,
mas a alteração mais marcante e ubíqua é, sem dúvida, o
desaparecimento de espécies migradoras de grande porte.
Capítulo 3.1Os Reservatórios Brasileiros
Introdução
Os reservatórios são obras deengenharia que têm sido construídas hápelo menos 5.000 anos, como sugerem oslevantamentos realizados no OrienteMédio e na Ásia. Durante milhares deanos, estas foram construídas com afinalidade de controle de cheias, irrigaçãoe suprimento de água para abastecimentodoméstico. A barragem de Sadd-el-Kafara,contruída em 2600 AC, no Egito, com afinalidade de controlar cheias, tinha 14 mde altura e 110 m de crista, sendoreconhecida como a mais antiga. Suaconstrução levou cerca de 12 anos, masuma forte cheia causou sua erosão antesmesmo que estivesse concluída (JANBERG,
2005). Um dos reservatórios mais antigos,e ainda em uso para irrigação, é o deTashahyan, com uma barragem de 27 m,no rio Abang Xi, na China, construído em833 AC (PETTS, c1984).
A construção de reservatórios apresentou,entretanto, marcante expansão no final doséculo XIX e, especialmente, no século XX,
como decorrência do desenvolvimentotecnológico, urbano e industrial. Aquelesdestinados à geração hidrelétricacomeçaram a ser construídos a partir dadécada de 1880. A crescente demanda porenergia elétrica para as atividadesindustriais (no começo representadas pelasfábricas de tecido, processamento deprodutos agrícolas, mineração) e deiluminação pública (a lâmpada havia sidoinventada em 1879), foi inicialmentesuprida por termoelétricas e, mais tarde,por fontes hídricas.
O século XX iniciou-se com algumascentenas de grandes reservatórios em todoo mundo (Figura 3.1.1). Os critériosadotados pela World Commission on Dams(WCD) estabelecem como grandesreservatórios aqueles que apresentambarragens mais altas que 15 m (MÜLLER,
c1996). Barragens com alturas inferiorespodem ser consideradas para definir essacategoria desde que tenham volumesuperior a 100.000 m3 de água acumulada,vazão superior a 2.000 m3/s e barragenscom pelo menos 500 m de comprimento decrista.
42 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Período
Nú
me
rod
eR
ese
rva
tório
s
< >
19
00
19
00
-19
09
19
10
-19
19
19
20
-19
29
19
30
-19
39
19
40
-19
49
19
50
-19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
Figura 3.1.1 - Número de reservatórios construídos no mundodurante o século XX (Fonte: , 2000).WCD
Até o final da Segunda Guerra, com a criseeconômica, o número de novas obras foiainda baixo, com menos de 1.000 grandesbarragens por década. No período de pós-guerra, com o crescimento econômico e odesenvolvimento da tecnologia do concretoarmado e de movimentação de terra, omundo assistiu a uma fantástica proliferaçãode grandes reservatórios. Assim, na décadaque se seguiu à formaçãodo primeiro grandereservatório contido porbarragem de concreto(Reservatório de Mead,640 km2, rio Colorado,EUA, 1941), o númerodessas construçõessuperou 2.000 unidadesanuais, com pico noperíodo de 1960 a 1990,quando mais de 15.000grandes reservatóriosforam formados(AVAKYAN; IAKOVLEVA,
1998; GARRIDO, 2000; WORLD
COMMISSION ON DAMS
(WCD), 2000). Para issocontribuíram, além dodesenvolvimentotecnológico, a demandaenergética resultante daduplicação da populaçãomundial entre os anos1940 e 1990.
No final do século XX, onúmero de grandesreservatórios existentesno mundo era superior a45.000, a maioria
localizada na China e em outros paísesasiáticos, mas uma porção consideráveltambém distribuída na América do Norte,América Central e Europa Ocidental (Figura3.1.2). Comparativamente, a América do Sulapresenta um número menor derepresamentos (WCD, 2000); entretanto, nestecontinente estão situados alguns dos maioresreservatórios do mundo.
0 5000 10000 15000 20000 25000
Austrália-Sul da Ásia
América do Sul
Europa Oriental
África
Europa Ocidental
Américas do Norte e Central
Ásia
China
Número de Reservatórios
Figura 3.1.2 - Número de grandes reservatórios existentes nosdiferentes continentes (Fonte: , 2000).WCD
Os Reservatórios Brasileiros 4343434343
Constatam-se, por outro lado, grandesdiferenças entre as estimativas publicadassobre o número de reservatórios. Viotti(2000), por exemplo, estima em mais de 2.000o número de grandes barragens na Américado Sul e Caribe. Já Avakyan e Iakovleva(1998), considerando reservatórios comvolume maior que 107 m3, estimam essenúmero em 270, um valor mais baixo que ode outros continentes, como a América doNorte (915), Europa (576) e Ásia (815). Taisdisparidades decorrem dos diferentescritérios utilizados para classificação de umcorpo de água como reservatório,especialmente os relacionados ao tamanho.Considerando os critérios da WCD, onúmero de grandes reservatórios na Américado Sul foi estimado em 979 (WCD, 2000).
No Brasil, as informações disponíveis sobreos reservatórios são fragmentadas e poucoconsistentes, exceto para aqueles de grandeporte ou mais recentes. É comum que a fichatécnica da maioria deles, especialmenteaqueles pequenos, mesmo operados paraprodução de energia, não reporte a data deformação e a área superficial alagada. Paramuitos deles, não há dados comoprofundidade média ou tempo de residênciada água, fundamentais na análise de suaprodução pesqueira. É também comum ainconsistência dos dados disponíveis.Valores distintos para o mesmo atributo ounomes diferentes para um mesmoreservatório podem ser constatados,inclusive em dados de mesma fonte. Issotorna difícil uma avaliação histórica dosrepresamentos ou a determinação donúmero deles. Assim, também para osreservatórios brasileiros, informações
disponíveis na literatura, na rede mundial(Internet) ou em relatórios produzidos porinstituições nacionais ou do exterior sãocontraditórias.
Em relação ao número, a falta deinformações sobre o critério para aestimativa contribui para sua imprecisão.Paiva, Petrere Junior, Petenate, Nepomucenoe Vasconcelos (1994) mencionam a existênciade cerca de 60.000 pequenos reservatóriossomente na região Nordeste do país. Osgrandes reservatórios hidrelétricosbrasileiros são estimados em cerca de 300por Viotti (2000) e em 109 por Avakyan eIakovleva (1998) (volume >107 m3).
Neste tópico é feita, com base nos dadosdisponíveis, uma avaliação dosrepresamentos brasileiros numa perspectivahistórica e espacial, com informações sobre onúmero, área e volume destes, sempreocupação com a ordenação dasinformações. São priorizadas as informaçõesproduzidas pela concessionária doreservatório, seguidas por aquelas deagências oficiais, publicadas e, finalmente, ascontidas em relatórios.
A Evolução dosRepresamentos no Brasil
A exemplo do que ocorreu no mundo, osrepresamentos brasileiros tinham,inicialmente, objetivos mais restritos, sendoem sua maioria destinados ao abastecimentode água e irrigação, especialmente noNordeste. A produção de energia elétrica empequena escala e em caráter suplementar à
44 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
produção mecânica ou por termelétrica foitambém a destinação dada a algunsreservatórios, iniciada no século XIX.Posteriormente, com a construção degrandes barragens, o uso das águasrepresadas se diversificou dramaticamente,incluindo, além de abastecimento eirrigação, o controle da vazão, a estocagemde peixes, a aqüicultura, a recreação, oturismo, o uso industrial, a navegação e,principalmente, a produção de energiaelétrica em larga escala (TUNDISI;
MATSUMURA-TUNDISI, 2003).
O histórico dos grandes represamentosnacionais está, entretanto, intimamenteligado ao histórico da construção de usinashidrelétricas. O domínio das termelétricasno final do século XIX e dos açudes para acontenção de água nas décadas iniciais doséculo XX foi rapidamente sobrepujado pelaenergia hidrelétrica gerada porbarramentos de rios. O desenvolvimentoeconômico no início do século XX,geralmente expresso pela instalação deindústrias e crescimento das cidadesbrasileiras, impôs uma elevada demanda deenergia elétrica, principalmente nas regiõesSul e Sudeste do país (VALÊNCIO; GONÇALVES;
VIDAL; MARTINS; RIGOLIN; LOURENÇO; MENDONÇA;
LEME, 1999). Nesse período, os planos deracionamento eram comumente adotadosem face da crescente demanda. Isso, aliado àelevada disponibilidade hídrica no país,tornou a construção de hidrelétricas umaalternativa urgente e desejada. A presençade capital estrangeiro no país tambémcontribuiu para a instalação das usinas emelhorias no sistema de transmissão(MÜLLER, c1996). No início das atividades, o
destaque coube à empresa Light, que atendiaas demandas de São Paulo e do Rio deJaneiro. Atualmente, os reservatórioshidrelétricos são componentes comuns daspaisagens brasileiras e encontram-seinseridos no cotidiano das pessoas.
A primeira usina hidrelétrica públicabrasileira contendo um lago de maior porte,a Usina de Marmelos, foi inaugurada em1889. Construída no rio Paraibuna, forneciaenergia elétrica à cidade de Juiz de Fora,Minas Gerais (SANTOS; FREITAS, 2000). Comuma capacidade inicial de 250 kW, abasteciao sistema de iluminação pública compostopor 180 lâmpadas incandescentes de 32velas/50 volts, e mais tarde 700 lâmpadaspara uso doméstico (MARCOLIN, 2005). Outrashidrelétricas já existiam, mas eram depropriedade particular e geravamquantidades modestas de energia (MÜLLER,
c1996). Na virada do século, o país contavacom cinco hidrelétricas, que produziam5.500 kW, além de seis centraistermelétricas. O primeiro grandereservatório, entretanto, foi formado em1901, com o fechamento da barragem dahidrelétrica de Edgard de Souza, operadapela Light, que deu origem a umreservatório com 30x106 m3. Outros grandesreservatórios construídos no período foramos de Guarapiranga (1906; 200x106 m3) eLajes (1907; 1052 x106 m3), operados pelaLight para a produção de energia, além dosaçudes de Cedro (1906; 126 x106 m3) eAcaraú-Mirim (1907; 52 x106 m3), no Ceará,operados inicialmente pela Inspetoria, maistarde denominada Departamento Nacionalde Obras Contra a Seca (DNOCS) (PAIVA,
1982; MÜLLER, c1996; GARRIDO, 2000).
Os Reservatórios Brasileiros 4545454545
A construção dereservatórioshidrelétricos no séculoXX aumentoutimidamente até adécada de 1940, quandoum grande número dehidrelétricas começou aser instalado emdiversos rios,principalmente daregião Sudeste (baciasdos rios Paraná e Paraíbado Sul). Com o incentivogovernamental e aelaboração de planos deaproveitamento doscursos d’água,intensificados durante ogoverno de JuscelinoKubtischek, observou-sena década seguinte umaumento exponencial nonúmero de reservatórioshidrelétricos, com aconstrução de quase 50barragens entre 1950 e1959 (Figura 3.1.3).
Nas décadas de 1960 e1970, o ritmo dasconstruções continuou elevado e mais de 40barragens foram implantadas. Até então,apesar do grande número de reservatórios,estes ainda eram pequenos em relação aosque começaram a ser construídos (Figura3.1.4). Após a década de 1960, foramconstruídos os maiores reservatóriosbrasileiros, como Sobradinho, Tucuruí,Balbina, Porto Primavera, Serra da Mesa,
Furnas, Itaipu, Ilha Solteira e Três Marias,todos com áreas superiores a 1.000 km2
(Tabela 3.1.1).
Embora o número de reservatóriosconstruídos por década tenha diminuído apartir de 1960, a área alagada decresceuapenas a partir da década de 1990 (Figura3.1.4). A utilização de outras fontes de
Período
0
40
80
120
160
200
240a
Período
0
10
20
30
40
50
b
Nú
me
roA
cum
ula
do
19
00
-19
09
19
10
-19
19
19
20
-19
29
19
30
-19
39
19
40
-19
49
19
50
- 19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
-19
99
20
00
-20
03
con
stru
ção
19
00
-19
09
19
10
-19
19
19
20
-19
29
19
30
-19
39
19
40
-19
49
19
50
-19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
-19
99
20
00
-20
03
con
stru
ção
Figura 3.1.3 - Número de reservatórios hidrelétricos construídosdesde 1900, considerando somente aqueles com registro defechamento. A figura apresenta o número acumulado noperíodo (a) e o número de reservatórios construídos em cadadécada (b).
Nú
me
roTo
tal
46 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
energia, como a nuclear,a térmica e o gás natural,algumas tidas como maislucrativas em termos deaplicação de capital(SANTOS; FREITAS, 2000),explicam em parte essatendência. Entretanto,outros fatoresconjunturais parecem tertido maior relevância,com destaque à queda noproduto interno bruto enas políticas públicasestabelecidas para osetor.
O setor hidrelétricobrasileiro, que até adécada de 1960 eraessencialmente privado,teve sua expansão, nasduas décadas seguintes,patrocinada pelo Estado,que passou a ocupar oespaço deixado pelainiciativa privada. Foramfeitos grandesinvestimentos naconstrução de novosreservatórios e noaprimoramento tecnológico. Assim, a décadade 1970 foi marcada pela grande expansão nainfra-estrutura energética, fornecendoeletricidade a preço baixo e sem interrupçãono fornecimento. A primeira crise mundialdo petróleo (1973) não afetou de modorelevante a economia brasileira, que tinha,na época, um PIB com crescimento anualsuperior a 10%.
Entretanto, a partir do segundo PlanoNacional de Desenvolvimento (1974-78), aampliação da base industrial e o incrementode importações levaram ao aumento nadívida externa, em razão das políticasgovernamentais indutoras de captação derecursos externos para atenuar a balança depagamento. Usinas hidrelétricas foramutilizadas como instrumento para obtenção
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Período
a
b
Áre
aA
cum
ula
da
(km
)2
19
00
-19
09
19
10
-19
19
19
20
-19
29
19
30
-19
39
19
40
-19
49
19
50
-19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
-19
99
20
00
-20
03
Áre
aTo
tal(
km)
2
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Período
19
00
-19
09
19
10
-19
19
19
20
-19
29
19
30
-19
39
19
40
-19
49
19
50
-19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
-19
99
20
00
-20
03
Figura 3.1.4 - Área inundada por reservatórios hidrelétricosconstruídos no Brasil desde 1900, considerando somentereservatórios com registro de fechamento e informação sobre aárea. A figura apresenta a área total acumulada no período (a) ea área alagada em cada década (b).
Os Reservatórios Brasileiros 4747474747
UsinaÁrea
(km )2
Altura
(m)
Volume
(10 m )6 3
Capacidade do
Vertedouro
(m /s)3
Potência
instalada
(MW)
Bacia
Hidrográfica
Tabela 3.1.1 - Os maiores reservatórios hidrelétricos brasileiros (Fonte: , c1996)MÜLLER
Sobradinho 4.214 43 34.100 22.850 1.050
Tucurui 2.875 93 45.500 100.000 4.000
Porto Primavera 2.250 38 18.500 52.000 4.540
Balbina 2.360 39 17.500 6.450 250
Serra da Mesa 1.784 144 55.200 15.000 1.275
Furnas 1.440 127 22.950 13.000 1.216
Itaipu 1.350 196 29.000 61.400 12.600
Ilha Solteira 1.195 74 21.166 40.000 3.444
Três Marias 1.142 75 21.000 8.700 396
São Francisco
Tocantins
Amazonas
Paraná
Tocantins
Paraná
Paraná
Paraná
São Francisco
dos empréstimos (NADER, 2005). A segundacrise do petróleo, no final da década de 1970,teve grande impacto sobre a economia,resultando no desequilíbrio das contaspúblicas, elevação da inflação e redução noPIB, com conseqüências na queda da atividadeprodutiva, aumento de desemprego e reduçãoda demanda energética. A menor capacidadede financiamento do setor elétrico na décadade 1980, para a qual também contribuiram ospreços subsidiados, dilatou cronogramas deconstrução e restringiu o início de novasobras, com reflexos na década seguinte. Nadécada de 1990, com o país em recessão, asdiscussões acerca da privatização do setor,iniciada na metade final da década anterior,passaram à prática, com o lançamento doPlano Nacional de Desestatização. Sob oargumento da necessidade de captação derecursos e de que o setor privado teria maioreficiência na alocação de recursos para osnovos empreendimentos, planejou-se aprivatização, liberou-se o mercado de capitaise preços e fomentou-se o livre comércio. A
ampla reformulação no setor levou a criaçãodo Programa Prioritário de Termelétricas ede entidades como a Agência Nacional deEnergia Elétrica (ANEEL), com papelregulador e de planejamento, o OperadorNacional de Sistema (ONS), para centralizare programar a geração, o Mercado Atacadistade Energia (MAE), formador de preços ondeas geradoras vendem a energia. Entretanto,os investimentos esperados do setor privadonão se efetivaram, culminando com medidasde racionamento e o apagão em 2001.
Em 1990, o Comitê Brasileiro de GrandesBarragens (CBGB) cadastrava 124 grandeshidrelétricas no país. Entretanto, essenúmero, considerando-se os critérios daWDC, foi estimado em 175. Contudo,devido ao caráter não-sistemático dosinventários, o número real está muitosubestimado e, como veremos, deve estarem torno de 600 atualmente. Os maioresreservatórios de hidrelétricas sãoapresentadas na Tabela 3.1.1.
48 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Anos
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1910 1930 1950 1970 1990 2010
Po
tên
cia
(MW
)
Figura 3.1.5 - Potência hidrelétrica instalada no Brasil, entre 1920 e2003 (Fonte: , 2000).SANTOS; FREITAS
A opção hídrica para a produção deeletricidade no Brasil decorreu da elevadadisponibilidade desse recurso, aliada aosestoques limitados de outras fontesenergéticas (gás natural, carvão e petróleo;SANTOS; FREITAS, 2000). Considerando toda aAmérica Latina, o potencial hidrelétrico ébem alto, estimado em cerca de 730 GW, oque corresponde a 22,7% do potencialmundial, o terceiro maior do mundo.Entretanto, o instalado está em torno de 200GW, participando com apenas 6,4% daprodução energética mundial e consumindocerca de 6,3% da geração no mundo (VIOTTI,
2000). O Brasil contribui consideravelmentepara a produção do continente, pois,segundo Santos e Freitas (2000), detém maisde 62,5 GW de capacidade instalada, compotencial total estimado em torno de 260GW. Condições hídricas favoráveis foramresponsáveis pela proliferação dehidrelétricas no país, evidenciada peloaumento exponencial da potênciahidrelétrica instalada(Figura 3.1.5).Atualmente, o paísfigura em terceiro lugarem capacidade instalada,perdendo somente parao Canadá e os EUA. Essaforma de geração deenergia tem contribuídocom mais de 80% daeletricidade consumidano Brasil.
Embora ainda com umgrande potencial deexpansão, o setorelétrico depara
atualmente com restrições motivadas pelaspercepções acerca da necessidade decontemplar os usos múltiplos e aconservação dos recursos hídricos.Atualmente, a legislação reconhece a águacomo um bem público, limitado e dotadode valor econômico. Sua gestão deveenfocar aspectos amplos, que incluam todabacia hidrográfica, assegurando o seuaproveitamento múltiplo e conservação.Essa gestão não deve ser centralizada e éimportante a participação direta dosusuários, incluindo o poder público, acomunidade e os demais setoresenvolvidos. Com isso foi criado o SistemaNacional de Recursos Hídricos, visandoorganizar e fortalecer as tomadas dedecisões, no que concerne à utilização dasreservas de água. Esse sistema inclui umConselho Nacional de Recursos Hídricos(CNRH), Comitês de Bacias e Agências, aosquais cabe decidir a gestão e o uso dorecurso.
Os Reservatórios Brasileiros 4949494949
BaciaÁrea Vazão
Km % m /s %2 3
Amazonas 3.900.000 47,8 133.380 73,2
Paraná 891.000 10,9 12.290 6,7
São Francisco 634.000 7,8 2.850 1,6
Uruguai 178.000 2,2 4.150 2,3
Costeira
Tocantins 757.000 9,3 11.800 6,5
1.798.000 22,0 17.700 9,7(Norte, Sul e Leste)
Tabela 3.1.2 - Área e vazão das bacias hidrográficas localizadasem território brasileiro (Fonte: modificada de
, 2000)SANTOS;
FREITAS
Os Reservatórios por BaciasHidrográficas
A drenagem dos 8.512.000 km2 do territóriobrasileiro é feita por cinco grandes baciashidrográficas (Amazonas, Tocantins, SãoFrancisco, Paraná-Paraguai e Uruguai), queincluem milhares de rios, ribeirões e riachos.Outras bacias, de menor porte eindependentes, completam a hidrografiabrasileira. Estas últimas se localizam naregião costeira e deságuam diretamente nooceano Atlântico. A vazão estimada para oconjunto dessas bacias é de 182.170 m3/s,sendo que a bacia Amazônica contribui comcerca de 73% desse total. A Tabela 3.1.2apresenta a área e a vazão dessas bacias.
Tendo como base informações obtidas emdiferentes tipos de publicações (impressas eeletrônicas) foi possível levantar mais de 720reservatórios, com área superior a 1 ha, emáguas continentais brasileiras. É provávelque esta seja, ainda, uma subestimativa donúmero real. Lamentavelmente, asinformações sobre muitosdeles não estão disponíveis,mesmo aquelas maisbásicas, como área, volume,altura de barragem e atémesmo o ano defechamento. Assim, para asavaliações realizadas nestetópico, foram consideradosapenas aquelesreservatórios com, nomínimo, algumainformação consistenteacerca de bacia hidrográfica
e dimensão, sendo esse número reduzidopara 660 reservatórios (incluindo açudes).
A maioria destes foi construída comfinalidades de abastecimento, irrigação eprodução de energia elétrica. Do total dereservatórios considerados, 510 (77%) podemser classificados como “grandesreservatórios” (sensu WDC), pois têm alturade barragem superior a 15 m. Vale destacarque 592 (90%) têm altura de barragemsuperior a 10 m. Do total, 247 (37%) sãodestinados prioritariamente à produção deenergia elétrica. Os reservatórios dehidrelétricas que continham informaçõestécnicas, pelo menos parcialmenteconsistentes, têm suas característicasapresentadas no final desse capítulo(APÊNDICE A), assim como sua distribuiçãopelo território brasileiro (APÊNDICE B).Cabe reiterar, entretanto, que as inferênciasapresentadas neste tópico referem-seessencialmente aos reservatórios cominformações disponíveis. É ponderado, poroutro lado, que entre estes estão todos osmaiores e os mais recentes até o ano de 2004.
50 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Reservatórios
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 50 100 150 200 250 300 350
TotalHidrelétricas
Figura 3.1.6 - Área total inundada por reservatórios emterritório brasileiro (n = 365), e a área inundada somentepor reservatórios de hidrelétricas (n = 170).
Áre
aacu
mula
da
(km
)2
Considerando o conjunto dasinformações levantadas, a áreainundada por reservatórios nopaís é superior a 35.200 km2
(Figura 3.1.6). Essa figuraapresenta a área acumulada dosreservatórios, em ordemdecrescente, a partir dos demaior área. Aspectoimportante é o fato de quereservatórios de hidrelétricasrepresentam quase 95% de todaessa área inundada (mais de33.300 km2; Figura 3.1.6). Valedestacar também que a áreainundada total deve serligeiramente maior, já que por inexistência deinformação, este levantamento considerousomente 365 reservatórios para computar aárea total, sendo 170 hidrelétricas. Muitosreservatórios antigos e/ou pequenos nãoforam, portanto, incluídos nesta análise.
Os reservatórios não estão distribuídos deforma uniforme no território brasileiro. Adistribuição, em número e tamanho, bemcomo a finalidade, estão intimamenteligadas às necessidades de cada região.Considerando o total de reservatóriosinventariados neste capítulo, a maior parteencontra-se na região Nordeste, na forma depequenos açudes de abastecimento (55%;Figura 3.1.7a), tendo sido construídos paraatenuar os efeitos da seca (GURGEL; FERNANDO,
1994). Do restante, grande parte está nazregiões Sul/Sudeste (bacias do Paraná: 22%;Atlântica Leste: 9%; Atlântica Sul: 7%), sendoque esses reservatórios apresentam, emgeral, maior área alagada e são destinadosbasicamente à produção hidrelétrica.
Esse padrão de distribuição é evidentequando consideramos somentereservatórios de hidrelétricas (Figura3.1.7b). Mais de 80% estão localizados naregiões Sul/Sudeste, nas bacias do rioParaná (42%), Atlântica Leste (19%),Atlântica Sul (14%) e do Uruguai (5%). Valedestacar o baixo número dessesempreendimentos na região Norte do país(bacias do rio Amazonas e Tocantins), ondea demanda por eletricidade é, em geral,menor. Ressalta-se, entretanto, que osplanos de expansão do setor elétrico paraessa região prevêem um grande número derepresamentos, principalmente na bacia doTocantins.
Considerando a área alagada por todos osreservatórios, quase metade encontra-se nabacia do rio Paraná (47%), seguida pelabacia do São Francisco (18%), Tocantins(15%) e Amazônica (8%), que possuemreservatórios de grande porte (Figura3.1.8a). Quando consideramos somente
Os Reservatórios Brasileiros 5151515151
reservatórios dehidrelétricas, quegeralmente apresentammaior área, o padrão semantém, com a bacia dorio Paraná sendo a maisalagada por esse tipo deempreendimento (51%;Figura 3.1.8b). O papeldas indústrias e aelevada demandaenergética pelos centrosurbanos foramresponsáveis pelainstalação de tais usinasnessa região.
As Pequenas CentraisHidrelétricas (PCHs) têmsido consideradas, desde1998, um dos principaisfocos de prioridade nofomento à expansão dosetor elétrico pelosórgãos públicos.Definidas como unidadescom capacidade geradoraentre 1 e 30 MW ereservatório com áreaigual ou inferior a 2 km2,as PCHs são vistas como mais adequadas aoatendimento de demandas de pequenoscentros urbanos e áreas rurais maisafastadas. Segundo a ANEEL(www.aneel.gov.br), no início de 2005existiam 250 dessas unidades emfuncionamento, contribuindo com 1,2%(1.220 MW) da capacidade instalada,concentrando-se principalmente no eixoSul-Sudeste.
Bacia Amazônica
O rio Amazonas é o rio mais longo doplaneta, com mais de 6.500 km de extensão, esua bacia cobre grande parte do territóriobrasileiro, somando quase 4.000.000 km2
(quase 50% do território).Conseqüentemente, a bacia é detentora deuma das maiores reservas de água doce domundo, na qual estão inseridos os estados do
Quantidade de Reservatórios (%)
a
Quantidade de Hidrelétricas (%)
b
Açudes e Atl. NorteParanáAtlântico LesteAtlântico SulSão FranciscoUruguaiTocantinsAmazônica
Açudes e Atl. NorteParanáAtlântico LesteAtlântico SulSão FranciscoUruguaiTocantinsAmazônica
Figura 3.1.7 - Número de reservatórios (%) nas bacias hidrográficasbrasileiras (a), e considerando somente reservatórios dehidrelétricas (b). A figura inclui somente os reservatóriosinventariados com informação a respeito de sua localização.
52 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Área Total Alagada (Km )2
Área Alagada por Hidrelétricas (Km )2
a
b
Açudes e Atl. NorteParanáAtlântico LesteAtlântico SulSão FranciscoUruguaiTocantinsAmazônica
Açudes e Atl. NorteParanáAtlântico LesteAtlântico SulSão FranciscoUruguaiTocantinsAmazônica
Figura 3.1.8 - Percentual da área alagada por todos osreservatórios nas diferentes bacias hidrográficas brasileiras(a), e percentual da área alagada somente por reservatórios dehidrelétricas (b). A figura superior inclui somente osreservatórios inventariados que continham informação arespeito de sua localização e área.
Amazonas, Rondônia,Acre, Roraima, Pará eAmapá, além de outrospaíses sul-americanos.
Apesar da elevadíssimadisponibilidade hídrica, onúmero de reservatóriosé baixo, resultado depressões de segmentosambientalistas, da (ainda)menor demandaenergética na região e dabaixa declividade dorelevo (por volta de 100m nas regiões superiores,no Peru), aspecto quediminui a capacidadegeradora. Fearnside(1989) discutiuamplamente ainviabilidade dessesempreendimentos naregião.
Entretanto, osreservatórios emoperação são de grande emédio porte, todos comfinalidade hidrelétrica.São eles: Paredão, no rio Araguari, Estadodo Amapá; Curuá-Una, no rio Curuá-Una,Estado do Pará; Balbina, no rio Uatumã,Estado do Amazonas; e Samuel, no rioJamari, Estado de Rondônia.
Balbina é um dos maiores reservatóriosnacionais, inundando uma área superior a2.300 km2. Entretanto, considerando seuporte, a produção energética é
extremamente baixa (Tabela 3.1.1), devido àjá citada baixa declividade. Muita discussãopermeou sua construção, pelo baixo retornoeconômico e os elevados danos e custosambientais/socioeconômicos.
A área alagada pelos quatro represamentosda bacia Amazônica soma quase 3.200 km2
(Figura 3.1.9), um valor relativamente baixopelo enorme potencial hídrico da região.
Os Reservatórios Brasileiros 5353535353
Reservatórios
Áre
aacu
mula
da
(km
)2
0
1000
2000
3000
4000
5000
0 1 2 3 4 5 6
Figura 3.1.10 - Área acumulada por reservatórios localizados nabacia dos rios Araguaia/Tocantins.
Reservatórios
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 1 2 3 4 5
Áre
aacu
mula
da
(km
)2
Figura 3.1.9 - Área acumulada por reservatórios localizados nabacia Amazônica, todos com fins hidrelétricos.
Como já mencionado, a produçãoenergética é muito baixa, mesmo seconsiderarmos a área alagada pelosmaiores represamentos. Samuel, queinunda uma área de 656 km2 tem potênciade apenas 217 MW, Paredão de 40 MW eCuruá-Una de 30 MW, contrastando com opotencial hidrelétrico da região, estimadoem mais de 54 GW.ano-1
(MÜLLER, c1996). Aprodução de energiadestas usinas, que somamenos de 1% dacapacidade instalada nopaís, é destinada à regiãoNorte.
Bacia Araguaia/Tocantins
Os rios Araguaia eTocantins percorrem umaextensão de 2.500 km, comdesnível de 1.100 m. Nabacia estão os Estados deGoiás, Mato Grosso, Pará eMaranhão, com área dedrenagem deaproximadamente 757.000km2.
De maneira similar à baciaAmazônica, esta bacia(ainda) não possui umnúmero expressivo dehidrelétricas em operação.Entretanto, os cincograndes reservatórios emoperação (Tucuruí, Serra
da Mesa, Lajeado, Cana Brava, IzamuIkeda) totalizam uma área alagada quesupera os 5.400 km2 (Figura 3.1.10),representando 15% de toda a área alagadapor reservatórios no país. Destacam-se osreservatórios de Tucuruí (2.875 km2) e Serrada Mesa (1.784 km2), que estão entre osmaiores do país.
54 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Áre
aacu
mula
da
(km
)2
Reservatórios
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Total
Hidrelétricas
Figura 3.1.11 - Área acumulada por reservatórios comdiferentes finalidades e hidrelétricas, localizados na baciado rio São Francisco.
Todos esses reservatórios foram construídoscom finalidade de produção energética,sendo que a capacidade instalada soma 5.394MW, contribuindo com 8,9% do total do país.
A ocupação da bacia do rio Tocantins porreservatórios é, entretanto, recente. Trêsdeles foram fechados no período de 1996 a2002. Vários outros reservatórios estãoprevistos ou em construção nessa bacia,destacando-se Peixe Angical, Estreito, SãoSalvador, Couto Magalhães e Santa Isabel(GALINKIN; SWITKES, [2003]). Todos serãoinstalados no rio Tocantins, com exceção dosdois últimos, que serão construídos no rioAraguaia. Segundo a ANEEL, os futurosprojetos prevêem a instalação de 14.500 MWem bacias nacionais, sendo que 36% serãoinstalados na bacia Araguaia/Tocantins.
Bacia do São Francisco
O rio São Francisco apresenta 2.700 km deextensão, drenando uma área de 634.000 km2,que inclui terras dos Estados deMinas Gerais, Goiás, Bahia,Pernambuco, Sergipe eAlagoas. O desnível total é deaproximadamente 1.600 m.
Apesar de o número de grandesreservatórios na bacia não seralto, a área ocupada por eles égrande, inundando quase 6.500km2, o que equivale a 18% daárea represada brasileira(Figura 3.1.11). Nessa baciaencontra-se a segunda maiorcapacidade instalada do país,com 10.473 MW (17,3% do total).
Foram constatados 21 grandesreservatórios na bacia do rio São Francisco,sendo estes construídos prioritariamentepara fins hidrelétricos. Na calha do médiorio São Francisco localiza-se o maior lagoartificial do país, com mais de 4.200 km2,que é o reservatório de Sobradinho.Outros reservatórios que se destacam pelotamanho são Três Marias (1.142 km2), noalto São Francisco, e Itaparica (828 km2),mais próximo à sua foz. Esses reservatórioshidrelétricos começaram a ser construídosapós a década de 1960. Outrosreservatórios que se destacam em tamanhosão Moxotó (93km2), Xingó (60 km2),Queimada (40 km2), além do complexoPaulo Afonso.
Reservatórios menores (< 5 km2) são maisantigos, e foram construídos antes oudurante a década de 1950. Pequenos açudestambém estão presentes no norte de MinasGerais e em estados nordestinos, fazendoparte da bacia do São Francisco.
Os Reservatórios Brasileiros 5555555555
Áre
aa
cum
ula
da
(km
)2
Reservatórios
Total
Hidrelétricas
0
500
1000
1500
2000
2500
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Figura 3.1.12 - Área acumulada por açudes e reservatórioslocalizados na região Norte/Nordeste do país. A figuraapresenta a área acumulada por todos os represamentos e aárea acumulada somente por hidrelétricas.
Porém, por falta de informações precisassobre a localização na bacia e ausência dedados sobre a área alagada, alguns estãoinclusos na seção seguinte.
Açudes e Atlântico Norte/Nordeste
A região semi-árida do Nordeste apresentacaracterísticas climáticas e edáficaspeculiares, com destaque à irregularidadeespacial e temporal das chuvas, elevadaevapo-transpiração e solo cristalino, quepropicia um quadro grave de falta d’água.Tal característica motivou a construção deum grande número de pequenos, médios egrandes reservatórios, conhecidos comoaçudes, para atenuar problemas com oabastecimento e irrigação. O problema dafalta d’água é crônico nessa região,especialmente no polígono da seca, quecompreende uma área de 1.548.672 km2 eenvolve nove Estados do Nordeste.
Considerando o conjunto dos açudesnordestinos, o número totalé estimado em torno de60.000 (GURGEL; FERNANDO,
1994). Essas obras têmtamanho variado e estãoespalhadas por diversosestados. A grande maioriadelas tem área inferior a 10km2 e foi construída antes dadécada de 1980. Suasconstruções, iniciadas nasúltimas décadas do séculoXIX, ainda no império,ganharam impulso naprimeira metade do séculoXX, especialmente após a
constituição dos órgãos precursores doDNOCS.
Os reservatórios dessa bacia estão inseridosem dezenas de sistemas fluviais,destacando-se os rios Piranhas, Acaraú,Apodi, Parnaíba, Jaguaribe, Itapicuru,Contas, Pajeu, Curu, Capibaribe, Ipojuca,Curimatau e o São Francisco. A maioriadesses rios flui independentemente para ooceano Atlântico, compondo a baciaconhecida como Atlântico Norte/Nordeste.
O presente capítulo inventariou 361 açudes/reservatórios, dos quais 345 continhaminformações a respeito de suas finalidades.Vale destacar que somente 21 eramhidrelétricas. O restante foi construídoprimariamente para abastecimento eirrigação de lavouras, adquirindoposteriormente importância como fonte depescado. Cobrem uma área total superior a2.500 km2, com menor participação dehidrelétricas, que cobrem aproximadamente700 km2 (Figura 3.1.12).
56 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
0
100
200
300
400
500
0 5 10 15 20 25 30
Áre
aacu
mula
da
(km
)2
Reservatórios
Total
Hidrelétricas
Figura 3.1.13 - Área acumulada por reservatórios na baciahidrográfica do Atlântico Leste. A área alagada somente porhidrelétricas também é apresentada.
O maior reservatório é a hidrelétrica de BoaEsperança, localizada no rio Parnaíba, comárea superior a 360 km2 e potência geradorade 108 MW. Dentre os açudes, somentequatro apresentaram área superior a 100km2, sendo estes os açudes Orós (220 km2,CE), Açu (195 km2, RN), Pedra do Cavalo(186 km2, BA) e Pedra (101 km2, BA). Os doisúltimos geram energia elétrica, compotência de 600 e 23 MW, respectivamente.Assim como o açude Pedra, as demaishidrelétricas apresentam baixa potênciageradora. Esses reservatórios representam0,5% da capacidade instalada nacional.
Atlântico Leste
Essa região inclui diversas baciashidrográficas, que drenam águas da regiãoSudeste do país em direção ao oceanoAtlântico. Entre elas, destacam-se as dosrios Paraíba do Sul, Doce e Jequitinhonha,que juntas drenam cerca de 500.000 km2.
Foram levantados 58reservatórios nessaregião. A área totalalagada porrepresamentos é de quase450 km2 (Figura 3.1.13).Os 46 reservatóriosdestinados à produçãohidrelétrica sãoresponsáveis por quasetoda a área alagada.Ressalta-se, entretanto,que os dados de área nãoestiveram disponíveispara vários reservatórios.
A maioria dos represamentos é de médioou pequeno porte, com áreas variandoentre 0,001 e 5 km2. Exceção é ahidrelétrica de Paraibuna, com 224 km2,fechada em 1978 e com potência geradorade 86 MW. Com áreas intermediárias,existem Lajes, Santa Branca, Funil eJaguari, variando entre 30 e 40 km2 deárea. A capacidade instalada está em 2.367MW, representando 3,91% do totalnacional.
Bacia do Paraná
O rio Paraná percorre, desde sua nascente(rio Paranaíba, Serra Mata da Corda), cercade 1.900 km em território brasileiro,cruzando diversos estados, e apresentandodesnível total de quase 1.000 m. Recebeesse nome após a conjunção dos riosGrande e Paranaíba, tendo o curso de seusprincipais afluentes profundamentealterados por represamentos.
Os Reservatórios Brasileiros 5757575757
Áre
aacu
mul a
da
( km
)2
Reservatórios
Total
Hidrelétricas
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Figura 3.1.14 - Área acumulada por reservatórios na baciahidrográfica do Paraná. A área alagada somente porhidrelétricas também é apresentada.
A bacia de drenagem dorio Paraná compreendemais de 10% do territóriobrasileiro (891 000 km2) –Agostinho e Júlio Júnior(1999).
Essa bacia comporta asáreas de maior densidadepopulacional do país,além de ser a maisindustrializada e comgrande atividadeagrícola. É a maisintensamente exploradapelos aproveitamentosenergéticos, fornecendocerca de 70% da energia elétrica produzidano país, além de deter a maior capacidadeinstalada nacional (63,76%).
Nos levantamentos foram registrados 146grandes represamentos na bacia, 70% dosquais destinados à geração hidrelétrica (104).É importante destacar que muitosapresentam área superior a 100 km2. A áreatotal alagada nessa bacia é deaproximadamente 16.700 km2, contribuindocom quase a metade da água represada nopaís. A contribuição de hidrelétricas paraesse alagamento é quase total (Figura 3.1.14).
A tabela 3.1.3 apresenta algumasinformações sobre os reservatórios dessabacia, com destaque para a usina de Itaipu,que, apesar de ser a terceira maior da bacia, éa que tem maior capacidade geradora. Os dezprincipais reservatórios têm uma área totalde 10.270 km2, correspondendo a quasemetade do território do Estado de Sergipe.
Nessa bacia, os principais rios, como oParanaíba, o Grande, o Tietê, oParanapanema e o Iguaçu, tiveram seuscursos transformados em cascatas dereservatórios, reduzindo drasticamente ostrechos lóticos. Mesmo na calha do rioParaná, a água efluente de um reservatórioalcança logo o remanso do reservatóriosubseqüente. Constitui notável exceção otrecho compreendido entre a barragem dePorto Primavera e o remanso doreservatório de Itaipu, com uma extensãode pouco mais de 200 km, que atualmentecomporta três importantes Unidades deConservação. Esse trecho, que tambémapresenta uma planície de inundaçãodotada de alta diversidade biológica(para cuja conservação foram implantadasas Unidades de Conservação), é, noentanto, afetado pelo controle de vazãoexercido pelos barramentos à montante(capítulos em THOMAZ; AGOSTINHO; HAHN,
2004).
58 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Reservatórios EmpresaFecha-mento Rio Estado
Área Volume Potência
(MW)(10 m )6 3(km )2
Porto Primavera CESP 1998 Paraná SP/MS 2.250 18.500 1.540
Furnas Furnas 1963 Grande MG 1.440 22.950 1.216
Itaipu Itaipu-Binacional 1982 Paraná PR 1.350 29.000 12.600
Ilha Solteira CESP 1978 Paraná SP/MS 1.195 21.166 3.444
Três Irmãos CESP 1993 Tietê SP 785 13.450 1.292
Itumbiara Furnas 1980 Paranaíba GO/MG 778 17.030 2.280
São Simão CEMIG 1978 Paranaíba MG/GO 722 12.540 1.680
Água Vermelha AES-Tietê 1979 Grande SP/MG 647 11.100 1.380
Capivara Duke 1970 Paranapanema SP/PR 576 10.500 640
Promissão 1977 Tietê SP 530 7.400 264AES-Tietê
Tabela 3.1.3 - Maiores reservatórios construídos na bacia do rio Paraná, todos comfinalidade hidrelétrica
instalada
Os reservatórios dispostos em série na calhado rio Paraná e nos tributários mencionadosapresentam extensas áreas alagadas,geralmente superiores a 100 km2. Nos rios eribeirões tributários dessas sub-bacias, apresença desses empreendimentos também écomum, porém, em geral, com áreasinferiores a 20 km2.
Bacia Atlântico Sul
Esta bacia, conhecida também comoSudeste, inclui diversas bacias hidrográficasindependentes, drenando as regiões Sudestee Sul do país, com rios que fluem emdireção ao oceano Atlântico. A área dedrenagem total soma 224.000 km2, comvazão de 4.300 m3/s.
No Estado de São Paulo, essa bacia incluirios da bacia do Ribeira de Iguape, além de
rios litorâneos, como o Itapanhau e Itatinga.Da mesma forma, nos Estados do Paraná eSanta Catarina, os rios litorâneos sãocomuns, destacando-se o Itajaí e o Cedros.No Rio Grande do Sul, as principais baciassão as do Jaguarão, Jacuí-Taquari-Antas,Guaíba e Santa Cruz.
Nesse inventário, 48 reservatórios foramidentificados, porém muitos não continhaminformação sobre área.A maior parte é composta por reservatóriosantigos, construídos entre as décadas de1940 e 1970. Mais de 70% são hidrelétricas,alagando áreas não muito grandes, quevariam de 0,01 a aproximadamente 15 km2.O reservatório de Passo Real, situado no rioJacuí (RS), é uma exceção, alagando umaárea de 223 km2. Com relação à capacidadeinstalada, essas usinas geram 2.508 MW, ou4,15% do total brasileiro.
Os Reservatórios Brasileiros 5959595959
0
50
100
150
200
250
300
0 5 10 15 20 25
Áre
aacu
mula
da
(km
)2
Reservatórios
Total
Hidrelétricas
Figura 3.1.15 - Área acumulada por reservatórios na baciahidrográfica do Atlântico Sul. A área alagada somente porhidrelétricas também é apresentada.
A área total alagadapelos reservatórios foium pouco superior a 300km2, quase todarelacionada à produçãohidrelétrica (Figura3.1.15).
Bacia do Uruguai
O rio Uruguai, assimchamado após a junçãodos rios Pelotas eCanoas, na divisa dosEstados de Santa Catarinae Rio Grande do Sul, temsuas nascentes situadas na Serra Geral, emuma altitude aproximada de 1800 m. Seupercurso total é de 2.262 km, dos quais 510km em território do Uruguai e Argentina(ZANIBONI FILHO; SCHULZ, c2003). Essa baciainclui rios que drenam os estados do Paraná,Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A áreade drenagem, em território brasileiro, é deaproximadamente 178.000 km2, com vazão de4.150 m3/s e desnível de 422 m.
Em território brasileiro, 16 reservatóriosforam identificados nessa bacia. Porém,metade não pode ser incluído nas análisesem face da precariedade dos dadosdisponíveis. Comparativamente, osreservatórios dessa bacia não são muitograndes, não excedendo 150 km2 de área. Osmais antigos datam da década de 1940,apresentando área inferior a 1 km2, exceto oreservatório de Caveiras, no rio Caveiras,com 14 km2. O de Passo Fundo, concluído em1975, tem, por outro lado, uma área de 151
km2. Dentre os mais novos, construídos após2000, estão os de Machadinho, no rio Pelotas,com 79 km2, e Ita, na calha do rio Uruguai,com 141 km2.
Todos os reservatórios considerados foramconstruídos com finalidade hidrelétrica,alagando uma área de quase 400 km2 (Figura3.1.16). A capacidade instalada é aindapequena, contribuindo com apenas 0,49%daquela do país. Entretanto, as previsões deinvestimento do setor mostram que, do totalda capacidade a ser instalada no territórionacional (14.500 MW), 24% ocorrerão nessabacia.
Considerações Finais
A tendência de incremento nas construçõesde reservatórios no Brasil seguiu o padrãomundial, com aceleração a partir de 1950 esubseqüente queda nas décadas de 1980 e 90
60 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Reservatórios
Áre
aa
cum
ula
da
(km
)2
0
100
200
300
400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Figura 3.1.16 - Área acumulada por hidrelétricas na baciahidrográfica do rio Uruguai.
(ver Figura 3.1.1, 3.1.3 e3.1.4). No entanto, apesarde o Brasil possuir cercade 17% do potencialhidrelétrico das águascontinentais de todo omundo, o número dereservatórios é baixo, secomparado ao de paísesdesenvolvidos, onde ouso de outras formas degeração é maisrelevante. A WCD (2000)estima o número dereservatórios naAmérica do Sul emaproximadamente 1.000, valor que é similarao do continente africano, porém menorque os da Europa, Ásia ou América doNorte, que superam 6.000.
Apesar desse aparente subaproveitamentodo potencial hídrico brasileiro, nenhumagrande bacia nacional está livre derepresamentos. As bacias da região Nortesão, atualmente, as de maior potencial,porém as menos exploradas. A perspectiva,entretanto, é de que o número deaproveitamentos hidrelétricos se amplie naregião (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; CALIJURI,
c1993), a exemplo do que já vem ocorrendona bacia do rio Tocantins. Já nas regiões Sule Sudeste, o número massivo dessas obrasalterou profundamente as característicasoriginais dos sistemas e, apesar dosbenefícios da energia elétrica, problemassocioambientais perduram por décadas. Acontinuidade da construção de grandesobras nessas regiões é improvável, já que opotencial está próximo do completo
aproveitamento, exceto para as pequenascentrais elétricas.
Como demonstrado, os reservatórios sãoatualmente componentes comuns daspaisagens brasileiras, principalmenterepresamentos com fins hidrelétricos. Essesempreendimentos desempenham papelcentral no funcionamento e manutenção dosistema econômico atual, por subsidiarem amaior parte da energia elétrica de grandesmetrópoles, cidades, indústrias eagricultura/pecuária. Entretanto, embora aenergia elétrica se constitua em fator debem-estar e desenvolvimento para asociedade em geral, a construção dereservatórios proporciona uma gama deoutros efeitos, positivos e negativos, emdiferentes escalas espaço-temporais e emdiferentes componentes da paisagem(TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; ROCHA;
ESPÍNDOLA, 2000). Essa dualidade deresultados decorre da crescente importânciaque a conservação dos recursos hídricos e
Os Reservatórios Brasileiros 6161616161
dos diferentes tipos de recursos aquáticosvêm apresentando nos últimos anos (águapara consumo, espaço para assentamentoshumanos, produção de pescado,aqüicultura, turismo, lazer e diversidadebiológica), além da heterogeneidade depleitos interpostos pelos vários usuários. Écorrentemente aceito que no processo deconstrução de novos reservatórios essasdemandas sejam contempladas na análisede custo-benefício. Uma gestão dequalidade deve, atualmente, se preocuparcom o atendimento de múltiplos interessesde forma balanceada, abdicando-se devantagens centralizadas e evitandoprejuízos unilaterais. O uso múltiplo dereservatórios já era preconizado pelaEletrobrás na década de 1970, que listava 14tipos de usos (OLIVEIRA FILHO, 1976). Assim,além da produção de energia elétrica,destaca-se a irrigação, abastecimento,navegação, pesca e controle de vazão(BARROS, 2000; RODRIGUEZ, 2000; SANTOS, 2000;
TUCCI, 2000).
Os reservatórios nacionais são em geralrasos, com profundidades inferiores a 30 m,tendo como característica proeminente amorfologia complexa, de aspecto dendrítico,ligado à topografia regional. Poucos são osreservatórios que apresentam formas bemdefinidas, similares a lagos (TUNDISI;
MATSUMURA-TUNDISI; CALIJURI, c1993). Aimplicação desse fenômeno está na criaçãode compartimentos com funcionamento
distinto, dentro de um mesmoreservatório. Também é relevante amarcante zonação longitudinal, comum emgrandes represamentos (zonas lótica,transição e lacustre; THORNTON; KIMMEL;
PAYNE, c1990; OKADA; AGOSTINHO; GOMES, 2005;
PAGIORO; ROBERTO; THOMAZ; PIERINI; TAKA,
2005). Esses compartimentos, comdinâmicas distintas, influenciam acomposição e a abundância dos recursosaquáticos e devem, por exemplo, serconsiderados na avaliação dos impactossobre a ictiofauna e na elaboração deplanos de manejo para sua atenuação.
Em relação à fauna aquática e, em especial,aos recursos pesqueiros, os reservatóriosnão podem ser considerados como umaforma de geração de “energia limpa”,como preconizado por muitos, em face doseu caráter renovável. Sabe-se, atualmente,que os represamentos provocam efeitosadversos sobre o ambiente, como liberaçãode gases tóxicos, condições anóxicas,eutrofização e produção excessiva de algas(algumas tóxicas), e uma série de outrasalterações nas propriedades químicas efísicas da água. Adicionalmente, osreservatórios promovem alterações nascaracterísticas do curso de água que, muitasvezes, não são toleradas por várias espéciesfluviais (alteração de hábitats). No tópicoseguinte são fornecidas algumascaracterísticas gerais sobre a fauna dereservatórios.
62 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Nº
Res
erva
tório
sC
once
ssio
nári
aA
noR
ioB
acia
Cid
ade
Est
ado
Áre
a km
2A
ltura
m
Bac
ia A
maz
ônic
a1
Par
edão
(C
oara
cy N
unes
)EL
ETR
ON
OR
TE19
75Ar
agua
riAm
azôn
ica
Ferr
eira
Gom
esAP
2328
2 C
uruá
-Una
ELET
RO
NO
RTE
1977
Cur
uá-U
naAm
azôn
ica
San
taré
mPA
7826
3 S
amue
lEL
ETR
ON
OR
TE19
89Ja
mar
iAm
azôn
ica
Por
to V
elho
RO
656
89,5
4 B
albi
naEL
ETR
ON
OR
TE19
87U
atum
ãAm
azôn
ica
Pre
side
nte
Figu
eire
doAM
2360
39
Bac
ia T
ocan
tins
5 Is
amo
Iked
aC
ELT
INS
1982
Bal
sas
Toca
ntin
sP
onte
Alta
TO10
,98
6 L
uis
Edua
rdo
Mag
alhã
es (L
ajea
do)
CEL
G20
02To
cant
ins
Toca
ntin
sTo
cant
ínea
TO63
07
Can
a B
rava
TRAC
TEBE
L20
02To
cant
ins
Toca
ntin
sC
aval
cant
eG
O13
98
Ser
ra d
a M
esa
FUR
NA
S/C
PFL
1996
Toca
ntin
sTo
cant
ins
Min
asul
GO
1784
144
9 T
ucur
uíEL
ETR
ON
OR
TE19
84To
cant
ins
Toca
ntin
sTu
curu
íPA
2875
78
Atlâ
ntic
o N
orte
10 M
uniz
Fre
ireE
SC
ELS
A19
97Pa
rdo
Itape
miri
mM
uniz
Fre
ireES
0,18
5,5
11 S
uíça
ES
CE
LSA
1963
Sta
.Mar
iaS
ta M
aria
S.Le
opol
dina
ES0,
617
12 R
io B
onito
ES
CE
LSA
1958
Sta
Mar
iaS
ta M
aria
Sta
Mar
ia J
etib
aES
2,2
5413
Fun
ilC
HE
SF
1962
Das
Con
tas
Rio
das
Con
tas
Uba
itaba
BA4
6014
Airé
s de
Sou
zaD
NO
CS
1936
Jaib
ara
Aca
raú
Sob
ral
CE
1229
15
Pen
teco
ste
DN
OC
S19
56C
anin
dé C
apitã
oC
uru
Pen
teco
ste
CE
5729
16 P
edra
CH
ES
F19
70D
e C
onta
sR
io d
as C
onta
sJe
quié
BA10
158
17 P
edra
do
Cav
alo
EMBA
SA19
85P
arag
uass
uP
arag
uass
uC
acho
eira
BA18
614
218
Boa
Esp
eran
çaC
HE
SF
1969
Parn
aiba
Par
naíb
aG
uada
lupe
PI/M
A36
355
Bac
ia S
ão F
ranc
isco
19 P
ande
iros
CEM
IG19
57P
ande
iros
São
Fra
ncis
coJa
nuár
iaM
G0,
089
20 G
afan
hoto
CEM
IG19
46Pa
ráS
ão F
ranc
isco
Div
inóp
olis
MG
0,5
2521
Par
auna
CEM
IG19
27Pa
raun
aS
ão F
ranc
isco
Gou
veia
MG
1,5
1122
Rio
Ped
ras
CEM
IG19
28V
elha
sS
ão F
ranc
isco
Itabi
rito
MG
432
23
Pau
lo A
fons
o I
CH
ES
F19
55S
ão F
ranc
isco
São
Fra
ncis
coP
aulo
Afo
nso
BA5
1124
Pau
lo A
fons
o IV
CH
ES
F19
79S
ão F
ranc
isco
São
Fra
ncis
coP
aulo
Afo
nso
BA17
3025
Caj
uru
CEM
IG19
59Pa
raS
ão F
ranc
isco
Car
mo
do C
ajur
uM
G25
,522
26 Q
ueim
ada
Pret
oS
ão F
ranc
isco
Una
iM
G40
4527
Xin
góC
HE
SF
1994
São
Fra
ncis
coS
ão F
ranc
isco
Can
inde
do
S. F
ranc
isco
SE/A
L60
150
28 M
oxot
óC
HE
SF
1977
São
Fra
ncis
coS
ão F
ranc
isco
Pau
lo A
fons
oBA
/AL
9334
29 I
tapa
rica/
Luiz
Gon
zaga
CH
ES
F19
88S
ão F
ranc
isco
São
Fra
ncis
coG
lória
PE/B
A82
810
530
Trê
s M
aria
sC
EMIG
1962
São
Fra
ncis
coS
ão F
ranc
isco
Três
Mar
ias
MG
1142
7531
Sob
radi
nho
CH
ES
F19
79S
ão F
ranc
isco
São
Fra
ncis
coSo
brad
inho
BA42
1443
APÊ
ND
ICE
A -
Res
erva
tóri
os d
e hi
drel
étri
cas
inve
ntar
iado
s ne
ssa
obra
, qu
e co
ntin
ham
inf
orm
açõe
s bá
sica
s de
loc
aliz
ação
,an
o de
fec
ham
ento
e á
rea
alag
ada.
A c
once
ssio
nár
ia r
espo
nsá
vel
pela
usi
na
e a
altu
ra d
a ba
rrag
em t
ambé
m s
ãoap
rese
ntad
as.
No
inve
ntár
io c
ompl
eto,
um
tot
al d
e 66
0 re
serv
atór
ios
fora
m r
egis
trad
os(continua)
Os Reservatórios Brasileiros 6363636363
APÊ
ND
ICE
A -
Res
erva
tóri
os d
e hi
drel
étri
cas
inve
ntar
iado
s ne
ssa
obra
, qu
e co
ntin
ham
inf
orm
açõe
s bá
sica
s de
loc
aliz
ação
,an
o de
fec
ham
ento
e á
rea
alag
ada.
A c
once
ssio
nár
ia r
espo
nsá
vel
pela
usi
na
e a
altu
ra d
a ba
rrag
em t
ambé
m s
ãoap
rese
ntad
as.
No
inve
ntár
io c
ompl
eto,
um
tot
al d
e 66
0 re
serv
atór
ios
fora
m r
egis
trad
os(continua)
Bac
ia A
tlânt
ico
Lest
e
32 S
odré
EMAE
1912
Pia
gui
Par
aíba
do
Sul
Gur
atin
guet
aSP
0,00
157,
533
Boc
aina
EMAE
1912
Bra
voP
araí
ba d
o S
ulC
acho
eira
Pau
lista
SP0,
016
34 V
igár
io II
Ligh
t19
53Vi
gário
Par
aíba
do
Sul
Pira
iR
J0,
0441
35 P
oqui
mC
EMIG
1950
Poq
uim
Rio
Doc
eIta
mba
curí
MG
0,27
1136
Isa
bel S
uper
ior
EMAE
1915
Sac
atra
poP
araí
ba d
o S
ulC
ampo
s do
Jor
dão
SP0,
316
37 D
ona
Rita
CEM
IG19
59Ta
nque
Rio
Doc
eS
ta M
aria
do
Itabi
raM
G0,
3315
38 P
iau
CEM
IG19
55Pi
auP
araí
ba d
o S
ulPi
auM
G0,
524
39 S
umid
ouro
CEM
IG19
56S
acra
men
toP
araí
ba d
o S
ulB
om J
esus
Do
Gal
hoM
G0,
65
40 T
ronq
ueira
sC
EMIG
1955
Tron
quei
ras
Rio
Doc
eC
oroa
ciM
G0,
820
41 S
anta
Mar
taC
EMIG
1944
Tico
roró
Jequ
itinh
onha
Grã
o M
ogol
MG
0,94
1242
Per
eira
Pas
sos
LIG
HT
1962
Lage
sP
araí
ba d
o S
ulPi
raí
RJ
1,09
5543
Mad
eira
Lav
rada
CEM
IG19
56S
alto
Ant
ônio
Par
aíba
do
Sul
Bra
unas
MG
1,3
2444
Are
alC
ER
J19
49Pr
eto
Par
aíba
do
Sul
Area
lR
J2
2345
Mac
abu
CE
RJ
1960
Mac
abu
Mac
abu
Traj
ano
de M
orae
sR
J3,
238
46 M
asca
renh
asE
SC
ELS
A19
72D
oce
Rio
Doc
eB
aixo
Gua
ndu
ES3,
930
47 N
ilo P
eçan
haLI
GH
T19
53P
araí
ba d
o S
ulP
araí
ba d
o S
ulB
arra
Do
Pira
íR
J4
48 S
alto
Gra
nde
CEM
IG19
56G
uanh
ães
Rio
Doc
eB
raún
asM
G6,
0231
49 P
arai
tinga
CES
P19
75P
arai
tinga
Par
aíba
do
Sul
Sal
esóp
olis
SP6,
4310
550
Pet
iC
EMIG
1946
Sta
.Bar
bara
Rio
Doc
eS
.Gon
calo
do
Rio
Aba
ixo
MG
6,5
4651
Gui
lman
Am
orim
CEM
IG19
97P
iraci
caba
Rio
Doc
eN
ova
Era
MG
1052
San
ta B
ranc
aLI
GH
T19
60P
araí
ba d
o S
ulP
araí
ba d
o S
ulS
anta
Bra
nca
SP27
,16
5453
Laj
esLI
GH
T19
07La
jes
Gua
ndu
Pira
íR
J30
6354
Fun
ilFU
RN
AS
1969
Par
aíba
do
Sul
Par
aíba
do
Sul
Itatia
iaR
J40
8555
Jag
uari
CES
P19
72Ja
guar
iP
araí
ba d
o S
ulJa
care
íSP
5667
56 P
arai
buna
CES
P19
78Pa
raib
una
Par
aíba
do
Sul
Para
ibun
aSP
224
104
Bac
ia P
aran
á57
Maf
raC
ELE
SC
1910
São
Lou
renç
oR
io N
egro
Maf
raS
C0,
0658
Ani
lC
EMIG
1964
Jaca
réG
rand
eS
anta
na d
o Ja
caré
MG
0,08
459
Mel
issa
CO
PEL
1962
Mel
issa
Piq
uiri
Cor
bélia
PR
0,1
7,2
60 C
ario
binh
aC
PFL
1936
Qui
lom
boP
iraci
caba
Am
eric
ana
SP0,
1003
61 M
artin
sC
EMIG
1947
Ube
rabi
nha
Gra
nde
Ube
rlând
iaM
G0,
29
62 P
itang
uiC
OPE
L19
11P
itang
uiTi
bagi
Pon
ta G
ross
aP
R0,
25
63 P
orto
Goe
zEM
AE19
28Ti
etê
Tiet
êSa
ltoSP
0,25
7,2
64 E
lói C
have
zC
PFL
1956
Mog
i Gua
çuPa
rdo
Esp
irito
San
to P
inha
lSP
0,27
665
Sal
esóp
olis
EMAE
1914
Tiet
êTi
etê
Sal
esóp
olis
SP0,
56
66 C
hopi
m I
CO
PEL
1963
Cho
pim
Igua
çuD
ois
Viz
inho
sP
R0,
57
67 S
anta
naC
PFL
1951
Jaca
ré G
uaçu
Tiet
êS
ão C
arlo
sSP
0,6
1968
Jag
uari
CP
FL19
17Ja
guar
iP
iraci
caba
Pedr
eira
SP0,
7425
Nº
Res
erva
tóri
osC
once
ssio
nári
aA
noR
ioB
acia
Cid
ade
Est
ado
Áre
a km
2A
ltura
m
64 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
APÊ
ND
ICE
A -
Res
erva
tóri
os d
e hi
drel
étri
cas
inve
ntar
iado
s ne
ssa
obra
, qu
e co
ntin
ham
inf
orm
açõe
s bá
sica
s de
loc
aliz
ação
,an
o de
fec
ham
ento
e á
rea
alag
ada.
A c
once
ssio
nár
ia r
espo
nsá
vel
pela
usi
na
e a
altu
ra d
a ba
rrag
em t
ambé
m s
ãoap
rese
ntad
as.
No
inve
ntár
io c
ompl
eto,
um
tot
al d
e 66
0 re
serv
atór
ios
fora
m r
egis
trad
os(continua)
69 R
asgã
oEM
AE19
25Ti
etê
Tiet
êPi
rapo
raSP
0,8
2670
São
Dom
ingo
sC
ELG
1990
São
Dom
ingo
sPa
raná
São
Dom
ingo
sG
O0,
8618
71 E
uclid
es d
a C
unha
AES
1965
Pard
oG
rand
eM
ococ
aSP
1,07
5872
Cur
ucac
aS
AN
TA M
AR
IA19
82Jo
rdão
Igua
çuG
uara
puav
aP
R1,
211
73 C
hicã
oC
EMIG
1942
San
ta C
ruz
Gra
nde
Cam
panh
aM
G1,
274
Itu
tinga
CEM
IG19
55G
rand
eG
rand
eItu
tinga
MG
1,64
2375
Jor
dão
CO
PEL
1996
Jord
ãoIg
uaçu
Foz
do J
ordã
oP
R1,
995
76 F
iú (A
puca
rani
nha)
CO
PEL
1949
Apuc
aran
inha
Tiba
giLo
ndrin
aPR
2,1
1677
Lim
oeiro
AES
1966
Pard
oG
rand
eM
ococ
aSP
2,7
4178
Poç
o Fu
ndo
CEM
IG19
49M
acha
doM
acha
doP
oço
Fund
oM
G3,
26
79 B
orto
lan
DM
E19
56A
ntas
Pard
oP
ocos
de
Cal
das
MG
3,21
1180
Edg
ard
De
Sou
zaEM
AE19
01Ti
etê
Tiet
êS
anta
na d
o P
arna
íba
SP3,
534
81 M
ogi G
uaçu
AES
1994
Mog
i Gua
çuP
aran
aM
ogi G
uaçu
SP5,
715
82 S
ão J
orge
CO
PEL
1945
Pita
ngui
Tiba
gi
PR
7,2
1483
San
grad
ouro
Ped
ras
EMAE
1928
Ped
ras
Ped
ras
São
Ber
nard
o do
Cam
poSP
7,95
1584
Mou
rão
CO
PEL
1964
Mou
rão
Ivai
Cam
po M
ourã
oP
R11
,321
85 P
irapo
raEM
AE19
56Ti
etê
Tiet
êP
irapo
ra d
o B
om J
esus
SP11
,42
4086
Sal
to G
rand
eD
UK
E19
51Pa
rana
pane
ma
Para
náS
alto
Gra
nde
SP
/PR
1225
87 A
mer
ican
aC
PFL
1949
Atib
aia
Pira
cica
baA
mer
ican
aSP
1325
88 Á
gua
do V
ere
CO
PEL
Cho
pim
Igua
çuVe
rêP
R14
4089
Sal
to G
rand
e d
o C
hopi
mC
OPE
L19
67C
hopi
mIg
uaçu
C.V
ivid
aP
R15
3490
Mim
oso
EN
ER
SU
L19
69Pa
rdo
Para
náR
ibas
Rio
Par
doM
T15
,62
2491
Tai
açup
eba
DAE
E19
76Ta
iaçu
peba
Tiet
êS
ão P
aulo
SP20
2092
Mac
hado
Min
eiro
CEM
IG19
92Pa
rdo
Pard
oÁ
guas
Min
eira
sM
G21
,334
93 C
anoa
s II
DU
KE
1998
Para
napa
nem
aPa
raná
Pal
mita
lSP
22,5
125
94 I
tupa
rara
nga
CBA
1914
Sor
ocab
aTi
etê
Vot
oran
timSP
30,7
3895
Can
oas
ID
UK
E19
98Pa
rana
pane
ma
Para
náC
ândi
do M
ota
SP30
,85
2995
Cac
onde
AES
1966
Pard
oG
rand
eC
acon
deSP
31,1
260
97 G
uara
pira
nga
EMAE
1906
Gua
rapi
rang
aG
urap
irang
aS
ão P
aulo
SP33
,83
1698
Jag
uara
CEM
IG19
71G
rand
eG
rand
eS
acra
men
toM
G/S
P36
7199
Iga
rapa
vaC
EMIG
1999
Gra
nde
Gra
nde
Igar
apav
aM
G/S
P40
,94
3210
0 P
aran
oáC
EB19
62Pa
rano
áPa
rano
áB
rasí
liaD
F39
,48
5010
1 E
stre
ito (L
uiz
C. B
arre
to C
arva
lho)
FUR
NA
S19
69G
rand
ePa
raná
Pedr
egul
hoM
G/S
P46
,792
102
Mira
nda
CEM
IG19
98Ar
agua
riPa
rana
íba
Ube
rlând
iaM
G50
,679
103
Bar
iriAE
S19
69Ti
etê
Para
náB
ariri
SP62
,533
104
Sal
to O
sório
TRAC
TEBE
L19
75Ig
uaçu
Igua
çuQ
ueda
s do
Igua
çuP
R62
,956
104
Cor
umbá
FUR
NA
S19
97C
orum
báP
aran
aíba
Cal
das
Nov
asG
O65
9010
6 C
acho
eira
Dou
rada
CD
SA
1958
Para
naib
aP
aran
aíba
Cac
hoei
ra D
oura
daG
O74
2610
7 C
amar
gos
CEM
IG19
60G
rand
eG
rand
eItu
tinga
MG
77,4
036
108
Seg
redo
CO
PEL
1992
Igua
çuIg
uaçu
Man
guei
rinha
PR
84,8
814
5
Nº
Res
erva
tóri
osC
once
ssio
nári
aA
noR
ioB
acia
Cid
ade
Est
ado
Áre
a km
2A
ltura
m
Os Reservatórios Brasileiros 6565656565
APÊ
ND
ICE
A -
Res
erva
tóri
os d
e hi
drel
étri
cas
inve
ntar
iado
s ne
ssa
obra
, qu
e co
ntin
ham
inf
orm
açõe
s bá
sica
s de
loc
aliz
ação
,an
o de
fec
ham
ento
e á
rea
alag
ada.
A c
once
ssio
nár
ia r
espo
nsá
vel
pela
usi
na
e a
altu
ra d
a ba
rrag
em t
ambé
m s
ãoap
rese
ntad
as.
No
inve
ntár
io c
ompl
eto,
um
tot
al d
e 66
0 re
serv
atór
ios
fora
m r
egis
trad
os(continua)
109
Cap
anem
aC
OPE
LIg
uaçu
Para
náC
apan
ema
PR
8958
110
Taq
uaru
çuD
UK
E19
80Pa
rana
pane
ma
Para
náS
ando
valin
aSP
180
6111
1 Ib
iting
aAE
S19
69Ti
etê
Para
náIb
iting
aSP
113,
532
112
Bill
ings
EMAE
1926
Ped
ras
Tiet
êS
ao B
erna
rdo
do C
ampo
SP12
730
113
Por
to C
olôm
bia
FUR
NA
S19
73G
rand
eG
rand
ePl
anur
aM
G/S
P14
340
114
Sal
to C
axia
sC
OPE
L19
98Ig
uaçu
Igua
çuC
apitã
o Le
ônid
as M
arqu
esP
R14
4,2
115
Foz
Do
Are
iaC
OPE
L19
79Ig
uaçu
Igua
çuB
ituru
naP
R16
516
011
6 S
alto
San
tiago
TRAC
TEBE
L19
80Ig
uaçu
Para
náR
io B
onito
Igua
çuP
R20
880
117
Nov
a Av
anha
ndav
aAE
S19
82Ti
etê
Para
náB
urita
ma
SP21
071
118
Ros
ana
DU
KE
1987
Para
napa
nem
aPa
raná
Teod
oro
Sam
paio
SP
/PR
220
3011
9 V
olta
Gra
nde
CEM
IG19
74G
rand
eG
rand
eM
igue
lópo
les
MG
/SP
221,
756
120
Mas
care
nhas
de
Mor
aes
FUR
NA
S19
56G
rand
eG
rand
eD
elfin
ópol
isM
G25
072
121
Bar
ra B
onita
AES
1963
Tiet
êPa
raná
Bar
ra B
onita
SP30
833
122
Jup
iáC
ESP
1974
Para
náPa
raná
Três
Lag
oas
MS/
SP33
043
123
Cha
vant
esD
UK
E19
59Pa
rana
pane
ma
Para
náC
hava
ntes
SP40
089
124
Jur
umiri
mD
UK
E19
62Pa
rana
pane
ma
Para
náC
erqu
eira
Cés
arSP
425
3512
5 M
anso
FUR
NA
S20
00M
anso
Cor
umbá
Cui
abá
MT
427
7212
6 M
arim
bond
oFU
RN
AS
1975
Gra
nde
Gra
nde
Fron
teira
Ice
mM
G/S
P43
894
127
Nov
a P
onte
CEM
IG19
94Ar
agua
riPa
rana
íba
Nov
a P
onte
MG
446,
5814
212
8 E
mbo
rcaç
ãoC
EMIG
1982
Para
naib
aPa
rana
íba
Arag
uari
MG
/GO
485
158
129
Cap
ivar
aD
UK
E19
70Pa
rana
pane
ma
Para
náP
orec
atu/
Taci
baS
P/P
R57
659
130
Pro
mis
são
AES
1977
Tiet
êPa
raná
Pro
mis
são
SP53
035
131
Águ
a V
erm
elha
AES
1979
Gra
nde
Para
náItu
ram
aSP
/MG
647
6713
2 S
ão S
imão
CEM
IG19
78Pa
rana
iba
Para
naib
aS
ão S
imão
MG
/GO
722,
2512
713
3 T
rês
Irmão
sC
ESP
1993
Tiet
êPa
raná
Per
eira
Bar
reto
SP78
582
134
Itum
biar
aFU
RN
AS
1980
Para
naib
aPa
raná
Itum
biar
aG
O/M
G77
811
013
5 Il
ha S
olte
iraC
ESP
1978
Para
náPa
raná
Ilha
Sol
teira
SP/M
S11
9574
136
Itai
puIT
AIPU
BIN
ACIO
NAL
1982
Para
náPa
raná
Foz
do Ig
uaçu
PR
1350
196
137
Fur
nas
FUR
NA
S19
63G
rand
eG
rand
eS
ão J
osé
da B
arra
MG
1440
127
138
Por
to P
rimav
era
(Ser
gio
Mot
ta)
CES
P19
98Pa
raná
Para
náB
atai
porã
SP/M
S22
5038
Bac
ia A
tlânt
ico
Sul
139
Sal
toC
ELE
SC
1914
Itaja
í-Açu
Itaja
í-Açu
Blu
men
auS
C0,
0003
140
Can
astra
CEE
E19
56S
anta
Mar
iaS
ta M
aria
Can
ela
RS
0,05
2414
1 C
edro
s II
CE
LES
C19
56C
edro
sR
io d
os C
edro
sR
io d
os C
edro
sS
C0,
096
1714
2 S
alto
Do
Mei
oC
OPE
L19
30S
ão J
oão
São
Joã
oS
.J.D
os P
inha
isP
R0,
112
143
Pira
íC
ELE
SC
1908
Pira
íIta
pocu
Join
vile
SC
0,12
Nº
Res
erva
tóri
osC
once
ssio
nári
aA
noR
ioB
acia
Cid
ade
Est
ado
Áre
a km
2A
ltura
m
66 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
APÊ
ND
ICE
A -
Res
erva
tóri
os d
e hi
drel
étri
cas
inve
ntar
iado
s ne
ssa
obra
, qu
e co
ntin
ham
inf
orm
açõe
s bá
sica
s de
loc
aliz
ação
,an
o de
fec
ham
ento
e á
rea
alag
ada.
A c
once
ssio
nár
ia r
espo
nsá
vel
pela
usi
na
e a
altu
ra d
a ba
rrag
em t
ambé
m s
ãoap
rese
ntad
as.
No
inve
ntár
io c
ompl
eto,
um
tot
al d
e 66
0 re
serv
atór
ios
fora
m r
egis
trad
os(conclusão)
144
Gar
cia
CE
LES
C19
64G
arci
aR
io G
arci
aAn
gelin
aS
C0,
7417
145
Gua
rican
aC
OPE
L19
57G
uaric
ana
Rio
Arr
aial
S.J
.Dos
Pin
hais
PR
0,86
3014
6 B
raci
nho
IC
ELE
SC
1931
Bra
cinh
oR
io B
raci
nho
Sch
roed
erS
C0,
8815
147
Div
isa
CEE
E19
50D
ivis
aS
ta C
ruz
S.F
ran.
de P
aula
RS
1,1
2514
8 A
lecr
imC
BA19
74Ju
quia
guas
suR
ibei
ra d
e Ig
uape
Juqu
ia-T
apira
iSP
1,5
5514
9 B
arra
CBA
1986
Juqu
iáR
ibei
ra d
e Ig
uape
Ibiú
naSP
1,9
9015
0 S
erra
riaC
BA19
77Ju
quia
guas
suR
ibei
ra d
e Ig
uape
Juqu
iáSP
2,13
5415
1 S
alto
CEE
E19
52S
ta C
ruz
Sta
Cru
zS
. Fra
ncis
co d
e P
aula
RS
2,5
1215
2 C
edro
s I
CE
LES
C19
49C
edro
sR
io d
os C
edro
sR
io d
os C
edro
sS
C2,
9415
153
Pal
mei
ras
CE
LES
C19
63C
edro
sR
io d
os C
edro
sR
io d
os C
edro
sS
C3,
119
154
Ipor
anga
CBA
1989
Ass
ungi
Rib
eira
de
Igua
peJu
quia
Itap
irai
SP3,
578
155
Ern
estin
aC
EEE
1954
Jacu
íJa
cuí
Ern
estin
aR
S4
1315
6 J
acuí
CEE
E19
63Ja
cuí
Jacu
íS
alto
do
Jacu
iR
S4,
725
157
Vos
soro
caC
OPE
L19
49S
ão J
oão
Rio
São
Joã
oS
.Jos
e do
s P
inha
isP
R5,
121
158
Fum
aça
CBA
1963
Juqu
iágu
assu
Rib
eira
de
Igua
peIb
iuna
SP5,
354
159
Fra
nça
CBA
1958
Juqu
iágu
assu
Rib
eira
de
Igua
peJu
quiti
baSP
12,7
4816
0 It
aúba
CEE
E19
78Ja
cuí
Jacu
íP
inha
l Gra
nde
RS
13,8
9016
1 C
apiva
ri-Ca
choe
ira (P
arigo
t de
Souz
a)C
OPE
L19
70C
apiv
ari
Rio
Cap
ivar
iC
ampi
na G
rand
e do
Sul
PR
16,2
858
162
Pas
so R
eal
CEE
E19
73Ja
cuí
Jacu
íFo
rtale
za d
os V
alos
RS
223
58
Bac
ia U
rugu
ai
163
Joã
o A
mad
oC
EE
E-R
S19
53G
uarit
aU
rugu
aiP
alm
eira
das
Mis
sões
RS
0,01
1116
4 P
ery
CE
LES
C19
92C
anoa
sC
anoa
sC
uriti
bano
sS
C0,
0516
5 I
vo S
ilvei
raC
ELE
SC
1967
Lage
ado
Sant
a C
ruzU
rugu
aiC
ampo
s N
ovos
SC
0,06
166
Cel
so R
amos
CE
LES
C19
63C
hape
cozi
nho
Uru
guai
Faxi
nal d
os G
uede
sS
C0,
0815
,716
7 C
avei
ras
CE
LES
C19
40C
avei
ras
Uru
guai
Lage
sS
C14
,310
168
Mac
hadi
nho
TRAC
TEBE
L20
02P
elot
asU
rugu
aiP
iratu
baR
S/S
C79
124
169
Itá
TRAC
TEBE
L20
00U
rugu
aiU
rugu
aiItá
SC
141
123
170
Pas
so F
undo
TRAC
TEBE
L19
73P
asso
Fun
doU
rugu
aiE
ntre
Rio
s do
s S
ulR
S15
1,5
46
Nº
Res
erva
tóri
osC
once
ssio
nári
aA
noR
ioB
acia
Cid
ade
Est
ado
Áre
a km
2A
ltura
m
Os Reservatórios Brasileiros 6767676767
W65° W55° W45° W35°W40°W50°W60°W70°
1
2
3
4
5
6
78
9
101211
13
14 15
16
17
23
19
20
21
22
24
18
30
2928
27
5148
46
4952
5447
5342
128
127102
105134
106132
10774
12010198
99119
113
9671
77
126135
87121103111130
117133122
138
124123
8693
95129
110118
136115
108
104114
125
169170
161
158148
145
162156
160140
26
11666
168
72
8889
25 37
38
39
40
41
435058
131 61
7378
7992
32
31
333436 44
455556
57
59
60
62
63
64
65
67
6869
75
76 80
81
82
8384
85
90
9194 97
100
109
112
139141
142
143
144
146
147
149
150
151
152153
154
155
157
163
159
164165166
167
Brasil
10
121113
20
21
22
30
5148
46
49
52
5447
5342
128
127102
134106132
10774
120101
9899119113
967177
126135
87121103
130117
133122
138
124123
869395129110118
115108
104114
169170
161
158148
145
162
156160
140
66
168
72
8889
2537
38
39
4043
5058
13161
7378
79
3233
343644
4556
57
59
60
62
63
64
6568 69
76 80
81
82
8384
85
90
91
94 97
109
112
141
142
144
146
147
149
150
151
152153
154
155
157
163
159
164
166
167
105
137
6711192
143139
136116
75
55
165
0 400km200
0 800km400
APÊNDICE B - Distribuição dos grandes reservatórios em território brasileiro, cominformações básicas sobre localização, ano de fechamento e área alagada. A numeraçãodos reservatórios está discriminada no APÊNDICE A
N5°
S5°
S10°
S15°
S20°
S35°
S25°
S30°
0°
N
S
O L
Capítulo 3.2A Ictiofauna de Reservatórios
Introdução
Para compreender a ictiofauna que habitareservatórios é preciso antes conhecer asmodificações ocasionadas nos hábitats.Essas modificações, em conjunto com ascaracterísticas da biologia de cada espécie,determinarão, em grande parte, a ictiofaunaque colonizará o ambiente. Este tema,embora objeto do Capítulo 4, serásucintamente adiantado nesta seção. Noentanto, o propósito desta é apresentar ediscutir os padrões de composição deespécies e estrutura das assembléias depeixes, observadas em diferentesreservatórios brasileiros.
Com o barramento de um rio, a hidrologialocal é severamente alterada, passando deum estado lótico para uma condição lênticaou semilêntica. Isso significa que ascondições químicas e físicas da água sãomodificadas, assim como a qualidade e aquantidade de hábitats para a fauna e floraaquática. Na verdade, a formação do novoambiente leva à criação de novos hábitats eà perda de outros. Entre os hábitats novos,destacam-se bancos de areia, galhadassubmersas, bancos de macrófitas e,principalmente, a zona pelágica. Dentre osperdidos, cabe destaque para lagoasmarginais, canais, remansos, poções ecorredeiras. Tais alterações, aliadas àsmodificações na disponibilidade de recursos
alimentares, terminam por reestruturar acomposição de toda biota. Esse conjunto demodificações é tão profundo que o processoequivale à criação de um novo ecossistema(BAXTER, 1977), principalmente pelasmudanças nas relações tróficas, na base daprodução primária e na ciclagem denutrientes.
Após o represamento, a fauna de peixes a seestabelecer é primariamente dependente dafauna preexistente na região alagada. Asadaptações e particularidades de cada espéciedeterminarão quais terão sucesso naexploração de novos hábitats (FERNANDO;
HOLCÍK, 1982; AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES;
THOMAZ; SUZUKI, 1999). No geral, dado ocaráter transitório das condições ambientais,as espécies generalistas serão as mais bem-sucedidas, visto que apresentam certaflexibilidade quanto às suas necessidadesalimentares e reprodutivas, ajustando-se maisfacilmente às variações na disponibilidadealimentar e à alternância nas condiçõesambientais. Esse aspecto é de suma relevância,pois o represamento de rios de menor porte,com faunas mais pobres e com adaptações asituações lóticas, pode ser decisivo na extinçãoe perda de grande parte da biodiversidadelocal. Da mesma forma, o resultado pode serigualmente catastrófico quandorepresamentos atingem sistemas formadospor espécies com comportamento poucoflexível.
70 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Entretanto, grande parte das espécies depeixes neotropicais segue o padrão deelevada plasticidade comportamental, emtermos alimentares e reprodutivos, o queimpede que ocorram extinções massivas namaioria dos casos. O mais comum é queocorram modificações na composição eestrutura da assembléia. Em um primeiromomento, algumas espécies tendem adesaparecer ou diminuem drasticamente otamanho de suas populações (reofílicas),enquanto outras proliferam rapidamente. Seexistirem espécies capazes de explorar aregião pelágica, estas provavelmente melhorse ajustarão. Resultado semelhante éesperado para as espécies que exploramhábitats litorâneos de águas estagnadas.
Após certa estabilização no meio abiótico, afauna pode ainda ser bastante modificada,em decorrência do tipo de uso ou impactosrecebidos pelo corpo d’água, destacando-se aeutrofização, alterações de nívelhidrométrico, operação da barragem,variações na densidade de macrófitasaquáticas, proliferação de espécies exóticas,entre outras.
Como já foi explicitado no Capítulo 2, aictiofauna de reservatórios mais antigos é,invariavelmente, formada por espéciessedentárias, de pequeno a médio porte, e debaixo valor econômico. Espécies quedesempenham movimentos migratórioslongitudinais são as mais prejudicadas, poisrequerem hábitats distintos e, em geral,distantes, para integralizar seu ciclo de vida.Nesse caso, a barreira física ao deslocamento,representada pela barragem, e as exigênciascomportamentais ligadas à dinâmica da água
são fatores restritivos à ocupação do novoambiente.
As espécies que se estabelecem sãogeralmente capazes de completar todo o seuciclo de vida no próprio reservatório. Essegrupo habita preferencialmente as áreasrasas litorâneas (profundidades < 2m),tirando proveito da estruturação espacialpromovida pela presença de macrófitasaquáticas, pedras, galhadas submersas, alémde outros substratos. De fato, um dospadrões mais recorrentes em reservatórios éo estabelecimento das assembléias de peixesnas regiões litorâneas (ARAÚJO-LIMA;
AGOSTINHO; FABRÉ, 1995; SMITH; PEREIRA;
ESPÍNDOLA; ROCHA, 2003). As espécies quehabitam essas áreas são lambaris, piquiras,piranhas, sagüirus, pequenos bagres ecascudos, além de alguns piscívoros comojacundás, tucunarés e traíras.
Áreas pelágicas e profundas permaneceminabitadas ou pouco exploradas, pela falta deespécies de peixes com adaptações especiais aesses hábitats. Exceções são espécies dogênero Hypophthalmus, conhecidaspopularmente como sardela, perna-de-moçaou mapará, que apresentam adaptações paraexplorar recursos da região pelágica e sãoabundantes em alguns reservatórios. Essasespécies têm hábito alimentarzooplanctívoro, através da filtração da águapelos seus finos rastros branquiais. O sucessodo mapará na colonização de reservatóriosfoi observado em Itaipu e Tucuruí, ondepassou a constituir importante fonte depescado (AMBRÓSIO; AGOSTINHO; GOMES; OKADA,
2001; ABUJANRA; AGOSTINHO, 2002; CAMARGO;
PETRERE JUNIOR, 2004). Outra espécie que
A Ictiofauna de Reservatórios 7171717171
apresenta certas adaptações ao ambientepelágico é o peixe-rei, Odontesthes bonariensis,um clupeídeo proveniente de baciasargentinas e do Sul do Brasil. Essa espécie,que também pode apresentar hábitoalimentar zooplanctívoro filtrador, foiintroduzida em reservatórios do rio Iguaçu,apresentando sinais de sucesso no seuestabelecimento (CASSEMIRO; HAHN; RANGEL,
2003). Considerando esses exemplosisolados, e que a fauna sul-americana éestimada em 5.000 espécies de peixes (REIS;
KULLANDER; FERRARIS, Jr., 2003; AGOSTINHO;
THOMAZ; GOMES, 2005), fica claro o baixopotencial das espécies na exploração doshábitats pelágicos criados com osreservatórios. A ausência de grandes lagosnaturais, com áreas pelágicas desenvolvidas,na maioria das bacias hidrográficasbrasileiras, pode explicar a virtualinexistência de espécies de água doce pré-adaptadas às áreas abertas dos reservatórios.
Padrão semelhante é observado com relaçãoaos hábitats de regiões profundas. Apesar delimitações metodológicas impediremamostragens bem sucedidas nessesambientes (ausência de aparelhos de pescaeficientes), a ictiofauna sul-americana deágua doce parece carecer de espéciesdemersais, possivelmente também pelaausência histórica desse tipo de hábitat nosrios e lagos originais. Outra agravante pelanão-ocupação de regiões profundas emreservatórios está na possibilidade daformação de camadas anóxicas (semoxigênio). Estratos anóxicos na coluna d’águasão de ocorrência comum, principalmentenos primeiros anos após a formação dereservatórios, devido à estratificação térmica
da coluna e decomposição da matériaorgânica alagada (TUNDISI; MATSUMURA-
TUNDISI; CALIJURI, c1993). Essa faixa apresentaextensão variável, sendo menor nosreservatórios com maior fluxo de água.
Em condições não-anóxicas, a espécie quemelhor se ajustou ao ambiente demersal dereservatórios foi a corvina (ou pescada doPiauí) Plagioscion squamosissimus, origináriada região Nordeste do país e introduzida empraticamente todos os reservatórios do Sul eSudeste. A corvina tem hábito alimentarpiscívoro/carnívoro e também é encontradaem hábitats litorâneos. Contudo, podeformar grandes cardumes e permanecer nasregiões mais profundas próximas aosedimento, realizando periódicas migraçõesverticais e laterais em direção à regiãolitorânea. Essa espécie, que ainda retémalgumas características de seus ancestraismarinhos, especialmente pelodesenvolvimento pelágico de seus ovos,proliferou em vários reservatóriosbrasileiros, tornando-se freqüentementedominante em muitos reservatórios da baciado rio Paraná (AGOSTINHO; MIRANDA; BINI;
GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).
Grandes bagres também costumam habitarregiões mais profundas em momentos pré-represamento, como o canal principal do rioe os “poções” abaixo de quedas d’água(GOULDING; SIMTH; MAHAR, 1996), suportando ascondições de pressão nesses estratos. Com orepresamento, a distribuição desses peixesnão é bem conhecida e certa dúvida permeiaas suposições, já que os grandes bagres sãoespécies reofílicas e notadamentemigradoras, possivelmente evitando áreas
72 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
com baixo fluxo de água. Além disso, ascamadas anóxicas devem contribuir para quetais peixes evitem esses locais. De fato, essasespécies são as mais propensas a desaparecernas capturas da pesca comercial após aformação de reservatórios (BARTHEM; RIBEIRO;
PETRERE JUNIOR, 1991; RIBEIRO; PETRERE JUNIOR;
JURAS, 1995). Entretanto, camadas profundasde reservatórios podem ser ocupadas poralguns doradídeos, como o armado(Pterodoras granulosus) e o abotoado(Oxydoras knerii), ambos migradores(AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999). Sua distribuição nosreservatórios, contudo, se restringe aostrechos mais altos e com maior renovação deágua (OKADA; AGOSTINHO; GOMES, 2005).
Com essas informações, podemos reconhecertrês tipos de hábitats majoritários emreservatórios: (i) litorâneos, incluindo a fozde tributários; (ii) pelágicos, os maisconspícuos pela sua extensão; (iii) demersais(profunda), presentes nos reservatórios demaior profundidade. Contudo, a distribuiçãoda ictiofauna é desigual, sendo a ocupaçãoquase totalmente restrita à região litorânea(ver Box 3.2.1).
Algumas revisões gerais sobre a ictiofaunaem reservatórios já foram realizadas, comintuito de identificar padrões na composiçãode espécies, estrutura da assembléia eestratégias de vida mais comuns. Essasinformações podem ser úteis na predição dealguns impactos, principalmente naquelesrelacionados à formação das assembléias.
Na região Sul do país, Castro e Arcifa (1987)analisaram a fauna de 9 reservatórios,
encontrando um padrão dominado porlambaris (Astyanax altiparanae e A. fasciatus),curimatídeos (Cyphocharax modestus) e acarás(Geophagus brasiliensis), espécies oportunistasou que consomem detritos.
Agostinho, Vazzoler e Thomaz (1995)analisaram dados de 11 reservatórios daregião do alto rio Paraná e observaram aocorrência generalizada de algumas espécies,como mandis (Pimelodus maculatus eIheringichthys labrosus), lambaris Astyanax,piranhas Serrassalmus, traíras Hoplias, além daintroduzida corvina P. squamosissimus. Essesautores encontraram uma relação negativaentre a riqueza de espécies e a idade doreservatório, e uma positiva com a área dabacia.
Em outra importante revisão, Araújo-Lima,Agostinho e Fabré (1995) compilaram dadosde 19 reservatórios, situados na baciaAmazônica, São Francisco, Paraná e Leste. Afauna foi dominada por espécies sedentárias,a maioria da ordem Characiformes.Verificaram também que a fauna concentra-se predominantemente em áreas litorâneas,com muitas espécies de pequeno porte. Umgradiente de riqueza de espécies também foiidentificado, com maiores valores nasporções lóticas do reservatório. Espéciesreofílicas predominam nessas áreas.
Resultado semelhante foi obtido por Luiz,Petry, Pavanelli, Júlio Júnior, Latini eDomingues (2005), que estudaram 31reservatórios situados em seis sub-baciashidrográficas, localizados no Estado doParaná e suas bacias limítrofes. Os autoresverificaram que a fauna desses reservatórios
A Ictiofauna de Reservatórios 7373737373
é composta essencialmente por espéciessedentárias de pequeno porte,principalmente Characiformes ePerciformes (Cichlidae). Além disso, foidetectada uma singular influência da baciahidrográfica determinando padrões decomposição, riqueza de espécies eabundância dos peixes.
Vale destacar ainda uma outra análise,realizada em 29 reservatórios do Estado do
Paraná e bacias limítrofes (PELICICE;
ABUJANRA; FUGI; LATINI; GOMES; AGOSTINHO,
2005). Os autores verificaram que algunsreservatórios apresentam elevada biomassapiscívora, constituída basicamente pelatraíra Hoplias aff. malabaricus. A biomassapiscívora relativa pode exceder 50 % emalguns, e é provável que uma biomassa tãodesproporcional exerça alguma influênciana estruturação das assembléias, formadapor espécies de pequeno porte.
BoBoBoBoBox 3.2.1x 3.2.1x 3.2.1x 3.2.1x 3.2.1
Padrões de colonização em reservatórios neotropicais, e diagnose sobre o envelhecimento
AGOSTINHO, A.A.; MIRANDA, L.E.; BINI, L.M.; GOMES,L.C.; THOMAZ. S.M.; SUZUKI, H.I. Patterns of colonizationin neotropical reservoirs, and prognoses on aging. In:TUNDISI, J.G.; STRASKABA, M. (Ed.). Theoretical reservoirecology and its applications. São Carlos: InternationalInstitute of Ecology; Leiden, The Netherlands: BackhuysPublishers; Rio de Janeiro: Brazilian Academy of Sciences,1999. p. 227-265.
“A ocupação de um reservatório pode ser vista como uma colonização ou simplesmente uma grandereestruturação da comunidade de peixes local. As espécies que ocuparão satisfatoriamente o novo ambientedeverão ser capazes de desenvolver adaptações diferentes daquelas que possuíam no ambiente lótico. Paradescrever o processo de colonização é possível distinguir estratos orientados de forma longitudinal (lótico,transição e lacustre), transversal (litoral e pelágico) e vertical (epipelágico e batipelágico), em relação ao eixoprincipal do reservatório, particularmente nos maiores. Com relação às dimensões transversal e vertical, azona litorânea possui a maior riqueza de espécies e é mais produtiva que as zonas epi e batipelágicas. Essaprodutividade está associada com a entrada de nutrientes e recursos alimentares de áreas ripárias, com abaixa profundidade da região, e com uma elevada estruturação e diversidade de hábitats. Essas diferençascostumam se acentuar com o envelhecimento do reservatório. Em geral, a colonização de áreas litorâneas éfeita por espécies com adaptações generalistas e ampla tolerância a variações no hábitat, particularmenteespécies de Cichlidae, pequenos Characiformes e Siluriformes, além da bem-sucedida corvina Plagioscionsquamosissimus. Diferentemente, as espécies de peixes que ocupam hábitats pelágicos necessitamadaptações morfológicas e comportamentais específicas para a alimentação, reprodução, movimentação epara evitar predadores. A ictioufauna do alto rio Paraná carece de espécies com essas adaptações, o queexplica o baixo rendimento pesqueiro em reservatórios da região. Exceções são a corvina e o armadoPterodoras granulosus, que habitam freqüentemente essas zonas. Além desses, o filtradorHypophthalmus edentatus, o insetívoro Auchenipterus nuchalis e o piscívoro Raphiodon vulpinus,possuem certas adaptações e conseguem explorar a zona pelágica, porém apresentam maiores abundânciasna zona litorânea. A zona batipelágica é pobremente habitada, possivelmente devido à estratificação térmicae de oxigênio, limitações na disponibilidade alimentar e atenuação luminosa. A riqueza de espécies e aabundância de peixes nessa zona também são menores, em relação aos habitats litorâneos.”
74 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Diagnóstico da Ictiofauna
Com o intuito de atualizar e aprofundar oconhecimento sobre padrões ecológicos emreservatórios, o presente tópico reuniudados da ictiofauna de 77 reservatórios,obtidos em dissertações e teses de pós-graduação, artigos científicos e relatóriostécnicos, além de dados não-publicadosobtidos nos projetos de pesquisaexecutados pelo Núcleo de Pesquisas emLimnologia, Ictiologia e Aqüicultura(Nupélia), da Universidade Estadual deMaringá.
Cabe ressaltar que os dados analisados nãoforam originalmente obtidos de formapadronizada, comportando diferentesmetodologias de amostragem, esforços eperíodos. No entanto, a metaanáliserealizada pode ser útil na identificação depadrões gerais a respeito da ictiofauna quehabita reservatórios, principalmenteporque trabalhos dessa natureza sãoescassos. Além disso, esse tipo deprocedimento, que agrupa e analisa dadosobtidos em trabalhos independentes, tem-se constituído em ferramenta poderosa emestudos ecológicos, auxiliando naidentificação de padrões em escalas espaço-temporais que trabalhos individuais nãoconseguem contemplar (PATTEN, c2004).
As informações reunidas dos váriostrabalhos, quando apresentadas, incluíramcaptura por unidade de esforço (CPUE,proveniente somente de capturas comredes de espera, apresentadas em número epeso), riqueza total de espécies, riqueza das
espécies dominantes e composiçãoespecífica dominante. Aqui, as espéciesdominantes foram aquelas cujas capturassomadas corresponderam a,aproximadamente, 80 e 90 % da capturatotal, o que dependeu do primeiro ponto deinflexão na seqüência de abundâncias. Osdados provêm de capturas realizadassomente nas regiões a montante dabarragem, não sendo possível, infelizmente,explorar padrões longitudinais (regiõeslacustre, transição e lótica), devido à falta deinformações a respeito da localização dospontos de amostragem em alguns estudos,além da ausência de amostragens maisabrangentes em outros.
Além disso, devido ao caráter não-padronizado de muitas informações, poucoserá abordado a respeito dos fatoresdeterminantes da estrutura das assembléias,ou seja, as relações da ictiofauna comvariáveis potencialmente importantes. Adiscussão será centrada basicamente nadescrição das assembléias e dos possíveispadrões na composição.
Os reservatórios estudados estãoapresentados na Tabela 3.2.1, bem comoalgumas informações sobre a ictiofauna eas referências nas quais os dados foramobtidos. Esses reservatórios localizam-seem praticamente todas as grandes baciasbrasileiras destacadas no capítulo anterior,com grande predomínio daqueles situadosna bacia do rio Paraná. A área alagadavariou de 0,1 a 2.875 km2, e o tempodecorrido do fechamento do reservatórioao ano de estudo variou de 1 a 87 anos(Tabela 3.2.1).
A Ictiofauna de Reservatórios 7575757575
Res
erva
tóri
oF
ech
a-m
ento
Áre
a(k
m)2
An
od
oes
tud
oC
PU
EN
CP
UE
PS
TOT
SD
OM
Ref
erên
cias
Bac
ia
1N
otí
cia
for n
ecid
aporE
.E.M
arq
ues
(dados
não
pu
blicados).
1C
ur u
á- U
na
11
97
77
81
98
24
6,1
8--
18
9F
er r
eira
(19
84
a)
2S
am
ue
l1
19
89
65
61
99
1/1
99
21
8,5
- -8
23
Sa
nto
s(1
99
5)
3T
ucu
ruí
21
98
42
87
51
98
4-1
98
75
01
3,1
12
72
2L
eite
(19
93
)
4L
aje
ad
o2
20
02
63
02
00
3--
--2
68
17
E.E
.Ma
r qu
es
(in
form
açã
ove
r ba
l)
5S
err
ad
aM
esa
21
99
61
78
41
99
78
6--
10
37
6A
çud
es
No
rde
s te
3--
--1
97
7-1
98
6--
--1
86
7F
un
i l4
19
69
40
20
00
-20
02
----
19
4F
UR
NA
SC
en
tra
isE
l ét r
ica
s(2
00
2a
)
8C
ha
pé
ud
'Úva
s4
19
95
--1
99
9-2
00
0--
- -3
39
Oliv
eira
eL
ace
rda
(20
04
)
9L
aj e
s4
19
07
30
19
94
57
,611
,31
53
Ara
újo
eS
an
tos
(20
01
)
10
Sa
nta
Bra
nca
41
96
02
7,2
19
79
39
--1
23
Ca
stro
eA
rci fa
(19
87
)
11Ja
gu
ari
41
97
25
62
00
0--
- -1
85
CE
SP
(20
00
a)
12
Pa
raib
un
a4
19
78
22
42
00
0--
--1
64
CE
SP
(20
00
a)
13
Trê
sM
aria
s5
19
62
114
21
99
9--
--3
59
Alv
im(1
99
9)
14
No
vaP
on
te6
19
94
44
71
99
3-1
99
48
0,7
2,3
74
97
Un
ive
rsid
ad
eF
ed
era
lde
Mi n
as
Ge
rais
(19
95
)
15
Co
r um
bá
61
99
76
51
99
7- 2
00
05
03
10
21
3
16
Ma
nso
62
00
04
27
20
00
- 20
01
29
,93
, 91
53
15
17
Tai a
çup
eb
a6
19
76
20
19
79
3,3
--4
2C
ast
roe
Arc
ifa(1
98
7)
18
Am
erica
na
61
94
91
31
98
1- 1
98
21
61
--1
66
Ca
s tr o
eA
rcifa
(19
87
)
19
Ati b
ai n
ha
61
97
2--
19
79
61
--9
3C
as t
r oe
Arc
ifa(1
98
7)
20
Ca
cho
eira
61
97
2--
19
79
57
--1
44
Ca
stro
eA
rcifa
(19
87
)
21
Pe
dro
Be
i ch
t6
19
32
--1
97
97
--5
2C
ast
roe
Arc
ifa(1
98
7)
22
I tu
para
ng
a6
19
14
30
,72
00
0- -
--1
45
Sm
ithe
Pe
tre
r eJu
ni o
r(2
00
1)
23
Bill
ing
s6
19
26
12
71
99
7-1
99
9- -
- -9
5L
ui z
Jún
ior
(19
99
)
24
Ba
r ra
Bo
nit a
61
96
33
08
19
92
- 19
93
80
--3
58
Ca
stro
(19
97
)
25
Ba
rir i
61
96
96
2,5
20
00
- 20
01
74
,92
--3
41
0
26
Ibiti
ng
a6
19
69
113
,52
00
0-2
00
18
9,1
1- -
33
10
1
Fu
nd
açã
oB
I OR
IOe
Un
ive
r sid
ad
eF
ed
era
l do
Rio
de
Jan
ei ro
( 19
98
)
Pa
i va
,P
etr
ere
Jun
ior,
Pe
ten
ate
,N
ep
om
uc e
no
eV
asc
on
celo
s(1
99
4)
Uni v
ers
idade
Est
adual d
eM
aringá.N
upélia
/FU
RN
AS
(2001a)
Univ
er s
i dade
Es t
aduald
eM
ar ingá.N
upélia
/ FU
RN
AS
(2001b)
EC
OC
on
sulto
r ia
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
t ê(2
00
1)
Tabela
3.2
.1-
Info
rmações
gera
isa
respeit
oda
icti
ofa
un
ados
77
reserv
ató
rios
estu
dados,
locali
zados
em
dif
ere
nte
sbacia
sh
idro
grá
ficas
bra
sil
eir
as
(Bacia
s:1
=A
mazôn
ica;2
=A
raguaia
/T
ocan
tin
s;3
=N
ort
e/N
ord
este
;4
=Leste
;5
=São
Fra
ncis
co;
6=
Para
ná;7
=Sul).São
apre
sen
tadas
adata
de
fech
am
en
todo
reserv
ató
rio,sua
áre
a,o
an
oem
que
oestu
do
foire
ali
zado,a
captu
raporun
idade
de
esfo
rço
(CPU
E)em
núm
ero
(N)e
peso
(P)(i
nd.ou
kg/100m
de
rede/24
h),
ari
queza
de
espécie
sto
tal
(ST
OT
),e
on
úm
ero
de
espécie
sdom
inan
tes
(SD
OM
,espécie
sque
quan
do
som
adas
perf
izera
men
tre
80
e90
%das
captu
ras
em
núm
ero
de
indiv
íduos
2
)( c
on
tin
ua)
76 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Res
erva
tóri
oF
ech
a-m
ento
Áre
a(k
m)2
An
od
oes
tud
oC
PU
EN
CP
UE
PS
TOT
SD
OM
Ref
erên
cias
Bac
ia
1Pro
jeto
PR
ON
EX
desen
volv
ido
pela
Un
ivers
idade
Esta
du
alde
Mari
ngá/N
upélia
(dados
não
pu
blicados).
27
Pro
mis
são
61
97
75
30
20
00
-20
01
13
0,4
2--
35
7
28
No
vaA
van
ha
nd
ava
61
98
22
10
20
00
-20
01
76
,22
--3
31
0
29
Trê
sIr
mã
os
61
99
37
85
20
00
16
,06
--3
57
30
Ca
con
de
61
96
63
1,1
20
00
-20
01
32
,67
--1
43
31
Eu
clid
es
da
Cu
nh
a6
19
65
1,0
72
00
0-2
00
12
7--
63
32
Lim
oe
iro
61
96
62
,72
00
0-2
00
11
29
,3--
18
4
33
Mo
gi G
ua
çu6
19
94
5,7
20
00
-20
01
82
,33
20
7
34
Fu
rna
s6
19
63
14
40
19
96
-20
02
41
,42
,13
97
FU
RN
AS
(20
02
b)
35
Po
rto
Co
lôm
bia
61
97
31
43
19
98
-20
02
14
,62
2,2
52
48
FU
RN
AS
(20
02
c)
36
L.C
.B.
Ca
rva
lho
61
96
94
71
99
8-2
00
38
5,1
84
,81
24
6F
UR
NA
S(2
00
3a
)
37M
asca
renh
asM
orae
s6
1956
250
1998
-200
249
,31
2,61
336
FU
RN
AS
(200
2d)
38
Ma
rim
bo
nd
o6
19
75
43
81
99
6-2
00
25
4,2
82
,97
47
7F
UR
NA
S(2
00
2e
)
39
Vo
ltaG
ran
de
61
97
42
21
,71
99
5--
--3
33
Bra
ga
eG
om
iero
(19
97
)
40
Itu
mb
iara
61
98
07
78
19
96
-20
03
44
,62
3,7
25
79
FU
RN
AS
(20
03
b)
41
Ág
ua
Ve
rme
lha
61
97
96
47
20
00
-20
01
26
,04
--2
96
42
Itu
ting
a6
19
55
1,6
41
98
8-1
99
05
2,2
4,5
92
55
Alv
es,
Go
din
ho
, A.L
.,G
od
inh
o,
H.P
.e
Torq
ua
to(1
99
8)
43
Ala
ga
do
s6
19
68
13
,12
00
14
8,4
10
,56
92
Pro
jeto
PR
ON
EX
44
Juru
mirim
61
96
24
25
19
96
-19
97
20
,72
0,0
83
19
Ca
rva
lho
eS
ilva
(19
99
)
45
Sa
ltoG
ran
de
61
95
11
22
00
11
4,4
1,3
13
01
0P
roje
toP
RO
NE
X
46
Ch
ava
nte
s6
19
59
40
02
00
11
7,4
40
,68
23
10
Pro
jeto
PR
ON
EX
47
Ca
no
as
I6
19
98
30
,92
00
11
3,8
11
,73
34
8P
roje
toP
RO
NE
X
48
Ca
no
as
II6
19
98
22
,52
00
11
4,4
61
,32
40
10
Pro
jeto
PR
ON
EX
49
Taq
ua
ruçú
61
98
01
80
20
01
27
,53
2,0
83
97
Pro
jeto
PR
ON
EX
50
Ca
piv
ara
61
97
05
76
20
01
21
,06
1,2
23
46
Pro
jeto
PR
ON
EX
51
Ro
san
a6
19
87
22
02
00
11
3,4
71
,95
67
10
Pro
jeto
PR
ON
EX
52
Ca
vern
oso
61
96
5--
20
01
17
,72
0,8
42
15
Pro
jeto
PR
ON
EX
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
leC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
l eC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
EC
OC
on
sulto
ria
Am
bie
nta
leC
om
érc
io/A
ES
Tie
tê(2
00
1)
Ce
ntr
ais
Elé
tric
as
Ce
ntr
ais
Elé
tric
as
Ce
ntr
ais
Elé
tric
as
Cen
trais
Elé
trica
s
Ce
ntr
ais
Elé
tric
as
Ce
ntr
ais
Elé
tric
as
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tabela
3.2
.1-
Info
rmações
gera
isa
respeit
oda
icti
ofa
un
ados
77
reserv
ató
rios
estu
dados,
locali
zados
em
dif
ere
nte
sbacia
sh
idro
grá
ficas
bra
sil
eir
as
(Bacia
s:1
=A
mazôn
ica;2
=A
raguaia
/T
ocan
tin
s;3
=N
ort
e/N
ord
este
;4
=Leste
;5
=São
Fra
ncis
co;
6=
Para
ná;7
=Sul).São
apre
sen
tadas
adata
de
fech
am
en
todo
reserv
ató
rio,sua
áre
a,o
an
oem
que
oestu
do
foire
ali
zado,a
captu
rapor
un
idade
de
esfo
rço
(CPU
E)em
núm
ero
(N)e
peso
(P)(i
nd.ou
kg/100m
de
rede/24
h),
ari
queza
de
espécie
sto
tal
(ST
OT
),e
on
úm
ero
de
espécie
sdom
inan
tes
(SD
OM
,espécie
sque
quan
do
som
adas
perf
izera
men
tre
80
e90
%das
captu
ras
em
núm
ero
de
indiv
íduos
2
)(c
on
tin
uação)
A Ictiofauna de Reservatórios 7777777777
Res
erva
tóri
oF
ech
a-m
ento
Áre
a(k
m)2
An
od
oes
t ud
oC
PU
EN
CP
UE
PS
TOT
SD
OM
Ref
erên
cias
Bac
ia
53
J.M
esq
uita
Fi lh
o6
19
70
0,5
20
01
24
, 31
0,5
52
37
Pro
jeto
PR
ON
EX
54
Se
gre
do
61
99
28
4,9
20
01
40
,24
1,3
34
8P
roje
toP
RO
NE
X
55
Ca
xia
s6
19
98
14
4,2
20
01
13
1,5
1,9
42
34
Pro
jeto
PR
ON
EX
56
Fo
zd
oA
reia
61
97
91
65
20
01
47
,06
1,1
22
13
Pr o
jeto
PR
ON
EX
57
Sa
lt oO
sório
61
97
56
2,9
20
01
26
,97
1,1
72
17
Pro
j eto
PR
ON
EX
58
Sa
ltod
oV
au
61
95
9--
20
01
14
, 40
,23
13
5P
roje
toP
RO
NE
X
59
Sa
ltoS
an
tiag
o6
19
80
20
82
00
14
1,6
1,1
23
7P
roj e
t oP
RO
NE
X
60
Ira
í6
19
99
14
,62
00
19
8,0
52
,95
29
3P
roje
toP
RO
NE
X
61
J ord
ão
61
99
61
,92
00
12
0,8
70
,75
19
4P
roje
toP
RO
NE
X
62
Cu
ruca
ca6
19
82
1, 2
20
01
29
,18
2,5
61
75
Pro
jeto
PR
ON
EX
63
Pira
qu
ara
61
97
93
,32
00
16
,50
,38
94
Pro
jeto
PR
ON
EX
64
Pa
ssa
ún
a6
8,3
20
01
23
,06
0, 7
81
25
Pro
jeto
PR
ON
EX
65
Po
rto
Prim
ave
ra6
19
98
22
50
19
99
-20
01
31
,67
7,0
37
81
3C
ES
P(2
00
1)
66
Ilha
So
lteira
61
97
811
95
20
00
----
35
8C
ES
P(2
00
0a
)
67
Jup
iá6
19
74
33
02
00
0- -
--3
78
CE
SP
(20
00
a)
68I ta
ipu
619
8213
5019
97-1
998
23,5
23,
711
47
69
Ha
rmo
ni a
61
94
2--
20
01
36
, 38
2,3
81
02
Pro
jeto
PR
ON
EX
70
Fi u
61
95
72
,11
99
5-1
99
95
01
,22
24
Lu
i z(2
00
0)
71
Me
lissa
61
96
20
, 12
00
12
8, 2
70
, 57
15
4P
roje
toP
RO
NE
X
72
Mo
ur ã
o6
19
64
11,3
20
01
53
,71
,54
21
3P
r oje
toP
RO
NE
X
73
Pa
tos
61
94
91
,32
00
11
4,9
70
,45
10
3P
roj e
t oP
RO
NE
X
74
G.
Pa
r ig
ot
de
So
uza
71
97
01
62
00
12
3,9
81
,23
27
3P
r oje
toP
RO
NE
X
75
Gu
ar ica
na
71
95
70
, 86
20
01
29
,07
0,7
51
52
Pro
jeto
PR
ON
EX
76
Sa
ltod
oM
eio
71
93
00
,12
00
13
3,5
51
,42
13
4P
r oje
toP
RO
NE
X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uni
vers
idad
eE
s tad
ual d
eM
ari n
gá.N
upél
i a/ It
aipu
Bin
acio
nal (
1998
),B
ened
ito- C
ecíl i
o,A
gost
inho
,Jú
lioJ ú
nior
eP
avan
elli
(199
7)
77
Vo
sso
roca
71
94
95
,12
00
16
1,0
31
,11
17
2P
roje
toP
RO
NE
X
Tabela
3.2
.1-
Info
rmações
gera
isa
respeit
oda
icti
ofa
un
ados
77
reserv
ató
rios
estu
dados,
locali
zados
em
dif
ere
nte
sbacia
sh
idro
grá
ficas
bra
sil
eir
as
(Bacia
s:1
=A
mazôn
ica;2
=A
raguaia
/T
ocan
tin
s;3
=N
ort
e/N
ord
este
;4
=Leste
;5
=São
Fra
ncis
co;
6=
Para
ná;7
=Sul).São
apre
sen
tadas
adata
de
fech
am
en
todo
reserv
ató
rio,sua
áre
a,o
an
oem
que
oestu
do
foire
ali
zado,a
captu
rapor
un
idade
de
esfo
rço
(CPU
E)em
núm
ero
(N)e
peso
(P)(i
nd.ou
kg/100m
de
rede/24
h),
ari
queza
de
espécie
sto
tal
(ST
OT
),e
on
úm
ero
de
espécie
sdom
inan
tes
(SD
OM
,espécie
sque
quan
do
som
adas
perf
izera
men
tre
80
e90
%das
captu
ras
em
núm
ero
de
indiv
íduos
2
)(c
on
clu
são)
1Pro
jeto
PR
ON
EX
desen
volv
ido
pela
Un
ivers
idade
Est a
du
alde
Mari
ngá/N
upélia
(dados
não
pu
bl icados).
78 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Riqueza Total
0
5
10
15
20
25
30
35 n = 77
1-2
0
21-4
0
41-6
0
61-8
0
81-1
00
101-1
20
121-1
40
141-1
60
161-1
80
181-2
00
201-2
20
221-2
40
241-2
60
>260
Nú
me
rod
ere
serv
ató
rio
s
Figura 3.2.1 - Distribuição de freqüências do número total deespécies de peixes observado nos reservatórios.
Riqueza de Espécies
É interessante observar que cerca de 85 %dos reservatórios analisados apresentamuma riqueza total inferior a 40 espécies depeixes, e que quase a metade tem entre 20 e40 (Figura 3.2.1), com média em torno de 30espécies por reservatório. Raros foramaqueles com mais de 80 espécies, o quecontrasta com a riqueza presente na maioriados rios neotropicais. Assim, um número deespécies inferior a 40 por reservatório podeser considerado relativamente baixo, seanalisarmos as áreas alagadas pelosrepresamentos (80 % tiveram áreas alagadassuperiores a 10 km2). Como já destacado, emsituações pré-represamento, alguns hábitatstêm como característica uma elevada riquezalocal, formando ricos gradientes dediversidade e, por fim, determinando umaelevada diversidade regional. Por exemplo,na planície alagável do alto rio Paraná,lagoas marginais com áreasinferiores a 0,2 km2 podemconter até 30 espécies depeixes, muitas nãocompartilhadas com outraslagoas, hábitats de rios ecanais (OLIVEIRA; LUIZ;
AGOSTINHO; BENEDITO-
CECÍLIO, 2001). Maisimpressionante, na planíciede inundação do rioMamoré, bacia Amazônica,o número de espécies naslagoas marginais variou de70 a 99 espécies (POUILLY;
YUNOKI; ROSALES; TORRES,
2004).
Entretanto, como seria esperado, osreservatórios com maior diversidadeespecífica foram aqueles de maior área, maisrecentes e/ou localizados em bacias maisespeciosas, como dos rios Araguaia-Tocantins (Tucuruí, Lajeado e Serra da Mesa),Corumbá-Paraguai (Manso) e mesmo do rioParaná (Corumbá e Itaipu).
Muitas variáveis parecem atuardeterminando o número de espécies emreservatórios e, aparentemente, adeterminação da riqueza de espécies éaltamente contexto-dependente. Destacam-se, entretanto, a diversidade original dolocal, a área alagada, a severidade doimpacto proporcionado pelo reservatório,sua idade e as ações antropogênicasexistentes no entorno. Como algumas dessasinformações inexistem para a maioria dosreservatórios e os estudos que incluemperíodos pré e pós-represamentos são raros,essas generalizações são limitadas.
A Ictiofauna de Reservatórios 7979797979
Riq
ueza
de
esp
éci
es
Idade
0
40
80
120
160
200
240
280
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Bacias HidrográficasAmazônicaAraguaia-Tocantins
Atlântico Leste
São FransciscoParaná
Atlântico Sul
Idade
0
40
80
120
160
200
240
280
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Área (km2)< 2020,1 - 100
100,1 - 500
500,1 - 10001000,1 - 2000
> 2000
nd
Riq
ueza
de
esp
éci
es
Figura 3.2.2 - Relação entre a idade dos reservatórios e a riqueza deespécies de peixes, destacando a influência das baciashidrográficas (a) e a área dos reservatórios (b). A área estádividida em classes, e nd significa “não determinada”. O númerode reservatórios analisados foi de 75.
a
b
Mesmo considerando essas limitações e ofato de os reservatórios estarem distribuídosem bacias diferentes, terem históricosparticulares e áreas de alagamento distintas,a Figura 3.2.2 permite evidenciar forteinfluência da idade do represamento nonúmero de espécies de peixes presentes.Nessa figura, observa-se uma relaçãonegativa entre a idade e o número deespécies, ou seja, ariqueza de espécies tendea diminuir emreservatórios mais velhos.Porém o fenômeno maisinteressante talvez seja aelevada variabilidade nosvalores de riquezaquando os reservatóriossão novos, certamente umresultado promovido pormúltiplos fatores, masque deve refletir,essencialmente, a faunaoriginal encontrada nosistema. A riqueza médiadiminui com o aumentoda idade, e após 20 anos avariabilidade tambémdiminuiconsideravelmente, comtodos os valores deriqueza convergindo paracerca de 20 espécies.
Entretanto, como jáadiantado, a relaçãoobservada poderia ser, naverdade, resultado dainfluência de outrasvariáveis importantes,
como a bacia hidrográfica a que pertence oreservatório e sua área de alagamento.Contudo, pode-se observar que, apesar de amaioria das observações terem sido obtidasna bacia do rio Paraná, parece que ainfluência da bacia hidrográfica nessa relaçãoé pequena (Figura 3.2.2a), já que os valoresobtidos para reservatórios de diferentesbacias encontram-se difusos na figura.
80 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Além disso, a relação negativa entre a idadee a riqueza se mantém mesmo quandoconsideramos somente a bacia do rio Paraná,que obviamente possui a amostragem maisrepresentativa.
Outra variável que poderia influenciar arelação observada na Figura 3.2.2 é a áreaalagada do reservatório. Para o conjunto dosreservatórios, constata-se uma correlaçãopositiva entre a riqueza de espécies e a áreaalagada (R = 0,51; F1;67 = 24,10; p < 0.00001),apesar da moderada intensidade da relação.Essa correlação é mais forte com a remoçãodo reservatório de Serra da Mesa (R = 0,65;F1;66 = 49,41; p < 0.00001). No entanto, comoevidenciado na Figura 3.2.2b, a área doreservatório parece não ter influenciadodecisivamente na relação entre idade eriqueza, visto que o padrão se mantémquando analisamos separadamente a relaçãocom reservatórios menores que 500 km2
(pontos abertos na figura) e reservatóriosmaiores que 500 km2 (pontos fechados).Nesse caso, para um mesmo valor de idade,os reservatórios com áreas superiores a 500km2 (pontos escuros) tenderam a apresentarvalores mais altos de riqueza de espécies.
A correlação positiva entre a riqueza deespécies e a área alagada pode ser explicadapelo fato de que, quanto maior a áreainundada, um maior número de hábitats eáreas adjacentes serão atingidos pelorepresamento, possivelmente englobandomais espécies. Com isso, espera-se que noprimeiro momento, a diversidade β (entrelocais, diversidade observada em gradientesambientais; HARRISON; ROSS; LAWTON, 1992)diminua acentuadamente e gradientes de
diversidade sejam atenuados, aumentando asdiversidades alfa (local) e gama (regional).Espera-se que após certo tempo, com ofortalecimento dos gradientes longitudinais(zonas fluvial, transição e lacustre) e mesmotransversais (litorânea, pelágica, braços detributários), a diversidade β volte a mostrarincrementos, como já demonstrado porAmaral e Petrere Junior (1993), Agostinho,Miranda, Bini, Gomes, Thomaz e Suzuki(1999), Oliveira, Goulart e Minte-Vera (2004)e Oliveira, Minte-Vera e Goulart (2005).Porém, em comparação com períodos pré-represamento, é esperada uma diminuiçãonas diversidades local e regional, porenvolver fugas e mesmo extinções locais devárias espécies que não encontram no novoambiente as condições adequadas ao ciclo devida.
O quadro apresentado acima demonstra acomplexidade dos processos de ocupação denovos reservatórios e da colonização emlongo prazo, e, portanto, a dificuldade em sefazer previsões. As variáveis envolvidas sãomuitas e as interações entre elas sãocontínuas e variadas. O grau decomplexidade torna-se ainda mais relevantepela heterogeneidade de procedimentosoperacionais entre os reservatórios. Emmuitos deles a irregularidade temporal nonível da água pode ser fonte de impactosadicionais que levam o processo sucessionala ser abortado precocemente, antes quealguma tendência de sucessãobiologicamente regulada se instale.
Área e idade parecem ser, no entanto, duasvariáveis relevantes determinando a riquezade espécies presente nesses ambientes.
A Ictiofauna de Reservatórios 8181818181
Numa escala temporal maior, parecesobressair o efeito da idade, como demonstrao fato de os valores de riqueza de espéciestenderem a convergir para um valor comumem idades avançadas (20 espécies), comoapresentado na Figura 3.2.2. Aliás, o padrãoobservado nessa figura, apesar de nãotestado estatisticamente, assemelha-se a um“efeito envelope” (GAUCH, Jr., 1982). Nesse tipode relação, a dificuldade na predição em umdos extremos do gradiente, no caso, quandoos reservatórios são jovens, decorre da açãode múltiplos fatores influenciando a variávelem questão. De maneira oposta, quando osreservatórios envelhecem, a predição dariqueza parece ser mais acurada.
Cabe a ressalva, no entanto, de que osreservatórios amostrados carecem de censosamplos e, devido ao número de espécies seruma medida muito dependente do esforçoamostral (GOTELLI; COLWELL, 2001), o númeroreal de espécies nesses ambientes só poderáser conhecido com a intensificação donúmero de estudos, utilizando diferentesaparelhos de pesca. Porém, apesar de adescoberta de outras espécies ter grandesimplicações ecológicas, não deverá aumentarsubstancialmente os valores já registrados,visto que as primeiras amostragens (quandobem conduzidas) costumam registrar amaior parte da riqueza local (GOTELLI;
COLWELL, 2001). Com a reunião de maisdados, incluindo outros reservatórios,levantamentos atualizados e possivelmentemelhor padronizados, essa tendência poderáser verificada de forma mais adequada.
Assim, a perda de gradientes espaciais dediversidade, a criação de gradientes em
maior escala espacial (longitudinais, emgrandes reservatórios), uma inevitávelhomogeneização da fauna entrereservatórios de uma mesma bacia,culminando no declínio da diversidaderegional ao longo do tempo, parecem seracontecimentos generalizados com oestabelecimento e envelhecimento de umreservatório. Os reservatórios dispostos emsérie nos afluentes do alto rio Paranádemonstram o efeito sinérgico adverso derepresamentos sobre a diversidadeictiofaunística regional.
Abundância
A captura por unidade de esforço (CPUE) éuma boa estimativa da abundância dosrecursos pesqueiros, sendo considerada umbom índice nas análises de variaçõesespaciais e temporais (KING, 1995). Se em umdeterminado ambiente ou período sãocapturados 10 indivíduos por hora e emoutro 20, pode-se supor que a abundância nosegundo seja o dobro daquela do primeiro.Entretanto, o pressuposto da uniformidadedo esforço deve ser atendido.
Lamentavelmente, nem todos os documentosconsultados mencionam o esforço amostralutilizado, fato que prejudica de formasistemática a comparação entre eles, aformulação de sínteses de conhecimento euma melhor apreciação de impactosambientais. Em muitas ocasiões, os dados deCPUE foram extrapolados de figuras,enquanto que em outras, foi necessáriocalculá-los com base em informaçõescolhidas ao longo dos documentos,
82 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Nú
me
rod
ere
serv
ató
rio
s
CPUEn
0
10
20
30
40n = 65
0-5
0
51-1
00
101-1
50
151-2
00
201-2
50
251-3
00
301-3
50
351-4
00
401-4
50
451-5
00
501-5
50
Figura 3.2.3 - Distribuição de freqüências de CPUE em número deindivíduos (ind.100m de rede/24h), capturados com rede deespera nos reservatórios.
2
procedimento que confere certo grau deincerteza aos resultados aqui apresentados.Ressalta-se, ainda, que as capturas podem tersido subestimadas para alguns reservatóriosem razão do uso de baterias de redes commalhagens maiores que em outros.
A captura por unidade de esforço (ind./100m2 de rede/24h) foi avaliada para 65reservatórios e variou de 3,3 no reservatóriode Taiaçupeba a 503 em Corumbá, amboslocalizados na bacia do rio Paraná. Noreservatório de Corumbá, a elevada capturade lambaris nos anos que sucederam ao seufechamento proporcionou esse valorextraordinário de CPUE.
A maior parte dos reservatórios apresentouCPUE inferior a 50 ind./100 m2 de rede/24h,sendo que poucos apresentaram valoresacima de 100 (Figura 3.2.3). A CPUE médiafoi de 52. Não houve correlaçãoestatisticamente significativa com a área eidade do represamento,apesar de a literaturadestacar a queda nos seusvalores após fases iniciaisde grande produtividadeprimária, acentuando-secom o envelhecimentodo reservatório (verAGOSTINHO; MIRANDA, BINI,
GOMES, THOMAZ; SUZUKI,
1999). Nesse caso,algumasparticularidades,pertencentes a cadaestudo e derivadas dafalta de padronização nasamostragens, podem ter
influenciado a mensuração da CPUE,subestimando ou superestimando os valoresreais.
destacar o reservatório de Lajes na bacia dorio Paraíba do Sul (ARAÚJO; SANTOS, 2001), queapesar de muito antigo (quase 90 anos noperíodo de estudo), apresentou valor elevadode CPUE (57,6). Uma possível razão para talvalor seria a realização de pescariasexclusivamente no período noturno, horárioem que as capturas são sabidamente maiores.Além disso, na época de estudo houve umaexplosão demográfica do cascudoLoricariichthys castaneus, que contribuiu emelevar os valores de abundância total(Luciano N. dos Santos, comunicaçãopessoal).
Além disso, a abundância dos peixes pareceser uma variável mais relacionada com ograu de trofia do corpo d’água, ou mesmocom o nível de desenvolvimento marginal/
A Ictiofauna de Reservatórios 8383838383
estrutural dos hábitats. Isso pode seratestado com o fato de os reservatórios dabacia Tietê, famosos pelo histórico deeutrofização, apresentarem elevados valoresde CPUE (maiores que 70).
Santos e Ferreira (1999) apresentam aamplitude de CPUE, em número deindivíduos, para diversos sistemasamazônicos, variando de 0,7 a 62 ind./100 m2
de rede/24h, valores próximos aosregistrados nos reservatórios analisados. Deforma similar, Agostinho, Júlio Júnior,Gomes, Bini e Agostinho (1997) reportamvalores entre 20,8 e 69 ind./100 m2 de rede/24h para ambientes da planície de inundaçãodo alto rio Paraná, demonstrando que asassembléias presentes nas lagoas (ambienteslênticos) apresentam maior número deindivíduos que aquelas dos rios (ambienteslóticos). No rio Jequitinhonha, baciaAtlântico Leste, Godinho, Godinho e Vono(1999) também apresentam valores de CPUEpróximos ao observado em reservatórios,com valor de 71,7 ind./100 m2 de rede/24h.
Como assinalou Harris (1999), umatendência geral em ecossistemas é a de sedesenvolverem até que o “ecoespaço” sejapreenchido pelos indivíduos, sendo estedelimitado, em grande parte, peladisponibilidade de energia e nutrientes.Considerando reservatórios comoecossistemas, o limite comum aodesenvolvimento das assembléias de peixesparece ser em torno de 50 ind./100 m2 derede/24h. Entretanto, devemos destacar queas capturas observadas nos reservatóriosmais novos podem ser transitórias e sujeitasainda a grande variabilidade, até que
períodos de maior estabilidade das condiçõesfísico-químicas sejam atingidos. Mesmodurante fases de maior estabilidadeambiental abruptas alterações na abundânciadas espécies também podem ocorrer, como,por exemplo, durante variações bruscas nonível do reservatório, tornando instáveis oshábitats de alimentação e desova, ou peloingresso de poluentes orgânicos,promovendo a depleção nos teores deoxigênio e/ou a proliferação de algastóxicas. Assim, um limite de densidade passaa ser bastante variável e de difícilmensuração.
É importante lembrar também que ascapturas apresentadas derivam da pesca comredes de espera, que é altamente seletiva.Indivíduos de pequeno porte geralmente nãosão amostrados de forma adequada comesses equipamentos, tendo, portanto, suasabundâncias subestimadas. Em algunsreservatórios essa fauna tem importantecontribuição em número de indivíduos eriqueza de espécies. No reservatório deRosana, por exemplo, alguns estudos vêmdemonstrando que essa fauna é rica(representa mais de 30 % da riqueza total) eabundante, sendo, certamente, importantecomo elo nas teias tróficas (CASATTI; MENDES;
FERREIRA, 2003; PELICICE; AGOSTINHO; THOMAZ,
2005).
Com relação à CPUE em peso (CPUEp),avaliada em somente 44 dos reservatóriosconsiderados, o valor médio observado foide 2,31 kg/100 m2 de rede/24 h, variando de0,08 a 13,1 (Figura 3.2.4). Cerca de 90 %apresentaram CPUE entre 1 e 4 kg, sendo osmaiores valores observados em Tucuruí,
84 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Lajes e Porto Primavera,o que indica a captura deindivíduos de maiorporte, como algumasespécies de cascudos,corvina, piranhas, piaus,tucunarés e bagres.Comparativamente,Santos e Ferreira (1999)descrevem valores entre1,50 e 21,8 paraambientes não alteradosde sub-baciasamazônicas,aparentementesuperiores ao dosreservatórios,possivelmente relacionado à captura degrandes migradores, especialmentepimelodídeos. Na planície alagável do altoParaná, o intervalo de valores médiosobservado também é mais elevado, variandoentre 4,64 e 6,84 (AGOSTINHO; JÚLIO JUNIOR;
GOMES; BINI; AGOSTINHO, 1997). No rioJequitinhonha, Godinho, Godinho e Vono(1999) também apresentam valores deCPUEp mais elevados, de 7,4 kg/100 m2 derede/24 h. Baixos valores de CPUEp nosreservatórios estão associados à captura deespécies de médio a pequeno porte, em geralsedentárias. Por exemplo, o peso somado demais de 300 lambaris pode equivaler ao pesode um único indivíduo adulto de umaespécie de grande porte, como um pintadoou um dourado.
Entretanto, além desse caráter específico nadeterminação de valores de CPUEp, estudosrecentes têm evidenciado outrosdeterminantes (diretos ou indiretos) da
biomassa e produtividade de peixes emreservatórios. A produtividade do corpod’água parece ser o principal preditor,geralmente medida em termos de clorofila a,que é um indexador da biomassafitoplanctônica do reservatório (GOMES;
MIRANDA; AGOSTINHO, 2002; PIANA; GASPAR DA
LUZ; PELICICE; COSTA; GOMES; AGOSTINHO, 2005).Elevados valores de clorofila a têm-secorrelacionado positivamente com abiomassa de peixes. Como o consumo dealgas planctônicas não é uma estratégiadifundida entre as espécies de peixesneotropicais, as vias principais deassimilação dessa fatia de energia devem ser(i) o consumo direto de detritos produzidospelas algas e (ii) o consumo de invertebradosque se alimentam das algas ou dos detritospor elas gerados.
Mesmo assim, os menores valores de CPUEpem reservatórios estão fortementeassociados à composição específica da fauna,
Nú
me
rod
ere
serv
ató
rio
s
CPUEp
0
5
10
15
20
25
0-2
3-4
5-6
7-8
9-1
0
11-1
2
13
-14
n = 44
Figura 3.2.4 - Distribuição de freqüências de CPUE em peso(kg/100m de rede/24h), avaliada com redes de espera nosreservatórios.
2
A Ictiofauna de Reservatórios 8585858585
Nú
me
rod
ere
serv
ató
r io
s
Riqueza Dominante
0
5
10
15
20n = 77
1-2
3-4
5-6
7-8
9-1
0
11-1
2
13
-14
15
-16
17
-18
19
-20
21
-22
Figura 3.2.5 - Distribuição de freqüências do número de espéciesdominantes nas assembléias, que representaram cerca de 80 a90% das capturas totais.
que é formada principalmente por lambaris,mandis, acarás e outras espécies pequenas,como será descrito adiante. Paraproporcionar altos valores, seria necessárioum número de indivíduos descomunal,acontecimento improvável. Espécies degrande porte são geralmente representadaspelas migradoras, como o dourado, o pacu emuitos bagres, que, como veremos, não sãocomuns nas assembléias de reservatórios.
Riqueza e ComposiçãoDominante
Em geral, o número de espéciesdominantes (80 a 90 % da abundância total)foi baixo nas assembléias dos reservatóriosavaliados, com variação total entre 2 e 22, emédia de 6 espécies em cada assembléia. Amaior freqüência foi de assembléias com 3ou 4 espécies dominantes, sendo, entretanto,freqüentes aquelas com até 10 (Figura 3.2.5).
Como já mencionado, adominância daassembléia por um baixonúmero de espécies éfenômeno recorrente emreservatórios, ondeespécies decomportamento flexível(oportunistas) seadaptam melhor ao novoambiente e conseguemsobrepujarnumericamente asdemais. Com marcantereflexo na maioria dosíndices de diversidade
faunística, a equitabilidade (inverso dadominância) tem sido registrada como muitobaixa no reservatório de Samuel, baciaAmazônica, pelo marcante predomínio depiranhas e maparás (SANTOS, 1995), e no deTucuruí, na bacia do rio Tocantins, pelaproliferação de piranhas e tucunarés (SANTOS;
MÉRONA, 1996). No reservatório de Lajes, rioParaíba do Sul, um cascudo do gêneroLoricariichthys contribuiu com mais de 80 %das capturas (ARAÚJO; SANTOS, 2001).
Embora em ambientes naturais, aquáticos outerrestres, a abundância também não sejaeqüitativamente distribuída entre asespécies, sendo a maioria considerada comorara, por apresentar baixo contingentepopulacional, pelo menos nas amostragens(DEWDNEY, 2003), essa tendência se acentua emambientes alterados. Dessa forma, apesar deser um padrão naturalmente esperado, adistribuição desigual do número deindivíduos entre as espécies foi bem
86 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
% de Espécies Dominantes
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
n = 77
0-5
6-1
0
11-1
5
16
-20
21
-25
26
-30
31
-35
36
-40
41
-45
46
-50
51
-55
56
-60
Nú
me
rod
ere
serv
ató
rio
s
Figura 3.2.6 - Distribuição de freqüências do percentual deespécies dominando as assembléias, que representaramcerca de 80 a 90% das capturas totais.
acentuada nosreservatórios,possivelmente pelosmenores valores de riquezatotal. Nos reservatóriosavaliados, em média, 25 %das espécies de umaassembléia contribuemcom mais de 80% daabundância total. Opercentual dessas espéciesvariou entre 4 a 56% donúmero de espécies nolocal, sendo que as maioresfreqüências observadasforam de 16 a 25 %(Figura 3.2.6).
Considerando os 77 reservatóriosinventariados, as espécies dominantes commaior ocorrência nas assembléiaspertenceram a diferentes categoriastaxonômicas, destacando-se as famíliasCharacidae, Parodontidae, Anostomidae,Curimatidae (ordem Characiformes),Pimelodidae (ordem Siluriformes), Cichlidaee Sciaenidae (ordem Perciformes). A elevadaocorrência dessas espécies é obviamenteinfluenciada pelas bacias hidrográficas, jáque a maior parte das observações é da baciado rio Paraná. São espécies de pequeno amédio porte, sedentárias, residentes naregião litorânea e com hábitos generalistasquanto à alimentação e menos exigentesquanto à reprodução. A freqüência deocorrência das principais espéciesdominantes está apresentada na Figura 3.2.7.
A mais freqüente foi Astyanax altiparanae,presente entre as dominantes em 44 % dos
reservatórios analisados (Figura 3.2.7). Esse éum lambari de pequeno porte, alcançandocomprimento padrão máximo de 14,2 cm ematuridade aos 4,2 cm (SUZUKI; VAZZOLER;
MARQUES; PEREZ LIZAMA; INADA, 2004). Comumem todos os sistemas do alto rio Paraná, temhábito alimentar generalista, podendoapresentar tendências à invertivoria (HAHN;
FUGI; ANDRIAN, 2004), herbivoria ou onivoria(LUZ-AGOSTINHO; BINI; FUGI; AGOSTINHO; JÚLIO
JÚNIOR, 2006), conforme o reservatórioconsiderado. É capaz de reproduzir emambientes variados, especialmente lênticos,com fecundação externa, ovos pequenos e derápido desenvolvimento (NAKATANI;
AGOSTINHO, BAUMGARTNER; BIALETZKI; SANCHES;
MAKRAKIS; PAVANELLI, 2001), apresentandoperíodo reprodutivo que se estende por todaa primavera e verão (SUZUKI; VAZZOLER;
MARQUES; PEREZ LIZAMA; INADA, 2004). Taiscaracterísticas, sem dúvida, estãorelacionadas à capacidade de essa espécieproliferar em reservatórios.
A Ictiofauna de Reservatórios 8787878787
Rese
rvató
rios
(%)
Espécies Dominantes
0
10
20
30
40
50n = 77
A.al tip
ara
nae
G.bra
sili
ensis
P.m
acula
tus
P.squam
osis
sim
us
A.fa
scia
tus
I.la
br o
sus
S.m
acula
tus
A.af fin
is
Ast y
anax
M.in
term
edi a
S.nasut u
s
S.i n
sculp
ta
C.m
odesta
Asty
anax
C.m
onocul u
s
O.lo
ngi rotr
is
s pb
spc
Figura 3.2.7 - Ocorrência das espécies dominantes nosreservatórios, que contribuíram com 80 a 90 % da abundânciatotal.
As outras espécies comelevadas freqüências deocorrência foram o acaráGeophagus brasiliensis, omandi Pimelodusmaculatus e a corvina P.squamosissimus, todaspertencentes ao grupodominante em 33 % dosreservatórios (Figura3.2.7). Essas espéciespovoam principalmenteos represamentos do Sul/Sudeste (bacias do rioParaná e Atlântico Sul).
O acará, ainda comidentificação imprecisa,tem pequeno porte (até23,0 cm de comprimento padrão), cuida daprole e reproduz nas áreas litorâneas dosreservatórios. Tem hábito bentônico, comdieta flexível e tendência à insetivoria(ARCIFA; FROEHLICH; NORTHCOTE, 1988),detritivoria (ARCIFA; MESCHIATTI, 1993) ouonivoria (ABELHA; GOULART, 2004). Temimportância na pesca artesanal de váriosreservatórios da bacia do rio Paraná.
O mandi, por outro lado, é uma espécie demédio porte, alcançando até 36,0 cm decomprimento padrão e atingindo amaturidade aos 16,0 cm (SUZUKI; VAZZOLER;
MARQUES; PEREZ LIZAMA; INADA, 2004). Temhábito onívoro, ingerindo de detritos apeixes (LUZ-AGOSTINHO; BINI; FUGI; AGOSTINHO;
JÚLIO JÚNIOR, 2006). Tem sido consideradomigrador por muitos autores (GODINHO, 1984;
AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003),mas, a julgar pela sua alta abundância e
ocorrência em reservatórios, estudos maisespecíficos podem revelar se essa espéciedesova em áreas próximas aos reservatórios,não requerendo longos trechos em seudeslocamento reprodutivo. Tem ovócitosmuito pequenos e de rápidodesenvolvimento, reproduzindoprincipalmente em rios durante a primaverae início do verão (SUZUKI; VAZZOLER; MARQUES;
PEREZ LIZAMA; INADA, 2004). Está entre asespécies mais importantes na pesca artesanaldos reservatórios da bacia do rio Paraná.
A corvina, como já mencionado, não é nativana maioria dos reservatórios em que figuraentre as dominantes. A pré-adaptação àreprodução em ambientes lênticos, comodesovas parceladas na maior parte do ano,ovos pelágicos, pequenos e dedesenvolvimento rápido (NAKATANI;
AGOSTINHO, BAUMGARTNER; BIALETZKI; SANCHES;
88 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
MAKRAKIS; PAVANELLI, 2001), capacidade deocupar hábitats variados (zona pelágica,litorânea e profunda; AGOSTINHO; MIRANDA;
BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999) e seu hábitopiscívoro em ambiente rico em espéciesforrageiras (HAHN; AGOSTINHO; GOITEIN, 1997)lhe facultam vantagem na colonização dereservatórios. Destaca-se pela contribuiçãoque tem na pesca artesanal e amadora emvários reservatórios brasileiros.
Outras espécies também apresentaram altaocorrência na condição de dominantes, comoo lambari Astyanax fasciatus, o mandi-beiçudo Iheringichthys labrosus e a piranhaSerrassalmus maculatus, presentes comodominantes em mais de 18 % dosreservatórios, principalmente na bacia doParaná. A primeira tem característicasmorfológicas/comportamentais muitosemelhantes às da sua congenérica A.altiparanae, partilhando com ela característicascomo pequeno porte, período de desova,tamanho de ovócito e dieta onívora. Omandi-beiçudo, com comprimento padrão deaté 27,6 cm e maturidade aos 12,3 cm, desovaem ambientes variados, incluindo ambienteslênticos (SUZUKI; VAZZOLER; MARQUES; PEREZ
LIZAMA; INADA, 2004), tem fecundação externae ovócitos pequenos. Tem hábito alimentarinvertívoro (HAHN; FUGI; ANDRIAN, 2004),selecionando seu alimento no fundo,apresentando comportamento bentônico,semelhante a P. maculatus. Apresentareduzida variação na dieta entre ambientesdistintos, no que deve contribuir a suamorfologia bucal (FUGI; HAHN; AGOSTINHO,
1996; ABES; AGOSTINHO; OKADA; GOMES, 2001).Aproveita, no entanto, um recurso muitoabundante nos reservatórios, ou seja, larvas
de insetos em meio ao sedimento. Já apiranha, que atinge 26,1 cm de comprimentopadrão e matura aos 10,8 cm (SUZUKI;
VAZZOLER; MARQUES; PEREZ LIZAMA; INADA,
2004), reproduz em águas calmas ou paradasdurante a primavera-verão, mostrandocuidado parental, geralmente em áreasabrigadas por macrófitas. Alimenta-se denadadeiras ou músculos que arranca deoutros peixes, além de insetos e plantas(HAHN; FUGI; ANDRIAN, 2004).
As demais espécies dominantes têmprimariamente pequeno porte, típicas dehábitats litorâneos estruturados (com apresença de plantas aquáticas e troncos), comhábito alimentar onívoro, detritívoro oupiscívoro. Em relação ao porte, a exceção é otucunaré Cichla monoculus, espécie amazônicaintroduzida nas bacias do Sul/Sudeste, quepode ultrapassar 60 cm de comprimento.Abundante em reservatórios amazônicos,onde é nativa, aparece pouco nas capturascom redes. Mesmo assim, figura entre asdominantes em pelo menos 10 % dosreservatórios analisados. É uma espécie queconstrói seu ninho nas áreas litorâneas dosreservatórios e cuida da prole durante asfases iniciais de desenvolvimento. Tem forteinteresse para a pesca esportiva, sendoatribuída aos pescadores com ela envolvidosa sua disseminação na bacia do rio Paraná.Nos locais onde foi introduzido, seu hábitopiscívoro, extremamente voraz, vemameaçando, em conjunto com a corvina, osestoques de peixes de pequeno porte (SANTOS;
MAIA-BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ, 1994).
Cabe ressaltar ainda o papel da plasticidadereprodutiva durante o processo de
A Ictiofauna de Reservatórios 8989898989
colonização do reservatório. Essaplasticidade, presente em diferentes grausnas espécies citadas anteriormente, diminui aexigência por hábitats e condições específicaspara postura de ovos e desenvolvimentoinicial dos jovens. Esse comportamento écaracterístico de algumas das espéciessedentárias, como pequenos caracídeos,piranhas e acarás, sendo extremamenteimportante, pois permite que o cicloreprodutivo seja completado, da postura aorecrutamento populacional, em diferentescondições ambientais. Diferentemente, orequerimento de hábitats particulares paradesova e desenvolvimento inicial, hábitocaracterístico de espécies migradoras,certamente contribui para a diminuição dasdensidades dessas espécies em ambientesrepresados. Além disso, as migradorasnecessitam de “gatilhos ambientais” paraque o ciclo reprodutivo se inicie,estimulando a maturação gonadal. Apesar dediversos gatilhos atuarem em conjunto, umdos mais importantes é a elevação do nívelhidrométrico do rio na época chuvosa,fenômeno que é profundamente alteradocom o represamento.
Como já descrito em sínteses passadas(AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ, 1995; ARAÚJO-
LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ, 1995), a ictiofaunadominante de reservatórios é composta porespécies sedentárias de pequeno porte, queexibem grande plasticidade trófica e são,assim, mais propensas a colonizareficientemente o novo ecossistema. Acapacidade de realização de todo o cicloreprodutivo dentro do reservatório é umacaracterística que certamente garante aperpetuação da espécie. Inclusive, a
capacidade de se reproduzir nesse ambientepode ser decisiva na determinação dedominâncias.
No intuito de identificar padrões decomposição da assembléia dominante nosrepresamentos, foi realizada uma análise deordenação multivariada. O métodoempregado foi a Análise de Correspondência(CA) (McCUNE; GRACE; URBAN, c2002), aplicada adados de presença/ausência de gêneros depeixes em 76 reservatórios (um reservatórioapresentou elevada influência e foi excluídoda análise; outlier). A opção pela ordenaçãodas assembléias utilizando somente osgêneros foi devido ao baixo número deespécies dominantes em cada reservatório(Figura 3.2.5), o que torna a ordenação difícil,dado o caráter idiossincrático de cadaunidade observacional (reservatório), seconsiderássemos a ordenação com espécies.
Optamos pela interpretação somente doprimeiro eixo (autovalor = 0,53), devido aeste considerar a maior variabilidade, ouseja, o padrão mais evidente, que é oobjetivo deste capítulo (McCUNE; GRACE; URBAN,
c2002). O primeiro eixo sumarizou umgradiente geográfico de norte a sul do país(Figura 3.2.8a), que na verdade, indica aatuação de fatores regionais e históricos nadeterminação da composição de gêneros dasassembléias. Os reservatórios da baciaAmazônica, Tocantins e Nordesteconcentraram-se em um extremo dogradiente, tendo sua fauna dominantecomposta por gêneros característicos daregião, como Bryconops, Catoprion,Serrassalmus, Hemiodus, Hemiodopsis,Hydrolicus, Ageneiosus, Semaprochilodus, Cichla,
90 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
CA 1
-200
-100
0
100
200
300
400
-300 -200 -100 0 100 200 300
AmazônicaTocantinsAçudes
São FranciscoLesteParanáSul
Norte/Nordeste Sudeste/Sul
CA
2
CA1
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600
TilapiaDeuterodonPhalocerosRhamdiaMimagoniates
ParodonOligossarcusGlanidiumCorydorasBryconamericusPsalidodon
BryconopsCatoprionHemiodopsisArgonectesCurimataHassarLycengraulisOxydorasPsectogaster
HydrolicusAnodusPigocentrusSemaprochilodusSorubimBouengerelaHemiodusAgeneiosus
TriportheusAuchenipterusHypothtalmusCynodonRhaphiodonAcestrorhyncusAstronotus
ProchilodusHemigramusBryconSalminus
CharacidiumPoeciliaGeophagus
HemisorubimParauchenipterusLoricariaSerrassalmusPlagiosciumSchizodonLeporinusCichlaMetynnis
AstyanaxMyleusLoricarichthysRoeboidesIheringichthysApareiodonSteindachnerinaPimelodusOreochromis
PterodorasSatanopercaGaleocharaxMoenkhausiaCyphocharaxHyphessobrycon
PterodorasTrachydorasHopliasCrenicichlaCichlasomaHoplosternumHypostomusCallichthys
CA
2
Figura 3.2.8 - Análise de Correspondência (CA) com dados depresença/ausência de gêneros dominantes em 67reservatórios, localizados em diferentes bacias hidrográficas. Afigura apresenta a ordenação dos locais (a) e dos gêneros (b).
a
b
dentre outros (Figura3.2.8b). É importanteressaltar que, nessesreservatórios, foiobservada a maiorparticipação de espéciesmigradoras comodominantes na assembléia,principalmente em Tucuruíe Serra da Mesa, comoProchilodus nigricans,Sorubim lima,Semaprochilodus brama eespécies do gênero Brycon.
No extremo oposto dogradiente, estão osreservatórios da bacia doSul (Figura 3.2.8a),caracterizados pela grandedominância de lambaris dogênero Deuterodon, seguidodo acará Geophagus. Asespécies do primeiro aindaestão sendo descritas,sendo todas lambaris depequeno porte.
As bacias do Paraná e Lestese sobrepuseram, inclusivecom a do Sul (Figura3.2.8a), por partilharem gêneros de espéciesem comum. Reservatórios da bacia Lesteforam caracterizados principalmente peladominância de lambaris Astyanax, traírasHoplias, peixe-cachorro Oligosarcus, acarásGeophagus e tamboatás Hoplosternum, todasde pequeno a médio porte, sedentárias ehabitantes de regiões marginais com elevadaestruturação física do hábitat.
Os reservatórios da bacia do Paraná,presentes em maior número, apresentaram-se de certa forma difusos na ordenação. Paramelhor explorar esse comportamento, quedeve estar sendo influenciado por fatorestemporais (idade), regionais (históricos) elocais (hábitats), a Figura 3.2.9 apresenta aordenação somente dos reservatórios dessabacia, evidenciando as sub-bacias existentes.
A Ictiofauna de Reservatórios 9191919191
CA
2
CA 1
-200
-100
0
100
200
300
400
-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300
Tributários (Ivai, Tibagi e Piquiri)Alto ParanáTietêGrandeParanapanemaIguaçu
Figura 3.2.9 - Análise de Correspondência com dados depresença/ausência de gêneros dominantes em reservatórios dabacia do rio Paraná, evidenciando a ordenação das sub-bacias.
Os reservatórios do rioGrande, Paranapanema ealto Paraná(considerandos, nestecaso, os reservatórioslocalizados na calha dorio Paraná a montante deItaipu, incluindo o rioParanaíba) apresentaramassembléias dominantesmais semelhantes entresi, em termos de gêneros.Algumas espéciesdominantes tiveramgrande ocorrência nosreservatórios dessassub-bacias, como ocanivete Apareiodon affinis, o lambari A.altiparanae, o mandi-beiçudo I. labrosus, omandi P. maculatus e a corvina P.squamosissimus.
No rio Paranapanema, a pequira Moenkhausiaintermedia e a piranha S. maculatus tambémtiveram alta ocorrência como dominantes.No rio Grande, destacaram-se o sagüiruSteindachnerina insculpta, o campineiroSchizodon nasutus e o lambari A. fasciatus. Noalto Paraná, a assembléia dominante foi maisvariada entre reservatórios, mas podemosdestacar as maiores ocorrências do piauLeporinus friderici e do curimba Prochiloduslineatus. Como padrão recorrente, comexceção do curimba, espécies migradorasraramente estiveram entre as dominantes.
Os reservatórios da sub-bacia Tietêestiveram mais difusos na ordenação. Porém,apesar de a assembléia dominante tervariado entre os reservatórios, essa
assembléia foi de certa forma semelhante àdas sub-bacias citadas anteriormente. Asespécies de ocorrência mais generalizadaforam os lambaris A. altiparanae e A. fasciatus,o sagüiru Cyphocharax modestus, o acará G.brasiliensis, a corvina P. squamosissimus e apiranha S. maculatus.
O lado direito da ordenação foi ocupado,principalmente, pelos reservatórios do rioIguaçu e dos tributários dos trechos mais aosul da bacia (Ivaí, Piquiri e Tibagi). Aassembléia dominante dos Tributários foiformada, em geral, por poucas espécies,sendo as de maior ocorrência os lambaris A.altiparanae, A. scabripinnis, a pequiraBryconamericus iheringii e o peixe-cachorro O.paranensis. Os lambaris, todos ainda nãodescritos pela ciência, também dominaram afauna dos reservatórios do rio Iguaçu, sendoseguidos pelo acará G. brasiliensis e de umaespécie endêmica de peixe-cachorro, O.longirostris. Devido ao caráter endêmico de
92 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
grande parte das espécies encontradas nessabacia, ela tendeu a ser mais distinta.
A influência dos gêneros na ordenação dosreservatórios pode ser checada na Figura3.2.8b, enquanto que a composição daassembléia dominante em cada reservatóriopode ser observada em detalhes no finaldesse capítulo (APÊNDICE B).
Com essas análises, fica evidente que osreservatórios seguem padrões definidos decomposição de espécies (ou gêneros),dependentes da bacia e sub-bacia nas quaisestão inseridos. Tal fenômeno é reflexo diretoda fauna preexistente, que é a matriz onde asinfluências decorrentes do represamento irãoatuar. Diferenças imprevisíveis e de difícilexplicação estão associadas a eventos deordem local, alguns inclusive de ocorrênciaestocástica, dependentes do contexto e dohistórico do represamento. Dessa maneira, aictiofauna que observamos nos reservatóriosnada mais é do que uma versão depauperadae modificada da fauna original.
Espécies Migradoras
Nas grandes bacias hidrográficas sul-americanas, as espécies mais conspícuas daictiofauna são as migradoras (AGOSTINHO;
JÚLIO JÚNIOR, 1999; SANTOS; FERREIRA, 1999; SATO;
GODINHO, 1999; capítulos em CAROLSFELD;
HARVEY; ROSS; BAER, c2003), visto que entreestas estão incluídas quase todas as de grandeporte. Embora algumas tenham contribuiçãorelevante no número de indivíduos, como éo caso de curimbas Prochilodus e jaraquisSemaprochilodus, é na biomassa que elas têm
suas maiores participações, já que são todasde porte considerável. O fato de a maioriadelas ser piscívora ou frugívora as tornaapreciadas sobremaneira pelo mercado dapesca. Espécies com esses hábitosalimentares tendem a apresentar sabor etextura da carne mais agradável (GOULDING;
SMITH; MAHAR, 1996). Com isso, a pesca emsistemas lóticos pode ser baseadaexclusivamente nessas espécies (PETRERE
JUNIOR; AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002).
Muito se cogita a respeito dodesaparecimento dos grandes migradoresapós o represamento de rios. Na verdade, odesaparecimento dessas espécies tem sidoregistrado tanto em inventários baseados napesca experimental científica, quanto napesca comercial e recreativa, como serádescrito no Capítulo 5. De fato, os resultadosprovenientes dos 77 reservatóriosinventariados com pesca experimentalconfirmam essa tendência. Tendo como basea classificação contida em Carolsfeld,Harvey, Ross e Baer (c2003), das 159 espéciesde peixes registradas como dominantes(APÊNDICE B), somente 22 foramconsideradas grandes migradoras. Alémdisso, cabe ressaltar que algumas espéciesnão apresentam comportamento migratóriobem caracterizado, e que há diferenças nocomportamento de uma mesma espécie entrebacias hidrográficas diferentes. Migrações demapará foram relatadas por Carvalho eMérona (1986) e Araújo-Lima e Ruffino(c2003) nas bacias do Norte do país, enquantoque no reservatório de Itaipu essa espécierealiza todo o seu ciclo de vida dentro doslimites represados (AGOSTINHO; MIRANDA; BINI;
GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).
A Ictiofauna de Reservatórios 9393939393
Número de Espécies Migradoras
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5
n = 77 reservatórios
Rese
rvató
rios
(%)
Figura 3.2.10 - Distribuição de freqüências do número de espéciesmigradoras presente na fauna dominante dos reservatórios.
A ocorrência de espéciesmigradoras na faunadominante dosreservatórios analisadosatesta sua raridadenesses ambientes. Maisde 50% dos reservatóriosanalisados não têmespécies migradorascomo componentes desua fauna dominante(Figura 3.2.10), esomente 27% têm umaespécie migradora entreas dominantes. Poucosreservatóriosapresentaram mais doque duas espéciesmigradoras entre as dominantes (Figura3.2.10), indicando que as espécies maisabundantes nas assembléias são realmenteas sedentárias.
Os gêneros identificados como migradores,bem como suas ocorrências na faunadominante nos reservatórios analisados,estão apresentados na Figura 3.2.11. Entreeles, o de maior ocorrência foi Pimelodus,devido à ampla distribuição do mandi P.maculatus nesses reservatórios. Contudo,como destacado anteriormente, serianecessária uma melhor avaliação docomportamento reprodutivo dessa espécieem reservatórios, já que apresentapopulações viáveis em um grande númerodeles, incluindo aqueles dos rios Tietê eGrande, onde a disposição em sériescontínuas faz com que os trechos livres amontante sejam curtos ou inexistentes.Braga (2000) registra essa espécie como uma
das principais em tributários doreservatório de Volta Grande (bacia do rioGrande), mas ressalta que não a encontrouem atividade reprodutiva nestes ambientes.Já no reservatório de Corumbá (bacia do rioParanaíba), o mandi foi observado ematividade reprodutiva a jusante e montantedo reservatório, além dos tributários (DEI
TOS; BARBIERI; AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI, 2002).É possível que, como já mencionado, aespécie requeira trechos livresrelativamente curtos para a migraçãoreprodutiva, como o de pequenostributários laterais, e que o períododemandado para os processos de maturação,desova e recuperação das gônadas sejacurto.
O segundo gênero migrador de maiorocorrência (~10 %) na fauna dominante foiProchilodus, o curimba, que inclui espéciesdetritívoras. Apesar de utilizar recursos
94 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Gêneros
0
5
10
15
20
25
30
35
40n = 77
Pim
elo
dus
Pro
chilo
dus
Myle
us
Ageneio
sus
Mety
nnis
Bry
con
Hydro
licus
Leporinus
Salm
inus
Hem
isoru
bim
Hypophta
lmus
Pte
rodora
s
Sem
apro
chilo
dus
Soru
bim
Re
serv
ató
rio
s(%
)
Figura 3.2.11 - Ocorrência de gêneros de grandes migradores nafauna dominante nos reservatórios analisados.
alimentares abundantesna área represada,necessita de tributários elagoas marginais paradesova edesenvolvimento dosalevinos (AGOSTINHO;
VAZZOLER; GOMES; OKADA,
1993). Sem o acesso aesses hábitats superiores,as espécies desse gênerocorrem grande risco denão completar seu ciclode vida.
Pacus de médio porte dogênero Myleus vêm em seguida, ocorrendona fauna dominante em quase 7 % dosreservatórios. Há, entretanto, dúvidas deque as espécies desse gênero requeiramgrandes trechos livres paracomplementação de seu ciclo de vida. Osdemais gêneros raramente estiverampresentes entre os mais abundantes, sendoregistrados como tal em menos de 4% dosreservatórios analisados (Figura 3.2.11).Mesmo assim, é possível que os gênerosAgeneiosus, Metynnis e Hypophthalmusincluam espécies não-migradoras ou comalta flexibilidade em relação à demanda porespaço.
Questão importante a ser investigada é se asespécies migradoras estão conseguindosobreviver em hábitats de regiões amontante dos represamentos, ou se estãosendo de fato localmente extintas. A simplespresença dessas espécies não caracteriza aexistência de populações viáveis. Essesindivíduos podem ser, na verdade,
remanescentes retidos nas regiões amontante do reservatório e que nãoconseguem mais retornar para as porçõesinferiores, nem alcançar tributários lóticossuperiores (na existência de cascatas dereservatórios).
Estrutura Trófica
Os principais recursos consumidos emreservatórios são os de origem interna,autóctones, como zooplâncton, insetos,outros invertebrados aquáticos, detritos epeixes. Em termos de número e biomassa,espécies que consomem esses recursosprevalecem (AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1995;
ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ, 1995).Entretanto, esses itens são raramenteconsumidos de forma restrita por táxonsespecialistas, sendo a ingestão de diferentesitens, geralmente os de maiordisponibilidade, o padrão de dieta maiscomum (onivoria).
A Ictiofauna de Reservatórios 9595959595
Categorias Tróficas
0
20
40
60
80
100
Oní
vora
Pis
cívo
ra
Det
ritív
ora/
ilióf
agas
Her
bívo
r a
Car
nívo
ra
Inve
rtívo
r a
Pla
nct ó
faga
Re
serv
ató
rio
s(%
)
Figura 3.2.12 - Ocorrência das diferentes categorias tróficas naassembléia dominante dos 77 reservatórios analisados.
Tendo como base aictiofauna de setereservatórios, Araújo-Lima, Agostinho e Fabré(1995) registraram comomais especiosas ascategorias onívora e acarnívora. No presenteinventário,consideravelmente maisextensivo, porémrestrito às espéciesdominantes, a categoriatrófica de maiorocorrência foi, comoesperado, a dosonívoros, presente naictiofauna dominante de quase todos os 77reservatórios (Figura 3.2.12). Entre osonívoros com alta ocorrência destacam-seespécies dos gêneros Astyanax, Geophagus ePimelodus.
Em seguida, também com elevadaocorrência (superior a 50 %) vêm ascategorias piscívora, detritívora/iliófaga eherbívora. Dentre os piscívoros,destacaram-se os gêneros Serrassalmus,Plagioscion, Oligossarcus e Cichla. Énecessário ressaltar que, devido àplasticidade no hábito alimentar, algunspiscívoros podem incluir outros itens deorigem animal.
Dentre as detritívoras/iliófagas, espéciesdos gêneros Apareiodon, Cyphocharax,Steindachnerina e Prochilodus foram asprevalentes, em ocorrência. Já entre asherbívoras destacaram-se espécies deAstyanax, Myleus, Metynnis e Schizodon.
Espécies com hábito carnívoro e invertívoro,além das planctívoras, não foram tão comunsentre as dominantes (Figura 3.2.12). Acategoria planctófaga, por exemplo,participou da fauna dominante em somente2,6 % dos reservatórios, confirmando atendência de baixa relevância dessa categoriatrófica em águas neotropicais.
A Figura 3.2.13 apresenta em detalhes arepresentatividade de cada categoria trófica,entre as espécies dominantes, em todos os 77reservatórios. Novamente, destacam-se obaixo número de espécies e a baixaocorrência nos reservatórios das categoriascarnívora, invertívora e planctófaga.Apenas uma espécie de planctófagos foiregistrada entre as mais abundantes em cadaassembléia. Os carnívoros se fizeramrepresentar com até duas espécies entre asdominantes nas assembléias e osinvertívoros com até quatro, mas todas emum número reduzido de reservatórios.
96 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Carnívoros
0
20
40
60
80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112Detritívoros/Iliófagos
0
20
40
60
80
Herbívoros
Invertívoros Onívoros Piscívoros
Planctófagos
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
Figura 3.2.13 - Representatividade das diferentes categorias tróficas nos 77 reservatóriosanalisados, considerando apenas as espécies dominantes nas assembléias. A figuraapresenta a riqueza de espécies entre as categorias e sua ocorrência nos reservatórios.
Res
erva
tório
s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112
Res
erva
tório
s
Res
erva
tório
s
Res
erva
tório
s
Res
erva
tório
s
Res
erva
tório
s
Res
erva
tório
s
Os herbívoros tiveram até três espéciesdominantes em uma mesma assembléia,sendo que pelo menos uma ocorreu em maisde 45 % dos reservatórios.
As categorias com maior número de espéciesdominantes em uma única assembléia forama detritívora/iliófaga, a onívora e apiscívora, com até 5, 6 e 11 espécies,respectivamente. Com relação àsdetritívoras e piscívoras, mais de 20 % dosreservatórios têm de 2 a 3 espécies entre asdominantes, e mais de 37 % delesapresentaram pelo menos uma, sendoportanto, grupos bem característicos.
Já a distribuição dos onívoros confirmou seucaráter bem-sucedido na ocupação dereservatórios, com elevada ocorrência de até3 espécies dominantes por assembléia. Alémdisso, quase 15 % dos reservatórios têm 4espécies onívoras entre as dominantes.
Esses resultados evidenciam ainda mais opadrão de elevada freqüência de onívoros,piscívoros e detritívoros dominando asassembléias de reservatórios, tanto emnúmero de indivíduos quanto de espécies.
O consumo oportunista, característico dosonívoros, é uma estratégia importante para o
A Ictiofauna de Reservatórios 9797979797
sucesso na instalação de ambientes alterados.Essa estratégia permite que maximizem aaquisição de energia de acordo com a ofertae qualidade do alimento,independentemente da magnitude dasvariações temporais e espaciais. Tais espéciessão, no entanto, de médio a pequeno porte,representando pouco na biomassa total.
A detritivoria, uma estratégia alimentarconservativa, dado que o grupo de peixesque a apresenta mostra uma série deadaptações morfológicas para esta dieta(lábios, faringe, estômago, intestino), poucoadequadas a outros tipos de alimento, é bem-sucedida em reservatórios.Com o alagamento de grande quantidade defitomassa terrestre, a produção de detritos écontínua e de grande magnitude, pelo menosnos primeiros anos. Além disso,procedimentos operacionais das barragens,que provoquem depleções prolongadas nonível da água, podem favorecer ocrescimento de gramíneas e outras plantasnas regiões litorâneas, que, com asubmersão, contribuem sobremaneira para aprodução de detritos.
A elevada freqüência de piscívoros é umpadrão recorrente em reservatórios. Aproliferação de espécies oportunistas, que,como visto, são geralmente de pequeno porte,é um recurso alimentar importante nesse tipode ambiente. Essa alta participação depiscívoros tem estimulado o aparecimento dehipóteses acerca da dinâmica e funcionamentodesses sistemas, nos quais a predação poderia,em alguns casos, exercer papel decisivo nadeterminação da riqueza total de espécies,além de exercer controle na biomassa de
peixes (efeito top down; PELICICE; ABUJANRA;
FUGI; LATINI; GOMES; AGOSTINHO, 2005).
Entretanto, para que uma espécie comgrande plasticidade ou com pré-adaptaçõesadequadas na dieta consiga colonizar umnovo ambiente é importante também quemostre flexibilidade na reprodução ou tenhapré-adaptações reprodutivas adequadas àscondições que se instalaram. Como asestratégias reprodutivas são, em geral, maisconservativas que as alimentares, a pré-adaptação reprodutiva é mais relevante parauma colonização bem sucedida. Desovasparceladas, ovos pequenos e dedesenvolvimento rápido ou cuidado com aprole, como visto, parecem ser componentesda estratégia reprodutiva adequados àreprodução em reservatórios.
Considerações finais
Além da óbvia alteração paisagística,reservatórios são responsáveis por diversasmodificações não tão evidentes, que somenteestudos específicos ou monitoramentos sãocapazes de evidenciar. Assim, a criação deuma nova dinâmica hidrológica traz consigoimplicações de ordem limnológica que, porsi sós, são passiveis de grande preocupaçãosocial, econômica e ambiental (TUNDISI;
MATSUMURA-TUNDISI; CALIJURI, c1993).Entretanto, além da inquietação manifestadaem diferentes setores sociais e econômicos,muitos pesquisadores vêm tambémalertando para os efeitos dos represamentos,especialmente aqueles em cascatas, sobre abiodiversidade regional (AGOSTINHO;
THOMAZ; GOMES, 2004).
98 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A fauna de peixes é um dos componentes maisevidentes da diversidade biológica quando oassunto é o represamento. É natural que assimo seja, dada a importância social e econômicadesses recursos, que estão associados aatividades de pesca e a uma importante fontede proteína animal para alimentação humana.É um recurso, entretanto, não-visível e osefeitos mais danosos de um represamentoocorrem de maneira silenciosa, exceto noscasos de grandes mortandades. Isso explica apreocupação desproporcional que o setor, amídia e mesmo os órgãos ambientais têmcom as operações de resgate de peixes duranteo fechamento e a operação de reservatórios.Essa inversão de prioridades faz com que boaparte dos esforços para obter o licenciamentoambiental ou dos critérios para concedê-loestejam focados nessas operações, cuja eficáciae importância para a conservação é, nomínimo, questionável.
As alterações mais relevantes produzidaspelos reservatórios incidem sobre as espéciesmigradoras e endêmicas, tanto a montantequanto a jusante da barragem. Regulação devazão e degradação de hábitats são as fontespreponderantes de impactos e, também, as demais difícil solução. Os impactos sobre essasduas categorias de peixes têm reflexos,simultaneamente, sobre a pesca e abiodiversidade. No primeiro caso, pelo fatode a categoria dos migradores incluir quasetodos os grandes peixes da fauna neotropical,e, portanto, os mais desejados. No segundocaso, pelo fato de na extinção de uma espécieendêmica estar implícita a extinção global. Éóbvio que outros impactos, inclusive sobrefragmentação de populações de espéciessedentárias, são esperados. Estes, entretanto,
são mais de natureza genética e podem seratenuados por transposições controladas.
As alterações impostas por um represamentosobre a ictiofauna têm suas dimensõesreguladas pelas características e localização doempreendimento, sendo as extinções locaisinevitáveis. Entretanto, a transformação deum rio em sucessivos represamentos temmaior probabilidade de eliminar hábitatsúnicos e levar a extinções globais. Assim, éurgente que os aproveitamentos hidrelétricosem uma bacia sejam objeto de umplanejamento integral, realizado com fortebase de conhecimento da fauna da região,incluindo a delimitação de áreas críticas aociclo de vida das espécies migradoras, rarasou endêmicas.
As alterações promovidas pelosrepresamentos serão, entretanto, objeto dopróximo capítulo. Neste, mais que umasistematização das informações, pretendeu-semostrar o caráter ainda incipiente dos dadosdisponíveis. Assim, informaçõesextremamente básicas, como a de inventárioda ictiofauna, estiveram disponíveis paraapenas 77 dos 660 reservatórios brasileirosregistrados aqui. Quase a metade destes foirealizada por uma única instituição (Nupélia/UEM) e a maioria dos reservatóriosbrasileiros jamais foi objeto de levantamentossistematizados e, digno de ênfase, centenasjamais tiveram qualquer tipo de amostragemcientífica. Ironicamente, alguns destes jáforam objeto de manejo, especialmente doque se convencionou chamar “peixamento”.Não é possível conservar o que nãoconhecemos, nem manejar um sistemadesconhecendo seus componentes básicos.
A Ictiofauna de Reservatórios 9999999999
Espécies
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
Ace
stro
rhyn
cus
falc
irost
risX
Ace
stro
rhyn
cus
falc
atus
XA
cest
rorh
ynch
us l
acus
tris
XX
Ace
stro
rhyn
chus
mic
role
psis
XA
cest
rorh
ynch
us p
anta
neiro
XA
gene
iosu
s br
evifi
lisX
Age
neio
sus
brev
isX
Age
neio
sus
vale
ncie
nnes
iX
Ano
dus
elon
gatu
sX
Apa
reio
don
affin
isX
Arg
onec
tes
robe
rtsi
XA
stro
notu
s oc
elat
usX
Ast
yana
x bi
mac
ulat
usX
XA
stya
nax
abra
mis
XA
stya
nax
altip
aran
aeX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Ast
yana
x ei
genm
anni
orum
XA
stya
nax
fasc
iatu
sX
XX
XX
XX
XX
XA
stya
nax
inte
rmed
ius
XA
stya
nax
sp. 1
XX
Ast
yana
x sp
. 2
XA
stya
nax
sp.
XA
stya
nax
spp.
XA
uche
nipt
erus
nuc
halis
XX
XX
Auc
heni
pter
us o
steo
mys
tax
XB
oule
nger
ella
cuv
ieri
XX
Bou
leng
erel
la o
cella
taX
Bry
con
lund
iiX
Bry
con
mic
role
pis
XB
ryco
nops
gra
cilis
X
APÊ
ND
ICE
B -
Esp
écie
s de
pei
xes
que
dom
inar
am a
s as
sem
bléi
as e
m 7
7 re
serv
atór
ios
inve
stig
ados
(es
péci
es q
ue j
unta
s co
rres
pond
eram
de 8
0 a
90%
do
núm
ero
tota
l ca
ptur
ado
em c
ada
um).
As
font
es d
essa
s in
form
açõe
s es
tão
refe
renc
iada
s na
Tab
ela
3.2.
1. C
ódig
os:
BA
CIA
AM
AZ
ÔN
ICA
, 1 –
Cur
uá-U
na; 2
– S
amue
l; B
AC
IA T
OC
AN
TIN
S, 3
– T
ucur
uí; 4
– L
ajea
do; 5
– S
erra
da
Mes
a; A
TLÂ
NT
ICO
NO
RT
E, 6
– A
çude
s; A
TLÂ
NT
ICO
LES
TE,
7 –
Fun
il;
8 –
Cha
péu
d´Ú
vas;
9 –
Laj
es;
10 –
San
ta B
ranc
a; 1
1 –
Jagu
ari;
12 –
Par
aibu
na;
BA
CIA
SÃ
O F
RA
NC
ISC
O,
13 –
Trê
s M
aria
s; B
AC
IA P
AR
AN
Á,
14 –
Nov
a Po
nte;
15
– C
orum
bá;
16 –
Man
so;
17 –
Tai
açup
eba;
18
–A
mer
ican
a; 1
9 –
Ati
bain
ha;
20 –
Cac
hoei
ra;
21 –
Ped
ro B
eich
t; 22
– I
tupa
rang
a; 2
3 –
Bil
ling
s; 2
4 –
Bar
ra B
onit
a; 2
5 –
Bar
iri;
26 –
Ibit
inga
; 27
– Pr
omis
são;
28
– N
ova
Ava
nhan
dava
; 29
– T
rês
Irm
ãos;
30
– C
acon
de(continua)
100 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASILEspécies
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
Cal
licht
hys
calli
chth
ysX
XC
atop
rion
men
toX
Cha
raci
dium
allip
ioi
XC
ichl
a m
onoc
ulus
XX
XX
Cic
hla
ocel
laris
XX
Cic
hla
tem
ensi
sX
Cre
nici
chla
sp.
XC
urim
ata
acut
irost
risX
Cyn
odon
gib
bus
XC
ypho
char
ax m
odes
tus
XX
XX
XX
XX
Cyp
hoch
arax
nag
elii
XX
Gal
eoch
arax
cf.
gulo
XG
aleo
char
ax h
umer
alis
XG
aleo
char
ax k
nerii
XG
eoph
agus
bra
silie
nsis
XX
XX
XX
XX
XX
XG
eoph
agus
sp.
XH
assa
r wild
eri
XH
emig
ram
mus
mar
gina
tus
XX
Hem
iodo
psis
sp.
XH
emio
dus
arge
nteu
sX
Hem
iodu
s m
icro
lepi
sX
XH
emio
dus
sem
itaen
iatu
sX
Hem
iodu
s un
imac
ulat
usX
XX
XH
oplia
s af
f. m
alab
aric
usX
XX
XH
oplo
ster
num
litto
rale
XX
Hyd
roly
cus
arm
atus
XH
ydro
lycu
s sc
ombe
roid
esX
Hyp
hess
obry
con
sp. 1
XH
yphe
ssob
ryco
n bi
fasc
iatu
sX
Hyp
opht
halm
us e
dent
atus
XH
ypos
tom
us p
unct
atus
XH
ypos
tom
us re
gani
XH
ypos
tom
us ti
eten
sis
XH
ypos
tom
us s
pp.
X
(continuação)
A Ictiofauna de Reservatórios 101101101101101
Espécies
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
Iher
ingi
chth
ys la
bros
usX
XLe
porin
us fa
ciat
usX
Lepo
rinus
frid
eric
iX
XLe
porin
us h
eing
rard
tX
Lepo
rinus
lacu
stris
XLe
porin
us o
btus
iden
sX
Lepo
rinus
sp.
XLo
ricar
iicht
hys
cast
aneu
sX
Lyce
ngra
ulis
bat
esii
XM
oenk
haus
ia in
term
edia
XX
XX
XX
Myl
eus
tiete
XX
Olig
osar
cus
heps
etus
XX
Olig
osar
cus
para
nens
isX
XO
reoc
hrom
is n
ilotic
usX
XO
xydo
ras
nige
rX
Par
ache
unip
teru
s st
riatu
lus
XP
arau
chen
ipte
rus
gale
atus
XP
arod
on n
asus
XP
hallo
cero
s ca
udim
acul
atus
XP
igoc
entru
s na
ttere
riX
Pim
elod
us b
loch
iiX
XPi
mel
odus
mac
ulat
usX
XX
XX
XX
XP
imel
odus
sp.
XP
lagi
osci
on s
quam
osis
sim
usX
XX
XX
XX
XX
XX
Poe
cilia
viv
ipar
aX
Pro
chilo
dus
affin
isX
Pro
chilo
dus
cear
ensi
sX
Pro
chilo
dus
linea
tus
XX
Pro
chilo
dus
nigr
ican
sX
Pse
ctog
aste
r am
azon
ica
XR
ham
dia
quel
enX
Rha
mdi
a sp
.X
Rha
phio
don
vulp
inus
XX
XS
alm
inus
bra
silie
nsis
XX
(continuação)
102 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Espécies
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
Sch
izod
on b
orel
liiX
Sch
izod
on n
asut
usX
XS
chiz
odon
vitt
atum
XSe
map
roch
ilodu
s br
ama
XS
erra
ssal
mus
ger
yiX
Ser
rasa
lmus
mac
ulat
usX
XX
XX
XX
Ser
rass
alm
us m
argi
natu
sX
Serra
salm
us rh
ombe
usX
XX
XX
Soru
bim
lima
XS
tein
dach
nerin
a in
scul
pta
XX
XX
XX
Ste
inda
chne
rina
coru
mba
eX
Trip
orth
eus
albu
sX
XTr
ipor
theu
s an
gula
tus
XX
Trip
orth
eus
nem
atur
usX
Trip
orth
eus
para
nens
isX
(continuação)
A Ictiofauna de Reservatórios 103103103103103
Espécies
3132
3334
3536
3738
3940
4142
4344
4546
4748
4950
5152
5354
5556
5758
5960
Ace
stro
rhyn
chus
lac
ustri
sX
XA
pare
iodo
n pi
raci
caba
eX
Apa
reio
don
affin
isX
XX
XX
XX
XX
XA
pare
iodo
n vi
ttatu
sX
XA
stya
nax
sca
brip
inni
s pa
rana
eX
Ast
yana
x al
tipar
anae
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Ast
yana
x fa
scia
tus
XX
XX
XX
XX
XA
stya
nax
sp.
bX
XX
XX
XX
XA
stya
nax
sp.
cX
XX
XX
XA
stya
nax
sp.
eX
XX
XX
Ast
yana
x s
p. f
XX
XA
uche
nipt
erus
ost
eom
ysta
xX
XB
ryco
nam
eric
us ih
erin
gii
XB
ryco
nam
eric
us s
p. a
XX
Bry
cona
mer
icus
sp.
cX
XB
ryco
nam
eric
us s
tram
ineu
sX
XC
allic
hthy
s ca
llich
thys
XC
ichl
a m
onoc
ulus
XX
Cic
hlas
oma
fasc
etum
XC
oryd
oras
pal
eatu
sX
XC
reni
cich
la h
arol
doi
XC
reni
cich
la n
iede
rlein
iiX
Cyp
hoch
arax
mod
estu
sX
XX
Cyp
hoch
arax
nag
elii
XG
aleo
char
ax k
nerii
XX
XX
XG
eoph
agus
bra
silie
nsis
XX
XX
XX
Gla
nidi
um ri
beiro
iX
Hem
igra
mm
us m
argi
natu
sX
Hop
lias
lace
rdae
X
APÊ
ND
ICE
B - C
onti
nuaç
ão c
om o
s de
mai
s re
serv
atór
ios.
Cód
igos
: BA
CIA
PA
RA
NÁ
, 31
– Eu
clid
es d
a C
unha
; 32
– Li
moe
iro;
33
–M
ogi G
uaçu
; 34
– Fu
rnas
; 35
– Po
rto
Col
ômbi
a; 3
6 –
Luiz
C.B
. Car
valh
o; 3
7 –
Mas
care
nha
de M
orae
s; 3
8 –
Mar
imbo
ndo;
39
– V
olta
Gra
nde;
40
– It
umbi
ara;
41
– Á
gua
Ver
mel
ha; 4
2 –
Itut
inga
; 43
– A
laga
dos;
44
– Ju
rum
irim
; 45
– Sa
lto
Gra
nde;
46
– C
hava
ntes
; 47
– C
anoa
s I;
48 –
Can
oas
II; 4
9 –
Taqu
aruç
u; 5
0 –
Cap
ivar
a; 5
1 –
Ros
ana;
52
– C
aver
noso
; 53
– J.
Mes
quit
a Fi
lho;
54
– Se
gred
o; 5
5–
Cax
ias;
56
– Fo
z do
Are
ia; 5
7 –
Salt
o O
sóri
o; 5
8 –
Salt
o V
au; 5
9 –
Salt
o Sa
ntia
go; 6
0 –
Irai
(continuação)
104 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Hop
lost
ernu
m lit
tora
leX
Hyp
osto
mus
spp
.X
XIh
erin
gich
thys
labr
osus
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Lepo
rinus
frid
eric
iX
Lepo
rinus
obt
usid
ens
XLe
porin
us o
ctof
asci
atus
XLo
ricar
ia p
rolix
aX
XM
etyn
nis
mac
ulat
usX
XX
Mim
agon
iate
s m
icro
lepi
sX
Moe
nkha
usia
inte
rmed
iaX
XX
XX
XM
yleu
s tie
teX
Olig
osar
cus
long
irost
risX
XX
XPi
mel
odus
mac
ulat
usX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XPi
mel
odus
ortm
anni
XX
Pim
elod
us s
p.X
XX
XX
Pla
gios
cion
squ
amos
issi
mus
XX
XX
XX
XX
XX
Pro
chilo
dus
linea
tus
XP
salid
odon
sp.
XR
ham
dia
voul
ezi
XR
haph
iodo
n vu
lpin
usX
Roe
boid
es p
aran
ensi
sX
Sat
anop
erca
pap
pate
rra
XX
XS
chiz
odon
nas
utus
XX
XX
XX
XX
XX
Ser
rasa
lmus
mac
ulat
usX
XX
XX
XS
tein
dach
nerin
a in
scul
pta
XX
XX
X
Espécies
3132
3334
3536
3738
3940
4142
4344
4546
4748
4950
5152
5354
5556
5758
5960
(continuação)
A Ictiofauna de Reservatórios 105105105105105
Espécies
6162
6364
6566
6768
6970
7172
7374
7576
77
Apa
reio
don
affin
isX
Ast
yana
x e
igen
man
nior
umX
Ast
yana
x s
cabr
ipin
nis
para
nae
XA
stya
nax
altip
aran
aeX
XX
XX
XX
Ast
yana
x ja
neiro
ensi
sX
Ast
yana
x sp
. b
XX
XX
Ast
yana
x sp
. c
XX
XA
stya
nax
sp.
iX
Ast
yana
x sp
. lX
Auc
heni
pter
us n
ucha
lisX
Auc
heni
pter
us o
steo
mys
tax
XB
ryco
nam
eric
us ih
erin
gii
XX
XB
ryco
nam
eric
us s
tram
ineu
sX
Cic
hla
mon
ocul
usX
XC
oryd
oras
pal
eatu
sX
Deu
tero
don
igua
peX
XD
eute
rodo
n sp
. aX
XD
eute
rodo
n sp
. bX
Deu
tero
don
sp. d
XG
eoph
agus
bra
silie
nsis
XX
XX
XX
XX
Geo
phag
us c
f. ju
rupa
riX
Hem
isor
ubim
pla
tyrh
ynch
usX
Hop
lias
aff.
mal
abar
icus
XH
ypos
tom
us a
spilo
gast
erX
Hyp
osto
mus
der
byi
XH
ypos
tom
us s
pp.
XLe
porin
us fr
ider
ici
XX
Loric
ariic
hthy
s pl
atym
etop
onX
XLo
ricar
iicht
hys
rost
ratu
sX
Myl
eus
tiete
XX
Olig
osar
cus
long
irost
risX
XX
Olig
osar
cus
para
nens
isX
X
APÊ
ND
ICE
B -
Con
tinu
ação
com
os
dem
ais
rese
rvat
ório
s. C
ódig
os:
BA
CIA
PA
RA
NÁ
, 61
– J
ordã
o; 6
2 –
Cur
ucac
a; 6
3 –
Pira
quar
a; 6
4 –
Pass
aúna
; 65
– P
orto
Pri
mav
era;
66
– Il
ha S
olte
ira;
67
– Ju
piá;
68
– It
aipu
; 69
– H
arm
onia
; 70
– F
iu;
71 –
Mel
issa
; 72
– M
ourã
o; 7
3 –
Pato
s; B
AC
IA A
TLÂ
NT
ICO
SU
L, 7
4 –
Pari
got
Souz
a; 7
5 –
Gua
rica
na; 7
6 –
Salt
o do
Mei
o; 7
7 –
Vos
soro
ca(continuação)
106 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Espécies
6162
6364
6566
6768
6970
7172
7374
7576
77
Par
auch
enip
teru
s ga
leat
usX
XP
hallo
cero
s ca
udim
acul
atus
XPi
mel
odus
mac
ulat
usX
Pla
gios
cion
squ
amos
issi
mus
XX
XX
Pro
chilo
dus
linea
tus
XP
salid
odon
gym
nodo
ntus
XP
salid
odon
sp.
XP
tero
dora
s gr
anul
osus
XR
haph
iodo
n vu
lpin
usX
XS
chiz
odon
alto
para
nae
XS
chiz
odon
bor
ellii
XS
chiz
odon
sp.
XS
erra
salm
us m
acul
atus
XS
erra
ssal
mus
mar
gina
tus
XS
tein
dach
nerin
a in
scul
pta
XTi
lapi
a re
ndal
liX
Trac
hydo
ras
para
guay
ensi
sX
X
(conclusão)
Capítulo 4Impactos dos Represamentos:
alterações ictiofaunísticas e colonização
Um efeito inevitável de
qualquer represamento sobre a fauna aquática é a alteração na
composição e abundância das espécies, com elevada proliferação de
algumas e redução ou mesmo eliminação de outras (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999). A avaliação dos fatores
que levam a esses impactos não é, entretanto, uma tarefa simples,
visto que se relaciona às variáveis físicas, químicas e biológicas, com
uma profusão de interações que raramente são entendidas na
extensão e profundidade adequadas.
108 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Introdução
A natureza e a intensidade deimpactos decorrentes das modificaçõeshidrológicas impostas pelos represamentosdependem das peculiaridades da faunalocal, tais como estratégias reprodutivas,padrões de migração, especializaçõestróficas e grau de pré-adaptações aambientes lacustres, e das características doreservatório (ex: localização, morfologia,hidrologia), desenho da barragem,procedimentos operacionais, usos dasencostas, natureza do solo, vazão, e dasinterações com outros reservatórios dabacia e entre essas variáveis.
Os impactos dos represamentos em nível deecossistema podem ser categorizados em (i)impactos de primeira ordem, que englobam asconseqüências físicas, químicas egeomorfológicas decorrentes do bloqueiodo rio e de alterações na distribuiçãoespaço-temporal na vazão; (ii) impactos desegunda ordem, que envolvem mudanças naprodutividade primária e na estrutura docanal, compreendendo o trecho represado e,principalmente, o segmento a jusante dabarragem; (iii) impactos de terceira ordem, queincluem as modificações nas assembléias deinvertebrados e peixes decorrentes dosimpactos de primeira (ex: efeito de bloqueiode migração, por exemplo) ou de segundaordem (ex.: mudanças na biomassaplanctônica) – WCD (2000).
Interações entre os diferentes componentesdo ecossistema nos impactos de terceiraordem podem ter implicações sobre asdemais categorias e afetar os usos múltiplos
dos reservatórios. Os procedimentosoperacionais na barragem e mesmoalgumas atividades humanas de naturezacompetitiva ou destrutiva praticadas nabacia podem ter papel relevante nesseprocesso, além de promover um retardo naestabilização das condições limnológicas.Nesse sentido, a introdução de espécies não-nativas, mais factíveis de se estabelecerempermanentemente em ambientes alterados,tem destaque (PETTS, c1989).
Em geral, as respostas às condições naturaisou manipuladas em reservatórios sãoincompletas, uma vez que podem seralteradas ou destruídas antes de suacompleta efetivação. Nesse caso, o resultadoesperado é um incremento caótico nasucessão de respostas, uma redução nainterdependência e menor estabilidadebiótica, confundindo a continuidade e osprocessos sucessionais naturais da biota(WETZEL, c1990). Um novo estado de“equilíbrio”, se ocorrer, pode levar entre 1 e100 anos para que seja alcançado, desde oimpacto de primeira ordem (PETTS, c1984).
Essa situação restringe os tipos deorganismos em reservatórios àqueles comampla tolerância fisiológica e adaptaçõescomportamentais (WETZEL, c1990). Algumasespécies são incapazes de sobreviver emcorpos d’água represados, devido,principalmente, à temperatura da água e/ouoxigênio dissolvido, baixa diversidade dehábitats, baixo fluxo de água, locais dedesova inapropriados, falta de presasuficiente para um estágio particular dociclo de vida, ou falta de refúgio para aspresas (O’BRIEN, c1990).
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 109109109109109
Entretanto, o grupo de peixes mais afetadopelos represamentos é o dos grandesmigradores que, por ocuparem ampla áreade vida (home range), podem ter suaspopulações fragmentadas, suas rotas demigração bloqueadas pela barragem ou seushábitats de desova, crescimento edesenvolvimento inicial modificados peloalagamento (montante) e regulação dascheias (jusante). Já as espécies sedentárias,cujos limites geográficos de distribuiçãopopulacional são geralmente mais restritos,embora possam ser influenciadas pelocaráter lacustre do trecho represado e pelavazão e qualidade da água a jusante, sãomenos afetadas.
Na área de influência de um reservatório, osimpactos têm natureza e intensidadeconsideravelmente distintas. Sua abordagemdeve considerar, portanto, essapeculiaridade. Embora a ênfase nasavaliações de impactos venha sendo dada aotrecho alagado, talvez em razão da maiorvisibilidade dada pelo represamento, tantona fisionomia regional quanto nodeslocamento de populações humanas, é notrecho abaixo da barragem que estes semostram mais relevantes.
Corpo do Reservatório
A ictiofauna de um reservatório tem suaorigem no sistema fluvial onde ele se situa,podendo o processo de ocupação ser vistocomo colonização ou simplesmente umareestruturação nas assembléias locais. Amaneira como essa ocupação é vista dependedo grau de restrição imposto pelas condições
físicas e químicas vigentes no represamentodurante a fase heterotrófica inicial(AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999).
Fase de Enchimento
As rápidas transformações queocorrem logo no início do processo deenchimento são decorrentes da diminuiçãodo tempo de renovação da água, visto queum ecossistema lótico transforma-serepentinamente em outro com característicaslênticas. Conseqüentemente, padrõesverticais decorrentes da formação deestratificação térmica, e que afetam aciclagem de nutrientes e distribuição deorganismos, são acrescidos aos vetorespredominantemente longitudinais,existentes antes do fechamento da barragem.
Elevação das concentrações de nutrientesconstitui-se numa ocorrência comum durantea fase de enchimento (ESTEVES, 1988;MATSUMURA-TUNDISI; TUNDISI; SAGGIO; OLIVEIRA
NETO; ESPÍNDOLA, 1991; PATERSON; FINDLAY;
BEATY; FINDLAY; SCHINDLER; STAINTON;
McCULLOUGH, 1997). Esse aumento pode seratribuído a pulsos associados àdecomposição do folhedo e à liberação denutrientes do solo alagado, no primeiromomento, e, posteriormente, à queda dasfolhas das árvores alagadas e suadecomposição (MATSUMURA-TUNDISI; TUNDISI;
SAGGIO; OLIVEIRA NETO; ESPÍNDOLA, 1991). Osefeitos desses pulsos, que começam a atuarainda na fase de enchimento, podem sersentidos mesmo depois de o reservatórioentrar em operação, principalmente nascamadas mais profundas da coluna d’água,
110 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
onde elevadas concentrações de nutrientes eelevados valores da condutividade elétricasão constatados (THOMAZ; PAGIORO; ROBERTO;
PIERINI; PEREIRA, 2001).
O desenvolvimento de estratificação térmica,que se segue à formação do reservatório,apresenta importante papel para que oacúmulo de íons constatado na fase deenchimento se prolongue pela fase deoperação, principalmente no caso dosreservatórios que apresentam tomadas deágua superficial.
Mesmo que em geral se constate umincremento das concentrações de nutrientesdurante e logo após a fase de enchimento,deve ser considerado que as concentrações dealguns importantes elementos, como ofósforo, por exemplo, são determinadas pelainteração de processos antagônicos. Assim,simultaneamente às entradas desse elementoprovenientes dos pulsos mencionados, aformação de um ecossistema lênticorepresenta o aumento das taxas desedimentação, que atuam no sentido deretirá-lo da água.
Assim, o acúmulo de fósforo na água durantea fase de enchimento sugere que as entradasa partir das áreas alagadas predominamdurante esse período. Por outro lado, asconcentrações de fósforo são muito maisinfluenciadas por processos de sedimentaçãoapós o término da fertilização decorrente doalagamento.
O aumento do tempo de retenção e dasconcentrações de nutrientes faz com que afase de enchimento represente um período
propício ao desenvolvimento dascomunidades de produtores primários,representados pelo fitoplâncton ou pelacomunidade de macrófitas aquáticas.
Estudos no reservatório de Corumbá (baciado rio Paranaíba, alto rio Paraná)evidenciaram que a produtividade primáriafitoplanctônica na camada subsuperficial,que era inferior a 0,17 mgO2 l-1 h-1 até 10 diasapós o fechamento da barragem, aumentoupara 0,84 mgO2 l-1 h-1 39 dias após ofechamento (THOMAZ; PAGIORO; ROBERTO;
PIERINI; PEREIRA, 2001). Além da elevação dasconcentrações de nutrientes, o aumento dastaxas de produtividade primária deve tersido favorecido pela melhora do regime deluz, pois os valores do coeficiente deatenuação luminosa passaram de 4,60 m-1 nodia do fechamento para 0,89 m-1 10 diasapós o fechamento da barragem (THOMAZ;
PAGIORO; ROBERTO; PIERINI; PEREIRA, 2001).
Porém, no caso do aumento das populaçõesde macrófitas aquáticas, outras condiçõesfavoráveis, tais como a ausência de ventoacentuado, redução da turbulência da água,disponibilidade de propágulos e de focos dedispersão, devem ocorrer simultaneamente àelevação das concentrações de nutrientesderivada dos pulsos (ESTEVES; CAMARGO, 1986;THOMAZ; BINI, 1999).
Nesse caso, espécies flutuantes, tais comoEichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salviniaauriculata, podem se desenvolveracentuadamente durante e logo após a fasede enchimento, chegando inclusive aprejudicar os usos múltiplos do reservatório.Desenvolvimento maciço de espécies
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 111111111111111
flutuantes tem sidoconstatado em váriosreservatórios tropicais,como o de Tucuruí, noBrasil (TUNDISI, 1994) eKariba, na África(MITCHELL; PIETERSE;
MURPHY, 1990).
Outro fenômenoconstatado com freqüênciadurante a fase deenchimento dereservatórios é a marcantequeda das concentrações de oxigêniodissolvido da água, que pode ficarvirtualmente ausente em parte da colunad’água (Figura 4.1) ou mesmo em suatotalidade. Nesse período, a desoxigenaçãoindepende dos ciclos de estiagem e chuvas,sendo determinada basicamente peladecomposição da biomassa alagada(ESTEVES, 1988).
Existem registros da formação de camadaanóxica durante a fase de enchimento dereservatórios tropicais no caso dealagamento de florestas, que têm grandebiomassa disponível para a decomposição(MATSUMURA-TUNDISI; TUNDISI; SAGGIO; OLIVEIRA
NETO; ESPÍNDOLA, 1991), e também decerrados, com menor biomassa (DE FILIPPO;
SOARES; THOMAZ; ROBERTO; PAES DA SILVA,1997).
Os eventos de anoxia são de importânciacapital para o manejo desses ecossistemasdurante sua formação, por comprometeremsobremaneira a sobrevivência e adiversidade da fauna aquática.
O consumo de oxigênio dissolvidoregistrado imediatamente após o fechamentode uma barragem pode ser atribuído àmineralização de compostos dissolvidoslábeis, liberados por lixiviação, sendomantido posteriormente pela decomposiçãodo material orgânico mais refratário. Essaafirmação é baseada em resultados deexperimentos realizados em microcosmos,que evidenciaram que a demanda deoxigênio pela matéria orgânica dissolvida éconsideravelmente maior do que a demandagerada pela matéria orgânica particulada(BIANCHINI JUNIOR; TOLEDO, 1998).
A grande entrada de material orgânicodissolvido também é responsável peloimediato aumento da produção secundáriabacteriana durante a fase de enchimento(PATERSON; FINDLAY; BEATY; FINDLAY; SCHINDLER;
STAINTON; McCULLOUGH, 1997). Desse modo,além do aumento da produção primáriafitoplanctônica e de macrófitas, o aporte dedetritos terrestres também deve contribuirpara o incremento da atividade biológica dereservatórios em processo de formação.
0
2
4
6
8
10
12Superfície
j/97
mar
mai
jul
set
nov
j/98
mar
mai
jul
set
nov
j /99
mar
mai
jul
set
nov
Oxi
gênio
dis
solv
ido
(mg. L
)- 1
Figura 4.1 - Variações na concentração de oxigênio dissolvido nasuperfície e no fundo do reservatório de Corumbá, bacia do rioParaná, nos três anos subseqüentes à sua formação ( Fonte:
, 2001).THOMAZ; PAGIORO; ROBERTO; PIERINI; PEREIRA
Fundo
Meses
112 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Ainda durante a fase de enchimento, a quedadas concentrações de oxigênio dissolvidoprovoca mudanças na proporção entre asdiferentes formas iônicas. Assim, as formaspredominantemente oxidadas da fase rio sãosubstituídas por formas reduzidas na fase deenchimento. Isso explica o acentuado acúmulode nitrogênio amoniacal em reservatóriostropicais recém-formados (ESTEVES, 1988;MATSUMURA-TUNDISI; TUNDISI; SAGGIO; OLIVEIRA
NETO; ESPÍNDOLA, 1991; THOMAZ; PAGIORO;
ROBERTO; PIERINI; PEREIRA, 2001).
Com base nessas observações, pode-secaracterizar a fase de enchimento de umreservatório como sendo um período detransformações rápidas e intensas, quemarcam a transição de um ecossistema lóticopara outro lêntico ou semi-lêntico.
Os pulsos de entrada de nutrientes e detritos,aumento da transparência da coluna d’água,redução da turbulência e a formação deestratificação térmica podem serconsiderados, resumidamente, os fatores-chave envolvidos nesse processo. Todos osfenômenos que ocorrem durante oenchimento devem ainda ser mais acentuadosem reservatórios tropicais do que emtemperados, tendo em vista a elevadatemperatura dos primeiros, durante todo oano.
Os processos limnológicos associados aoenchimento de reservatório têm implicaçõesrelevantes sobre o processo subseqüente deocupação deste pela ictiofauna regional.Embora a literatura seja também pobre emregistros acerca dos processos que ocorremcom a comunidade de peixes imediatamente
após o represamento, dados não publicadosde um monitoramento realizado durante oenchimento do reservatório de Salto Caxias,no rio Iguaçu (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/COPEL, 2001) demonstramque, nos primeiros dias, indivíduos dediferentes espécies ocupam toda a colunad’água, independentemente do tipo de hábitatque ocupavam anteriormente ou que,provavelmente, venham a ocupar no novoambiente.
Nessa fase, a pesca experimental commétodos passivos (redes de espera, porexemplo) apresenta elevado rendimento,sugerindo intensa mobilidade dos indivíduos.
A expansão da camada anóxica que ocorre apartir do fundo e das imediações dabarragem, geralmente ao final da primeiraquinzena do início do enchimento, marca umperíodo de deslocamentos massivos de peixespara os tributários e trechos não-represados amontante (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/COPEL, 2001). As espéciesremanescentes concentram-se nas margens,nas áreas rasas e partes mais altas doreservatório (FERNANDO; HOLCÍK, 1991;RODRÍGUEZ RUIZ, 1998).
Ventos, chuvas ou mesmo variações térmicas(frentes frias) podem promover a mistura dacoluna ou parte dela, promovendomortandades extensas ou localizadas(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
FURNAS, 2000). Com o início da liberação daágua pela barragem, novo período deinstabilidade ocorre, cuja magnitude eimpacto sobre as espécies remanescentesdepende da posição da tomada de água.
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 113113113113113
Esse padrão teórico pode ser amplamentemodificado conforme as características e aabundância da fitomassa alagada, o tamanho,profundidade e morfometria da bacia, avelocidade do processo e a operação deenchimento. No reservatório de Corumbá ,cuja área de alagamento envolveu vegetaçãode cerrado, a camada anóxica chegou a 10metros da superfície durante o enchimento(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
FURNAS, 2000). Já no reservatório de Samuel,na Amazônia, essa camada ficou a 6 metros dasuperfície (MATSUMURA-TUNDISI; TUNDISI; SAGGIO;
OLIVEIRA NETO; ESPÍNDOLA, 1991).
A época do ano em que ocorre o fechamentodo reservatório é também relevante noprocesso de colonização do novo ambiente,especialmente quando a barragem posiciona-se em um ponto intermediário no trecho dedistribuição populacional de espéciesmigradoras.
As condições favoráveis de vazão na estaçãochuvosa têm levado os tomadores de decisãoa estabelecer esse período para o fechamentodas comportas e enchimento do reservatório.Esse procedimento, embora deletério para osestratos populacionais a jusante, tem impactopositivo sobre a colonização inicial do trechorepresado, visto que retém no trecho amontante aquelas espécies com migraçãoreprodutiva ascendente. O enchimento doreservatório simula as condições de grandescheias, apropriadas ao desenvolvimento inicialde suas larvas, resultando em grande aportede juvenis no primeiro ano da sua formação.
Entretanto, essa tendência não é sustentável e,já a partir do segundo ano o recrutamento apartir do reservatório é nulo, e a persistência
desse grupo de espécies na metade superiordo reservatório tem sido atribuída àexistência de áreas de desova e criadourosnaturais em segmentos livres a montante.
No reservatório de Manso (bacia do rioCuiabá), cinco das quinze principais espéciesna pesca experimental realizada no primeiroano do represamento foram constituídas porgrandes migradores, com destaque para apiraputanga Brycon microlepis e o douradoSalminus brasiliensis, que juntas compuseram12% do número de indivíduos capturados(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
FURNAS, 2001b).
As pescarias realizadas nos três anossubseqüentes revelaram sensíveis reduções naparticipação desse grupo de espécies (dadosnão publicados). Fato similar foi constatadonos reservatórios de Corumbá e Itaipu,ambos na bacia do rio Paraná e cujofechamento ocorreu no início da quadrareprodutiva das espécies migradoras(AGOSTINHO, 1994; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/FURNAS, 2001a).
Fase de Colonização
Colonização será aqui utilizada emseu sentido amplo, para descrever asalterações a que as assembléias de peixes sãosubmetidas durante o período que se iniciacom a conclusão da fase de enchimento e seestende por um período variável, até quecerta “estabilidade” seja alcançada.
O tempo para que uma comunidade de peixesalcance alguma estabilidade temporal em umreservatório é, entretanto, variável. Lowe-
114 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
McConnell (1999) relata períodos de 6 a 10anos para reservatórios russos de latitudemenor que 55o N, e de 25 a 30 anos naquelasmaiores. Balon (1974) concluiu que oreservatório de Kariba, no rio Zambezi,alcançou certa estabilidade no 10o ano após ofechamento.
No reservatório de Itaipu, baseado na quedada dissimilaridade entre amostras daictiofauna obtidas em diferentes anos, essetempo foi estimado em 15 anos (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).
Entretanto, a composição da fauna original, aárea da bacia de captação, o tempo derenovação da água, a extensão do trecho livrede barramentos a montante, a presença degrandes tributários, o desenho da barragem eos procedimentos operacionais são alguns dosfatores que influenciam nesse tempo.
Grandes perturbações não-cíclicasrelacionadas à operação da barragem, além decontribuírem para a instabilidade na estruturadas comunidades, reduzem a riqueza deespécies e o tamanho dos estoques, comodemonstram as baixas diversidades e osbaixos rendimentos da pesca em reservatóriosmais antigos da bacia do rio Paraná(AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999).
Assim, flutuações amplas e aleatórias de nívelda água podem retardar a estabilização doreservatório, levando a oscilações naspopulações de espécies oportunistas (r-estrategistas) e afetando negativamente as deequilíbrio (k-estrategistas) e sazonais (sensuWINEMILLER, 1989), que incluem os peixes demaior porte da região neotropical.
Os eventos que se seguem ao represamento,em relação às comunidades de peixes, sãodeterminados pelas condições ambientais nosperíodos críticos como o do enchimento einício de operação.
Naqueles reservatórios em que a anoxia élocalizada, ocorre forte alteração na estruturadas comunidades, com mudanças drásticas naabundância das espécies ou mesmo a extinçãolocal de alguns elementos. Quando a anoxiaalcança grandes extensões da área represada,o processo de colonização é iniciado pelosindivíduos que permaneceram na periferia doreservatório tão logo as condições aeróbicassejam restabelecidas. É esperado que aextensão do volume anóxico nosreservatórios seja distinta entre as bacias,visto que o grau de ocupação humana, e seusimpactos decorrentes, variam.
Assim, na bacia dos rios Paraná, São Franciscoe bacias Atlânticas, onde a ocupação humana émaior, a biomassa vegetal alagada é, emgeral, inferior às da Amazônia e Tocantins, oque resultaria em menores problemas com adepleção de oxigênio. Entretanto, nasprimeiras bacias citadas, o alagamento,muitas vezes, envolve áreas agrícolas nasquais fertilizantes químicos, pesticidas eherbicidas foram aplicados intensivamente,contribuindo para a deterioração daqualidade da água logo após o enchimento(TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; CALIJURI, c1993).
A primeira implicação na colonização donovo ambiente é que só serão bem-sucedidosos elementos da ictiofauna que estão aptos adesenvolver mecanismos adaptativosdiferentes daqueles que tinham no sistemalótico (FERNANDO; HOLCÍK, 1982; KUBECKA,
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 115115115115115
c1993). Entretanto, as alterações impostaspelos represamentos mostram consideráveisvariações de intensidade no espaço e notempo, o que leva a respostas distintas dasassembléias de peixes. Assim, o processo decolonização será aqui considerado em seusaspectos espaciais e temporais.
Na abordagem espacial do processo deocupação há que se distinguir diferentesestratos longitudinais (zonas lacustre,transição e fluvial - Figura 4.2), transversaise verticais (zonas litorânea, pelágica eprofunda), especialmente em grandesreservatórios.
Processospredominantes Verticais
Longitudinais-verticais Longitudinais
Largura Largo e profundo Intermediário Estreito, canalizado
Fluxo da água Baixo fluxo Moderado Alto Fluxo
Turbidez e luzÁguas claras, alta
disponibilidade de luzAumento da turbideze diminuição da luz
Águas túrbidas, baixadisponibilidade de luz
NutrientesBaixa concentração,
suprido por ciclagem internaModerada;
intermediárioAlta concentração,
suprido por advecção
Fonte de MatériaOrgânica
Primariamenteautóctone; produção > respiração Intermediária
Primariamentealóctone; produção < respiração
Trofia Mais oligotrófico Intermediário Mais eutrófico
Plâncton Escasso Abundante Escasso
Peixes nãomigradores
Escasso Abundante Escasso
Peixes Migradores Escasso Moderado Abundante
DiversidadeIctiofaunistica
Riqueza baixa,dominância moderada
Riqueza moderada,dominância alta
Riqueza alta,dominância moderada
Figura 4.2 - Zonação longitudinal nos fatores ambientais e na biota do reservatório de Itaipu(modificado de ,1990 e , 2005.)KIMMEL; LIND; PAULSON OKADA; AGOSTINHO; GOMES
Arroio
Guaçu
S.
RioS.
Fco.Falso
Rio
São
Vicente
Rio
Pinto
Rio
São
João
Rio
Passo
Cuê
24º2
0’
24º2
5’
54º45’
54º40’
54º35’
54º30’
54º25’
54º20’
54º15’
54º10’
54º50’
Fco.V
erdadeiro
24º3
0’
24º3
5’
24º4
0’
25º4
5’
Transição( 174,2 km )2
24º5
0’
24º5
5’
25º0
0’
25º0
5’
25º1
0’
25º1
5’
25º2
0’
25º2
5’
25º3
0’
Lacustre( 1115,9 km )2
24º0
0’
24º0
5’
24º1
0’
24º1
5’
54º05’
( 83,9 km )2
54º00’
Fluvial
RioR
ioO
coí
N
S
O L
NS
O
L
Reservatório de Itaipu
116 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Marcantes diferenças entreas amostras obtidas antes eapós a formação doreservatório de Corumbádemonstram que o grau demodificação imposto pelorepresamento nacomposição e estrutura dasassembléias de peixesvariou com a distância dabarragem (BINI; AGOSTINHO,2001).
Assim, utilizando-se asdiferenças entre os escoresdo primeiro eixo de umaDCA (Análise de Correspondência comremoção do efeito do arco ) calculados antese após o enchimento do reservatório, essesautores verificaram que as alterações naictiofauna foram mais intensas nasproximidades da barragem (locais: LISA,JACU, CPIR) e pouco relevantes a montantedo reservatório (AREI e MOIT) – Figura 4.3.
Dessa forma, em geral, as espécies regionaissão mais bem-sucedidas na colonização daszonas fluvial e litorânea dos reservatórios.
A zona fluvial, caracterizada como aquelaem que os processos de transporte aindapredominam sobre os deposicionais e que,em geral, se localiza no terço superior degrandes reservatórios, normalmente nãoapresenta a maior biomassa ou densidade depeixes (KIMMEL; LIND; PAULSON, c1990). Poréma diversidade específica é a maior entre aszonas de reservatórios, independentementedo estrato transversal ou verticalconsiderado (Figura 4.4).
O terço superior do reservatório de Itaipucontém todas as espécies registradas nostrechos mais internos, acrescidas de outrastípicas do trecho lótico a montante(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994).Fato similar foi evidenciado já no segundoano da formação do reservatório de Segredo(AGOSTINHO; FERRETTI; GOMES; HAHN; SUZUKI;
FUGI; ABUJANRA, 1997). A manutenção dealgumas características do ambiente original,como o baixo tempo de residência da água, aentrada de material alóctone, transparência ea heterogeneidade de hábitats, explica essatendência.
Já as zonas litorâneas apresentam maiordiversidade específica e são mais produtivasque as demais, sendo isso decorrência dosaportes de nutrientes e alimentos dasencostas, menor profundidade e maior graude estruturação dos hábitats (SMITH; PEREIRA;
ESPÍNDOLA; ROCHA, 2003). Essas diferençastendem a se acentuar com a idade doreservatório (Figura 4.4).
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0 10 20 30 40 50 60
Dife
renç
aen
treos
esco
res
(DC
A)
Distância da barragem (km)
Figura 4.3 - Gradiente espacial das diferenças entre os escoresmédios do eixo 1 de uma DCA obtidos antes e após orepresamento ao longo da calha do rio Corumbá. (Fonte:
, 2001).AGOSTINHOBINI;
AREI
COPE
PONTE
CPIR
JACU
LISA
MOIT
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 117117117117117
No reservatório de Itaipu,decorridos 15 anos de suaformação, 64 das 67 espéciescapturadas com redes deespera o foram na zonalitorânea. Na pelágica e naprofunda foram registradas 22e 20 espécies, respectivamente.O número de indivíduoscapturados em 1.000 m2 derede durante 24h foi, emmédia, de 388 na litorânea, 22na pelágica e 20 no fundo.
A colonização das zonaslitorâneas é, em geral, feitapor espécies regionais comestratégias generalistas e comampla tolerância a variaçõesde hábitat. Trata-se da zonabiologicamente maisprodutiva que, emreservatórios de latitudestemperadas da Europa, éhabitada principalmente porciprinídeos e alguns percídeos,e da America do Norte por catostomídeos,silurídeos e percídeos (FERNANDO; HOLCÍK,1991). Em reservatórios africanos, essa zona éocupada por ciclídeos.
Em Itaipu, embora os ciclídeos estejamrestritos a essa área, a família contribuiu comapenas 13,2% da CPUE nela registrada em1997 (AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES;
THOMAZ; SUZUKI, 1999). Nesse reservatório,um scianídeo introduzido (corvina),pequenos tetragonopterídeos(Characíformes) e pimelodídeos(Siluriformes) são dominantes.
Os impactos do represamento sobre adiversidade de peixes nos estratos demargem e da calha do rio mostraram-sedistintos no rio Corumbá (BINI; AGOSTINHO
2001). Assim, após o enchimento doreservatório de Corumbá, constatou-se umincremento no índice de diversidade deShannon na zona litorânea do reservatórioem relação às antigas margens do rio e umaredução significativa nas áreas abertas emrelação à calha (Figura 4.5). Pré-adaptaçõesda ictiofauna fluvial às condições das áreasrasas e com maior disponibilidade de abrigopodem explicar essa tendência.
Flu Tra Lac Flu Tra Lac Flu Tra Lac0
10
20
30
40
50
60
Núm
ero
de
esp
éci
es
1987
1997
Zona litorânea Zona pelágica Zona funda
0
100
200
300
400
500
600
700
Abu
ndân
cia
(ind.
/100
0m
rede
/24h
)2
1987
1997
Flu Tra Lac Flu Tra Lac Flu Tra Lac
Zona pelágica Zona funda
Figura 4.4 - Variações espaciais e temporais na diversidadeespecífica e abundância de peixes no reservatório deItaipu. Flu=fluvial, Tra=transição, Lac=lacustre. (Fonte:
, 1999).AGOSTINHO; MIRANDA; THOMAZ; SUZUKI
Zona litorânea
118 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A ictiofauna da maioriadas bacias hidrográficasbrasileiras carece deespécies lacustres nosentido preconizado porFernando e Holcík (1991),ou seja, peixes endêmicosde lagos que vivem nesseambiente durante todo ociclo de vida. A virtualausência de lagosnaturais impediu queespécies com essaestratégia de vida sedesenvolvessem naságuas interiores doBrasil.
Na fauna neotropical,algumas espécies comhábitospredominantementelacustres têm-sedesenvolvido em rios elagoas de planície deinundação, destacando-seentre elas os eritrinídeos(traíras), calictídeos(cabojas), serrassalmídeos(piranhas), algunsloricarídeos (cascudos), curimatídeos(sagüirus) e ciclídeos (acarás) (AGOSTINHO;
JÚLIO JÚNIOR, 1999). Entretanto, essas espéciesocupam hábitats de fundo ou guardamprofunda relação com as macrófitasflutuantes e nenhuma delas tem modo devida pelágico.
A ausência de espécies pré-adaptadas àscondições pelágicas no alto rio Paraná tem
sido associada ao baixo rendimento da pescanas zonas mais internas de grandesreservatórios dessa bacia (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).Fernando e Holcík (1991) relatam ser aformação do hábitat pelágico a característicamais extraordinária dos grandesrepresamentos, e que a falta de elementos daictiofauna para ocupá-lo está ligada ao baixorendimento pesqueiro do reservatório.
Figura 4.5 - Variações nas amostras da ictiofauna obtidas antes dorepresamento, durante o enchimento e na fase de operação noreservatório de Corumbá, considerando-se as áreas marginais (a)e abertas (b). (Fonte: Bini; Agostinho, 2001).
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
pré-enchimento
enchimento
operação
a
Mar/
96
Mai/9
6Ju
l/96
Set/96
Nov/
96
Jan/9
7M
ar/
97
Mai/9
7Ju
l/97
Set/97
Nov/
97
Jan/9
8M
ar/
98
Mai/9
8Ju
l/98
Set/98
Nov/
98
Jan/9
9M
ar/
99
Mai/9
9Ju
l/99
Set/99
Nov/
99
Jan/2
00
Índic
ede
div
ers
idade
(´)
H
Meses de coleta
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0b
Índic
ede
div
ers
idade
(´)
H
Meses de coleta
Mar/
96
Mai/9
6Ju
l/96
Set/96
Nov/
96
Jan/9
7M
ar/
97
Mai/9
7Ju
l/97
Set/97
Nov/
97
Jan/9
8M
ar/
98
Mai/9
8Ju
l/98
Set/98
Nov/
98
Jan/9
9M
ar/
99
Mai/9
9Ju
l/99
Set/99
Nov/
99
Jan/2
00
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 119119119119119
O hábitat pelágico, menos que os litorâneos,requer pré-adaptações morfológicas ecomportamentais para a tomada de alimento,reprodução, deslocamentos e evitação dapredação.
No reservatório de Itaipu, todas as espéciesregistradas nas áreas abertas o foram,também, na zona litorânea. Algumas dessasespécies, entretanto, foram bem-sucedidas nasáreas abertas, destacando-se o zooplanctívorofiltrador Hypophthalmus edentatus (mapará), oinsetívoro-zooplanctívoro Auchenipterusosteomistax (palmito) e o piscívoro Raphiodonvulpinus (dourado-facão), todas comadaptações para deslocamento e tomada dealimento pelagial, como forma do corpo,posições da boca e dos olhos (FREIRE;
AGOSTINHO, 2000).
Essas espécies, embora tenham-se constituídocomo as principais nesse hábitat, foram maisabundantes nas áreas litorâneas. São oriundasdo médio rio Paraná e, portanto, presentesapenas nos dois primeiros reservatórios amontante de Itaipu (Rosana e PortoPrimavera), fechados em datas posteriores àssuas dispersões no alto rio Paraná.
Duas outras espécies importantes nas capturasda zona pelágica, porém mais abundantes nasdemais, foram a piscívora introduzida P.squamosissimus (corvina) e o doradídeoonívoro Pterodoras granulosus (armado). Aprimeira é a principal espécie na pescaartesanal praticada em quase todos osreservatórios da bacia (PETRERE JÚNIOR;
AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002).
O fundo dos reservatórios é também poucoocupado pelos peixes, podendo o fato ser
atribuído a um conjunto complexo de fatores,como correntes de densidade, estratificaçãotérmica, depleção de oxigênio,disponibilidade de alimento e penetração daluz (MATTHEWS; HILL; SCHELLHAASS, 1985;RUDSTAM; MAGNUSON, 1985; FERNANDO; HOLCÍK,1991). A diversidade específica e a densidadede peixes, a exemplo daquelas da zonapelágica, tendem a diminuir nessa zona(Figura 4.4).
No reservatório de Itaipu, decorridos 15 anosdo fechamento, as capturas no fundo foramdominadas pelo armado P. granulosus (53,9%),seguido pelo cascudo Loricariichthys (19,1%) ea corvina P. squamosissimus (17,0%). Espéciescaracterísticas da zona pelágica podem serregistradas no fundo ou próximo dele,durante o dia (AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ,1995). Nesses levantamentos, não foram,entretanto, explorados ambientes comprofundidades superiores a 60 metros.
Numa perspectiva temporal, os impactosdecorrentes dos represamentos relacionam-seàs mudanças na produtividade primária doreservatório de acordo com sua idade.
Como visto anteriormente, a elevadaprodução biológica nos primeiros anos dorepresamento é um processo decorrente dagrande liberação de nutrientes dissolvidospela matéria orgânica submersa durante oprocesso de decomposição (BALON, 1973;PETRERE JUNIOR, 1996).
Esse aporte de nutrientes, em geral, aumentaa produção em todos os níveis tróficos(O’BRIEN, c1990), sendo esse período de elevadaprodução conhecido como trophic upsurgeperiod (KIMMEL; GROEGER, 1986). Como os
120 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
processos físicos,químicos e biológicostendem a ser maisrápidos em latitudestropicais, essa faseespera-se ser maisefêmera nos trópicos(WILLIAMS; WINEMILLER;
TAPHORN; BALBAS, 1998).
Com o tempo, ocorreum acentuadodecréscimo denutrientes no corpo doreservatório (depressionperiod), sendo tal fato atribuído a processosde sedimentação, remoção pela pesca ouexportação pelo vertedouro (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).Após esses eventos, o novo patamar deprodutividade deve se localizar em algumponto entre a produção original do rio e ade um lago natural (BALON, 1973; NOBLE,1986; RANDALL; KELSO; MINNS, 1995; WILLIAMS;
WINEMILLER; TAPHORN; BALBAS, 1998) –Figura 4.6.
A tendência de depleção trófica, quecaracteriza a maioria dos reservatórios apósos primeiros anos da formação (RIBEIRO;
PETRERE JUNIOR; JURAS, 1995), pode serrevertida pela alternância de períodosprolongados de baixos níveis de água,permitindo o desenvolvimento devegetação na zona de depleção, seguidos deperíodos de níveis normais. No reservatóriode Sobradinho, bacia do rio São Francisco,esse processo tem sido associado àsextraordinárias variações no rendimento dapesca artesanal (AGOSTINHO, 1998).
A manipulação de nível visando elevar ataxa de recrutamento de peixes e acapacidade biogênica de reservatórios temsido preconizada por diversos autores(BENNETT, c1970; NOBLE, 1980; MARTIN;
MENGEL; NOVOTNY; WALBURG, 1981; MITZNER,1981; RAINWATER; HOUSER, 1982; BEAM, 1983;MIRANDA; SHELTON; BRYCE, 1984; PLOSKEY, 1985;SUMMERFELT, 1993; HAYES; TAYLOR; MILLS,1993). A depleção trófica pode também serretardada pela entrada de nutrientesresultantes da atividade antropogênica,como a poluição urbana ou agropecuária.
Nos parágrafos seguintes são apresentadosalguns padrões relacionados à colonizaçãode reservatórios pelos peixes. Embora ofoco principal seja sobre os padrõestemporais, as variações nesses padrõesconsideram os efeitos da zonação espacial.As variações no esforço reprodutivo sãoavaliadas primeiro, dada a sua relevânciasobre a diversidade e a abundânciaespecífica, também consideradas nestasessão. Considerações sobre as variações no
Fases
enchimentodo
reservatório
Rio Heterotrófica" "upsurge period
Pós-Heterotrófica" "depression period
Equilíbrio trófico (?)
Captura por Unidade de Esforço
Figura 4.6 - Modelo conceitual das variações no rendimento duranteas diferentes fases do represamento.
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 121121121121121
tamanho dos peixes e na estrutura trófica dosreservatórios são feitas ao final.
A reprodução, pelo caráter mais conservadorde suas estratégias em relação às de outrasatividades vitais, impõe relevanteslimitações à ocupação dos novosreservatórios pela fauna fluvial. A primeira emais evidente é o requerimento de grandesáreas livres pelos grandes peixesmigradores.
As barragens, dependendo de sua posição emrelação à área vital dessas espécies, podeminterceptar seus acessos às áreas de desova,reduzir os espaços livres e deplecionar suaspopulações a densidades abaixo de limiarescríticos, ou mesmo eliminá-las como tal. Oefeito combinado de barragens em série nosprincipais tributários do alto rio Paraná temsido responsabilizado pelo virtualdesaparecimento dos grandes peixesmigradores dessa área (LOWE-McCONNELL,1999).
A manutenção de trechos livres a montantetem, entretanto, assegurado a ocupação dotrecho superior dos reservatórios por váriasdessas espécies (AGOSTINHO, 1994).
Os peixes exibem enorme gama de outrasestratégias reprodutivas, determinadas pelahistória evolutiva do pool gênico do qual opeixe é membro.
O entendimento da estratégia reprodutivaestá na identificação do processo seletivo quelevou à evolução da estratégia observada(WOOTTON, 1990), que no caso das espéciesfluviais foram as condições lóticas. Compõe
a estratégia reprodutiva um conjunto decaracterísticas, como idade e tamanho deprimeira maturação, fecundidade, tamanho enatureza dos gametas, grau de paridade,período de reprodução, local de desova,organização do comportamento reprodutivo,tipo de desenvolvimento ovocitário, tipo dedesova e proporção sexual (VAZZOLER, 1996).
Dependendo das condições ambientaismomentâneas vividas pelo peixe, essascaracterísticas mostrarão modificaçõestáticas. Essas modificações, que podem sermais ou menos plásticas, representam umaresposta homeostática para minimizar ocusto das flutuações ambientais.
De acordo com Dias (1989), as característicasda estratégia reprodutiva que são passíveisde maiores alterações são época de desova e,possivelmente, local de desova. O tamanhoda primeira maturação também é bastanteflexível, naturalmente dentro dos limites decada espécie. Outras, como cuidado parentale tamanho e natureza dos gametas (como aadesividade, estruturas para flutuação,proteção contra choques mecânicos), sãomais conservativas.
A alteração na dinâmica da água pode imporrestrições a muitas espécies da faunaregional que requerem ambientes lóticospara a reprodução, em razão da natureza etamanho dos ovócitos.
Ambientes de água corrente, altamenteoxigenados, levaram, ao longo de séculos, aadaptações morfológicas dos ovos, como aadesividade para fixação em substrato ou,quando livres, a utilização da dinâmica da
122 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
água para a flutuação. Essas estratégiasseculares não são de grande valia no novoambiente, tanto pela escassez de substratocomo pelo fato de, sob condições lacustres,os ovos poderem afundar e atingir as regiõesprofundas e pouco oxigenadas doreservatório.
O aumento na taxa de predação nas áreasabertas e transparentes do reservatório éuma restrição adicional de impactos, vistoque no ambiente fluvial a desova ocorreprincipalmente em períodos chuvosos e deelevada turbidez da água.
As flutuações de nível no ambiente represado,como decorrência da operação da barragem,podem, por outro lado, ser desastrosas paraespécies com ovos aderidos a algumsubstrato litorâneo, ou que deposite seusovos em ninhos construídos nas margens.Assim, o padrão de flutuação do nível daágua na área represada, principalmente noperíodo reprodutivo, pode ser um fatorpreponderante no sucesso do recrutamentopara a maioria das espécies de peixes dereservatórios (SUZUKI; AGOSTINHO, 1997). Alémdisso, o substrato adequado para a desova demuitas espécies da fauna original (rochas,cascalhos, areia ou plantas) pode ficarsubmerso a dezenas de metros.
Nos reservatórios espera-se que aquelasespécies com maior plasticidade quanto aolocal de reprodução tenham maior sucessona ocupação. Constata-se, no entanto, que amaioria das espécies que colonizam osreservatórios procuram os tributárioslaterais, trechos a montante ou mesmo asáreas mais lóticas para a reprodução
(AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ, 1995; SUZUKI;
AGOSTINHO, 1997; VAZZOLER; SUZUKI; MARQUES;
PEREZ LIZAMA, 1997).
No reservatório de Itaipu, seis das dezprincipais espécies na pesca artesanal seutilizam da planície a montante para adesova e desenvolvimento inicial(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994).Já no reservatório de Segredo, confinadoentre duas barragens, mesmo as espéciesbem-sucedidas na ocupação desse ambientebuscam os trechos de águas maismovimentadas (entradas de tributários,trechos mais altos do reservatório) para areprodução (SUZUKI; AGOSTINHO, 1997).
Uma questão que permeia esse tema seria sehá suficiente documentação sobre a relaçãoentre as estratégias reprodutivas e o sucessoespecífico na colonização de reservatóriosneotropicais. Embora esses estudos sejamescassos, comparações entre a composição e aabundância de assembléias de peixes antes edois anos após o represamento, obtidas emcinco reservatórios do rio Paraná, fornecemalgumas evidências (Figura 4.7).
O primeiro padrão que emerge dessa análiseé que há forte interação entre a época demigração e desova e a época em que o fluxode peixes é interrompido na determinação dacomposição da fauna de peixes que ocupa oreservatório.
Por exemplo, a formação do reservatório deCorumbá, iniciado em setembro de 1997,ocorreu no início do período reprodutivo demuitas espécies de peixes. As espécies bem-sucedidas durante esse processo foram
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 123123123123123
aquelas que produzem ovos pequenos comeclosão rápida, ou seja, A. bimaculatus (=A.altiparanae), A.fasciatus, Moenkhausia intermedia,P. maculatus, Galeocharax knerii e Leporinusfriderici. As três primeiras espéciescomeçaram a ser recrutadas na pesca já apartir do terceiro mês do enchimento.
Todas essas espécies apresentam ovócitosmenores que 1,1 mm, têm alta fecundidade ebaixo tempo de embriogênese e eclosão.
Lamas (1993), em levantamento sobre aduração da embriogênese de 52 espécies deágua doce, relata que esta variou de 330 a5.365 horas-graus, sendo que A. bimaculatus eP. maculatus estiveram entre as espécies commenor tempo (446,3 e 400 horas-graus,respectivamente).
Entre as espécies que tiveram suas capturasdiminuídas nos reservatórios analisados naFigura 4.7, algumas apresentam características
Steindachnerina spI.labrosus
S.insculptaHypostomus a
M.intermediaA.bimaculatus
S.nasutusA.piracicabae
A.affinisA.fasciatus
P.maculatusG.knerii
L.fridericiP.lineatus
S.brasiliensisH.littorale
A.eigenmanniorumHypostomus b
Outros
10203040CPUE (%)
0 10 20 30 40CPUE (%)
Reservatório de Corumbá
depoisantes
R.asperaA.bimaculatus
I.labrosusG.knerii
P.maculatusP.lineatus
L.obtusidensL.friderici
A.lacustrisS.spilopleura
H.platyrhynchosP.galeatus
P.squamosissimusP.granulosus
R.vulpinusH.edentatus
612182430CPUE (%)
0 6 12182430CPUE (%)
Reservatório de Rosana
depoisantes
Outros
Hypostomus spH.malabaricus
A.cirrhosusA.valenciennesi
R.hilariiA.eigenmaniorum
Oligosarcus spP.squamosissimus
G.carapoG.brasiliensis
P.lineatusT.paraguayensis
A.bimaculatusA.ucayalensisA.ostromystax
H.edentatusP.galeatus
P.maculatus
M.intermedia
01020304050CPUE (%)
10203040 50CPUE (%)
Reservatório de Itaipu
depoisantes
Outros
C.modestusC.nagelii
A.bimaculatusA.lacustris
P.squamosissimusP.lineatus
S.insculptaM.intermediaS.spilopleura
S.hilariiH.malabaricus
L.fridericiS.borellii
G.brasiliensisP.maculatus
M.tieteL.obtusidensC.monoculus
Reservatório Três Irmãos
depoisantes
612182430CPUE (%)
0 6 12182430CPUE (%)
Outros
Astyanax bH.derbyi
Astyanax hG.brasiliensis
R.vouleziR.branneri
C.iguassuensisH.malabaricus
Bryconamericus aAstyanax c
O.longirostrisP.ortmanniAstyanax fC.paleatus
Psalidodon spA.vittatusC.carpioG.ribeiroi
Reservatório de Jordão
depoisantes
01020304050CPUE (%)
1020304050CPUE (%)
Outros
Figura4.7 - Abundância das principais espécies (número de indivíduos por 1000m de redes em 24horas) antes e nos dois primeiros anos após o represamento, em cinco usinas hidrelétricas dabacia do rio Paraná (Fonte: , 1999).
2
AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI
S.brasiliensisS.brasiliensis
A.ostromystax
124 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ovocitárias e de incubação similares àsespécies citadas anteriormente, porém comhábitos alimentares distintos (iliófagas ebentófagas; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/FURNAS, 2000) outipicamente reofílicas (AGOSTINHO; JÚLIO
JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994).
Mesmo assim, comparando-se espéciescongenéricas (Steindachnerina sp. x S.insculpta; Apareiodon piracicabae x A. affinis),verifica-se que a mais bem-sucedida do par éaquela com ovócitos menores e cujas zonasradiatas são mais delgadas e, portanto,menos adesivos (SUZUKI, 1992). Resultadossimilares foram registrados para outrosgêneros de peixes nos reservatórios deSegredo e Foz do Areia, com idades distintase supostamente colonizados por faunasimilar (SUZUKI, 1999).
Como mencionado, espera-se que espéciescom ovos grandes e adesivos encontremrestrições para o desenvolvimento numambiente cuja água apresenta níveisvariáveis e problemas com a oxigenação nofundo. Além disso, ovos grandescaracterizam espécies que dispensamcuidados à prole (SUZUKI, 1999), muitas vezescom comportamento territorial, umaestratégia inadequada para ambientes comníveis de água variáveis.
A proliferação de pequenos caracídeos,especialmente tetragonopteríneos, nosprimeiros anos foi também verificada nosreservatórios de Três Irmãos (rio Tietê) eJordão (bacia do rio Iguaçu) (Figura 4.7).Astyanax bimaculatus, espécie dominante noprimeiro, apresentou dieta onívora com
tendências à insetivoria, ao contrário deCorumbá, onde também predominou e tevedieta essencialmente herbívora. No Jordão, aprincipal espécie, Astyanax sp.b, teve dietaherbívora, sendo seguida de outra espécie domesmo gênero, porém detritívora. Noreservatório de Segredo, também na bacia doIguaçu, as espécies dominantes e suas dietasforam as mesmas do Jordão (HAHN; FUGI;
ALMEIDA; RUSSO; LOUREIRO, 1997).
No reservatório de Rosana e Itaipu, essasespécies foram substituídas por A.osteomystax e Parauchenipterus galeatus,também com tendências à insetivoria, porémcom fecundação interna. Essas espécies,adicionadas de duas outras com a mesmaestratégia reprodutiva (Ageneiosusvalenciennesi e A.ucayalensis), estiveram entreas 10 principais nos dois primeiros anos doreservatório de Itaipu.
Assim, a fecundação interna parece ser umaestratégia bem-sucedida nos primeiros anosde represamento (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR;
PETRERE JUNIOR, 1994). No reservatório deItaipu, entretanto, o mapará H. edentatus,espécie zooplanctívora filtradora, proliferourapidamente, ocupando a zona pelágica deste.Entre as características favoráveis que essaespécie apresenta, destacam-se a produção degrande quantidade de ovos pequenos (0,75mm), depositados em vários lotes (SUZUKI,1992); ovos e larvas pelágicos (NAKATANI;
BAUMGARTNER; CAVICCHIOLI, 1997) e capacidadede apresentar dois picos de desova durante oano (BENEDITO-CECÍLIO; AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR;
PAVANELLI, 1997). Embora presente na áreaalagada pelo reservatório de Rosana, aparticipação dessa espécie nas capturas foi
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 125125125125125
baixa na região. É provável que o número deindivíduos na área alagada tenha sidoinsuficiente para iniciar o processo decolonização, visto que a espécie apresentauma distribuição agregada, pela formação degrandes cardumes (observações pessoais).
Em Rosana, a espécie mais importante napesca experimental foi, entretanto, amigradora P. lineatus (curimba). Isso éexplicado pela retenção de grandes cardumesdessa espécie durante o fechamento dascomportas.
A atividade reprodutiva das espécies queocupam reservatórios parece variar com otempo. Visando avaliar as flutuações demédio prazo no esforço reprodutivoprimário (sensu MILLER, 1984), as variaçõesno peso das gônadas foram analisadas nosseis anos que se seguiram aorepresamento de Itaipu. Paraexcluir o efeito do tamanho dosindivíduos, a análise foibaseada nos resíduos daregressão linear entre o pesodas gônadas e o dos peixes (log-transformados; Figura 4.8).
Verifica-se que o esforçoreprodutivo, baixo nos doisprimeiros anos, aumentousignificativamente com a idadedo reservatório. Esseincremento mostrou diferençastambém significativas entre aszonas do reservatório, sendomais pronunciado na fluvial ede transição e menos relevantena lacustre.
Ao contrário dos reservatórios recentes, nosquais espécies que produzem ovos pequenosparecem ter mais sucesso que aquelasespécies com estratégias mais elaboradas,como as que envolvem corte, construção deninhos e cuidado parental, os reservatóriosantigos podem ser ocupados por espéciescom cuidado parental.
Nos reservatórios com mais de 15 anos dabacia do rio Paraná (Promissão, Ibitinga eItaipu), essas espécies compõem entre 15 e24% da captura por unidade de esforço emnúmero, enquanto nos mais novos (Rosana,Segredo, Três Irmãos) eles contribuem entre0 e 7,7% (dados derivados de SUZUKI, 1992;CESP, 1996; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPÉLIA/ITAIPU BINACIONAL, 1998;AGOSTINHO; FERRETTI; GOMES; HAHN; SUZUKI; FUGI;
ABUJANRA, 1997).
Anos
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
84 85 86 87 88
Fluvial
Transição
Lacustre
Resí
duos
Figura 4.8 - Variações no peso das gônadas de peixes após aformação do reservatório de Itaipu, estimado com basenos resíduos derivados da regressão linear entre oslogarítimos dos pesos das gônadas e total para diferenteszonas do reservatório de Itaipu (Fonte:
, 1999).AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI
126 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Em reservatórios rasos e antigos do estadodo Paraná, essa participação alcança 40,4%(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPÉLIA/
COPEL, 2000). A proliferação de macrófitasaquáticas com o tempo parece importante noaumento das populações com estratégiasreprodutivas que envolvam cuidadoparental.
No reservatório de Itaipu, o incremento nascapturas da traíra Hoplias malabaricus eciclídeos foi concomitante à ocupação dealguns braços com macrófitas aquáticas. Aexistência dessa relação pode ser evidenciadapor uma modalidade de pesca artesanalimplantada no reservatório nos últimosanos, destinada à captura da traira e queconsiste no uso de anzol e linha suspensospor um flutuante, instalados às dezenas emmeio à vegetação (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR;
PETRERE JUNIOR, 1994).
Das 31 espécies para as quais foi possívelidentificar atividade reprodutiva noreservatório de Itaipu, onze apresentaram asprimeiras evidências disso após o quarto anodo represamento, destacando-se entre essas acorvina P. squamosissimus, o sagüiruSteindacnerina insculpta, o linguadoCatathyridium jenynsii, cascudos Loricariichthyssp., Loricariichthys platymetopon e Loricaria sp.,a piranha Serrassalmus marginatus e amorenita Porotergus ellisi. Exceto a primeira,abundante desde o início do represamento,as demais eram esporádicas nos primeirosanos.
As áreas de desova iniciais de P.squamosissimus eram os trechos lóticos dostributários laterais desse reservatório, onde
sua ocorrência era restrita ao períodoreprodutivo. Após 15 anos, a área de desovafoi notavelmente expandida, incluindo ostrechos lênticos dos tributários e as áreaslitorâneas do reservatório (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPÉLIA/ITAIPU
BINACIONAL, 1998).
O sucesso dessa espécie na colonização dessee de outros reservatórios da bacia do Paranápode ser explicado pela sua estratégiareprodutiva. Essa espécie produz ovospequenos (0,51 mm) que são depositados emvárias posturas durante o períodoreprodutivo. Os ovos são pelágicos(FONTENELE; PEIXOTO, 1978), e têm uma gota delipídio que ocupa quase todo o volume doovo, responsável pela sua flutuação. Aslarvas também são pelágicas (NAKATANI;
LATINI; BAUMGARTNER, G.; BAUMGARTNER, M.S.T.,1993; NAKATANI; BAUMGARTNER, G.;
BAUMGARTNER, M.S.T, 1997).
No geral, entretanto, os peixes apresentamgrande dependência da zona fluvial dosreservatórios para realizar seus eventosreprodutivos. Em Itaipu, três espéciesreproduzem essencialmente nesta zona(A. osteomystax, A. ucaylaensis e I. labrosus).Além dessas, constatou-se a presença de 18espécies com capturas relevantes durante osanos, mas que não mostraram atividadereprodutiva no reservatório. Entre essasestão as grandes migradoras como Salminusbrasiliensis, Pseudoplatystoma corruscans, P.maculatus, P. lineatus, Zungaro zungaro,Pinirampus pirinampu, Leporinus elongatus, L.obtusidens, Hemisorubim platyhrynchos, P.granulosus, Rhinelepis aspera, e Rhaphiodonvulpinus, e outras espécies como
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 127127127127127
A. valenciennesi, Schizodon altoparanae, S.borellii, Sorubim lima, Cyphocharax modestus e C.nagelii, que, embora não conhecidas comograndes migradoras (VAZZOLER, 1996), devemrequerer ambiente lótico para efetivar areprodução.
Hypophthalmus edentatus, espécie de hábitospelágicos, planctófaga, com produção degrande quantidade de ovos pequenosdepositados em vários lotes, e desova noambiente represado, parecia destinada aosucesso no reservatório. Nos primeiros anosfigurou entre as mais abundantes na pescacomercial e experimental (AGOSTINHO;
BORGHETTI; VAZZOLER; GOMES, 1994; AGOSTINHO;
JÚLIO JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994), tendo, noentanto, sua captura notavelmente reduzidanos últimos anos. Embora o fato possa estarassociado ao final da fase heterotrófica,devem-se ressaltar a pressão de predaçãoimposta pela corvina P.squamosissimus sobre seusjovens (AGOSTINHO; JÚLIO
JUNIOR, 1996; HAHN;
AGOSTINHO; GOITEIN, 1997) ea sobrepesca (AGOSTINHO;
THOMAZ; MINTE-VERA;
WINEMILLER, 2000).
A concomitância na quedadessa espécie com outraque na fase jovem temdieta similar (A.osteomystax), que não épredada pela corvina e nãotem relevância na pesca,sugere que essa queda naabundância esteja maisassociada à disponibilidade
de alimento apropriado (ABUJANRA;
AGOSTINHO, 2002). Entretanto, é provável queuma interação de fatores seja responsávelpela depleção em seus estoques (AMBRÓSIO;
AGOSTINHO; GOMES; OKADA, 2001).
Embora os efeitos dos represamentos sobre ariqueza de espécies não tenha ainda sidosatisfatoriamente estudados em riosneotropicais, os levantamentos disponíveismostram que há um aumento no número deespécies nos primeiros anos após oenchimento. Comparações entre o númerode espécies aferido antes e após orepresamento de quatro reservatórios dabacia do rio Paraná (teste t para amostraspareadas, aplicado aos dados previamentelog transformados) revelaram que essenúmero é significativamente maior nos doisanos subseqüentes ao represamento(Figura 4.9).
Reservatórios
20
30
40
50
60
70
80
Rosana Três Irmãos Jordão Corumba
pré-represamento
Pós-represamento
Riq
ueza
de
esp
éci
es
Figura 4.9 - Variações na riqueza de espécies antes e após 2 anos daformação de quatro reservatórios da bacia do rio Paraná (Fonte:
, 1999).AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI
128 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Cabe ressaltar, entretanto, que a aplicaçãoda mesma estratégia de amostragem nasfases rio e reservatório pode levar asubestimativas no número de espécies naprimeira. Há que se considerar que orepresamento, nos primeiros anos, acolhetanto as espécies tipicamente fluviaisquanto aquelas de lagoas e riachos da áreaalagada ou de suas imediações.
De qualquer maneira, o número de espéciespresentes na área recém-represada não deveser muito inferior àquele representado pelasomatória das espécies dos ambientesalagados. Balon (1973) sugere padrãosimilar para o reservatório de Kariba,enfatizando, entretanto, que a riqueza tendea cair no final da fase heterotrófica.
Já a diversidade específica, cujo valordepende do número de espécies e daproporção de indivíduosentre elas, tende a cair jános primeiros anos, comodecorrência daextraordinária abundânciade algumas espécies(elevada dominância) queencontram farto recursoalimentar no ambienterepresado e têm elevadacapacidade reprodutiva(Figura 4.10).
Passada a faseheterotrófica, sãoesperadas reduções nariqueza e na diversidadeespecífica. Comparaçõesentre as faunas de peixes
de dois reservatórios do rio Iguaçu, comidades distintas, fornecem indicações sobreisso. Segredo e Foz do Areia sãoreservatórios contíguos no rio Iguaçu, sendoque o remanso do primeiro alcança abarragem do segundo. Supõe-se que aictiofauna original do trecho do rio ocupadopor eles tenha sido similar, e que asdiferenças constatadas entre as amostras depeixes dos dois ambientes decorram dasdiferenças em suas idades (1 ano e 14 anos,respectivamente, na época em que o estudofoi realizado).
Assim, valores significativamente menoresde riqueza de espécies (H de Kruskal-Wallis=3,97; P=0,046), equitabilidade(H=3,85; P=0,049) e, conseqüentemente, doíndice de Shannon-Wienner, observados noreservatório mais antigo, devem refletir oprocesso de perda de diversidade com o
2,0
2,4
2,8
3,2
Pré-represamento Pós(ano I) Pós(ano II)
(30; 0,66)
(35; 0,58)
(30; 0,43)
Fases
Div
ers
ida
de
de
Sh
an
no
n(H
’)
Fig. 4.10 - Variações no índice de diversidade de Shannon (H') nafase de pré-represamento e nos dois anos após o represamentodo reservatório de Jordão (números entre parênteses indicam ariqueza de espécies e equitabilidade; Modificado de
, 2002).UEM-
NUPÉLIA-COPEL
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 129129129129129
envelhecimento do reservatório (Figura4.11). Esses dados indicam ainda diferençasna intensidade dessas perdas, sendo elasmais acentuadas na zona lacustre.
Com o objetivo de avaliar as variaçõestemporais na diversidade,considerando-se os distintoshábitats ao longo dereservatórios, foramanalisados padrões dediversidade β de amostrasobtidas durante sete anos emtrês regiões do reservatório deItaipu, através de uma Análisede Correspondência comremoção do efeito de arco(DCA).
A diversidade β éessencialmente uma medida dequão diferentes (ou similares)um conjunto de hábitats ouamostras são em termos desuas espécies e abundâncias.Assim, quanto menos espéciesas diferentes assembléias ouposições no gradientepartilharem, maior será adiversidade β (MAGURRAN,1988).
Os dois primeiros eixosmostraram que a variânciaanual foi substancialmentemaior que a variância entre aszonas do reservatório,sugerindo que o padrão dediversidade β para oreservatório de Itaipu varia
principalmente ao longo do ano (Figura 4.12;AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999). A DCA revelou ainda que asdiferenças entre as zonas lacustre, transição efluvial tendem a aumentar com a idade doreservatório (exceto 1997).
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Fluvial Transição Lacustre
(29; 0,53) (29; 0,48)
(25; 0,46)
(22; 0,33)
Zonas
Div
ers
idade
de
Shannon
(H’)
Figura 4.11 - Valores do índice de diversidade de Shannon paraas comunidades de peixes dos reservatórios de Segredo (1ano) e Foz do Areia (14 anos), considerando a zonação.(número entre parênteses: riqueza e equitabilidade;Fonte:
, 1999)AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI
(35; 0,50)
(28; 0,38)
Segredo
Foz do Areia
L
F
TL
F
T L
F
T
L
F
TL
FT
L
F
T
L
FT
83
84
85
86
87
88
97
DCA 1
DC
A2
Fig. 4.12 - Escores das zonas/anos do reservatório de Itaipuderivados de uma Análise de Correspondência comremoção do efeito do arco (DCA; L=Lacustre; T=Transição;F=Fluvial; 83-87 indicam os anos de coleta; Fonte
, 1999).AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI
130 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Conclui-se, portanto, que emum grande reservatório, comoo de Itaipu, há uma tendênciade redução no número deespécies partilhadas entre asdiferentes zonas ao longo dotempo, conforme tambémapontado por Oliveira, Goularte Minte-Vera (2004).
A dispersão das espécies aolongo dos eixos 1 e 2 da DCA,realizada para o reservatóriode Itaipu (Figura 4.13), indicaque as espécies migradoras delongas distâncias e de grandeporte (Ls > 50 cm)apresentaram os seus ótimos(máximas abundâncias) somente nos anosque sucederam a formação da barragem. Aocontrário, as assembléias nos anos maisrecentes são dominadas por espéciessedentárias e de porte médio (Ls =20-50 cm).
A redução no comprimento médio dosindivíduos que compõem a comunidade depeixes, pelas implicações que tem narentabilidade da pesca, é o aspecto maisnotável em relação às alterações naictiofauna. Esse decréscimo no tamanhomédio tem sido relatado por diversosautores (ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ, 1995;AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ, 1995; PETRERE
JUNIOR, 1996; BENEDITO-CECÍLIO; AGOSTINHO;
JÚLIO JÚNIOR; PAVANELLI, 1997).
A depleção nos estoques de espécies degrande porte, geralmente com hábitosmigradores e piscívoros, tem impactosconsideráveis, não tanto sobre o rendimento
pesqueiro, mas principalmente nalucratividade e nas estratégias de pesca(AGOSTINHO; GOMES, 2005). A Figura 4.14mostra a composição do pescadodesembarcado pela pesca artesanal, antes eapós a formação do reservatório de Itaipu.As oito espécies mais importantes naspescarias antes do represamentodesenvolvem grandes migrações, seisalcançam comprimentos superiores a ummetro, e seis são caracteristicamentepiscívoras. São, ainda hoje, consideradospeixes de excepcional valor comercial, cujospreços oscilam entre duas e quatro vezes omaior preço praticado pelo pescado maiscomercializado no reservatório de Itaipu(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994).
A análise dos dados da pesca experimentalconfirma essa tendência de reduçãogradativa do tamanho dos peixes com otempo. Uma análise de correlação de Pearson
DCA 1
l
l
l
m
mm
m
m
m
m
m
s
s
s
s
l
l
ll l
ll
lll m
m
m
m
mm
m
m
m
m
m
m
m
mm
m
m
m
m
m
mm
m
m
m
m
m
m
m
mm
m
m
mm
m
mm
m
m
m m
ss
ss
s
s
s
s
s
ss
s
DC
A2
s
s
m
m
mm
Figura 4.13 - Escores das espécies derivados de uma DCA obtidapara o reservatórios de Itaipu. (s = espécies de pequenoporte, Ls < 20 cm; m = especies de porte médio, Ls = 20-50cm; l= espécies de grande porte, Ls > 50 cm; Fonte:
, 1999).AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI
Migradores de longa distânciaMigradores de curta distânciaSedentáriosDesconhecidos
Gradiente temporal
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 131131131131131
entre a freqüência das classes detamanho e a idade doreservatório de Itaipu (entre1983 e 1997), revela que afreqüência de indivíduosmenores tem correlaçãopositiva com o tempo decorridodo fechamento das comportas.As classes de tamanho maisfreqüentes no período (entre 15e 30 cm) e as maiores (40 a 50cm) estiveram negativamentecorrelacionadas com esse tempo(Figura 4.15).
A abundância de peixes, aexemplo da diversidade e dotamanho dos peixes, tambémmuda após o represamento.Comparações entre os valoresda captura por unidade deesforço, obtidos antes e até doisanos após o represamento, erealizadas com a aplicação doteste t para amostras pareadas(previamente logtransformados), revelaram,para quatro reservatórios, umincremento significativo naabundância de indivíduos apóso represamento (t=6.72;P=0,0067) – Figura 4.16.
Essa tendência, esperada nosprimeiros anos em razão dogrande aporte de nutrientes e da elevação daprodutividade primária, torna-se maisacentuada quando a formação doreservatório simula uma grande cheia(enchimento durante a quadra reprodutiva
que assegure um bom suprimento alimentarpara os jovens), especialmente se o segmentoda bacia comporta uma fauna relevante deespécies migradoras, como o caso doreservatório de Corumbá.
*Z. jahu*P.mesopotamicus
*S. brasiliensis*P.corruscans
*P.lineatus*P.fasciatus
*B.orbignyanus*P.pirinampus
S.borelliiH.edentatus
P.squamosimusP.granulosus
R.asperaP.maculatus
H.malabaricus*R.vulpinus
I.labrosus
0 10 20 30 40
(Fr)
1977
0 10 20 30 40
(Fr)
0 10 20 30 40(Fr)
1987 1997
Figura 4.14 - Composição do pescado desembarcado na pescaprofissional do reservatório de Itaipu, antes (1977) e após orepresamento (1987 e 1997). Espécies grafadas em negritosão grandes migradoras, * indicam aquelas que alcançamcomprimentos superiores a a 60,0 cm (Fonte:
, 2003).AGOSTINHO;
GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR
Classes de Comprimento Padrão (cm)
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
0- 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50
Cor
rela
ção
Figura 4.15 - Coeficientes de correlação de Pearson entre asabundancias de peixes e a idade do reservatório de Itaipu(1983-1997) para diferentes classes de comprimento(Fonte:
, 1999).AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI
132 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
O elevado rendimento de peixesem reservatórios tende, entretanto,a reduzir com o tempo e dependedas características físicas dessesambientes. Uma análise deregressão múltipla aplicada aosvalores de CPUE (variável respostalog transformada) obtidos em novereservatórios (Itaipu, Segredo,Areia, Corumbá, Rosana, TrêsIrmãos, Promissão, Ibitinga, NovaAvanhandava) de diferentes áreas(8 a 1.350 km2, log transformadas),idades (1 a 23 anos, raiz quadrada) etempo de residência (1,2 a 118 dias;raiz quadrada), revelou que as trêsvariáveis explicam 88% da variaçãoobservada na CPUE (R2). A hipótese conjuntade que que pelo menos um coeficienteparcial fosse igual a zero foi rejeitada(F=12,25; gl=3,5; P=0,010).
Os coeficientes parciais (padronizados)obtidos para idade do reservatório e tempode residência foram significativos e iguais a–0,493 (t=2,85; P=0,036) e 0,576 (t=3,65;P=0,015), respectivamente. O coeficienteparcial da área, igual a –3,81, não foisignificativo, considerando um nível de 5%(t=-2,202; P=0,079).
Embora devam ser ressaltadas as restriçõesimpostas pelo baixo número dereservatórios analisados, fato que leva aconsiderar esses dados como preliminares,eles revelam que reservatórios com altostempos de residência apresentam maiorabundância de peixes, o oposto sendoverificado para aqueles antigos e commaior área.
Além disso, a análise das variações da CPUEno período que se seguiu à formação doreservatório de Itaipu revela tendênciasdistintas de variação conforme a zonaconsiderada desse ambiente (Figura 4.17).
No terço superior (zona fluvial), constatou-seum decréscimo acentuado nos primeiros anosapós o represamento, seguido de um períodode grandes oscilações e tendências deincremento no último ano. Na zona detransição, as capturas em número oscilaramem torno de um valor médio, com leveincremento a partir do segundo ano. Ascapturas em peso, entretanto, decresceram apartir do terceiro ano e elevaram-se noúltimo. Na zona lacustre, constatou-se umdecréscimo contínuo desde o represamento,tanto em número (de 285 para 134 ind./1.000m2 de rede/24h) quanto em peso (de 80,4para 20,7 kg/1.000m2 rede/24h).
Na fase de enchimento e períodosimediatamente seguintes, a incorporação da
Reservatórios
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Rosana Três Irmãos Jordão Corumba
Antes
Depois
CP
UE
(núm
ero
sde
indiv
íduos)
Fig. 4.16. Variações na captura por unidade de esforço(indivíduos por 1000m de redes em 24h) antes e apósa formação de quatro reservatórios da bacia do rioParaná
2
(Fonte:1999).AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES;
THOMAZ; SUZUKI;
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 133133133133133
matéria orgânica terrestre ao sistemaaquático eleva de modo extraordinárioa disponibilidade de alimento,especialmente para espécies depequeno porte com hábitos insetívoro,herbívoro e onívoro e, comodecorrência da proliferação dessas, depiscívoros. Essa disponibilidade tendea reduzir-se conforme os processos demineralização da matéria orgânicaprogridem, os nutrientes são exauridosou carreados para jusante.
A riqueza de nutrientes e a elevadaprodutividade primária asseguramelevada produtividade secundária porum período maior, especialmente paraos peixes planctófagos (TUNDISI;
MATSUMURA-TUNDISI; CALIJURI, c1993).Também o aumento nadisponibilidade de substrato para odesenvolvimento do perifiton(alagamento de vegetação arbórea econstruções feitas pelo homem) tornaesse recurso altamente disponível paraos peixes iliófagos (PETRERE JUNIOR,1996; AGOSTINHO; GOMES, 1998).
Quedas no rendimento de espécies comesse hábito alimentar têm sido atribuídas àdecomposição de troncos e galhos noreservatório de Itaipu (AGOSTINHO; VAZZOLER;
GOMES; OKADA, 1993; GOMES; AGOSTINHO, 1997).
Em relação à estratégia alimentar, osreservatórios tendem a favorecer as espéciescom maior plasticidade na dieta e que nãoapresentem restrições relevantes nas demaisestratégias de vida. A elevada abundância dealimento disponível nas fases iniciais dos
reservatórios pode ser avaliada pelaquantidade de alimento consumido emrelação à fase anterior ao represamento.
Uma avaliação nesse sentido foi realizadapara os reservatórios de Corumbá e Jordão, apartir dos resíduos da regressão entre osdados log-transformados do peso dosestômagos e peso total de amostras obtidasantes e após a formação desses reservatórios(Figura 4.18).
83 84 85 86 87 88 89 97anos
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
CP
UE
(pe
so)
83 84 85 86 87 88 89 97anos
Zona fluvial(Guaíra)
Zona de transição(Santa Helena)
Zona lacustre(Fóz)
Figura 4.17 - Variações na captura por 1000m deredes de espera por 24h (número de indivíduos oupeso, em kg) na pesca experimental realizada noreservatório de Itaipu
2
(Fonte:, 1999).
AGOSTINHO;MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI
CP
UE
(nú
me
ro)
CP
UE
(nú
me
ro)
CP
UE
(nú
me
ro)
CP
UE
(pe
so)
CP
UE
( pe
so)
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
83 84 85 86 87 88 89 97anos
134 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Análises de variância aplicadas aesses dados revelaram que o pesodos estômagos e, portanto, a tomadade alimento, aumentousignificativamente após orepresamento, tanto no reservatóriode Corumbá (F=7,46; P=0,001),quanto no de Jordão (F=389,72;P=0,001).
A análise das proporções daabundância das categorias tróficasem seis reservatórios de diferentessub-bacias (Corumbá, Jordão, TrêsIrmãos, Rosana, Itaipu e Tucurui),realizada antes e nos dois anosimediatamente após o represamento,não permitiu definir um padrãoúnico de ocupação pelas diferentesguildas, exceto pela redução naabundância dos detritívoros-iliófagos, grupo dominante em todosos sistemas fluviais em que essesreservatórios foram construídos(LEITE, 1993; AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE
JUNIOR, 1994; PETRERE JUNIOR, 1996; CESP, 1996).
Mesmo os detritívoros/iliófagos, comtendências de reduções substanciais após orepresamento (redução entre ½ a ¾ nessesreservatórios) tiveram uma participaçãorelevante nas capturas do reservatório deJordão (antes: 26,4%; após: 40,3%).
Os zooplanctívoros, presentes na fase rio dedois deles, apresentaram tendências deocupação distintas, sendo a guilda maisabundante em Itaipu (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR;
PETRERE JUNIOR, 1994), porém a menosimportante em Rosana (CESP, 1996).
Os herbívoros tiveram marcante incrementona participação (CPUE-número) nos doisreservatórios em que a guilda eraimportante antes do represamento, ou seja,os reservatórios de Corumbá (antes: 13,2%;após: 42,2%) e de Jordão (antes: 31,5%; após:46,7%). Resultados semelhantes foramregistrados para o reservatório de Curuá-Una, na bacia Amazônica (FERREIRA, 1984b).
Já nos reservatórios em que a participaçãoanterior dessa categoria trófica era baixa suacontribuição nas capturas totais não sealterou nem mesmo caiu. Esse foi o caso dosreservatórios de Três Irmãos (antes: 1,7%;após: 0,3%), Tucuruí (antes: 4,0%; após: 2,0%),
Figura 4.18 - Variações no peso dos estômagos depeixes antes e após o represamento, estimado combase nos resíduos derivados da regressão linearentre os logarítimos dos pesos de estômago e total(Fonte:
, 1999).AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES;
THOMAZ; SUZUKI
-0,12
-0,09
-0,06
-0,03
0,00
0,03
0,06
antes depois
Reservatório de Corumbá
Fase
-0,14
-0,10
-0,06
-0,02
0,02
0,06
0,10
0,14
pré-represamento pós (ano I) pós (ano II)
Reservatório de Jordão
Fase
Re
síd
uo
sR
esí
duos
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 135135135135135
Rosana (antes: 2,7%; após: 2,6%) e Itaipu(antes: 2,0%; após: 3,0%).
Mesmo o esperado incremento de piscívoroslogo após o represamento não é umfenômeno com tendência generalizada.Ocorreu em Tucuruí (antes: 16,7%; após:46,0%), Corumbá (antes: 10,3%; após: 12,7%)e Rosana (antes: 21,9%; após: 28,0%). Já umatendência oposta foi observada em Itaipu(antes: 26,7%; após: 19,2%) e Três Irmãos(antes: 32,5%; após: 29,6%).
Os resultados indicam que a estrutura tróficanos primeiros anos do represamento, tidoscomo decisivos no processo de colonizaçãoposterior (RODRÍGUEZ RUIZ, 1998), parecedepender (i) da presença de elementos daguilda pré-adaptados às condições lacustres(eurióicas) e com grande plasticidade nasestratégias alimentares (eurífagas) ereprodutivas; (ii) do tamanho dos estoquesque ficam retidos acima da barragem.
Isso parece mais decisivo sobre o processo deocupação que a própria disponibilidade deum dado recurso alimentar. A elevadabiomassa de plâncton, especialmente na faseheterotrófica, não tem sido utilizada porpeixes adultos nos grandes reservatórios doalto rio Paraná, em razão da inexistência deespécies pré-adaptadas às condiçõespelágicas (GOMES; MIRANDA, 2001). Mesmo noreservatório de Rosana, onde ocorre umaespécie zooplanctívora-filtradora, esta nãoteve sua ocupação bem-sucedida,provavelmente pelo fato de o estoque retidona barragem não ter alcançado os limiaresdemográficos críticos para que a populaçãofosse viabilizada.
O sucesso dos herbívoros em algunsreservatórios esteve, aparentemente,relacionado à sua importância no sistemafluvial. Já os piscívoros, tornaram-separticularmente abundantes emreservatórios de bacias em que espécies pré-adaptadas às condições lacustres eramabundantes, como Cichla sp. e Plagioscion sp.,em Tucuruí (LEITE, 1993; PETRERE JUNIOR,1996).
Em reservatórios mais antigos, acomunidade de peixes parece sustentadaprincipalmente por recursos de origemautóctone (aquática), apresentando tambémmaior dependência das regiões litorâneaspara a obtenção desses recursos (ARAÚJO-LIMA;
AGOSTINHO; FABRÉ, 1995; HOFLING; FERREIRA;
RIBEIRO NETO; BRUNINI, 2000; SMITH; PEREIRA;
ESPÍNDOLA; ROCHA, 2003). Agostinho eZalewski (1995), analisando aspectos tróficosdo reservatório de Itaipu após quatro anosde sua formação, estimaram que mais de 70%da biomassa de peixes era composta porespécies com dieta composta de itensautóctones (plâncton, bentos e peixes), 25%se alimentavam de detritos de origem mistae apenas 5% utilizavam alimento de origemecotonal (folhas, frutos, insetos terrestres).
Essa tendência parece acentuar-se com otempo, como demonstram os resultadosobtidos por Hahn, Agostinho, Gomes e Bini(1998) e mostrados na Figura 4.19. Para oreservatório como um todo, as espéciesinsetívoras, piscívoras e planctófagasconstituíram a base das capturas nos últimosanos. Esses autores ressaltam que taismudanças temporais apresentam variaçõesconforme a zona do reservatório considerada.
136 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Assim, as guildas bentófaga ea detritívora (sensu FUGI; HAHN;
AGOSTINHO, 1996)apresentaram maiorbiomassa na zona fluvial,enquanto que a planctófaga,iliófaga (sensu FUGI; HAHN;
AGOSTINHO, 1996), piscívora einsetívora foram maisimportantes nas partes maislacustres do reservatório. Asamplitudes dessas variaçõessão também distintas entre aszonas do reservatório, comflutuações poucopronunciadas já a partir do 3o
ano nas partes mais internas(lacustre e transição), eamplas ao longo de todo operíodo, no terço superior.
Amostragens realizadas no15o ano da formação doreservatório de Itaipu(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPÉLIA/ITAIPU
BINACIONAL, 1998) revelam,entretanto, acentuadoincremento de piscívoros(33% do número e 52% da biomassa) eonívoros (19,4% e 24,5%) em relação aos anosiniciais, e redução de insetívoros (9,3% e5,3%) e planctófagos (0,9% e 2,3%).
Marcante redução de planctófagos ocorreunas zonas mais internas do reservatório,onde eram mais abundantes. Ferreira(1984b), analisando a estrutura trófica doreservatório de Curuá-Una, na Amazônia,cinco anos após sua formação, relata o
predomínio dos herbívoros (42,2% dabiomassa), seguidos dos invertívoros(30,7%), piscívoros (25,5%) e detritívoros(1,4%), destacando-se as variaçõeslongitudinais nessas proporções.
Como já mencionado, no rio Iguaçu, Segredoe Foz do Areia são reservatórios contíguos,porém com idades distintas (1 e 14 anos,respectivamente, na época de estudo). Nessesreservatórios, as alterações mais relevantes
83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89Anos
0
20
40
60
80
100
83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89
Número
Biomassa
Anos
Fig. 4.19 - Variações nas proporções das categorias tróficas noreservatório de Itaipu ( , 1998).HAHN; AGOSTINHO; GOMES; BINI
Ca
teg
oria
s(%
)T
rófic
as
0
20
40
60
80
100
Ca
teg
oria
s(%
)T
rófic
as
onívoros
piscívoros
insetívoros aquáticos
insetívoros terrestres
bentófagos
iliófagos
detritívoros
herbívoros planctívoros
onívoros
piscívoros
insetívoros terrestres
bentófagos insetívoros aquáticos
iliófagos
detritívoros
planctívorosherbívoros
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 137137137137137
insetos plantas algas detrito/sedimento peixes tecameba crustáceo outros
0
10
20
30
40
50
Fre
qü
ên
cia
de
oco
rrê
nci
a
Reservatório de SegredoReservatório de Foz do Areia
Recurso de dieta
Figura 4.20 - Freqüência de ocorrência das diferentes categoriasde recursos na dieta das assembléias de peixes dosreservatórios de Segredo e Foz do Areia, rio Iguaçu (Fonte:AGOSTINHO; FERRETTI; GOMES; HAHN; SUZUKI; FUGI;ABUJANRA, 1997).
envolveram as guildas detritívora eherbívora, a primeira mais abundante emSegredo (46% x 6%) e a segunda em Foz doAreia (70% x 32%) - Agostinho, Ferretti,Gomes, Hahn, Suzuki, Fugi e Abujanra(1997).
Visando inferir sobre as alterações nadisponibilidade de alimento com a idade doreservatório, esses autores analisaram osconteúdos estomacais de todos os indivíduoscujas espécies, no ciclo de um ano,correspondessem por 97% das capturas decada um deles. Os recursos explorados pelasassembléias de peixes dos dois reservatóriosforam classificados como algas, vegetaissuperiores, tecamebas, insetos, crustáceos,outros invertebrados, peixes e detritos.
Tendo como critério a freqüência deocorrência de cada uma dessas categorias dealimento nos estômagos dos exemplarescapturados, independentemente da espécie,verificou-se que insetos e vegetais foram ositens mais amplamenteutilizados, em ambos osreservatórios (Figura 4.20).Esses recursos foram, noentanto, mais importantes noreservatório de Foz do Areia,onde 76% dos indivíduos osconsumiram (44% emSegredo).
A elevada abundância deAstyanax sp.b, uma espécieherbívora, esteve relacionadaà importância desse recursoem ambos os reservatórios,com destaque para o de Foz
do Areia. Já os insetos participaram da dietade todas as espécies, exceto H. malabaricus. Ostaxa dos insetos foram, no entanto, diferentesentre os dois reservatórios, com amplopredomínio de himenópteros no mais antigoe de coleópteros no mais recente (AGOSTINHO;
FERRETTI; GOMES; HAHN; SUZUKI; FUGI; ABUJANRA,1997).
Entre os demais recursos, os peixes ecrustáceos tiveram participação similar nosdois ambientes, enquanto algas, detrito/sedimento e tecamebas reduziramdrasticamente sua importância na dieta dospeixes no reservatório mais antigo.
Em reservatórios rasos e antigos da bacia dorio Paraná (>30 anos), os recursos maisabundantes parecem ser os detritos e insetos(ARCIFA; FROEHLICH; NORTHCOTE, 1988; ARCIFA;
MESCHIATTI, 1993; ABELHA; GOULART; PERETTI,2005), com amplo predomínio de espéciesonívoras (ARAÚJO-LIMA; AGOSTINHO; FABRÉ,1995).
138 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Jusante do Reservatório
A s características hidrológicas de um rio modelam os componentes físicos,químicos e biológicos dos ecossistemasfluviais (PETTS, c1984). Velocidade da água,variabilidade na descarga em diferentesescalas temporais, freqüência de vazõesextremas exercem um controle fundamentalsobre a natureza dos hábitats e dosorganismos presentes (NEIFF, 1990). Emsistemas naturais, onde as comunidadespresentes são resultantes de um longoprocesso evolutivo, as espécies têm seusciclos de vida fortemente associados àdinâmica do regime hidrológico (JUNK;
BAYLEY; SPARKS, 1989; NEIFF, 1990).
Os represamentos, independentemente desuas finalidades, são construídos para alterara distribuição natural das vazões no tempo eno espaço, comprometendo assim osaspectos da dinâmica dos rios que sãofundamentais para a manutenção dascaracterísticas dos ecossistemas aquáticos(WCD, 2000), incluindo a ictiofauna e seushábitats.
Embora o controle da vazão, incluindo aépoca, freqüência e a intensidade dos pulsos,seja a principal fonte de impacto no trecho ajusante de um reservatório, outras fontes sãotambém relevantes, com destaque para aretenção de sedimentos e nutrientes, o
A origem do detrito não está clara, masMozeto, Nogueira e Esteves (1988)encontraram que, na represa do Lobo, ele écomposto principalmente de carbono demacrófitas e input dos tributários. ParaTundisi, Matsumura-Tundisi e Calijuri(c1993) as macrófitas são, de longe, oalimento mais importante para herbívoros edetritívoros em reservatórios da Amazônia.
A produtividade e a estrutura dascomunidades em reservatórios mais antigosparecem ser afetadas pelo número e tipo depredadores. Paiva, Petrere Junior, Petenate,Nepomuceno e Vasconcelos (1994),comparando 17 reservatórios do Nordeste doBrasil, demonstram que aqueles com doispredadores apresentam maior rendimentoque os com um número diferente desse,atribuindo tal resultado à competição porrecursos pelas presas e entre os predadores.
Santos, Maia-Barbosa, Vieira e López (1994)analisaram o impacto da presença de duasespécies de piscívoros introduzidos (otucunaré Cichla ocellaris e a corvina P.squamosissimus) em reservatórios do rioGrande, bacia do rio Paraná, sobre acomposição do zooplâncton e de peixesforrageiros, concluindo que a presença deambas promove o incremento na densidadedo primeiro e redução no segundo.
Essas duas espécies estão amplamentedispersas na bacia do rio Paraná (AGOSTINHO,1994). Plagioscion squamosissimus é o predadormais abundante nos grandes reservatóriosdessa bacia, enquanto C. ocellaris (=C.monoculus) tem seu sucesso determinado pelodesenvolvimento das zonas litorâneas e
estabilidade no nível da água, visto queutiliza as áreas rasas marginais para areprodução e cuidado com a prole (WILLIAMS;
WINEMILLER; TAPHORN; BALBAS, 1998).
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 139139139139139
bloqueio de rotas migratóriasde peixes e a qualidade daágua liberada.
A regulação no regime decheias nos trechos a jusante éuma decorrência esperada dequalquer represamento (WARD;
STANFORD, 1995). Assim, alémde alguma redução nadescarga, os represamentosafetam o hidrográfico natural,atenuando e retardando ospicos de cheias (Figura 4.21).
Na atenuação da intensidadedas cheias, com as vazõesmínimas sendo elevadas e asmáximas reduzidas, ocorrem perdassignificativas de hábitats, especialmente seo segmento a jusante contiver uma planíciede inundação (Figura 4.21). Nesse caso,extensas áreas estarão alagadas durante aseca, perdendo sua dinâmica sazonal,enquanto outras não serão alagadas(redução da vazão durante a época decheias), reduzindo a conectividade do riocom a sua várzea (WARD; STANDFORD, 1995).
Sazonalidade e conectividade são eventosfundamentais para a integridade biológicadas planícies de inundação (ver Box 4.1). Aredução das cheias nesses ambientes afeta aictiofauna, tanto direta (migração, desova edesenvolvimento inicial), quantoindiretamente (produtividade de áreasriparianas, planícies de inundação e deltas).
As comunidades vegetais riparianas,responsáveis por aportes importantes de
alimento, locais de abrigo e nutrientes, sãocontroladas pela interação cheias-sedimentos e muitas espécies dependem deaqüíferos rasos, que são recarregadossazonalmente pelas cheias, para ocrescimento e germinação.
Em geral, a vegetação mostra marcantesgradientes transversais na composiçãoespecífica relacionados ao grau de umidadesazonal a que está sujeita. Alterações nosníveis máximos e mínimos impostos pelosrepresamentos e os pulsos artificiaisgerados por liberações de água em épocaserradas, em termos ecológicos, sãoreconhecidos na literatura comoresponsáveis pela destruição de florestasriparias em diferentes partes do mundo(WCD, 2000).
A atenuação do hidrográfico implica severaperda de hábitats nas planícies de
1
2
3
4
5
6
J F M A M J J A S O N D
Fase I (1964 - 1967)
Fase II (1969 - 1986)
Fase III (1988 - 1997)
Fase IV (1999 - 2001)
Nív
elhi
drom
étric
o(m
)
Meses
Figura 4.21 - Médias mensais nos níveis hidrométricos do rioParaná na Estação Hidrométrica de Porto São José. FaseI=antes da UHE Jupiá; Fase II=antes da UHE Rosana; FaseIII=antes da UHE Porto Primavera; Fase IV=após UHEPorto Primavera (Dados fornecidos por ).DENAEE
140 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
inundação, com impactos sobre aprodutividade e a diversidade de peixes. Aperda de conectividade é especialmentedeletéria, visto que impede o acesso daslarvas às lagoas marginais, afetando orecrutamento (AGOSTINHO; VAZZOLER; GOMES;
OKADA, 1993).
Como as variações sazonais no nível da águaanexam grandes extensões do ambienteterrestre ao sistema fluvial (zonas alagáveis),elas promovem notáveis flutuaçõesambientais que influenciam processosbiológicos e a estrutura e funcionamento dasassembléias de peixes. Assim, as flutuaçõessazonais determinam, em graus variáveis, adisponibilidade de abrigo e alimento,reprodução, crescimento, mortalidade,competição, predação e parasitismo.
Os estudos conduzidos na planície deinundação do trecho do alto rio Paranácompreendido entre os reservatórios dePorto Primavera e Itaipu, com uma extensãoaproximada de 230 km de trecho livre, têmdemonstrado que o fator ambiental de maiorrelevância no controle da reprodução dospeixes e recrutamento de novos indivíduosaos estoques explorados, inclusive os doreservatório de Itaipu, é o regime de cheias.
Isso pode ser observado não apenas pelo altograu de sincronia entre as cheias e osprincipais eventos do ciclo reprodutivo(maturação dos ovócitos, migração, desova edesenvolvimento de juvenis), mas tambémpela alta correlação entre o sucesso derecrutamento e a época, duração e amplitudedas cheias (AGOSTINHO, 1994; AGOSTINHO; JÚLIO
BoBoBoBoBox 4.1x 4.1x 4.1x 4.1x 4.1
Assembléias de peixes de lagoas em planícies de inundação tropical: explorando o papel daconectividade
PETRY, A.C.; AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C. Fishassemblages of tropical floodplain lagoons: exploringthe role of connectivity in a dry year. NeotropicalIchthyology, São Paulo, v. 1, no. 2, p. 111-119, Oct./Dec. 2003.
“A irregularidade das chuvas e as reduções pronunciadas no nível hidrométrico alteraram drasticamentea conectividade hidrológica dos ambientes lênticos da planície de inundação do alto rio Paraná em 2000. Opresente trabalho teve como objetivo examinar os padrões espaciais e temporais dos atributos e da estruturadas assembléias de peixes em relação a variáveis limnológicas associadas à conectividade hidrológica. Ospeixes foram coletados em arrastos trimestrais, na área marginal de 15 lagoas, pertencentes a duas categoriasde biótopos (lagoas conectadas e desconectadas). Variações na composição das assembléias refletiram o graude conectividade hidrológica. Os valores dos atributos das assembléias (riqueza de espécies, densidade ebiomassa capturada) foram significativamente menores em lagoas conectadas em relação a lagoasdesconectadas. Valores significativamente elevados de riqueza de espécies e biomassa capturada foramregistrados em novembro em relação a agosto. Espécies raras tiveram os maiores efeitos nos padrões observadosna ordenação das assembléias de peixes (DCA). Padrões observados na variação dos atributos das assembléiasforam diretamente correlacionados a fatores relacionados à conectividade hidrológica, com a profundidade,os recursos (zooplâncton, clorofila a) e os nutrientes (fósforo total).”
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 141141141141141
JÚNIOR; PETRERE JUNIOR, 1994; GOMES;
AGOSTINHO, 1997; AGOSTINHO; GOMES; VERÍSSIMO;
OKADA, 2004).
As espécies parecem, entretanto, responderde forma diferenciada ao regime de cheias. Ograu de dependência da elevação de nível dorio é menor nas espécies sedentárias quecuidam da prole do que nos grandesmigradores que buscam os trechos altos dabacia para a desova e cujos jovens habitam asáreas alagadas durante as fases iniciais dedesenvolvimento (AGOSTINHO; GOMES;
ZALEWSKI, 2001).
Os estudos conduzidos na planície deinundação do alto rio Paraná, abaixo dePorto Primavera, demonstram que aabundância de indivíduos de espéciessedentárias em reprodução foi maior emanos secos (1986-87; Figura 4.22), enquanto ade migradoras o foi nos anos de maiorescheias (1992-93). Migradores de curtadistância mostraram tendênciasintermediárias. Contudo, para qualquer
dessas estratégias, a abundância de juvenisfoi baixa em anos sem cheias (1986-87).
Os resultados de um monitoramento dabiomassa de peixes com diferentesestratégias reprodutivas realizado em trêslagoas marginais da planície de inundaçãodo rio Paraná fornecem algumas indicaçõessobre os impactos da regulação de vazão porreservatórios. As amostras foram realizadascom arrastes, no sexto mês após o picoreprodutivo das principais espécies. Oshábitats monitorados são ocupados porjovens do ano de grandes peixes migradorese adultos e juvenis de espécies com outrasestratégias.
Como a duração da cheia foi o principal fatorligado ao recrutamento de peixes nessetrecho (GOMES; AGOSTINHO, 1997), esse atributodo regime de cheias foi empregado comovariável explanatória, sendo consideradocomo duração das cheias o número de diascompreendido entre setembro e março, emque o nível da água superou 3,5 m (221,5 m
0
15
30
45
0
0.4
0.8
1.2
CP
UE
*10
00
0
2
4
6
86-87 87-88 92-930
15
30
45
86-87 87-88 92-930369
1215
Período (anos)
a
b
Migratório curtoSedentários Migratório longo
86-87 87-88 92-930369
1215 Migratório curtoSedentários Migratório longo
Figura 4.22 - Variação anual na abundância (CPUE=captura por unidade de esforço) de (a) adultos emreprodução e (b) peixes juvenis de acordo com a estratégia reprodutiva, no alto rio Paraná,durante anos com diferentes níveis de cheias. Índices Hidrométricos Anuais: 1986-87=0mm;1987-88=199mm; 1992-93=592mm (Fonte: , 2001).AGOSTINHO; GOMES; ZALEWSKI
CP
UE
* 10
00
CP
UE
*10
00
CP
UE
*10
00
CP
UE
*10
00
CP
UE
*10
00
142 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
NM CP FI ML MC NI
Biomassa (Kg/10m )2
Estratégias reprodutivas
0
0,5
1
NM CP FI ML MC NI
Biomassa (Kg/10m )2
Estratégias reprodutivasNM CP FI ML MC NI
2001
NM CP FI ML MC NI0
0,5
2000
199919970.5
1
0
1996
0.5
11995
NM CP FI ML MC NI0
Biomassa (Kg/10m )2
1
70
100
130
160
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
40
10
Biomassa (Kg/10m )2
0.5
1
0
Biomassa (Kg/10m )2
Estratégias reprodutivas Estratégias reprodutivas
Estratégias reprodutivas
NM CP FI ML MC NI
Estratégias reprodutivas
0
1
Biomassa (Kg/10m )2
NM CP FI ML MC NI
Estratégias reprodutivas
Biomassa (Kg/10m )2
1998
0
1
2
3
4
5
0,5
Duração de inundação (dias por ano)
Figura 4.23 - Biomassa média estimada (kg 10m ) de peixes em três lagoas do alto rio Paraná, deacordo com as estratégias reprodutivas obtidas seis meses após o pico reprodutivo dasprincipais espécies. NM = não-migradores; CP = cuidado parental; FI = fecundação interna;ML = migradores de longa distância; MC = migradores de curta distância; NI = nãoidentificado
-2
(Fonte: AGOSTINHO; GOMES; VERÍSSIMO; OKADA, 2004).
acima do nível do mar, na estaçãohidrométrica de Porto São José).
Os peixes migradores foram favorecidos porperíodos anuais de cheias superiores a 75dias, e essas espécies foram particularmentebem-sucedidas em anos em que esse períodofoi maior (ex.: 1998) – Figura 4.23.
O fechamento do reservatório de PortoPrimavera, no final de 1998, ocorreu quandoo nível do rio encontrava-se alto, em plenoperíodo de reprodução das principaisespécies de peixes (dezembro), e resultou emuma diminuição de vazão a jusante similaràs dos períodos de seca. Tal fato explica abaixa captura de peixes em 1999, a despeitoda duração do período de cheias.
Os levantamentos realizados por Sanches(2002) durante esse período revelaram altasdensidades de larvas e, portanto, uma desovabem-sucedida. As larvas, entretanto, nãopuderam acessar os hábitats da planície emrazão da falta de conectividade, fato querefletiu na biomassa da coorte.
Após o fechamento de Porto Primavera, ascheias foram extremamente raras. Em 2000, aausência de cheias pode ser atribuída àinsuficiência de chuvas, enquanto em 2001, àcomplementação do enchimento doreservatório de Porto Primavera. Nos anosem que o nível de água abaixo de PortoPrimavera é mantido artificialmente baixo,algumas estratégias, como a dos não-migradores e com cuidado parental, podem
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 143143143143143
Média Máxima Total Verão OutonoVerão-Outono
Inverno Primavera
Média 1,00Máxima 0,41 1,00Total 0,88 0,22 1,00Verão 0,03 0,59 0,23 1,00Outono 0,91* 0,02 0,93* -0,12 1,00Verão Outono- 0,84 0,34 0,97* 0,44 0,84 1,00Inverno 0,34 -0,28 0,41 -0,56 0,51 0,16 1,00Primavera 0,11 0,17 -0,05 0,30 -0,01 0,15 -0,82 1,00Recrutamento 0,50 -0,06 0,74 0,43 0,66 0,83 -0,11 0,41
Variável
Tabela 4.1 - Matriz de correlação entre as diversas variáveis relacionadas ao regime de cheiasque podem afetar o recrutamento (defasagem temporal de um ano). Média: nível médioda água; Máxima: amplitude das cheias ou nível máximo alcançado; Total: número dedias com nível da água superior a 3,5 m em um dado ano; Verão, Outono, Verão-Outono,Inverno, Primavera: número de dias com o nível da água acima de 3,5m paracada estação e ano; * correlações significativas (Fonte: , 1997)GOMES; AGOSTINHO
ser recrutadas a partir de tributários lateraisnão diretamente afetados pela barragem.Contudo, quando as cheias são ausentes porestiagens regionais, todas as estratégias sãoafetadas.
O retardamento do pico hidrológico éesperado pelo fato de a onda de cheia sepropagar mais lentamente no ambienterepresado, especialmente quando o volumede espera é elevado. Essa ocorrência,quando exacerbada, é particularmenteadversa àquelas espécies cuja desova ésincronizada pelos picos de cheias.
Gomes e Agostinho (1997) demonstram queas variações no regime de cheias no rioParaná, acima do reservatório de Itaipu, sãocríticas para o recrutamento de curimbanesse reservatório, promovendo flutuaçõesde até 39 vezes na intensidade derecrutamento. Esses autores reportam quecheias duradouras, envolvendo o verão e ooutono, correlacionam-se fortemente com orecrutamento dessa espécie (n=5; r=0,83;Tabela 4.1).
Os procedimentos operacionais na maioriados reservatórios hidrelétricos resultam emum regime de vazão altamente variável,com alterações abruptas que podem sepropagar a vários quilômetros a jusante, atéque sejam atenuadas (PETTS, 1986). Essaocorrência é mais evidente naquelesempreendimentos destinados a atenderpicos de demanda energética. Nessasocasiões ocorre a exposição parcial ou, emcasos extremos, total do leito do rio ajusante, promovendo grandes mortandades.O caráter catastrófico dessas ocorrênciasdepende da amplitude da variação, dapresença de planícies alagáveis a jusante edo relevo do leito do rio.
A ocorrência desses pulsos é regulada pelademanda de energia, podendo, portanto,variar ao longo do dia, semanalmente oupor estação do ano. Após o início daoperação da UHE Porto Primavera, porexemplo, constata-se a elevação do débitono início da noite, provocada pelo aumentoda necessidade de geração para compensar opico de consumo.
144 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,52000-2001
1987-19881993-1994
Tra
nsp
arê
nci
a(m
)
Meses
Figura 4.24 - Variações mensais na transparência da água (disco deSecchi) antes (1993-1994 e 1987-1988) e após (2000-2001) aformação do reservatório de Porto Primavera (
, 2004), no trecho do rio Paraná a jusante dabarragem.
AGOSTINHO;THOMAZ; GOMES
Fev Mar Abr Mai Jun Jlh Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
No município de Porto Rico, cerca de 40quilômetros a jusante dessa barragem, avariação de nível do rio Paraná mostradiferenças diárias de 20 cm a mais de ummetro entre o período da manhã e o início danoite (SOUZA FILHO; ROCHA; COMUNELLO;
STEVAUX, 2004). Na região do remanescentede planície alagável do rio Paraná, essasvariações isolam lagoas onde se concentramgrandes quantidades de alevinos. Em algunslocais, essas lagoas isoladas podem dessecarprecocemente, levando a grandesmortandades de larvas, alevinos e perda debiodiversidade.
Uma evidência de efeitos erosivos são osnumerosos orifícios circulares que aparecemnas margens dos rios a jusante. Esses orifíciossão decorrentes de pipping, que é provocadopor mudanças rápidas no nível da água, oque gera um gradiente hidráulico elevado naágua do lençol freático das margens. A saídadessa água remove as partículas dos locaispor onde passa e gerauma forma particular deerosão (SOUZA FILHO;
ROCHA; COMUNELLO;
STEVAUX, 2004).
A retenção de sólidos emsuspensão e nutrientes éuma característicacomum aos reservatórios- Figura 4.24 (AGOSTINHO;
THOMAZ; GOMES, 2004). Aconcentração de materialsuspenso no rio Paraná,cerca de 25km a jusanteda barragem de PortoPrimavera, mostrou uma
redução de 24,9 para 10,8 mg.l-1 após aformação desse reservatório. A menor cargade sólidos confere à água evertida outurbinada uma maior capacidade carreadoraou erosiva, facultando-lhe promoveralterações morfológicas e granulométricasnos hábitats de jusante, com conseqüênciassobre algumas espécies.
A maior transparência da água, por outrolado, pode elevar a mortalidade porpredação dos ovos e larvas de peixes.Considera-se, neste ponto, que as espécies depeixes migradoras desovam durante operíodo de chuvas e se beneficiam daturbidez da água para a proteção da prolecontra os predadores visuais (AGOSTINHO;
GOMES; SUZUKI, JÚLIO JUNIOR, c2003).
Em relação à retenção de nutrientes, osreservatórios tendem a empobrecer asáreas a jusante. Reduções da fertilidadede planícies alagáveis e deltas de rios
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 145145145145145
Estações de Amostragem
Fósf
oro
Tota
l(µ
g)
-1
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Figura 4.26 - Concentrações de fósforo total e clorofila-a ao longode um transecto no canal do rio Paraná, antes da formaçãodo reservatório de Porto Primavera (1 = 4 km abaixo doreservatório de Jupiá; 3 = próximo à cidade de Porto Epitácio;6 = 40 km abaixo do rio Paranapanema; 7 = 5 km acima doreservatório de Itaipu (Fonte:
, 1988; ,1989; , 1991;
,1991; ,1994).
TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI;HENRY; ROCHA; HINO SURHEMA/ITAIPU BINACIONAL
THOMAZ THOMAZ; ROBERTO; LANSAC-TÔHA;ESTEVES; LIMA CESP
Clo
rofi l
a-a
Fósforo total
Clorofila-a
0
10
20
30
40
50
602000-2001
P-t
ota
l(µ
g.l
)-1
1987-1988
Figura 4.25 - Variações mensais na concentração de fósforo totalantes (1987-1988) e após (2000-2001) a formação doreservatório de Porto Primavera (AGOSTINHO; THOMAZ; GOMES,2004), no trecho do rio Paraná a jusante da barragem. Aslinhas horizontais indicam as médias de cada período.
Meses
Fe
v
Ma
r
Ab
r
Ma
i
Jun
J lh
Ag
o
Se
t
Ou
t
No
v
De
z
J an
Fe
v
Ma
r
Ab
r
Ma
i
Jun
como conseqüência dessaretenção têm sido bemestudadas em alguns paísesafricanos, envolvendo nãoapenas a pesca comotambém a agricultura e adiversidade faunística (WCD,2000).
No Brasil, essa retençãotem sido pouco estudada.Informações preliminaresindicam, entretanto, que nabacia do rio Paraná, abaixodo reservatório de PortoPrimavera, a concentraçãode fósforo total mostrousensível redução após aformação dessereservatório (Figura 4.25).
Estudos realizados no rioParaná, antes da construçãode Porto Primavera,fornecem, por outro lado,importantes indícios deque os reservatórios jáexistentes naquele períodoexerciam forte controlesobre a fertilização daplanície desse rio,retirando dela nutrientesao invés de fornecer.Observou-se, por exemplo,que as concentrações de fósforo total eclorofila a na calha do rio Paraná, baixas notrecho imediatamente a jusante doreservatório de Jupiá, têm nítido incrementoao passar pela planície (Figura 4.26;AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ, 1995).
Embora parte desse incremento possadecorrer da entrada de importantes rios notrecho, o fato de a concentração de fósforocair para menos da metade nas lagoas daplanície e aumentar na calha do rio duranteos picos de cheias, corrobora essa
146 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 4.27 - Diagrama espacial da concentraçãode oxigênio (mg.l ; a) eno reservatório de Itaipu, em dezembro de1997.(Modificado de , 1999).
-1da temperatura ( C; b)
M = montante; R5 = barragem
o
PAGIORO
Estações
Dezembro
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
4,7
5,3
5,9
6,5
7,.1
7,7
M R1 R2 R3 R4 R5
Estações
Dezembro
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
M R1 R2 R3 R4 R5
20,7
21,7
22,7
23,7
24,7
25,7
26,7
27,7
28,7
29,7
Pro
fun
did
ad
e(m
)P
rofu
nd
ida
de
(m)
a
b
interpretação. É provável que após aconstrução de Porto Primavera, que isolouimportantes rios que antes traziamnutrientes para a planície, esseempobrecimento possa estar sendo aindamaior.
A qualidade da água liberada pelosreservatórios é certamente distintadaquela do rio natural, sendo determinadapelos processos limnológicos que ocorremao longo do trecho represado e, em razãode estratificações verticais, pela posição datomada d’água na barragem. Assim, osprocessos metabólicos em reservatóriosheterotróficos tendem a produzir efluentescom baixas concentrações de oxigênio ealta de amônia ou gás sulfídrico.
Já a posição da tomada d’água é altamenterelevante, dado que a maioria dosreservatórios apresenta-se, pelo menossazonalmente, estratificado. Nesses casos,as liberações superficiais tendem a atuarcomo retentoras de nutrientes eexportadoras de calor, enquanto liberaçõesde fundo podem exportar nutrientes ereter calor.
A Figura 4.27 mostra a distribuiçãoespacial dos valores de temperatura e deconcentração do oxigênio no reservatóriode Itaipu em dezembro de 1997. Nabarragem desse reservatório, a tomadad’água localiza-se a aproximadamente 30m abaixo da superfície. Variaçõeshipotéticas na posição dessa tomadad’água produzem variações térmicas deaté 9 oC e nas concentrações de oxigênioem até 3 mg.l-1.
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 147147147147147
Contudo, diferentemente de Itaipu,reservatórios heterotróficos podemapresentar camadas anóxicas até próximo àsuperfície (MATSUMURA-TUNDISI; TUNDISI;
SAGGIO; OLIVEIRA NETO; ESPÍNDOLA, 1991;AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999).
As mudanças na qualidade da água a jusantedos reservatórios podem afetar os peixes emtrês caminhos distintos, ou seja, (i) porexceder os limites de tolerância, (ii) porinibir processos biológicos como reproduçãoe alimentação, e (iii) por alterar o balançocompetitivo e as relações predador-presa(PETTS, 1986).
Mortandades massivas a jusante sãofenômenos recorrentes em muitosreservatórios durante a fase heterotrófica(trophic upsurge period), especialmentenaqueles com tomadas d’água profundas eanóxicas (PETTS, 1986; AGOSTINHO; MIRANDA;
BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999; WCD, 2000).Mudanças na composição específica sãoesperadas em razão das condições térmicasvigentes após a formação de reservatórios,com a fuga das espécies para as quais asnovas temperaturas são adversas.
Mesmo quando os adultos podem suportaras novas condições na área a jusante dasbarragens, é possível que algumas espéciestenham sua alimentação e reproduçãoinibidas. Experimentos realizados com opintado P. corruscans, uma espécie freqüentea jusante do reservatório de Itaipu, têmdemonstrado que essa espécie reduzdrasticamente a taxa de consumo alimentarem temperaturas inferiores a 20oC,
interrompendo a tomada de alimento a 18 oC(MARQUES; AGOSTINHO; SAMPAIO; AGOSTINHO,1992). Por outro lado, uma avaliação dasgônadas dos peixes a jusante do reservatóriode Itaipu, durante a quadra reprodutiva,mostrou elevadas taxas de atresia folicular,sugerindo que a falta de acesso a hábitatsadequados e as condições térmicasprevalentes levaram essas espécies areabsorverem seus gametas (AGOSTINHO;
MENDES; SUZUKI; CANZI, 1993).
A barreira física interposta pela barragemaos movimentos migratórios de peixes é oimpacto mais evidente nos represamentos,dado que geralmente resulta no acúmulo degrandes cardumes nas imediações doobstáculo e, devido à elevadavulnerabilidade à pesca, atrai grandescontingentes para a pesca ilegal.
Nos sistemas hidrográficos da América doSul, o padrão de migração predominante é odas migrações ascendentes para a reprodução(AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003).Entretanto, várias espécies da Amazônia(SANTOS; FERREIRA, 1999) e mesmo da bacia dorio Paraná (BONETTO, 1986), mostramdeslocamentos descendentes para a desova.Muitas espécies amazônicas vivem grandeparte do ano nos rios de águas claras epretas, buscando aqueles de águas brancaspara a desova (ARAÚJO-LIMA; RUFFINO, c2003;ver Capítulo 2).
O bloqueio do acesso entre as áreas dealimentação e reprodução é a ocorrênciamais freqüente e geralmente atinge asespécies grandes migradoras em seusdeslocamentos ascendentes para a
148 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
reprodução. Além disso, a área represadaoferece restrições aos deslocamentospassivos dos ovos e larvas produzidos pelofragmento populacional localizado amontante, para jusante. Essas restriçõesrelacionam-se principalmente àtransparência da água (predação de ovos elarvas), ao seu caráter lêntico (transportelento ou mesmo deposição no fundo, emgeral com menos oxigênio dissolvido) e àmortalidade durante a passagem pelaturbina ou vertedouro.
Montante do Reservatório
Os impactos dos represamentos são, em geral, menos pronunciados nossegmentos de rio acima do remanso dosreservatórios. Entretanto, a troca deindivíduos entre populações de uma região éimportante para manter suas estruturasgenéticas, especialmente quando existempopulações mais isoladas. A fragmentaçãode hábitats, fato inevitável nosrepresamentos, leva à formação demetapopulações não- naturais, acelerando aperda da heterogeneidade genética (HEDRICK;
GILPIN, c1997; AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO
JÚNIOR, c2003). Esse efeito pode ser maisimportante para espécies migradoras, pois abarragem e o trecho lêntico são, como visto,barreiras que impedem os movimentosmigratórios, influenciando, diretamente, naestrutura genética das populações. Assim, onúmero de indivíduos retido a montante éfundamental para a manutenção daheterogeneidade genética, além daintegridade de locais adequados para suaproliferação. A época do fechamento e a
posição da barragem em relação aosmovimentos e distribuição das populaçõestêm papel-chave na manutenção dabiodiversidade genética no trecho amontante.
Em bacias cuja fauna aquática sejanaturalmente fragmentada por grandesquedas d’água, os represamentos podempropiciar fantásticas misturas de fauna. Oreservatório de Itaipu, por exemplo,possibilitou, com o alagamento de SeteQuedas (Guaíra), a dispersão de pelo menos16 espécies de peixes anteriormenteconfinadas nos trechos inferiores da bacia dorio Paraná, entre as quais algumasindesejáveis à pesca, como uma piranha eduas raias (AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ,1995; AGOSTINHO; PELICICE; JÚLIO JÚNIOR, 2006).Duas das três espécies atualmentedominantes no trecho de planície a montantedo reservatório de Itaipu (GASPAR DA LUZ;
OLIVEIRA; PETRY; JÚLIO JÚNIOR; PAVANELLI; GOMES,2004) eram anteriormente confinadas nostrechos inferiores e médios desse rio.
Na barragem
Taxas elevadas de mortalidade de peixessão constatadas de forma eventual embarragens hidrelétricas. Elas decorrem dapassagem destes pelas turbinas, sua atração econfinamento no tubo de sucção durante aparada de unidades geradoras paramanutenção, sua passagem pelo vertedouroou o impacto do funcionamento deste sobrepeixes concentrados no seu canal deescoamento. Essa modalidade de impacto éanalisada no Capítulo 6.4.
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 149149149149149
Efeitos Cumulativos
Quando diversos reservatórios sãoconstruídos em um único rio, os impactoscumulativos podem induzir a drásticasreduções da fauna de peixes, podendo oprocesso de extinção ser pronunciado. Muitasbacias hidrográficas do mundo comportamatualmente múltiplos reservatórios. Estima-se que 60% das maiores bacias hidrográficasdo planeta estejam moderadas ou altamentefragmentadas por barragens (WCD, 2000). NoBrasil, a densidade de reservatórios dealguns rios da bacia do rio Paraná situa-se
entre as maiores do mundo. Assim, a calhade rios como Grande, Tietê, Paranapanema,Iguaçu e mesmo a do rio Paraná foitransformada em cascata de reservatórios.Um modelo conceitual para predizer osefeitos dos barramentos do rio Tietê sobre aqualidade da água e as assembléias defitoplâncton foi proposto por Barbosa,Padisák, Espíndola, Borics e Rocha (1999) –ver Box 4.2.
A adição de reservatórios num curso d’águaimplica aumento na perda de hábitats, nafragmentação e perda de qualidade doshábitats remanescentes, afetando os recursos,
BoBoBoBoBox 4.2.x 4.2.x 4.2.x 4.2.x 4.2.
O conceito de continuidade em cascata de reservatórios (CRCC) e suas aplicações para o rioTietê, Estado de São Paulo, Brasil
BARBOSA, F.A.R.; PADISÁK, J.; ESPÍNDOLA, E.L.G.;BORICS, G.; ROCHA, O. The cascading reservoircontinuum concept (CRCC) and its application to the riverTietê-basin, São Paulo State, Brazil. In: TUNDISI, J.G.;STRASKRABA, M. (Ed.). Theoretical reservoir ecology and itsapplications. São Carlos: International Institute of Ecology;Leiden, The Netherlands: Backhuys Publishers; Rio deJaneiro: Brazilian Academy of Sciences, 1999. p. 425-437.
“As principais mudanças na qualidade da água e nas características básicas do fitoplâncton em uma série(cascata) de 7 reservatórios no médio rio Tietê, Sudeste do Brasil, foram investigadas em fevereiro de1998 (estação chuvosa). As variáveis biologicamente não afetadas alteraram rapidamente nos reservatóriossuperiores e então permaneceram constantes, enquanto aquelas biologicamente afetadas mostraram umaresposta prolongada, que pode ser explicada apenas se a cascata for considerada como um sistema. Asmudanças no primeiro reservatório do sistema concordam com o predito no conceito de descontinuidadeserial (SDC): o contínuo do rio (RCC) é basicamente afetado. Entretanto, as mudanças nos reservatóriosa jusante tornam-se novamente contínuas e mostram que o mesmo processo se mantém operativo em todoo contínuo do rio. Portanto, um conceito de continuidade em cascata de reservatórios (CRCC) pode serproposto para a manipulação de processos ecológicos ao nível de sistema. Uma comparação dos presentesdados com aqueles registrados previamente para alguns dos reservatórios mostra um crescimento rápidona eutrofização do reservatório mais superior da cascata. Baseando-se no CRCC e no atual statusecológico e da qualidade da água da cascata Tietê, uma progressiva eutrofização a jusante pode serprevista, chamando então a atenção para urgentes necessidades de medidas restauradoras nas cabeceiras.“
150 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
a sustentabilidade e a integridade dosecossistemas. Assim, a neutralização dosimpactos de primeira ordem (físicos) nabacia incremental pode não ocorrer emrazão de um novo reservatório, podendo ascondições físicas adversas (vazão,temperatura, nutrientes, etc.) se propagarpor todo o curso do rio.
Cascatas de reservatórios, pelo efeitocumulativo da retenção de nutrientes,contribuem para a oligotrofização do riocomo um todo, com reflexos altamentenegativos na pesca. Um bomentendimento do impacto daoligotrofização sobre a pesca é dado porNey (1996) – ver Box 4.3.
BoBoBoBoBox 4.3.x 4.3.x 4.3.x 4.3.x 4.3.
Oligotrofização e suas conseqüências: efeitos da redução da carga de nutrientes na pescaem reservatórios
NEY, J.J. Oligotrophication and its discontents: effects ofreduced nutrient loading on reservoir fisheries. In:MIRANDA, L.E.; DeVRIES, D.R. (Ed.). Multidimensionalapproaches to reservoir fisheries management. Bethesda,Maryland: American Fisheries Society, 1996. p. 285-295.(American Fisheries Society Symposium, 16).
“A oligotrofização é o inverso do processo de eutrofização e pode ocorrer em reservatórios como resultadoda sedimentação de nutrientes em reservatórios a montante, ou pela operação de estações de tratamentoavançadas (ETA), de água que entram em rios. Eu examinei a resposta da pesca em reservatórios àoligotrofização, usando estudos de casos e analises de regressão da relação entre a concentração de fósforo,o principal nutriente limitante, e a produtividade pesqueira. No reservatório Smith Mountain (Virgina)e reservatório Beaver (Arkansas), localizados acima de ETAs, e no reservatório Mead (Nevada), localizadona parte superior, a oligotrofização foi acompanhada por reduções de mais de 50% na biomassa instantânea(standing stock) de peixes presa planctívoros, e reduções no crescimento, biomassa instantânea ourendimento de piscívoros na pesca esportiva. O fitoplâncton e a produtividade total de peixes foramaltamente correlacionados (r = 0,7-0,9) com a concentração de fósforo total de lagos e reservatórios,aumentando linearmente em uma grande variação de concentrações. Status de eutrofização, em termosde clorofila a e transparência da água, é alcançado em reservatórios da região temperada quando aconcentração de fósforo ultrapassa 40 ug/l, mas a biomassa de peixes esportivos não alcança pico emconcentrações inferiores a 100 ug/l, com potencial para gerar conflito entre os diversos usuários dereservatórios. Medidas mitigadoras para restaurar a pesca esportiva em reservatórios após a oligotrofizaçãoincluem a introdução de peixes e a fertilização dos mesmos, sendo, o sucesso de ambos, duvidoso. Aprevenção da oligotrofização através da manipulação top-down das cadeias alimentares tem potencialpara promover lagos com águas limpas e boa pesca, mas, provavelmente não será efetiva em grandesrepresamentos eutróficos. Uma abordagem mais promissora é prevenir a indesejável oligotrofização atravésde tomada de decisão informativa. Cientistas da pesca devem colaborar com limnólogos para predizer osimpactos das reduções da carga de nutrientes na pesca de reservatórios e, então, atuar como educadorese defensores de seus recursos.”
Impactos dos Represamentos: alterações ictiofaunísticas e colonização 151151151151151
Considerações Finais
Os represamentos alteram profundamentea dinâmica da água, a quantidade equalidade de hábitats, os processos deprodução primária e, conseqüentemente, aestrutura das comunidades naturais dossistemas fluviais em que se inserem. Combase no exposto, vimos que as modificaçõesrelevantes são promovidas na composição daictiofauna, com profundas alterações nademografia das populações, incluindo aredução drástica ou mesmo odesaparecimento local de espécies reofílicas ea profusão daquelas oportunistas. Em geral,é esperado que a riqueza regional deespécies diminua e os padrões de elevadadominância se acentuem.
O entendimento e a capacidade de prediçãodas assembléias de peixes a colonizar osreservatórios mostram-se, ainda,extremamente precários. Além de acolonização ser influenciada por interação demuitos fatores, estes com ampla variaçãoespaço-temporal, fato que torna asgeneralizações difíceis e imprecisas, o númerode estudos que tentam avaliar os impactosderivados dos represamentos é aindareduzido. Além disso, após o barramento dosrios, a tendência de estabilização dascondições ambientais nos reservatórios écomumente revertida pelas açõesantropogênicas na área de influência,incluindo aquelas decorrentes da própriaoperação da barragem, implicando alteraçõesadicionais e constantes na ictiofauna.
Apesar dessas dificuldades, pode-segeneralizar que, mesmo com o enormevolume de água e a extensa área alagadaresultante da construção de grandesreservatórios, a ictiofauna tende a habitar azona litorânea, o que cria abismosdemográficos nas regiões pelágica eprofunda. As assembléias de peixes quecolonizam esses ambientes são,essencialmente, aquelas presentes na regiãoantes do represamento. Vale destacar que sópermanecerão no novo ambiente as espéciescom pré-adaptações para sobreviver emambientes com menor fluxo de água(lênticos) e que consigam completar todas asetapas do ciclo de vida no reservatório eáreas livres remanescentes na regiãocontígua. Essas são, geralmente, espéciessedentárias com pouca especificidadealimentar.
Embora as alterações na ictiofauna semostrem extremamente deletérias na regiãolacustre dos reservatórios, os impactosatingem toda a área de entorno doempreendimento, especialmente os trechos ajusante. O entendimento dos padrões dezonação da ictiofauna é fundamental, vistoque as espécies migradoras, típicas da faunade rios, são as mais afetadas pelorepresamento, e sua presença nos trechossuperiores dos reservatórios depende dosambientes remanescentes localizados amontante. A construção de reservatórios emcascata cria condições especiais em que osimpactos ambientais são amplificados,complicando demasiadamente qualquermedida de conservação.
Capítulo 5A Pesca em Reservatórios:
diagnóstico da pesca e pescadores
A pesca é uma atividade que inevitavelmente se estabelece
em regiões de reservatórios, geralmente em períodos logo após
sua construção. Adquire relevante papel social, envolvendo
milhares de pessoas, de pescadores profissionais a amadores.
Entretanto, a produção pesqueira em reservatórios neotropicais é
caracteristicamente baixa, necessitando de ações de manejo
constantes. Ao longo da história, a pesca nesses ambientes foi
marcada pela aplicação de medidas de manejo questionáveis,
além do descaso das autoridades com as classes sociais
envolvidas. Tais posturas vêm resultando no colapso das pescarias
e na miséria das comunidades dependentes do recurso.
Capítulo 5.1A Exploração e os Recursos Pesqueiros:
conflitos entre a demanda e as limitações
Introdução
Peixes e outros organismos aquáticosconstituem importante fonte de alimentono mundo atual, contribuindo com cercade 16% de toda a proteína consumida pelahumanidade (FAO, 1999). Estima-se queaproximadamente metade da populaçãomundial tenha no peixe 20% de sua dieta.O crescimento populacional eleva essademanda por pescado e contrasta com oestado de explotação dos estoquesmarinhos.
Acredita-se que 47% dos estoques estejamno limite de sua exploração, 18% estejamsendo sobre-explorados e 10%deplecionados, sendo que o restante(25%) tem seu status desconhecido. Aestabilidade ou mesmo depleção nosdesembarques da pesca marinha tornam apesca e a aqüicultura de água doce asúnicas alternativas capazes de satisfazer a
demanda por esse tipo de alimento (DE
SILVA, 2001).
Entretanto, a pesca em grandes riosmostra também, com poucas exceções,sinais de depleção (PETRERE JUNIOR;
BARTHEM; CÓRDOBA; GÓMEZ, 2004; ALLAN;
ABELL; HOGAN; REVENGA; TAYLOR; WELCOMME;
WINEMILLER, 2005). Mesmo em rios queainda mantêm suas condições primitivas,como o Amazonas, há evidências dedepleções localizadas de alguns estoques.Bayley e Petrere Junior (1989) relatamque os pescadores que desembarcam opescado no mercado de Manaus têm quese deslocar a maiores distâncias paramanter seus rendimentos, enquantoBittencourt (1991) acredita que algunsestoques nas proximidades de Manausmostram sinais de depleção. Além dasobrepesca, o avanço da fronteiraagrícola e industrial, com a ocupação denovas bacias e criação de centrosurbanos, permite antever umagravamento no rendimento da pesca.
156 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A Complexidade daConservação de RecursosPesqueiros
Ao paradoxo existente entre, de um lado,as demandas por elevada produçãopesqueira e, de outro, as limitaçõesbiológicas e ambientais para satisfazê-las,somam-se as recentes discussões sobre osefeitos da própria pesca na suasustentabilidade. Essa discussão éimportante, pois, apesar de ainda caminharna trilha das hipóteses não-testadas,demonstra que a solução do problema dapesca e conservação dos recursos pesqueirosem reservatórios é muito mais complexa.Medidas simples, envolvendo a estocagemde peixes, a introdução de espécies oumesmo o controle da atividade, começam amostrar-se altamente infrutíferas.
Nos últimos anos, a publicação de algunsartigos científicos (PAULY; CHRISTENSEN;
DALSGAARD; FROESE; TORRES, Jr., 1998; CONOVER;
MUNCH, 2002; BERKELEY; CHAPMAN; SOGARD,2004; BERKELEY; HIXON; LARSON; LOVE, 2004;BIRKELAND; DAYTON, 2005) provocou grandeagitação entre os especialistas envolvidoscom a dinâmica da pesca, especialmente amarinha. Esses trabalhos reportam a ação dedois fenômenos que possivelmenteestariam alterando a dinâmica da pesca,com profundo impacto nos ecossistemas. Asocorrências observadas adquiriram elevadograu de importância nos debates, comsimilar magnitude no nível de preocupaçãoentre os especialistas. Apesar de terem sidoobservados primariamente em ambientesmarinhos, é impossível não associá-los ao
quadro da pesca e dos recursos pesqueirosque caracteriza os reservatórios brasileiros.
Um desses trabalhos, de autoria de Pauly,Christensen, Dalsgaard, Froese e Torres, Jr.(1998), identificou possíveis efeitos de umapesca histórica, intensa e seletiva nascaracterísticas dos ecossistemas, medidosem termos de alterações nos níveis tróficosdas teias alimentares. Esses autoresdemonstraram que a pesca marinha, apósdécadas de atuação direcionada a espéciescarnívoras e piscívoras (de elevado níveltrófico), de grande porte e longo ciclo devida, teve seus estoques seriamentedeplecionados, principalmente apósmelhorias na eficiência do sistema de pescadurante a década de 1970.
Com a diminuição das capturas de espéciesde elevado nível trófico, geralmente demaior valor comercial, os registros dedesembarque passaram a acusar crescentesparticipações de pescados pertencentes aníveis tróficos inferiores. Isso significa que,com a depleção dos estoques de interesse,houve alteração na estrutura doecossistema, em termos de composição eabundância das espécies. Essa alteraçãopressionou a pesca a dirigir seus esforços aoutras espécies, geralmente planctívoras,pertencentes a níveis tróficos mais baixos,com menor tamanho e menor valorcomercial.
A diminuição no nível trófico médio dopescado foi observada como padrão geralnos oceanos e mesmo em águas interiores.O padrão também persistiu localmente,quando diversos mares e oceanos foram
A Exploração e os Recursos Pesqueiros: conflitos entre a demanda e as limitações 157157157157157
analisados separadamente. Os autoresnomearam o fenômeno como pescando emdireção à base da teia trófica (fishing down thefood web), numa alusão à depleçãoprogressiva e seqüencial de todos os níveistróficos, a começar pelos superiores.Alertaram que, se não houver umrestabelecimento na estrutura das teias, apesca caminhará para uma crise de difícilreversão.
A ausência de predadores pode alterar aestruturação de toda a comunidade dediversas formas, (i) pela sua óbvia ausência,(ii) por aliviar efeitos top-down, quecontribuem na manutenção da diversidadede presas em alguns casos (PAINE, 1966), (iii)por deixar de influenciar indiretamente nasrelações entre grupos tróficos inferiores,como na ligação entre zooplanctívoros,zooplâncton e fitoplâncton, (iv) além deexpor, por falta de alternativas, as espéciespresas à pesca. O problema desta últimasuposição está no fato de que, em umsistema sem presas, logicamente nãoexistem predadores, e uma pesca excessivaacaba por estabelecer um sistema de feedbackpositivo de depleção geral, com difícilrecuperação dos estoques em todos osníveis.
Embora a pressão de pesca exercida sobre osestoques de espécies migradoras, a maioriade nível trófico elevado, seja alta em riosbrasileiros, dado que estas apresentamporte considerável e são, em termospalatáveis, muito apreciadas (dourado S.brasiliensis, pintado P. corruscans, cachara P.fasciatum, jurupoca Hemisorubimplatyrhynchos, sorubim Sorubim lima,
barbado P. pirirampu, jaú Z. zungaro, alémdos grandes bagres do gêneroBrachyplatystoma), as alterações impostas nosecossistemas pelos represamentos sãocertamente mais eficientes na depleção deseus estoques. Assim, para a pesca em áreasrepresadas, o raciocínio é algo diferente.Nessa situação, a pesca apenas acelera adepleção dos estoques de elevado níveltrófico na área represada, já que a causaprincipal da falta de recrutamento é orepresamento do rio (interceptação decardumes, afogamento de áreas dereprodução e/ou de desenvolvimentoinicial). Os efeitos proporcionados pelaausência desses grandes predadores naestrutura da comunidade de reservatórios edo próprio ecossistema, embora não sejambem conhecidos, podem ser mascaradospela reestruturação da assembléia de peixesque acompanha o fechamento da barragem.A situação atinge proporções tão complexasque a ausência dessas espécies não significaausência de níveis tróficos superiores, vistoque predadores oportunistas de menorporte, como piranhas, apaiaris, saicangas,traíras e jacundás comumente prosperamem águas represadas. A substituição depredadores de grande porte por aquelesmenores também gera perguntas ainda semrespostas.
As pescarias comerciais em reservatóriosbrasileiros ainda buscam espéciesmigradoras, mas destas, as únicas comcapturas relevantes nesses sistemas são omandi e o corimba, que não se caracterizamcomo predadoras de topo. Além disso, adiminuição do nível trófico médio dascapturas ainda não ocorreu naqueles
158 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
reservatórios em que a pesca é exercida emonitorada há mais tempo, em virtude daparticipação de piscívoros como a corvina eo tucunaré, pré-adaptadas às condiçõeslacustres e introduzidas a partir daAmazônia em diferentes bacias brasileiras.Como evidenciado em alguns casos, se ascapturas das espécies introduzidasdeclinarem, é muito provável que a pescatenha que visar exclusivamente aquelas depequeno porte, menos valorizadas,forrageiras e, portanto, pertencentes aníveis tróficos inferiores. Dentre elasdestacamos os acarás, lambaris, piaus ecurimatídeos, espécies já com relevanteparticipação nas pescarias de algunsreservatórios.
De qualquer maneira, o controle da pesca eas ações de manejo nos habitats críticos deespécies migradoras podem assegurar ummelhor desempenho em seus estoques eprevenir o efeito de pescarias na base dacadeia alimentar, pelo menos nos trechosmais fluviais dos reservatórios com amplossegmentos livres a montante. Outro aspectode grande importância é a pressão depredação exercida por espéciesintroduzidas, notadamente a corvina e otucunaré. A principio, pelo menos emreservatórios do Tietê e do rio Grande,essas espécies têm sido responsabilizadaspela marcante redução na abundânciadaquelas de pequeno porte (SANTOS; MAIA-
BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ, 1994), afetandoespécies forrageiras que eventualmentepoderiam sustentar alguns estoques depiscívoros nativos. Restrições de pescaenvolvendo essas espécies não-nativasteriam, em tese, impacto negativo não
apenas na diversidade biológica, mastambém na pesca. Em relação ao tucunaré,trabalhos clássicos demonstram que suaabundância no lago Gatun, Panamá,contribuiu para a extinção local denumerosas espécies (ZARET; PAINE, 1973). Essaespécie, dada sua procura por pescadoresesportivos, tem sido alvo de proteção(pesque e solte) e repovoamentoclandestino em diversos pontos da bacia dorio Paraná. Mesmo a corvina P.squamosissimus, exemplo de introduçãobem-sucedida na bacia do rio Paraná, temseu benefício à pesca contestado porAgostinho, Vazzoler e Thomaz (1995) noreservatório de Itaipu, que demonstramestar o rendimento dessa espécie num dadoano correlacionado negativamente com odo mapará H. edentatus no ano subseqüente(relação de 1:2,8). É relevante o fato de acorvina e o mapará serem comercializadosjuntos nesse reservatório. Entretanto, oimpacto de peixes não-nativos sobre a pescatem um aspecto menos evidente, porém dealta relevância, que é aquele imposto aosserviços que a biodiversidade presta a essaatividade, ou seja, fornecer aos pescadoresalternativas de exploração quando umestoque por razões naturais ouantropogênicas entra em depleção. Esseserviço tem sido registrado nosmonitoramentos de longo prazo nosreservatórios da bacia do rio Paraná, emespecial no de Itaipu, onde o estoque maisexplorado durante os 15 anos passou porespécies como curimba, mapará, corvina earmado.
A segunda categoria de problemas quetorna a exploração pesqueira um fator de
A Exploração e os Recursos Pesqueiros: conflitos entre a demanda e as limitações 159159159159159
risco à sustentabilidade da pesca é adegradação genética decorrente daexploração dos indivíduos maiores(BIRKELAND; DAYTON, 2005), tanto pelosanseios dos pescadores, quanto pelasexigências legais em relação a aparelhos depesca e a tamanho mínimo. Conover eMunch (2002) apresentaram resultados de umexperimento realizado com uma espécie depeixe do oceano Atlântico, a Menidia menidia,espécie com certa importância nosdesembarques comerciais. Os resultadosforam impressionantes e sua discussão épertinente para as pescarias e o manejo dapesca em águas interiores, especialmente nosreservatórios brasileiros.
A motivação desse experimento deu-se pelaobservação da grande dificuldade narecuperação dos estoques marinhos após umcolapso populacional, derivado da pescaintensiva. Em geral, após evidências decolapso, é comum que a pesca seja proibidaem determinadas regiões, com o intuito deque as populações de peixes se reestruturem.Porém os indivíduos demoravam tempodemais para atingir tamanhos satisfatóriosou iguais aos anteriores à sobrepesca, fatoque intrigava os pesquisadores.
Os autores simularam então uma pescaseletiva nos estoques de M. menidia, mantidosem tanques artificiais. Essa pescaexperimental foi realizada em três níveis:retirada somente dos indivíduos menores,somente dos maiores e retirada ao acaso.Sabe-se, entretanto, que a retirada deindivíduos maiores da população é a situaçãomais comum a qualquer sistema de pesca,seja marinho, seja de água doce.
Após quatro gerações, esses autoresdetectaram alterações marcantes na estruturapopulacional da espécie quando somente osindivíduos maiores eram experimentalmenteretirados. Esse tratamento experimentalresultou em menores rendimentos, menorpeso dos peixes, ovócitos com menordiâmetro e crescimento mais lento dosindivíduos. Após a quarta geração, osindivíduos remanescentes tinham tamanhocorporal muito menor, com crescimentosubstancialmente mais lento em relação aosdos demais tratamentos.
Esse fenômeno tem explicação genética: osindivíduos maiores da população possuemaparato genético ligeiramente diferente, que,de forma geral, lhes confere maior rapidezno crescimento. Como esses indivíduosforam subtraídos da população, acaracterística genética também foi extirpada.Dessa forma, o rendimento diminuiu, pois apopulação remanescente era formada porindivíduos de crescimento mais lento, queprecisam de mais tempo para um incrementoem peso.
Devido ao fato de as pescarias seremaltamente seletivas, tanto por razões derendimento quanto por restrições legais(tamanho mínimo de captura), a atividadevem promovendo uma seleção artificial naspopulações. Isso determina quais indivíduossobreviverão, o que altera o curso evolutivodas espécies. No caso de M. menidia,indivíduos de crescimento lento foramselecionados, com perda de diversidadegenética em nível populacional. O que esseexperimento mostra de preocupante é que apesca funciona seletivamente para todas as
160 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
demais espécies, incluindo, para o ambientemarinho, a pesca histórica do bacalhau, doatum e do esturjão, sempre objetivando osmaiores indivíduos.
Outras pesquisas vêm dando suporte aosresultados de Conover e Munch. Estudandoo peixe-pedra Sebastes melanops, Berkeley ecolaboradores verificaram o importantepapel das fêmeas grandes e com maioridade na estruturação populacional(BERKELEY; CHAPMAN; SOGARD, 2004; BERKELEY;
HIXON; LARSON; LOVE, 2004). Esses indivíduosdesovam com maior vigor, suas larvascrescem até três vezes mais rápido que a deoutros mais jovens, e são mais resistentes àfalta de alimento. A explicação está noacúmulo de um lipídeo altamenteenergético no corpo dessas fêmeas, otriacilglicerol (TAG), que é repassado para ocorpo dos alevinos. A retirada dessesindivíduos grandes da população fatalmentereduzirá o tamanho médio dos peixes noestoque, os quais, inclusive, apresentarãocrescimento mais lento.
Além dos problemas de ordem genética, éinteressante observar a relação exponencialexistente entre a fecundidade e o tamanhocorporal dos peixes (BIRKELAND; DAYTON,2005), ou seja, fêmeas grandes tendem aproduzir uma quantidade muito superior deovócitos. Isto significa que, após um eventode depleção, espera-se uma recuperaçãomais rápida do estoque se a população tiverfêmeas de elevado tamanho corporal. Dessaforma, a manutenção da estrutura emtamanho da população pode ter relaçãodireta com o aumento da resiliência dosestoques.
Em face a todas essas informações, éimpossível deixar de traçar um paraleloentre estas conclusões e a pesca emreservatórios brasileiros. Os dois fatoresprincipais que levam à seletividade tambémestão presentes, ou seja, (i) o desejo dospescadores em capturar os maioresespécimes e (ii) a regulamentação com baseem tamanhos mínimos de captura. Ambas asações convergem na retirada seletiva deindivíduos maiores, e possivelmente umaseleção genética também esteja em curso.
Em reservatórios, esse efeito teria grandeprobabilidade de ocorrer, tanto a jusantequanto na área represada. A jusante o fatopode afetar os grandes cardumes de espéciesmigradoras que se acumulamimediatamente abaixo da barragem, mesmocom a existência de mecanismos detransposição. Apesar de a pesca ser proibidanesses locais, é fato conhecido que elaocorre e é intensa em algumas ocasiões. Omesmo tem sua ocorrência provável nasregiões a montante da barragem, nesse caso,como decorrência dos aspectos legais detamanho mínimo de captura e uso demalhadeira a partir de um determinadotamanho. Vale destacar que existe,inclusive, uma classe de pescadoresespecializada na exploração pesqueira emnovos reservatórios (barrageiros, PETRERE
JUNIOR, 1996), a qual deve promover elevadapressão sobre os estoques, em razão dogrande esforço e diversidade de métodos depesca que empregam. Tal episódio foi bemdocumentado após o fechamento de Tucuruíe Sobradinho, quando se constatou adepleção dos estoques ao longo do tempo.Dessa forma, não seria difícil a dizimação
A Exploração e os Recursos Pesqueiros: conflitos entre a demanda e as limitações 161161161161161
de, pelo menos, classes de indivíduos commaior comprimento.
É importante lembrar que não só osmigradores são vulneráveis a tal fenômeno,visto que as restrições a tamanhos decaptura estendem-se também a diversasespécies sedentárias. Ou seja, espécimesgrandes só não serão alvo das pescariasquando eles não existirem mais. Alegislação, que proíbe a captura de juvenis,tem enorme valor por garantir aabundância do recrutamento de novascoortes nos próximos anos, mas a ausênciade controle na captura das grandes matrizesparece ser danosa à viabilidade dosestoques. Seria necessária uma exaustivadiscussão desses aspectos e revisão nalegislação específica para a pesca comercial,de maneira a garantir a proteção tambémdessa parcela da população, considerando osefeitos negativos na perda da variabilidadegenética.
Entretanto, não é apenas a pesca comercial aresponsável por essa modalidade deimpacto genético. Em vários reservatórios,a pesca esportiva extrai parcelassignificativas do estoque, equiparando-se,para algumas espécies, à pesca comercial(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPÉLIA/
ITAIPU BINACIONAL, 2004). Essa modalidadevisa, exclusivamente, indivíduos de grandeporte, tendo como meta a captura dosmaiores (troféus).
É obvio que ainda não sabemos exatamenteas implicações dessas remoções seletivas emnível populacional, mas o fato é que elasestão ocorrendo em diversos ambientes. E,
com isso, é grande a possibilidade de que avariabilidade genética esteja se esvaindo.Como exemplo, nas pescarias estuarinas dorio Amazonas, a escassez de bagres degrande porte está resultando noaparecimento de juvenis de grandes bagresde alto valor comercial, como a piramutabae a dourada, nos desembarques em Manaus(GOULDING; SMITH; MAHAR, 1996). Fatossimilares parecem ter ocorrido compopulações de tambaqui, decorrentestambém da perda de habitats, e de pirarucu,esta levada à beira da extinção.
O fenômeno das alterações na estrutura dosestoques pesqueiros, como decorrência dasobrepesca, vem sendo observado há algumtempo. Este efeito é conhecido como a“tropicalização dos estoques” (HAEDRICH;
BARNES, 1997; JACKSON; KIRBY; BERGER;
BJORNDAL; BOTSFORD; BOURQUE; BRADBURY;
COOKE; ERLANDSON; ESTES; HUGHES; KIDWELL;
LANGE; LENIHAN; PANDOLFI; PETERSON; STENECK;
TEGNER; WARNER, 2001; STERGIOU, 2002),situação em que ocorre a diminuição dotamanho médio dos peixes que compõem osdesembarques. O trabalho de Conover eMunch (2002), acrescido pelos resultados deBerkley e colaboradores apenas o explica enos dá a dimensão assustadora doproblema. Assim, se essa perda devariabilidade genética decorrente daexploração seletiva em relação ao tamanhofor muito difundiada entre as espécies depeixes, os paradigmas estabelecidos emrelação ao tamanho mínimo devem serimediatamente revistos, dado que pode serum fenômeno irreversível. Nesse caso,medidas como o controle da pesca ou acriação de santuários já não terão mais valia.
162 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Nesse contexto, opções de manejo de pesca,como reservas biológicas aquáticas nosmoldes das terrestres e implantadas antesque a variabilidade seja perdida, ourepovoamentos controlados visandorestabelecer a variabilidade genética, ouainda reformulações profundas nosdocumentos que regulamentam a pesca, sãourgentes. É obvio que os efeitos dos
represamentos ou da operação dereservatórios podem promover odeplecionamento dos estoques antes que apesca reduza sua variabilidade genética.Entretanto, a sinergia desses dois impactosdeve ser objeto de maior atenção dapesquisa, do gerenciamento dos recursos edos órgão responsáveis pelos documentosque regulam a exploração pesqueira.
Capítulo 5.2Rendimento da Pesca em Reservatórios:
diagnóstico
Introdução
A proliferação de reservatórioshidrelétricos e seus impactos sobre osestoques, especialmente de espéciesmigradoras, são fatores adicionais queacentuam tendências de depleção. Emboraos reservatórios sejam, geralmente, maisprodutivos que os rios que lhes dãoorigem, esse benefício é amplamenteneutralizado pelos efeitos relacionados àregulação da vazão a jusante, com impactonegativo sobre os criadouros naturais e areprodução, e à menor qualidade dopescado que produzem (ver Capítulo 4).
Entretanto, os reservatórios vêmtransformando a dinâmica fluvial de riosde todo o mundo em uma sucessão deambientes lênticos, mudando a fisiografiaregional e se constituindo em únicaalternativa de pesca em diversas bacias. Aesse propósito, alguns autores destacamque o desenvolvimento futuro da pesca emáguas interiores está destinado a se tornar
sinônimo de desenvolvimento sustentávelde pesca em reservatórios (WELCOMME,1996; DE SILVA, 2001).
Avakyan e Iakovleva (1998) registraramaumento de 12 vezes no volume dosreservatórios em todas as partes domundo, após a Segunda Guerra Mundial.Porém, para a América Latina, esseaumento foi de 40 vezes e para África eÁsia, de 100 vezes. Dado o caráterconspícuo desses novos ambientes, a pescapassou a ser considerada um importantecomponente entre os seus usos múltiplos,embora raramente levada em consideraçãodurante o planejamento de sua construção.Dessa forma, apenas em alguns países,como a China, a pesca já é considerada nafase de planejamento da construção depequenos e médios reservatórios (DE SILVA,c1996, 2001).
Independentemente de ser planejada ounão, é fato inconteste que a pesca seestabelece em reservatórios, constituindoum dos mais importantes usossecundários. Entretanto, a expectativainicial de uma atividade promissora na
164 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Tabela 5.2.1 - Produtividade de peixes estimada em diversosambientes tropicais (Fonte: , 2000)JACKSON; MARMULLA
Tipo de AmbienteProdutividade
(kg ha ano )
1. Tanques de aqüicultura 400 - 9.300
2. Planícies de inundação 200 - 2.000
3. Tanques naturais rasos 50 - 1.000
4. Lagos rasos 50 - 200
5. Reservatórios rasos 110 - 300
6. Grandes rios 30 - 100
7. Lagos profundos 10 - 100
8. Reservatórios profundos 10 - 50
9. Rios pequenos e riachos 5 - 20
10. Brejos 5
-1 -1
geração de pescado e renda, implícita, noBrasil, nas ações de manejo praticadasdurante o período de 1960 a 1990, não seconcretizou. Foram construídas diversasestações de piscicultura (produtoras dealevinos) e, durante décadas, foramrealizadas estocagens de espécies exóticas enativas, sem respostas satisfatórias norendimento pesqueiro (ver Capítulo 6.2).
A baixa produtividade dos grandesreservatórios é, portanto, a maior restriçãopara a rentabilidade da atividade pesqueiranesse tipo de ambiente. No geral, a produçãopesqueira depende de muitos fatores, mas aárea inundada e a profundidade doreservatório parecem ter bastante influência.Quirós (1999), avaliando cerca de 700reservatórios de todo o mundo, conclui queo tamanho destes está relacionado àprodutividade, e que reservatórios grandessão pouco produtivos, independentementedo esforço de estocagem (peixamento)realizado. Reservatórios pequenos e rasosgeralmente são maisprodutivos e respondemmelhor aos esforços demanejo. Quandocomparada com outrostipos de ambientes, aprodução de peixes empequenos e rasosreservatórios é similar àprodução observada emlagos rasos, enquantoque a produção dereservatórios maiores emais profundos seaproxima da produçãode lagos naturais
profundos, apesar de a natureza e adinâmica de lagos e reservatórios seremmuito diferentes. A Tabela 5.2.1 apresentaessa produtividade, observada em diversosambientes de água doce tropicais (JACKSON;
MARMULLA, 2000).
Mesmo considerando a baixa rentabilidadee o fato de os grandes reservatóriosbrasileiros jamais terem sido construídosvisando o desenvolvimento da pesca, essaatividade vem se constituindo no maisimportante uso secundário dessesambientes. A atividade pesqueira,especialmente nos reservatórios das baciasdos rios Paraná e São Francisco, abrigagrandes contingentes populacionaisexcluídos de outras atividades produtivas,constituindo-se na única alternativa desobrevivência para milhares de pessoas.
O grande desafio da sustentabilidade é que apesca se estabelece de maneira desordenadalogo após a formação dos reservatórios.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 165165165165165
Nesse período, a produtividade é elevada emrazão do grande aporte de nutrientes dasáreas alagadas. Isso atrai para a atividade umgrande número de pessoas. Quando a faseheterotrófica (decomposição da matériaorgânica alagada) finda, a produtividadediminui, não sendo suficiente para amanutenção do esforço de pesca inicial. Apersistência do mesmo esforço depleciona osestoques, o rendimento cai ainda mais e ocaos social se instala.
Este capítulo se propõe a avaliar o estado daarte da pesca em reservatórios brasileiros.Essa, entretanto, não é tarefa simples, vistoque o monitoramento dessa atividade é, emgeral, precário, carecendo, quando realizado,de padronização, continuidade e rigor natomada de dados. Além disso, em muitoscasos, os dados estão contidos em relatóriosinternos, com a metodologia de amostragemnão claramente descrita. A maior dificuldaderelaciona-se à quantificação do esforço depesca, sem o qual as comparações não sãopossíveis. Assim, não foram consideradosnesta análise dados de desembarque que nãocontinham informações acerca do esforço depesca ou da sua representatividade douniverso amostrado.
A Pesca em ReservatóriosTropicais
As pescarias realizadas em reservatóriostropicais nos diferentes continentes têmalgumas características comuns, ou seja, sãoexercidas de forma artesanal e em pequenaescala, constituindo-se em importante fonte
de renda, geração de emprego e produção deproteínas para as populações socialmentemenos favorecidas. São em geral exercidascom o uso de redes de espera. Entretanto, hádiferenças marcantes na produtividade e nonúmero de espécies exploradas e,obviamente, na composição específica dosdesembarques. Além disso, verificam-se, emcada continente, variações tambémrelevantes no rendimento e em seu manejo.
Na Ásia, a pesca em reservatórios é, emgeral, baseada em poucas espécies(geralmente uma, podendo ser duas ou três),sendo realizada com redes de espera ouderiva, com pouca variação no tamanho dasmalhas (DE SILVA, c1996). Carpas e tilápiassão as espécies mais abundantes na maioriados países, sendo que as primeirascontribuem com cerca de 41%, e a segundacom 4% das capturas em águas continentais.Excluindo-se os reservatórios da China, aprodução média é de cerca de 20 kg ha-1 ano-1,com valores variando entre 5 a 675 kg ha-1
ano-1 (DE SILVA, 1988). Se incluídos osreservatórios chineses, a média é mais alta,aproximando-se de 100 kg ha-1 ano-1, comvalores entre 6,5 e 1.500 kg ha-1 ano-1 (DE
SILVA, c1996). Porém cabe ressaltar que, nessecaso, estão incluídos reservatórios pequenosque são intensamente estocados, sendoprudente, no caso da Ásia, separar a pesca emreservatórios pequenos e grandes.
Em reservatórios menores que 5.000 ha (50km2; China, Indonésia, Filipinas, Sri Lanka,Tailândia e Vietnã), a produção pesqueiravariou entre 7,3 e 1508 kg ha-1 ano-1 (DE SILVA,2001). Na China, reservatórios com áreasinferiores a 70 ha (0,7 km2) apresentam
166 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
produção que varia entre 750 e 3.000 kg ha-1
ano-1, porém nestes a estratégia de manejo ésimilar à praticada em tanques de cultivo. Asespécies utilizadas nesses reservatórios sãoessencialmente ciprinídeos (carpas chinesas).O sucesso desses empreendimentos naChina, que está sendo utilizado em outrospaíses, como o Sri Lanka, tem sido atribuídoa vários fatores, destacando-se (i) o fato deque a pesca é levada em consideração noplanejamento da construção do reservatório,ou seja, o fundo do reservatório é preparado;(ii) realização de estocagens massivas dealevinos de tamanhos uniformes egeralmente maiores que 12,5 cm; (iii)eliminação quase completa das espéciespredadoras; (iv) estabelecimento deproporções adequadas de estocagem entrediferentes espécies, de maneira a permitir aexploração dos diversos recursosalimentares; (v) prevenção e/ouminimização do escape através daincorporação de redes de bloqueio, e (vi)captura eficiente. Ressalta-se, no entanto, queem alguns reservatórios chineses, como noEa Kao (2,74 km2), onde a pesca baseada emestocagem-remoção está associada à depopulações auto-sustentáveis, esta apresentatambém elevada produtividade, ou seja,248,2 kg ha-1 ano-1 (PHAN; DE SILVA, 2000).
Para os reservatórios maiores que 5.000 ha, amédia da produção é bem menor, variandoentre 6,5 e 85,5 kg ha-1 ano-1, em reservatóriosda China, Indonésia, Filipinas e Vietnã (DE
SILVA, 2001). A pesca nesses reservatórios édependente basicamente do sucesso decolonização por espécies nativas dos rios, asquais não se reproduzem no ambienterepresado, como é o caso das carpas indianas
e chinesas. Dessa maneira, as pescarias têm-se desenvolvido em torno das espécies não-nativas, que apresentam populações auto-sustentáveis (tilápias), ou dependem deestocagem regular, como o caso das carpas.No Sri Lanka, outra opção tem sido a pescade espécies carnívoras, como bagres eophicephalideos, que contribuem paraelevados rendimentos pesqueiros. Em algunsreservatórios da Tailândia e Lao, a pesca temincluído clupeídeos pelágicos, como aClupeichthys aesarnensis e outras espéciesnativas, como Notopterus notopterus,Cyclochelichthys armatus, Hampala macrolepidotae Mystus nemurus (DE SILVA, 2001). Estudosmais recentes têm demonstrado que emvários reservatórios existe um considerávelestoque de espécies nativas de pequeno porte(maioria ciprinídeos), de origem fluvial, queocupam a zona pelágica quando adultos.Dessa maneira, há possibilidade deestabelecer pescarias sobre essas espécies,sem detrimento das já conduzidas, compotencial para aumentar o rendimentopesqueiro (DE SILVA, c1996).
Na África, onde estão localizados alguns dosmaiores reservatórios do planeta, a pesca épredominantemente de pequena escala,conduzida por pescadores individuais, emduplas ou em pequenos grupos. Asprincipais técnicas de pesca variam entre osreservatórios, mas no geral são utilizadas,além das redes de espera, redes feiticeiras,arrastos de praia e na coluna d’água (paracaptura de clupeídeos) e, maisesporadicamente, tarrafas (KAPETSKY, 1986;FAO, 2002). Para os reservatórios africanoscom informações sobre o rendimento dapesca, a média é alta, aproximando-se do
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 167167167167167
rendimento asiático, com 88,4 kg ha-1 ano-1
(MARSHALL, 1984). Devido à elevadabiodiversidade da ictiofauna nessecontinente, será feita a descrição dorendimento pesqueiro para cada um dosprincipais reservatórios.
No reservatório Volta (8.270 km2), localizadoem Gana no rio Volta, a produção médiaatinge cerca de 49 kg ha-1 ano-1. As tilápiasTilapia zilli e Sarotherodon galileus e a perca doNilo Lates niloticus são as principais espéciesnas capturas (KAPETSKY, 1986; FAO, 2002). Já noreservatório Nasser/Núbia (6.850 km2),localizado no rio Nilo, na divisa entre oEgito e o Sudão, as principais espécies nascapturas são O. niloticus, S. galilaeus, L.niloticus, Labeo spp., Clarias spp., Bagrus (2espécies) e Synodontis spp. Em 1968, astilápias contribuíam com cerca de 27% dototal desembarcado no lado egípcio (Nasser),aumentando a participação para 90% em1991. No lado do Sudão (Núbia), as tilápiasrepresentam cerca de 64% do total capturado,Lates 13,7%, Labeo 10,4% e Barbus 7,4% (FAO,2002).
O lago Kariba (5.550 km2), situado no rioZambezi, na divisa entre a Zâmbia e oZimbábue, apresenta produção pesqueiramédia geral de 26 kg ha-1 ano-1 (MARSHALL,1984). Entretanto, a região litorânea tembaixa participação nos desembarques (6 kgha-1 ano-1), sendo a pesca baseada nas tilápiasOreochromis mortimeri e Tilapia rendalli. Já apesca na região pelágica tem umaprodutividade de 21 kg ha-1 ano-1, sendosustentada principalmente pela introduçãode Limnothrissa miodon (KAPETSKY, 1986). Noreservatório Cahora Bassa (2.665 km2),
também localizado no rio Zambezi, emMoçambique, a principal espécie capturada éo clupeídeo Limnothrissa miodon, introduzidaa partir do reservatório Kariba, no qualtambém é a principal espécie nas capturas,juntamente com as tilápias T. rendalli,Serranochromis codringtoni e O. mortimeri (FAO,2002). Nesse reservatório, o peixe-tigreHydrocynus vittatus também é umcomponente importante das capturas(BERNACSEK; LOPES, 1984).
No Lago Kainji (1.260 km2), localizado no rioNiger, Nigéria, a pesca tem produtividade de47 kg ha-1 ano-1 (ITA, 1984), sendo que astilápias Sarotherodon spp., Oreochromis spp. eTilapia spp. compõem 75% das capturas. Aparticipação de espécies migradoras na pesca(mormorídeos, characoides, ciprinídeos,bagres e a perca do Nilo) diminuiu após ofechamento da barragem (FAO, 2002).
No continente sul-americano eespecialmente no Brasil, onde osreservatórios são mais numerosos, a pesca é,em geral, menos produtiva, exceto nosprimeiros anos de formação dessesambientes (upsurge period; AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).Invariavelmente, a pesca é iniciada de formadesorganizada, atraindo inicialmente grandecontingente de pessoas, incluindo algumascom alta capacidade de pesca e já experientesna exploração desse tipo de recurso emoutros reservatórios (pescadores barrageiros;PETRERE JUNIOR; RIBEIRO, 1994; PETRERE JUNIOR,1996). A ausência de planejamento durante ainstalação da atividade pesqueira e a quedaesperada no rendimento da pesca emmomentos subseqüentes geram problemas
168 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de sustentabilidade dos estoques, cujasolução requer medidas socialmentedrásticas e de difícil execução.
Entretanto, nas regiões da América do Sulpara as quais existem informaçõesdisponíveis, o rendimento pesqueiro émuito variável. Essa variabilidade parecerelacionada ao tamanho e profundidade dosreservatórios, das espécies presentes e doseu histórico de uso e manejo, além devários outros fatores. Na Ásia e África,apesar de grande variação, a produtividademédia da pesca é alta, atingindo, comovisto, cerca de 100 e 88 kg ha-1 ano-1,respectivamente. Na América do Sul,embora a disponibilidade de dados dedesembarque seja escassa, essaprodutividade média é muito menor. Comoexemplo, considerando somente o Brasil, aprodutividade em Sobradinho atingiu 57 kgha-1 ano-1 em 1980, variou em torno de 5 kgha-1 ano-1 em Tucuruí e tem uma média de9,1 kg ha-1 ano-1 em reservatórios da baciado rio Paraná (AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ,1995; PETRERE JUNIOR, 1996; GOMES; MIRANDA;
AGOSTINHO, 2002). Por outro lado, essesvalores chegam a 152 kg ha-1 ano-1 nosaçudes nordestinos, que têm áreas menorese onde a estocagem é massiva (PAIVA;
PETRERE JR.; PETENATE; NEPOMUCENO;
VASCONCELOS, 1994; PETRERE JUNIOR, 1996).
Gomes e Miranda (2001) destacam algunsfatores possivelmente envolvidos com abaixa produtividade pesqueira emreservatórios da bacia do alto rio Paraná,mas que podem ser estendidos a outrasbacias. Dentre as causas, mencionam aausência de espécies de peixes adaptadas a
explorar ambientes pelágicos e a existênciade cadeias tróficas longas. A baixaprodutividade primária fitplanctônicaobservada nos reservatórios também podeestar associada aos baixos valores deprodutividade de pesca (GOMES; MIRANDA;
AGOSTINHO, 2002).
Diagnóstico da Pesca emReservatórios Brasileiros
Para um diagnóstico preciso da pesca sãonecessárias informações acerca (i) dodesembarque pesqueiro, (ii) do esforçoaplicado e (iii) da representatividade dasamostras em relação ao universo amostral,embora bons resultados para comparaçõespossam ser obtidos a partir das duasprimeiras. É igualmente imprescindível queos dados tenham abrangência espacial etemporal suficiente para contemplar asvariações dos estoques nessas duasdimensões.
As informações disponíveis sobre a pesca noBrasil são, no entanto, geralmenteincompletas e intermitentes, tendo sidoobtidas com metodologias variadas ealgumas vezes sem o rigor científiconecessário. Tais informações já foramclassificadas como extremamente pobres,tanto em qualidade quanto em quantidade,por Welcomme (1990). Essa escassez e/ouinconsistência de dados sobre a pesca emreservatórios brasileiros decorre tanto dacultura do não-monitoramento (“todo anorepete-se a mesma coisa”, “não há nada denovo”), tradicional no país, quanto de
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 169169169169169
equívocos na alocação de recursos e esforços,que são desviados dessa atividade para açõescuja racionalização dela depende (estocagem,controle da pesca, etc.). Além disso, destaca-se o fato de a pesca ser tida por muitostomadores de decisão como uma atividadepouco rentável e predatória. Petrere Junior(1985) destaca outro fator relevante, ou seja,as dificuldades de se obter informações,especialmente na região amazônica.
Essa escassez de dados dificulta umaavaliação consistente do status dos recursospesqueiros e um diagnóstico conciso dapesca, restringindo o planejamento e atomada de medidas racionais de manejo.Assim, neste tópico são apresentadas ediscutidas, de forma preliminar, asinformações disponíveis para as maisimportantes bacias hidrográficas brasileiras,com destaque para os reservatórios.
Bacia Amazônica
Na bacia Amazônica, a pesca em ambientesnaturais é dotada de grande heterogeneidadeespacial, elevada diversidade específica e altorendimento (MÉRONA, 1990). Osdesembarques em Manaus na década de 1980somaram cerca de 30.000 t.ano-1, em Belém20.000 t.ano-1 (ISAAC; MILSTEIN; RUFFINO, 1996),sendo que Bayley e Petrere Jr. (1989)estimaram o potencial da pesca amazônicaem 902.000 t.ano-1.
Santos e Ferreira (1999) reconhecem cincocategorias de pesca nessa região: (i) Pescariacomercial que é realizada num raio de 100 a1.000 km a partir de grandes centros urbanos,
sendo o produto conservado em gelo ecomercializado na região. O rendimentodesse tipo de pescaria é estimado por Santos(1986/87) em 45.000 t.ano-1. (ii) Pescaria desubsistência, praticada por ribeirinhos,apresentando características artesanais edifusas. O produto é destinado ao próprioconsumo. Bayley e Petrere Junior (1989)estimam que ela seja responsável por cercade 60% do rendimento total da pesca naAmazônia. (iii) Pescaria industrial, que temcomo objeto a captura da piramutabaBrachyplatystoma vaillantii, sendo praticada nossegmentos mais baixos do rio Amazonas. Opescado é destinado ao Sul do país ou aoexterior. Bayley e Petrere Junior (1989)estimam o rendimento dessa modalidade depesca em 28.000 t.ano-1. (iv) Pescaria de peixesornamentais, praticada principalmente no rioNegro. O produto dessas capturas édestinado à exportação para os EstadosUnidos, Alemanha e Japão. O rendimento éavaliado entre 15 e 20 milhões deexemplares/ano, destacando-se o marcantepredomínio do tetra cardinal Paracheirodonaxelrodi. (v) Pescaria em reservatórios, queinclui as duas modalidades anteriores(comercial e de subsistência), além daesportiva. Nos primeiros anos de formaçãodo reservatório (fase heterotrófica), a pescacomercial é praticada principalmente porpescadores itinerantes. Tem, inicialmente,composição específica variável, sendoposteriormente dominada por tucunarés(Cichla spp.). No geral, o rendimentoobservado é muito baixo.
Bayley e Petrere Junior (1989) acreditam quea grande variedade de peixes nosdesembarques de Manaus só não é ainda
170 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
800
600
400
200
01991 1992 1993 1995 19961994
Anos
Re
nd
ime
nto
(t)
Figura 5.2.1 - Rendimento pesqueiro (t) no reservatório deBalbina, entre 1991 e 1996 (Fonte:
, 1999).SANTOS; OLIVEIRA
JUNIOR
maior devido às preferências do mercado eàs dificuldades de conservação de algumasdelas. Além da piramutaba e tucunarés,destacam-se nas pescarias da Amazônia ospacus e tambaquis, cianídeos,prochilodontídeos, curimatídeos,anostomídeos e hemiodontídeos. PetrereJunior (1978, 1982) e Bayley e Petrere Junior(1989) descrevem as espécies dominantes emvários tipos de ambientes de pesca, enquantoque Goulding, Smith e Mahar (1996)descrevem o panorama da pesca no baixoAmazonas.
Informações sobre atividades de pesca emreservatórios da bacia Amazônica sãoescassas, incompletas e fragmentadas,estando restritas aos reservatórios de Balbinae Samuel. Grande parte dos estudosrealizados em reservatórios amazônicos nãoavalia a pesca ou rendimento pesqueiro,sendo os estudos mais voltados a aspectosecológicos/zoológicos (descrição daictiofauna). Sabe-se, porém, que ospescadores envolvidos são na maioriaitinerantes e objetivam a pesca do tucunaré(SANTOS; FERREIRA, 1999), tanto na modalidadecomercial quanto na esportiva. Descrevem-sea seguir as pescarias praticadasnos reservatórios para os quaisos dados estão disponíveis.
Reservatório de Balbina
As informações aqui citadas,tanto das características doreservatório quanto da pescacomercial, provêm do trabalhode Santos e Oliveira Junior
(1999). O reservatório de Balbina estálocalizado no rio Uatumã, Estado doAmazonas, região do baixo rio Amazonas. Abarragem foi fechada em 1987, inundandouma área de aproximadamente 2.360 km2. Apesca comercial iniciou-se no ano seguinteao do fechamento, tendo sido favorecidasobremaneira com a pavimentação darodovia BR 174, que liga Manaus a Balbina.Atualmente, a pesca amadora e esportivatambém tem sido importante para aeconomia da região.
Entre os anos de 1991 e 1994 o rendimento dapesca comercial foi de aproximadamente 500t.ano-1, considerando somente odesembarque de tucunarés. A partir de 1994observou-se queda progressiva norendimento, atingindo menos de 300 t em1996 (Figura 5.2.1). Nesse período a produçãomédia oscilou em 1,2 - 3,1 kg ha-1 ano-1,revelando uma baixa produtividade. Apesarde outras 70 espécies serem registradas nosdesembarques desse reservatório, o tucunarécompôs a base das capturas. Entre as espéciessecundárias, incluem-se a piranha pretaSerrassalmus rhombeus, o aruanã Osteoglossumbicirrrhosum e a traíra Hoplias malabaricus.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 171171171171171
O número de pescadores comerciaisregistrados na colônia vem diminuindodesde 1992, caindo de 300 nesse ano paracerca de 100 em agosto de 1997. A densidadede pescadores é muito baixa (0,04 – 0,07 ind./km2). Os pescadores atuam em média 18 diaspor mês, resultando em uma captura porunidade de esforço (CPUE) de 33 kg pesc.-
1dia-1. Praticamente todo o pescado édirecionado ao mercado de Manaus.
Com relação à pesca esportiva e amadora,cerca de 50 pescadores visitam o reservatóriopor final de semana, totalizando umexpressivo rendimento de 6 t.mês-1, já queexiste cota de 30 kg/pescador.
Reservatório de Samuel
Esse reservatório localiza-se no rio Jamari,afluente direito do rio Madeira, Estado deRondônia. A obra foi concluída em 1988,inundando uma área de 579 km2. Um total de122 espécies de peixes foi registrado naregião. A pesca comercial no reservatório foiliberada em 1991 para 20 pescadorescadastrados na colônia de Porto Velho, masfechada um mês depois por falta defiscalização. Somente a pesca com linhada foipermitida e não existem dados dedesembarque de pescarias em Samuel. Sabe-seque a pesca se intensificou após orepresamento do rio, e que os peixes maisprocurados são o tucunaré, o mapará e o piau-comum Schizodon fasciatus, que proliferaramapós o enchimento da represa (SANTOS, 1995).
Santos e Ferreira (1999) apresentaminformações cedidas pelo Setor de MeioAmbiente da Eletronorte, apontando
capturas de 1.000 kg dia-1 no reservatório,principalmente tucunarés. Dessa maneira, épossível estimar preliminarmente, pois oesforço de pesca e as capturas devem variarconsideravelmente durante o ano, orendimento em 240 t.ano-1 (assumindo 240dias de pesca ao ano). Da mesma forma,levando em consideração a área doreservatório (579 km2), podemos estimar aprodutividade de peixes em 4,1 kg ha-1 ano-1.Se tal produtividade estiver próxima à real, oreservatório de Samuel também apresentabaixa produtividade pesqueira.
Bacia Araguaia/Tocantins
Os rios Araguaia e Tocantins constituemuma bacia separada na Amazônia, drenandosomente território brasileiro e passando pordiversos Estados. Nos últimos 20 anos abacia vem sendo intensamente ocupada pelapecuária, mineração e construção de grandesreservatórios (PETRERE JUNIOR, 1996; CETRA;
PETRERE JUNIOR, 2001).
O número de espécies situa-se em torno de400, considerando-se toda a bacia (Núcleo deEstudos Ambientais, dados não publicados).Antes da construção do reservatório deTucuruí, a pesca acontecia na calha do rio,objetivando cardumes de espéciesmigradoras como curimbas, maparás egrandes bagres (CARVALHO; MÉRONA, 1986). Asfrotas pesqueiras de diversas cidades, comoMarabá, Cametá e Imperatriz, possuíamáreas e épocas bem-definidas de atuação,resultando num rendimento de 4.250 t.ano-1
em toda a bacia (SANTOS; MÉRONA, 1996). Apósa construção desse reservatório, profundas
172 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
800
900
700
600
500
400
300
200
100
0
Ton
ela
da
s
1992 1993 1995 19961994Anos
1997 1998
Cichla monoculus
Plagioscion squamosissimus
Hypophthalmus marginatus
Figura 5.2.2 - Rendimento pesqueiro de tucunaré, corvina emapará no reservatório de Tucurui, entre os anos de1992 e 1998 (Fonte: CAMARGO; PETRERE JUNIOR, 2004).
modificações foram observadas na ictiofaunae na pesca. Segundo Santos e Mérona (1996),populações de peixes a jusante da barragemdesapareceram, acontecendo o mesmo comas espécies migradoras dentro doreservatório. Populações de outras espéciessofreram explosões demográficas na árearepresada, como piranhas, tucunarés e opróprio mapará (espécie planctófaga). Desdeentão, cinco novos reservatórios mudaram afisiografia do rio Tocantins. Destes, noentanto, não há informações sobre a pesca,que, mesmo proibida, é intensa (observaçãopessoal).
Reservatório de Tucuruí
O reservatório de Tucuruí está localizado norio Tocantins (Tucuruí e Marabá, PA), abaixoda confluência com o rio Araguaia. Oreservatório, fechado em 1984, inundou umaárea de 2.430 km2. Nos primeiros quatroanos após o enchimento do reservatório, aprodutividade da pesca comercial aumentouem 600% (ELETROBRÁS;
ELETRONORTE, 2000). Antes dofechamento da barragem, aprodução pesqueira era estimadaem 452 t.ano-1 na região, sendoque em 1995 foi estimada em4.500 t.ano-1 (CAMARGO; PETRERE
JUNIOR, 2004), o que significauma produtividade de 18 kg ha-1
ano-1. Os maiores rendimentossão registrados no período deseca, sendo os “paliteiros” e osbraços laterais do reservatórioos ambientes mais produtivos(ELETROBRÁS; ELETRONORTE, 2000).
A região a jusante do reservatórioapresentou elevação no rendimento logoapós o fechamento da barragem, mas quediminuiu drasticamente nos anossubseqüentes, como resultado da pescaintensiva e dos efeitos hidrológicos dobarramento (SANTOS; MÉRONA, 1996). Nos doisanos subseqüentes ao fechamento houvequeda de 65% nas capturas dessa região(RIBEIRO; PETRERE JUNIOR; JURAS, 1995).
Das 400 espécies de peixes registradas nabacia, aproximadamente 30 sãodesembarcadas na pesca do reservatório deTucuruí, sendo que o tucunaré Cichlamonoculus, o mapará Hypophthalmusmarginatus e a corvina P. squamosissimustotalizaram mais de 85% das capturas totaisno período de 1992 a 1999 (CAMARGO; PETRERE
JUNIOR, 2004). O tucunaré e a corvina sãoespécies sedentárias, enquanto que o maparáé migradora. Nesse mesmo período, orendimento do tucunaré vem diminuindo,enquanto que o do mapará aumentou nosúltimos anos (Figura 5.2.2).
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 173173173173173
600
4500
3000
1500
0
Ton
ela
da
s
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Anos
Figura 5.2.3 - Projeção do rendimento pesqueiro (t) noreservatório de Tucurui até o ano de 2009, considerandouma taxa de crescimento de 10% ao ano na densidade depescadores (Fonte: , 2004).CAMARGO; PETRERE JUNIOR
O número de pescadorestambém aumentou. Em 1988eram 0,5 ind./km2, passandopara 1,6-2,1 ind./km2 em 1995(CAMARGO; PETRERE JUNIOR, 2004).O número máximo depescadores no reservatório foilimitado a 2.500, mas existeminúmeros atuandoclandestinamente (ELETROBRÁS;
ELETRONORTE, 2000).Considerando o aumento nadensidade de pescadores aolongo dos anos, Camargo ePetrere Junior (2004) fizeramuma projeção do estoque de peixes até 2009.Com um incremento de 10% ao ano nadensidade de pescadores, observou-sediminuição no estoque a partir de 2001,seguindo dessa forma em progressão linear,com sobrepesca em 2005 (Figura 5.2.3).Considerando os dados apresentados porCamargo e Petrere Junior (2004), a CPUEdeve ser aproximadamente 4,7 kg pesc.-1 dia-1.
Bacia do Rio São Francisco
Para a bacia do rio São Francisco, emboraexistam numerosas referências sobre a pesca,pode-se afirmar que praticamente nãoexistem estatísticas pesqueiras globais, sendoos registros disponíveis pouco consistentes(GODINHO, A.L.; GODINHO, H.P. c2003). Mesmoassim, o rio São Francisco foi,historicamente, uma das principais fontes depescado do país. As estimativas mais recentesforam realizadas em 1987, estimando umcontigente de 26.000 pescadores nessa bacia,
com um rendimento de 26.100 toneladasnesse ano (SATO; GODINHO, 1999).
A composição do pescado mostra variaçõesacentuadas entre os trechos livres da bacia eos reservatórios. Assim, nos trechos livrespredominam os grandes peixes migradores,como o pintado Pseudoplatystoma corruscans, ocurimba Prochilodus marggravii e o dourado S.brasiliensis. Já nos reservatórios, a captura deespécies migradoras é esporádica, exceto ado curimba. Neles as espécies predominantessão os anostomídeos e corvinas (SATO;
GODINHO, 1999).
Apesar de não existirem estatísticasconsistentes, a pesca na bacia declinouconsideravelmente, sendo essa tendênciaatribuída à poluição, ao uso inadequado dosolo, às normas pesqueiras impróprias, àsobrepesca e aos represamentos (GODINHO,
A.L.; GODINHO, H.P., c2003). O principalambiente de pesca em sua região superiorera a calha do rio, enquanto que no trechomédio as lagoas tomavam esse posto
174 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
0
5
10
15
20
25
Anos1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1993 1994 1995
Figura 5.2.4 - Rendimento pesqueiro no reservatório deSobradinho, entre os anos de 1979 a 1986
1996) e de 1993 a 1995 (Fonte:, 1998; , 2000).
(Fonte:,PETRERE JUNIOR
AGOSTINHO BORGHETTI
Re
nd
ime
nto
(x1
00
0t)
(GODINHO; KYNARD; MARTINEZ, c2003). Deacordo com esses autores, a pesca de hoje émenos produtiva que em tempos passados,em termos quantitativos e qualitativos.
Reservatório de Sobradinho
Sobradinho foi completado em 1979,inundando uma imensa área de 4.200 km2,sendo, portanto, um dos maioresreservatórios do continente. Após aconstrução da barragem, houve um fantásticoincremento nas capturas, subindo de 2.500t.ano-1 no período pré-represamento para24.000 t em 1980 (PETRERE JUNIOR, 1996), o quesignifica uma elevada produtividade de pesca(57,1 kg ha-1 ano-1). Entretanto, a partir de 1982o rendimento começou a declinar, alcançandoaproximadamente 13.000 t em 1986 (Figura5.2.4). Nesse período a zona de transição doreservatório era a mais produtiva para a pesca(PETRERE JUNIOR, 1996). A tendência de quedano rendimento pesqueiro se agravousobremaneira na década de 1990 (Figura5.2.4), já que apresentou valoresabaixo de 10.000 t. Em 1994 orendimento somou apenas3.000 t, o que equivale a umaprodutividade de pesca de 7,1kg ha-1 ano-1, ou seja, oito vezesmenor que o valor inicial. Seriafundamental avaliar o estadoatual das capturas.
Espécies migradoras erammuito capturadas logo após orepresamento, sendo que ocurimba e o pintado P.corruscans foram as principais
espécies nos desembarques. Nos anosseguintes, entretanto, outras espéciesaumentaram de importância e passaram apredominar nas pescarias, destacando-se entreelas as corvinas (Pachyurus e Plagioscion) epiaus (PETRERE JUNIOR, 1996; AGOSTINHO, 1998).As espécies migradoras, por outro lado,apresentaram notáveis declínios nas capturas.
De forma similar, os valores de CPUE vêmapresentando diminuição desde o fechamentodo reservatório, apesar de ocorrer relevantevariação espacial dentro do represamento(AGOSTINHO, 1998). No primeiro ano de suaexistência (1980), a CPUE era razoavelmentebaixa (8,1 kg pesc.-1dia-1); aumentousignificativamente no ano seguinte, somando31 kg pesc.-1dia-1. É provável que tal fatodeva-se à ação concomitante do aumento daprodutividade do sistema – normal nosprimeiros anos – e do aumento do esforço depesca. Após quatro anos, em 1985, cerca de2.000 pescadores atuavam no reservatório(GODINHO, A.L.; GODINHO, H.P., c2003), o quesignifica uma densidade de 0,48 ind./km2.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 175175175175175
Com base nesses dados, a CPUE nesse anopode ser estimada em torno de 27 kg pesc.-1
dia-1, o que indica pouca alteração quandocomparada com o período anterior. Porém em1993 a CPUE registrada foi de 16,9 kg pesc.-
1dia-1, que corresponde à metade do valorregistrado no período de maior produção.
Apesar da inegável queda nas capturas desdea formação do reservatório, Agostinho (1998)relacionou a variação no rendimento da pescacom as variações observadas no nívelhidrométrico do reservatório, embora a sérietemporal de dados não seja contínua, entre1978 e 1995. Nesse caso, o aporte de nutrientesa partir do alagamento da vegetação terrestreem momentos de elevadas cotas poderia estaralterando o estado trófico do sistema, o que,por fim, refletiria na produção pesqueira.Se futuras avaliações evidenciarem aocorrência desse fenômeno, a manipulaçãoplanejada do nível hidrométrico dessereservatório, em conjunto com estudosavaliativos dos impactos decorrentes de talprocedimento, poderiam se constituir emefetiva ferramenta de manejo para a elevaçãodo rendimento pesqueiro.
Reservatório de Três Marias
Localizado na região superior da bacia, foiformado em 1962 e inunda uma área de 1.142km2. Uma extensão de 1.050 km separa osreservatório de Três Marias e Sobradinho,constituindo um trecho livre de barramentose ainda composto por várzeas. Cerca de 73espécies de peixes estão descritas para aregião de Três Marias, mas as espécies quedominam as capturas na pesca são o piau-
branco, corvinas e tucunarés (SATO; GODINHO,1999; THÉ; MADI; NORDI, c2003).
O rendimento em 1986 foi estimado em 500 t,o que significa uma produção aproximada de5 kg ha-1 ano-1
(SATO; OSÓRIO, 1988; BORGHETTI,2000). O número de pescadores em 1997 foiestimado em 160 (CAMARGO; PETRERE JUNIOR,2001), com densidade aproximada de 0,15ind./km2. O rendimento por unidade deesforço é de aproximadamente 13 kgpescador-1 dia-1.
Reservatórios de Paulo Afonso eItaparica
Na bacia do São Francisco existem dados derendimento pesqueiro para mais doisreservatórios, Itaparica e Paulo Afonso,situados a jusante de Sobradinho. Asinformações aqui descritas foram obtidas deBorghetti (2000). Os demais aspectos da pescanão são descritos.
Paulo Afonso, fechado em 1955, é umreservatório pequeno, com cerca de 5 km2.Borghetti não informa o ano da estimativa,mas apresenta um rendimento pesqueiroalto, de 500 t.ano-1. O reservatório deItaparica, fechado em 1988 e com área de 828km2, apresentou rendimento de 4.000 t noano de 1992. Estimando sua produtividadechega-se a um valor de 48,3 kg ha-1ano-1,elevado para os padrões sul-americanos.Esses dados, entretanto, não foramresultantes de trabalhos sistematizados decoleta de informação em campo, o que deveser considerado uma restrição paracomparações.
176 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Reservatórios da RegiãoNordeste
No início do século XX, com o intuito demitigar os efeitos da seca no Nordestebrasileiro, foram construídos centenas dereservatórios (açudes) nessa região (PAIVA;
PETRERE JUNIOR; PETENATE; NEPOMUCENO;
VASCONCELOS, 1994). Concomitantemente, natentativa de elevar o rendimento pesqueiro,muito baixo até então, inúmeras espécies depeixes foram introduzidas nessesreservatórios, provenientes de outras baciasou até mesmo de outros continentes.
A construção desses reservatórios, aliada àintrodução de espécies de interesse, teveresultado impressionante na produçãopesqueira, e hoje os reservatórios da regiãoNordeste constituem-se nos maisprodutivos do país. Outros fatores estãoenvolvidos nessa alta produtividade, ePaiva, Petrere Junior, Petenate,Nepomuceno e Vasconcelos (1994) citamcomo preponderantes o número depiscívoros presentes, a erradicação daspiranhas e a introdução do tucunaré e datilápia. Os desembarques são baseados emtilápias (do Nilo e do Congo), e o altorendimento total parece ser dependente daestocagem artificial de alevinos (FONTELES-
FILHO; ALVES, 1995).
Paiva, Petrere Junior, Petenate,Nepomuceno e Vasconcelos (1994)apresentam uma compilação do rendimentoe produção de pesca em 17 reservatórios,entre 1977 e 1986. Muitos apresentamvalores médios de produção acima de 100
kg ha-1 ano-1, com destaque para RômuloCampos, com uma produção de 667 kg ha-1
ano-1. A produção média nos 17reservatórios foi de 152 kg ha-1 ano-1, comrendimento médio de 752 t.ano-1. Cerca de18 espécies estiveram presentes na pesca,mas as principais são as tilápias, corvinas,tucunarés e curimbas. A Tabela 5.2.2apresenta um resumo das características dosreservatórios e da pesca. Nota-se que osreservatórios são, em geral, de pequenoporte e muito produtivos.
Gurgel e Fernando (1994) avaliaram a pescaem 100 reservatórios da região, entre 1950 e1990. A média de rendimento nos 100reservatórios foi de impressionantes 20.000t ano-1. A produção média estimada noperíodo foi de 111,7 kg ha-1 ano-1, commáximo de 1.101 kg ha-1 e mínimo de 12,7kg ha-1. Observou-se também quereservatórios de idade intermediária são osmais produtivos (com idade entre 21 e 30anos), assim como os de menor área (< 1km2). Os autores verificaram que aatividade dos pescadores não é permanente,e que eles exercem também outras funções(agricultura). A captura por unidade deesforço média foi de 208,3 kg pesc.-1ano-1.Também destacaram que até 1960 aprodução anual era de 43,5 kg ha-1, mantidapor espécies indígenas. Em 1978, após aintrodução da tilápia, a produção atingiu161,4 kg ha-1. Entretanto, deve-se destacarque o aumento no esforço de pesca e deestocagem, assim como as melhorias nacondução de censos, devem ter tido grandeinfluência nesses resultados. Desde 1970 apesca tem-se mantido relativamenteestável.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 177177177177177
Tabela 5.2.2 - Rendimento, produção pesqueira e algumas características de 17reservatórios da região Nordeste do país (Fonte:
, 1994)PAIVA; PETRERE JUNIOR; PETENATE;
NEPOMUCENO; VASCONCELOS
Reservatório FechamentoÁreaKm2
ProduçãoKg ha ano-1 -1
Rendimentot ano-1
Aires de Souza 1936 12,9 184 236,9
Arrojado Lisboa 1966 60 289 1.7
Caxitoré 1962 22,6 127 287
Cedro 1906 17,5 117 204,2
Cocorobó 1968 24,1 24 57,9
Eng. Avidos 1936 28 88 246,4
Eng. Francisco Sabóia 1958 56 122 683,2
Eng. Vinicius Berredo 1978 72,9 67 488,3
Epitácio Pessoa 1956 26,8 149 39 9,3
E.M./Mãe d'água 1943 111,5 169 1.884
General Sampaio 1935 33 108 356,4
Orós 1961 220 113 2.486
Paulo Sarasete 1958 96,3 125 1.203
Pereira de Miranda 1957 55 120 660
Pompeu Sobrinho 1934 19 94 178,6
Rômulo Campos 1956 24,7 667 1.650
Saco II 1970 20,2 18 36,4
média 151,8 752,5
Bacia do Rio Parnaíba
O rio Parnaíba, região Nordeste do Brasil,está localizado na divisa dos Estados do Piauíe Maranhão, pertencente à bacia do AtlânticoNorte. Cerca de 90 espécies de peixes foramregistradas, e esse rio tem importânciaconsiderável para a pesca. O rendimentopotencial foi estimado em mais de 5.000t.ano-1 (PETRERE JUNIOR, 1989).
O reservatório de Boa Esperança, fechado em1969, tem área de 363 km2 e localiza-se naregião média do rio, nas proximidades domunicípio de Guadalupe, Piauí. Orendimento pesqueiro na década de 1970 foide aproximadamente 226 t.ano-1, com umaprodução de 7 kg ha-1ano-1. O número de
pescadores foi estimado em torno de 68,utilizando 52 canoas. A CPUE variou de 12 a16 kg pesc.-1dia-1. Espécies de curimatídeosforam predominantes nos desembarques.
Bacia do Rio Paraíba do Sul
Não existem dados disponíveis quepermitam estimar as características da pescaem reservatórios dessa bacia, que drenaáguas do leste paulista e Rio de Janeiro.Portanto, as informações apresentadas têmcaráter muito preliminar, devendo seravaliadas considerando essa restrição. Emextenso trabalho, Santos, Câmara, Campos,Vermulm Junior e Giamas (1995) realizaramdiversas viagens por rios e reservatórios doEstado de São Paulo, estimando a
178 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
produtividade pesqueira e a socioeconomiados pescadores profissionais, entre 1992 e1993. Entretanto, a partir desse trabalho nãoé possível estimar o rendimento específico decada reservatório, pois não sãodiscriminados e a informação da pesca estámisturada em áreas lóticas e lênticas.
De qualquer maneira, na região que incluios reservatórios de Santa Branca, Paraibunae Jaguari, o rendimento pesqueiro foiestimado em 91 t.ano-1, com um número depescadores atuantes estimado em 55.Considerando que grande parte pesca até 25dias.mês-1, calculamos uma CPUE de 5,3 kgpesc.-1dia-1. Em outra região, que inclui osreservatórios de Funil, Itatiaia e Redenção,o rendimento estimado foi de 104 t.ano-1,com estimativa de 46 pescadores ematividade. A CPUE aproximada deve ser de7,3 kg pesc.-1.dia-1.
Bacia do Rio Paraná
Na bacia do rio Paraná, os dados dedesembarques são recentes e, emborarestritos a alguns reservatórios, sãobaseados em coletas sistemáticas realizadasa partir de 1986, sob o patrocínio deempresas do setor elétrico. A pescaartesanal, amadora e de subsistência épraticada na maioria dos reservatórios e nossegmentos ainda livres do rio Paraná.Dessas modalidades, a primeira é a maissistematicamente monitorada, tendo comocaracterísticas relevantes uma baixarentabilidade (2,5 a 12,0 kg ha-1ano-1) e umelevado número de espécies (entre 30 e 50)(PETRERE JUNIOR; AGOSTINHO, 1993; TORLONI;
CORRÊA; CARVALHO JUNIOR; SANTOS; GONÇALVES;
GERETO; CRUZ; MOREIRA; SILVA; DEUS; FERREIRA,1993; AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE JUNIOR,1994). Para alguns reservatórios asestatísticas de desembarque foraminterrompidas (década de 1990) e não sesabe se as tendências observadas são asmesmas atualmente. Ressalta-se que, nostrechos superiores da bacia do Paraná,incluindo reservatórios das sub-bacias rioGrande, Tietê e Paranapanema, a pescaesportiva e de subsistência é intensamentepraticada.
Entre 1994 e 1999, Vermulm Junior, Giamas,Campos, Camara e Barbieri (2001)avaliaram o rendimento pesqueirocomercial nos trechos paulistas dos riosGrande, Paranapanema e Paraná, incluindoregiões represadas e lóticas. A bacia doParaná foi responsável por 60% do totalcapturado, a do rio Grande 30% e a doParanapanema 6,7%. Verificaram que aCPUE (kg pesc.-1dia-1) permaneceurelativamente constante nas bacias doParaná e Paranapanema durante o período,apresentando, porém, queda progressiva nabacia do rio Grande, a bacia inicialmentemais produtiva (Figura 5.2.5). Para oconjunto das bacias, constatou-se umdecréscimo de 29,6% na produtividade (kgdia-1) entre 1994 e 1999.
Nos trechos ainda livres do alto rio Paraná,as espécies predominantes na pesca são opintado P. corruscans, dourado S. brasiliensis,barbado P. pirinampu, piaparas Leporinuselongatus e L. obtusidens, mandi P. maculatuse, mais recentemente, o armado P.granulosus, todas consideradas migradoras.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 179179179179179
kg/d
ia
Paranapanema
Paraná
Grande35
30
25
20
15
10
5
01994 1995 1996 1997 1998 1999
Anos
Figura 5.2.5 - Captura por unidade de esforço (Kg pesc. dia ) nasbacias dos rios Paranapanema, Paraná e Grande, entre1994 e 1999 (Fonte:
, 2001).
-1 -1
VERMULM JUNIOR; GIAMAS; CAMPOS;CAMARA; BARBIERI
Nos reservatórios, opredomínio nosdesembarques cabe à corvinaP. squamosissimus, mandisP. maculatus e I. labrosus,curimba P. lineatus, pequenoscharacídeos Astyanax spp. eMoenkhausia intermedia, traíraH. malabaricus e peixe-cadelaG. knerii. Estas quatroúltimas espécies têm maiorrelevância na pesca dosreservatórios menores ounaqueles de cabeceira.
Sub-Bacia Rio Grande
O rio Grande tem nove grandesreservatórios ao longo de seu curso, antes dedesembocar no rio Paraná. De acordo comPetrere Junior, Agostinho, Okada e JúlioJúnior (2002), uma grande variedade depeixes compõe as capturas nessa bacia,destacando-se o curimba, o barbado, mandis(espécies migradoras), acarás Geophagus,tilápias Oreochromis niloticus e traíras(espécies sedentárias). Segundo VermulmJunior, Giamas, Campos, Camara e Barbieri(2001), a produção vem diminuindo na bacia,caindo de 33 kg dia-1 em 1994 para 19 kg dia-1
em 1999. Entretanto, com exceção dosreservatórios de Furnas e Mascarenhas deMoraes, praticamente não existem dados deestatística pesqueira. Além disso, a maioriados levantamentos não considera o universoamostral, sendo provável que a proporçãodo rendimento registrado nas amostras emrelação ao total não seja a mesma entre osreservatórios, dificultando as comparações.
No reservatório de Água Vermelha, fechadoem 1979 e com área de 647 km2, a média dorendimento foi de 252,3 t.ano-1, para os anosde 1990 e 1991. A produtividade da pescaficou em 3,92 kg ha-1 ano-1. Um total de 34espécies foi capturado pela pesca, sendo asprincipais mandi, corvina, acarás, tilápia etraíra. Nesses anos o número de pescadoresmonitorados foi de 33, conferindo umadensidade de 0,05 ind./km2 e CPUE de 33,9kg pesc.-1dia-1(CORRÊA; SANTOS; FERREIRA;
TORLONI, 1993). Desconhece-se, entretanto, onúmero de pescadores envolvidos com aatividade. Em avaliação recente, nos anos de2000 e 2001, o rendimento ficou em 136,56t.ano-1, a produção em 2,12 kg ha-1 ano-1 e aCPUE em 28,45 kg pesc.-1dia-1 (ECO
CONSULTORIA AMBIENTAL E COMÉRCIO/AES
TIETÊ, 2001).
No reservatório de Volta Grande, fechadoem 1974 e com área de 221 km2, asprincipais espécies capturadas são a corvina,
180 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
0
40
80
120
160
200
Anos
0
0.3
0.6
0.9
1.2
Figura 5.2.6 - Rendimento (toneladas; barras) e produçãopesqueira (kg ha ano ; pontos) no reservatório de Furnas,entre 1996 e 2004.
-1 -1
Pro
du
ção
kgh
aa
no
-1-1
Re
nd
ime
nto
(t)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
o mandi e o curimba, masnão existeacompanhamentopesqueiro (BRAGA;
GOMIERO, 1997; BRAGA,2000).
Desde a década de 1990,Furnas Centrais Elétricasmantém um programa deacompanhamento dosdesembarques pesqueirosnos reservatórios deFurnas e Mascarenhas deMoraes (Furnas, dadosnão publicados).
Em Furnas, um dos maiores reservatórios doBrasil (1.440 km2), existem quase dez anos deinformação sobre estatística pesqueira, commonitoramento de 1996 a 2004. Nesseperíodo, o rendimento pesqueiro apresentoucerta oscilação, com média de 115,3 t.ano-1,porém sem apresentar tendências dedecréscimo ou acréscimo. A Figura 5.2.6apresenta os valores anuais do rendimento eprodução pesqueira nesse reservatório. Amédia de produção no período foiextremamente baixa, com valor de 0,8 kg ha-1
ano-1, reflexo da enorme área dorepresamento. Cerca de 27 espécies de peixesfazem parte das capturas pela pescacomercial, mas cinco costumam somar maisde 95% da biomassa total capturada: lambariA. altiparanae, tilápia, mandi P. maculatus,traíra e sagüiru C. modesta, em ordemdecrescente de importância. Vale destacarque no período monitorado o lambarirepresentou cerca de 70% das capturas embiomassa.
No reservatório de Mascarenhas de Moraes,que apresenta uma considerável áreainundada de 250 km2, o monitoramento dapesca foi conduzido de 1998 a 2004. Orendimento é muito baixo e apresentou sutiltendência de acréscimo nos últimos anos,passando de aproximadamente 15 t anuaisentre 1998 e 2001, para cerca de 25 t anuaisentre 2002 e 2004 (Figura 5.2.7). A média noperíodo foi de 19 t.ano-1. Quanto à produçãopesqueira, esse reservatório tambémapresentou valores extremamente baixos,com média de 0,75 kg ha-1 ano-1 no período.Um número de 17 espécies de peixes compõeas capturas da pesca comercial, mas seiscorrespondem a mais de 95% das capturasem biomassa: trairão, traíra, tilápia,tucunaré, ximboré S. nasutus e o piau L.friderici, em ordem decrescente deimportância. Destaque para as duasprimeiras, que no período representaram60% da biomassa capturada. Digna deressalva também a participação da tilápia nas
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 181181181181181
0
5
10
15
20
25
30
35
0
0.3
0.6
0.9
1.2
Figura 5.2.7 - Rendimento (toneladas; barras) e produçãopesqueira (kg ha ano ; pontos) no reservatório deMascarenhas de Moraes, entre 1998 e 2004.
-1 -1
Anos
Pro
du
ção
kgh
aa
no
-1-1
Re
nd
ime
nto
(t)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0
2
4
6
8
0
5
10
15
20
25
30Rendimento (t)
% das Capturas
Figura 5.2.8 - Rendimento (t) e participação (%) da tilápiasp. na pesca comercial do reservatório de
Mascarenhas de Moraes, no período de 1998 a 2004.Oreochromis
Re
nd
ime
nto
(t)
Anos
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%d
as
Ca
ptu
ras
capturas, que vêm aumentandosobremaneira desde 2001(Figura 5.2.8).
Santos, Camara, Campos,Vermulm Junior e Giamas(1995) avaliaram a pescacomercial na região dosreservatórios de Marimbondo,Volta Grande, Água Vermelhae Porto Colômbia, entre 1992 e1993. No entanto, nãodiscriminaram os resultadospara cada reservatório. Orendimento pesqueiro para aregião foi estimado em 507t.ano-1, com número depescadores estimado em 86.Considerando que a maioriapesca cerca de 25 dias/mês,calculamos uma CPUE de 20kg pesc.-1dia-1.
Relatórios produzidos porFurnas Centrais Elétricas S.A.(FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS,2002c, 2002e, 2003a )evidenciaram que nosreservatórios de Marimbondo,Luiz Carlos Barreto deCarvalho e Porto Colômbia aictiofauna é composta porespécies de baixo valor comercial e porespécies atrativas para a pesca esportiva,como o tucunaré e a corvina. É sabido,entretanto, que esta última espécie temgrande relevância na pesca de outrosreservatórios da bacia do rio Paraná ecertamente é explorada na pesca comercialpraticada nesses reservatórios.
Os documentos consultados sugerem que apesca comercial não é monitorada epreconizam a necessidade de fazê-lo paraque seja regulamentada. De fato, dos novereservatórios da bacia do rio Grande, apenasa pesca praticada em Água Vermelha, Furnase Mascarenhas de Moraes é conhecida, outem dados disponibilizados.
182 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
0
4
8
12
16
20
24
28
Billings Barra Bonita Ibitinga Promissão Avanhandava Três Irmãos
jusante
Reservatórios
Pro
du
ção
pe
squ
eira
(kg
há
an
o)
-1-1
Figura 5.2.9 - Produção pesqueira nos reservatóriosposicionados em série no rio Tietê, Estado de São Paulo. Oano das estimativas (virada do século XX), o número depescadores envolvidos, bem como os demais detalhes dapesca estão discriminados ao longo do texto.
Sub-Bacia Tietê
Similarmente ao rio Grande, o rio Tietêtem uma série de barramentos ao longo desua extensão, somando seis a jusante dacidade de São Paulo. Esse rio é o principaltributário da margem esquerda do rioParaná, sendo um dos mais poluídos doSudeste brasileiro, já que atravessa a cidadede São Paulo e diversos outros grandescentros urbanos do interior (PETRERE JUNIOR;
AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002). Dessaforma, alguns reservatórios tiveramhistórico de severa eutrofização. A pescainclui diversas espécies de peixes, mas asespécies sedentárias são as mais importantes.
As capturas nesses reservatórios variammuito entre os anos, sendo aqui apresentadasas médias do rendimento e daprodutividade. Observando a produçãopesqueira ao longo da série, entre Billings eTrês Irmãos, é evidente seudecréscimo em direção à foz(Figura 5.2.9). Essadiminuição na produçãopode estar relacionada àdiminuição no grau de trofiados reservatórios, resultadoda disposição em cascata, quefavorece a sedimentação eretenção de matériaorgânica/nutrientes nosreservatórios a montante(BARBOSA; PADISÁK; ESPÍNDOLA;
BORICS; ROCHA, 1999). De fato,Gomes, Miranda e Agostinho(2002) observaram que aprodutividade da pesca nos
reservatórios dessa bacia está correlacionadacom a produtividade primária. O esforço depesca parece ser também um fatorimportante. É provável que a produçãoaumente com o emprego de um maioresforço.
O reservatório Billings, fechado em 1926,pode não ser considerado como parte dacascata de reservatórios, pois está localizadona região superior da bacia (regiãometropolitana de São Paulo), junto aoscontrafortes da Serra do Mar. Tem longohistórico de eutrofização, já que recebeu pormuito tempo as águas poluídas dos rios Tietêe Pinheiros. Tem área de 127 km2 e 14espécies de peixes são registradas noreservatório. A principal espécie na pescaartesanal é a introduzida tilápia do Nilo (>80%), seguida por lambaris, traíra e atambém introduzida carpa Cyprinus carpio. Orendimento e a produtividade da pesca nessereservatório são mais altos, estimados
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 183183183183183
91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02Anos
0
100
200
300
400
500
600
Ton
ela
da
s
Figura 5.2.10 - Variações no rendimento total da pesca (linha) ecomposição dos desembarques da pesca comercial (barras) doreservatório de Barra Bonita no período de 1991 a 2002 (Fonte:
, 1993;, 2002 ).
CORRÊA; SANTOS; FERREIRA; TORLONI ECO CONSULTORIAAMBIENTAL E COMERCIAL AES TIETÊ S.A./
Curimba
Mandis
Curvina
Tilápia
Cascudo
Traíra
Lambarís
Piaus
Caboja
Outros
respectivamente em 295 t.ano-1 e 24 kg ha-1
ano-1, medidos durante o ano de 1996 einício de 1997 (MINTE-VERA; CAMARGO; BUBEL;
PETRERE JUNIOR, 1997; MINTE-VERA; PETRERE
JUNIOR, 2000; GOMES; MIRANDA; AGOSTINHO,2002). Esse é o valor de produtividade depesca mais elevado da bacia. O númeroestimado de pescadores artesanais é de 101,conferindo média de 0,9 pescadores km2
(MINTE-VERA; CAMARGO; BUBEL; PETRERE JUNIOR,1997). Com base nesses dados, a CPUEestimada é de aproximadamente 12 kg pesc.-
1dia-1, valor proporcionalmente baixo emrelação ao de produtividade, revelandoelevado esforço.
O reservatório de Barra Bonita é o primeiroda série após a cidade de São Paulo, comárea de 308 km2, tendo sido fechado em1963. Esse reservatório recebe ainda grandecarga de poluentesdomésticos e industriais.Com registro de 39espécies de peixes napesca comercial, asprincipais são, em ordemdecrescente deimportância, corvina,curimba, traíra, piavas,mandis e curimatídeos(TORLONI; CORRÊA;
CARVALHO JUNIOR; SANTOS;
GONÇALVES; GERETO; CRUZ;
MOREIRA; SILVA; DEUS;
FERREIRA, 1993). Orendimento médiodurante o período de1989 a 1991 foi estimadoem 291 t.ano-1, aprodução em 9,4 kg ha-1
ano-1, e a CPUE em 40,4 kg pesc.-1 dia-1. Onúmero de pescadores atuando noreservatório era de 79, com densidade de0,23 ind./km2. Em nova avaliação, nos anosde 2000 e 2001, a atividade pesqueira pareceestar se mantendo em condição estável, comrendimento estimado em 304,8 t.ano-1,produção em 9,8 kg ha-1 ano-1 e CPUE em54,4 kg pesc.-1 dia-1 (ECO CONSULTORIA
AMBIENTAL E COMÉRCIO/AES TIETÊ, 2001),valores próximos aos do período anterior.Entretanto, a despeito de o rendimento totalnão ter sido alterado, a composição dosdesembarques mudou consideravelmente,sendo a tilápia a base das capturas. Aliás, noano de 2002, ou seja, cinco anos após osprimeiros registros da tilápia nosdesembarques da pesca comercial,constatou-se um decréscimo no rendimentodesse reservatório (Figura 5.2.10).
184 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
O próximo reservatório da série é o deIbitinga, com área de 114 km2, tendo sidoformado em 1969. Cerca de 41 espécies depeixes foram registradas na pesca comercialdesse reservatório, sendo as mais capturadas,em ordem decrescente, corvina, mandis,lambaris, curimba, traíra e piavas. Orendimento de pesca teve média estimadaem 54,9 t.ano-1, com produção de 4,8 kg ha-1
ano-1 e CPUE de 16,3 kg pesc.-1 dia-1, entre osanos de 1989 e 1991. Nesse período a CESPtinha 26 pescadores cadastrados, conferindouma densidade de 0.23 ind./km2 (TORLONI;
CORRÊA; CARVALHO JUNIOR; SANTOS; GONÇALVES;
GERETO; CRUZ; MOREIRA; SILVA; DEUS; FERREIRA,1993). Desconhece-se, no entanto, quanto esseesforço representava do total. Em avaliaçãomais recente (2000 e 2001), o rendimento foiestimado em 75,3 t.ano-1, a produção em 6,2kg ha-1 ano-1, e a CPUE em 26,1 kg pesc.-1 dia-1
(ECO CONSULTORIA AMBIENTAL E COMÉRCIO/AES
TIETÊ, 2001). Esses valores são maiores que osdo censo anterior. O esforço total de pesca éentretanto desconhecido, fato que dificulta ascomparações.
O reservatório de Promissão, formado em1977, tem área de 530 km2. Um total de 43espécies de peixes é registrado na pesca, masmandis, corvinas, curimbas e lambarisperfazem grande parte das capturas. Entre osanos de 1986 e 1991 a média estimada dorendimento foi de 234,5 t.ano-1, a produçãode 3,9 kg ha-1 ano-1, com CPUE de 44,1 kgpesc.-1 dia-1. Existiam cerca de 80 pescadoresatuantes, com densidade de 0,15 ind./km2
(TORLONI; CORRÊA; CARVALHO JUNIOR; SANTOS;
GONÇALVES; GERETO; CRUZ; MOREIRA; SILVA; DEUS;
FERREIRA, 1993; PETRERE JUNIOR; AGOSTINHO;
OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002). Em censo mais
recente, a média estimada do rendimento foide 330 t.ano-1, a produção de 5,6 kg ha-1 ano-1,com CPUE de 33,6 kg pesc.-1 dia-1 (ECO
CONSULTORIA AMBIENTAL E COMÉRCIO/AES TIETÊ,2001). O rendimento atual é maior que o doperíodo anterior, mas os valores de CPUEsão semelhantes, sendo provável que oesforço de pesca tenha aumentado.
Em Nova Avanhandava, fechado em 1982,com 210 km2 de área, são registradas 42espécies de peixes. As espécies que compõema pesca comercial são basicamente asmesmas dos reservatórios à montante, ouseja, em ordem decrescente de importância:corvina, mandi, curimba, traíra, piranha elambaris (TORLONI; CORRÊA; CARVALHO JUNIOR;
SANTOS; GONÇALVES; GERETO; CRUZ; MOREIRA;
SILVA; DEUS; FERREIRA, 1993). Os valoresmédios de rendimento e a produtividadepesqueira no período de 1988 a 1991 foramestimados respectivamente em 65,9 t.ano-1 e3,1 kg ha-1 ano-1. A CPUE foi de 22,9 kg pesc.-1
dia-1. Existiam 39 pescadores cadastrados,com densidade de 0,18 ind./km2. Emavaliação mais recente, nos anos de 2000 e2001, o rendimento foi estimado em 75,8t.ano-1, a produção em 2,1 kg ha-1 ano-1, comCPUE de 35,1 kg pesc.-1 dia-1 (ECO CONSULTORIA
AMBIENTAL E COMÉRCIO/AES TIETÊ, 2001).Devido ao aumento na CPUE e valoressemelhantes de rendimento entre osperíodos, é provável que o número depescadores tenha diminuído, mas o esforçode pesca, pelo menos o monitorado, tenhaaumentado no reservatório.
A represa de Três Irmãos, última da série norio Tietê, foi formada em 1991 e apresentaárea de 770 km2. Um levantamento da
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 185185185185185
produção pesqueira no ano de 1999 indicourendimento de 159,6 t, com baixaprodutividade, ou seja, 1,95 kg ha-1 ano-1
(CESP, 2000a). De 26 espécies registradas napesca, as principais foram o acará e acorvina. Não se sabe o número depescadores na região, mas a CESP anotava19 pescadores profissionais cadastradosem 1999.
A CESP continuou o monitoramento dapesca nesse reservatório nos anos seguintes,apresentando informações entre 2000 e 2003.O rendimento no período aumentousutilmente, com média de 233,8 t.ano-1. Aprodução média continua baixa, em tornode 3,04 kg ha-1 ano-1, com CPUE média de 45kg pesc.-1.dia-1. Apesar de 43 espécies teremsido registradas em pescarias experimentaisno período, acarás e corvinas continuamperfazendo a maior parte dos desembarquescomerciais (CESP, 2005).
Sub-Bacia Paranapanema
O rio Paranapanema também tem umasérie de reservatórios ao longo de seu cursoprincipal. Nestes, a despeito de existir pescacomercial, as informações acerca dosdesembarques são escassas.
O reservatório de Jurumirim, o primeiro dasérie, foi fechado em 1962 e apresenta área de425 km2. Não há dados de desembarquespara esse reservatório. Entretanto, os dadosda pesca experimental obtidos por Carvalhoe Silva (1999) permitem estimar,preliminarmente, em 32,6 t.ano-1 orendimento em 11,5 km2 desse reservatório.
A produtividade esperada para a pesca seriade 30 kg ha-1 ano-1, considerando-se oconjunto das espécies. Porém, seconsideradas as espécies dominantes epassíveis de exploração, esse valor alcançariano máximo 12,7 kg ha-1 ano-1. Com base nascapturas dessas espécies, a extrapolação paratodo o reservatório, estimada de formapreliminar e grosseira, seria de 566 t.ano-1.Ressalta-se, entretanto, que esses dadospressupõem um esforço elevado, que de fatonão ocorre ou não foram objeto dasamostragens em monitoramento dereservatórios da bacia do rio Paraná. Asespécies dominantes nessas pescarias seriamcurimatídeos, lambaris, mandis e piavas.
Os estudos de Santos, Camara, Campos,Vermulm Junior e Giamas (1995) revelamum rendimento pesqueiro de 159 t.ano-1 paraa região do rio Paranapanema e tributários, aqual inclui o reservatório de Capivara, queconta com 61 pescadores em atividade.Considerando um período declarado de 25dias de pesca por mês, conclui-se que a CPUEé de 8,7 kg pesc.-1.dia-1.
Os resultados obtidos por Santos, Camara,Campos, Vermulm Junior e Giamas (1995)para outro trecho da bacia, compreendendoos reservatórios de Xavantes, Salto Grande eCapivara, mostram um rendimentoestimado em 49 t.ano-1, para 15 pescadoresem atividade. Nesse caso, a CPUE foiestimada em 11 kg pesc.-1.dia-1. Já asestimativas realizadas por estes autores paraos reservatórios Taquaruçu e Rosana,revelaram rendimentos de 230 t.ano-1, onde47 pescadores estiveram em atividade, comCPUE de 16,3 kg pesc.-1dia-1.
186 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Alto Rio Paraná
No curso principal do alto rio Paranáexistem 4 grandes reservatórios: IlhaSolteira, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu.Porto Primavera é o mais recente, tendo sidofechado no final de 1998, sendo que os dadosde estatística pesqueira são parciais,abrangendo somente o ano de 2004.
Ilha Solteira é o primeiro reservatório dasérie, tendo sido fechado em 1973 e contandocom área de 1.200 km2. Em 1994 orendimento foi de 97,5 t, o que significa umaprodutividade de pesca de 0,8 kg ha-1 ano-1
(CESP, 1996). Em 1999 o rendimento estimadofoi de 136 t, com produção aproximada de 1,1kg ha-1 ano-1 (CESP, 2000a). Das 32 espéciesregistradas no reservatório, acará, corvina emandis constituíram a base dosdesembarques. O baixo rendimentoobservado pode estar relacionado a umbaixo esforço de pesca ou de amostragem.Desconhece-se o número de pescadoresatuantes, porém no levantamento de 1999foram computadas cerca de 30 fichas decontrole por mês.
A CESP continua monitorando a pesca nessereservatório, e entre 2000 e 2003 os aspectosda pesca parecem não ter mudado quandocomparados com períodos anteriores. Orendimento médio não foi muito diferente,com média de 122,44 t.ano-1, a produtividadepesqueira média foi de 1,02 kg ha-1 ano-1 e aCPUE apresentou média de 29,5 kg pesc.-1
dia-1. As principais espécies continuam sendoa corvina, mandi e acarás, perfazendo maisde 50% das capturas.
O reservatório de Jupiá, com 327 km2 deárea, fechado em 1974, apresenta pescabaseada em 34 espécies de peixes, sendo asprincipais curimba, mandi, corvina, acarás,piavas e cascudos. Entre 1989 e 1991 orendimento médio foi de 185,7 t.ano-1, comprodução de 5,28 kg ha-1 ano-1 e CPUE de 36,8kg pesc.-1 dia-1. O número de pescadoresativos e monitorados foi de 49, com médiade 0,14 ind./km2 (TORLONI; CORRÊA; CARVALHO
JUNIOR; SANTOS; GONÇALVES; GERETO; CRUZ;
MOREIRA; SILVA; DEUS; FERREIRA, 1993). Em 1994foram capturadas 174,8 t de peixes (CESP,1996), portanto próximo à média do períodoanterior.
No entanto, informações recentes acerca dapesca comercial nesse reservatório, obtidasentre 2000 e 2003 (CESP, 2005), indicam que orendimento diminuiu substancialmentequando comparado com os desembarques dadécada de 1990. O rendimento médio noperíodo foi de 83,15 t.ano-1, cerca de metadedo observado anteriormente. A produçãopesqueira média foi de 2,36 kg ha-1 ano-1 e aCPUE parece não ter mudado muito, commédia de 31,23 kg pesc.-1 dia-1, um indicativode que provavelmente ocorreu diminuiçãono número de pescadores atuantes. Asespécies capturadas na pesca continuamsendo as mesmas, com prevalência de acarás,mandi e corvina.
A CESP monitorou pesca no reservatório dePorto Primavera de maio a agosto de 2004,portanto as informações têm ainda caráterincompleto. No período, o rendimento foi de85,48 t, o que significa uma baixíssimaprodução de 0,38 kg ha-1, reflexo da elevadaárea do represamento, uma das maiores
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 187187187187187
0
5
10
15
20
25
0
400
800
1200
1600
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
Rendimento (t)
CPUE (kg pesc dia )-1 -1
Re
nd
ime
nto
(t)
Anos
Figura 5.2.11 - Rendimento e CPUE na pesca de Itaipu entre 1987 e1998 (Fonte: , 1996;
,1999).OKADA; AGOSTINHO; PETRERE JUNIOR
AGOSTINHO; OKADA; GREGORIS
CP
UE
áreas alagadas do Brasil(2.250 km2). A CPUE foialta, com valor de 48,7 kgpesc.-1 dia-1, e as principaisespécies capturadasforam corvinas, cascudose piaus, além de traíra etucunaré.
O reservatório de Itaipu,fechado em 1982 e com1.350 km2 de área,apresenta umacompanhamento maisprolongado e intensivo.Tem uma pesca bemdiversificada (~50espécies), com predomínio de armado,corvina, mapará e curimba, além de cascudosem sua porção mais alta. O monitoramento,iniciado em 1987, revela um rendimentomédio de 1.470 t.ano-1 para o período de 1987a 1998, com produção média de 13,3 kg ha-1
ano-1 (OKADA; AGOSTINHO; PETRERE JUNIOR, 1996;AGOSTINHO; OKADA; GREGORIS, 1999; PETRERE
JUNIOR; AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002).Cerca de 1.000 pescadores, considerando-seos ajudantes de pesca, trabalham noreservatório, conferindo uma densidade de0,74 ind./km2. A CPUE tem diminuído aolongo dos anos e em 1998 foi estimada em11,2 kg pesc.-1 dia-1. O decréscimo da CPUEestá associado a um aumento no esforço depesca, já que o rendimento mantém-serelativamente constante, embora com levedecréscimo nos últimos anos (OKADA;
AGOSTINHO; PETRERE JUNIOR, 1996; AGOSTINHO;
OKADA; GREGORIS, 1999). A Figura 5.2.11apresenta valores de CPUE e rendimento noperíodo de 1987 a 1998.
É interessante notar que em 1987, três anosapós o fechamento do reservatório, ocurimba era a principal espécie nosdesembarques, apresentando quedaacentuada e progressiva até 1998.Diferentemente, a participação do armadovem aumentando significativamente nosdesembarques (Figura 5.2.12). Por outrolado, a principal espécie na pesca durante operíodo de 1988 a 1993 foi o filtrador-planctófago Hypophthalmus edentatus, omapará. Entretanto, seu rendimento vemapresentando queda acentuada desde 1992(450 t) alcançando apenas 150 t no ano de1998 (Figura 5.2.12). Também a captura porunidade de esforço dessa espécie vemapresentando tendência semelhante dequeda durante esses anos (Figura 5.2.13).Ocorrência similar é registrada nas capturasda corvina, que parecem acompanhar asvariações populacionais do mapará, suaprincipal presa (HAHN; AGOSTINHO; GOITEIN,1997) - Figura 5.2.13.
188 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
H. edentatus
P. squamosissimus10
8
6
4
2
CP
UE
(kg
pesc
.dia
)-1
-1
5
4
3
2
Anos
1988 1989 1990 1991 1992 1993 *1995 1996 1997 **1998
Figura 5.2.13 - Captura por unidade de esforço (CPUE) domapará e da corvina noreservatório de Itaipu, entre 1988 e 1998. O eixo y-esquerdarepresenta a CPUE do mapará, enquanto que y-direita é aCPUE da corvina; * indica ausência de coleta de dados em1994; ** interrupção da pesca durante o período reprodutivo
H. edentatus P. squamosissimus
(Fonte: , 2001).AMBRÓSIO; AGOSTINHO; GOMES; OKADA
CP
UE
(kg
pesc
.dia
)-1
-1
Anos
50
150
250
350
450
550
650
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
curimbamaparácorvinaarmado
Rendim
ento
(t)
Figura 5.2.12 - Rendimento pesqueiro das principais espéciescapturadas no reservatório de Itaipu, entre 1987 e 1998(Fonte: ,1996;
, 1999).OKADA; AGOSTINHO; PETRERE JUNIOR
AGOSTINHO; OKADA; GREGORIS
Ainda no alto rio Paraná, hádados disponíveis para apesca praticada no LagoParanoá, um reservatórioconstruído em 1959 no rioParanoá, Distrito Federal,que drena suas águas para orio São Bartolomeu,afluente do Corumbá. Essereservatório urbanoinundou uma área de 37,5km2 e, embora construídocom finalidade hidrelétrica,tem forte apelo recreativo.Situada na área urbana deBrasília, a represa sofreumuitos anos com aeutrofização.
O rio original continhacerca de 50 espécies nativas.Hoje a fauna dessereservatório estácompletamente alterada,dominada por espécies não-nativas, como tilápias,carpas, bluegill, bagreafricano e tucunarés. Apesca foi proibida de 1966 a1999. Porém, mesmo ilegal,em 1985 cerca de 100famílias viviam do pescado.O rendimento anual era de200 t, principalmente tilápias e carpas, comprodução de 48 kg ha-1ano-1 (RIBEIRO; STARLING;
WALTER; FARAH, 2001).
Em avaliação recente, Walter (2000)caracterizou a situação da pesca no lago entreos anos de 1999 e 2000. O rendimento anual
foi de 62,5 t, com produção em torno de 16,4kg ha-1ano-1. A tilápia do Nilo continua sendoa principal espécie nas capturas (~ 85%),seguida da carpa, da tilápia do Congo e datraíra. Em média, cerca de 21 pescadoresatuavam por mês, rendendo uma CPUE deaproximadamente 11,23 kg pesc.-1 dia-1.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 189189189189189
Sub-Bacia Iguaçu
A bacia do rio Iguaçu é caracterizada poruma ictiofauna endêmica de pequeno porte,formada basicamente por pequenoscaracídeos. Na década de 1970, o rio já eraconsiderado pouco piscoso e osreservatórios construídos ali seriam poucopropícios para o desenvolvimento de umapesca comercial (GOODLAND, 1975). Cerca de5 reservatórios foram construídos no leitoprincipal do rio, que é um dos principaistributários do rio Paraná.
Além da baixa produção natural de peixesda bacia, uma portaria do IBAMA de 1996proibiu a pesca comercial no rio Iguaçu.Mesmo assim, uma atividade pesqueira foiidentificada nos trechos médios do rio,especialmente nos reservatórios de SaltoSantiago e Osório, baseada em pequenoslambaris (OKADA; GREGORIS; AGOSTINHO;
GOMES, 1997). Nos demais reservatórios, apesca está ausente, mas, seguindo atendência observada em reservatórios dopaís, espera-se que logo alguma atividadevenha a ser estabelecida. Em vista docaráter incipiente da pesca, essa atividadeainda não é considerada como ameaça àconservação dos estoques de peixes dabacia. Entretanto, a regulamentação e ocontrole da atividade revelam-senecessários, já que a proibição é ineficientee a pesca na região deve se intensificar nospróximos anos (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/COPEL, [1997]). Talpreocupação é relevante e justificada peloalto grau de endemismo que caracteriza aictiofauna da bacia.
Os dados apresentados a seguircorrespondem a uma avaliação preliminarda pesca nos reservatórios Salto Santiago eSalto Osório, realizada por Okada, Gregoris,Agostinho e Gomes (1997). Os pescadoresforam entrevistados em 1996. A pescainiciou-se em 1987 e funcionaprincipalmente como complemento derenda. O pescado é destinado a mercados daregião, de Guaíra e de Curitiba.
O reservatório Salto Santiago foi fechadoem 1980, inundando uma área de 208 km2.Um total de 27 pescadores foi entrevistado.As espécies com maiores capturas da pescacomercial foram, em ordem decrescente,lambaris, peixe-rei Odonthestes bonariensis,pintadinho Pimelodus ortmanni e traíra H.malabaricus. Considerando somente asprincipais espécies para a pesca, Okada,Gregoris, Agostinho e Gomes (1997)calcularam um rendimento médio deaproximadamente 0,5 t.dia-1, o que significa17,5 kg pesc.-1 dia-1. Extrapolando o valor dorendimento diário, tem-se um rendimentoanual estimado de 113 t (considerando 240dias de pesca/ano). A produção estimadaseria de 4,9 kg ha-1 ano-1.
O reservatório Salto Osório foi formado em1975 e tem uma área inundada de 62,9 km2.Somente 3 pescadores foram entrevistadosno período, pescando essencialmentelambaris, peixe-rei, pintadinho e traíra.Okada, Gregoris, Agostinho e Gomes (1997)estimaram um rendimento médio de 29 kgdia-1, cerca de 9,7 kg pesc.-1 dia-1. Realizandoo mesmo cálculo anterior, o rendimentoanual estimado seria de 7 t, com uma baixaprodução de 1,11 kg ha-1 ano-1.
190 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Considerações Finais
As informações disponíveis acerca dosdesembarques, embora ainda insuficientespara uma análise conclusiva, permitemevidenciar alguns aspectos importantes edetectar alguns padrões. A Tabela 5.2.3apresenta essas informações, de formaresumida, descrevendo a pesca em diversosreservatórios, pertencentes a diferentesbacias. Dado o caráter não-sistematizado daobtenção dessas informações, infelizmentenão é possível explorar relações estatísticasentre variáveis. Abaixo seguem os principaispadrões observados.
1 - Nos primeiros anos após o represamento aprodutividade de pesca aumentaconsideravelmente. Esse fenômeno se repetiuem diversas ocasiões, excedendo em muitoos valores registrados na pesca na fase depré-represamento. Nos trechos a jusante, esseincremento no rendimento deve-se àconcentração de cardumes nas proximidadesdas barragens. Isso pode decorrer (i) dainterceptação imposta pela barragem nosdeslocamentos ascendentes de cardumes; (ii)da atração de cardumes de pequenos peixesinsetívoros e planctívoros, dada a maiordisponibilidade de alimento nasproximidades da barragem; (iii) da atraçãode piscívoros pela elevada concentração depequenos peixes e/ou peixes injuriados aopassar pelas estruturas da barragem. Umapesca intensiva e descontrolada pode afetarde modo relevante os estoques de jusante.Na área represada, os primeiros anos de umreservatório são caracterizados pelaliberação de nutrientes na coluna d’água,
resultado da decomposição da matériaorgânica submersa (trophic upsurge period;AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ;
SUZUKI, 1999). Assim, o aumento observadono rendimento pesqueiro no reservatóriodecorre do aumento da produtividadeprimária (mecanismo bottom up) ou mesmoda incorporação de recursos terrestres aosistema aquático. Com o esgotamento dessacarga de nutrientes, a produtividade geralcomeça a diminuir, acontecendo o mesmocom a produtividade de peixes. Entretanto, adepleção nos estoques de peixes esperadacom a diminuição da produtividadebiológica pode ser agravada sobremaneirapor fatores como (i) o insucesso reprodutivode várias espécies de peixes no novoambiente; (ii) a variação abrupta de nível doreservatório, decorrente dos procedimentosoperacionais; (iii) o elevado esforço de pescaque se instala durante a fase mais produtivado reservatório. Com isso, após uma fase dealto rendimento, segue-se um período dequeda progressiva, sendo que um aumentono esforço de pesca não recuperará orendimento passado, além de contribuir paraacelerar e intensificar a tendência de queda.Esse fenômeno foi bem caracterizado emreservatórios antigos e com longo históricode pesca, caso de Itaipu, Sobradinho eTucuruí.
2 - As espécies migradoras são importantes para apesca apenas nos primeiros anos do reservatório.Esse fenômeno se repetiu em diversas bacias.Nos anos seguintes ao represamento, aqueda no rendimento de espéciesmigradoras tem sido inevitável,especialmente quando o segmento livre amontante é reduzido ou inexistente.
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 191191191191191
tucunaré, mapará, piau
corvina, piau
tilápia, corvina, tucunaré
PESCA
Reservatórios ÁreaKm2
Ano doCenso
Pescadoresind./Km2
Rendimentot ano-1
ProduçãoKg há-1
ano-1
CPUE Kgpesc.-1 dia-1
Principais espécies napesca
Bacia Amazônica
Balbina 2.360 1991 - 1996 0,04 –0,07 500 1,2 – 3,1 33 tucunarés
Samuel 579 -- -- 240 4,14 --
Bacia Araguaia Tocantins-
Tucurui 2.430 1995 1,6 – 2,1 4.500 18 4,7 tucunaré, mapará, corvina
Bacia São Francisco
Sobradinho 4.200 1980 -- 24.000 57,1 -- curimba, sorubim
1986 0,48 13.000 30,9 27
1994 -- 3.000 7,14 -- corvina
Três Marias 1.050 1986 e 1995 0,15 500 5 ~13 piau, corvina, tucunaré
Paulo Afonso 4,8 -- -- 500 -- -- --
Itaparica 828 1992 -- 4.000 48,3 -- --
Região Nordeste -- 1950 - 1990 -- 20.000 111,7 --
Bacia Parnaíba
Boa Esperança 352 -- -- 226 7 12 – 16 --
Bacia Paraíba do Sul
Grupo 1 -- 1992 - 1993 -- 91 -- 5,3 --
Grupo 2 -- 1992 - 1993 -- 104 -- 7,3 --
Bacia Paraná
bacia rio GrandeSub-
Água Vermelha 644 1990 - 1991 0,05 252,3 3,92 33,91 mandi, corvina
2000 - 2001 -- 136,6 2,12 28,45 acará, mandi, corvina
Grupo 3 -- 1992 - 1993 -- 507 -- 20 --
Sub bacia Tietê-
Tabela 5.2.3 - A pesca em reservatórios brasileiros. As informações foram obtidas de diversostrabalhos independentes, citados ao longo do texto desse capítulo
(continua)
mandi, curimba, corvina
tilápiaBillings 112 1996 - 1997 0,9 295 24 ~12
Barra Bonita 334,3 1989 - 1991 0,23 291 9,4 40,4 corvina, curimba, traíra
2000 - 2001 305 9,8 54,4 tilápia, mandi, curimba
Ibitinga 114 1989 - 1991 0,23 54,9 4,82 16,3 corvina, mandi, lambari
2000 - 2001 75,29 6,16 26,1
Promissão 530 1986 - 1991 0,15 234,5 3,88 44,4 mandi, corvina e curimba
2000 - 2001 -- 330 5,64 33,6 mandi e corvina
Nova Avanhandava 217 1988 - 1991 0,18 65,9 3,14 22,87 corvina, mandi, curimba
2000 - 2001 -- 75,8 2,12 35,11 corvina, acará, mandi, piau
Três Irmãos 817 1999 -- 159,6 1,95 -- acará, corvina
bacia ParanapanemaSub-
Jurumirim 446 1996 - 1997 -- ~566 ~12,70 -- curimatídeos, lambari e mandi
Grupo 4 -- 1992 - 1993 -- 159 -- 8,7 --
Grupo 5 -- 1992 - 1993 -- 49 -- 11 --
Grupo 6 -- 1992 - 1993 -- 230 -- 16,3 --
192 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Grupo 1: Santa Branca, Paraibuna, Jaguari; Grupo 2: Funil, Itatiaia e Redenção; Grupo 3: Marimbondo, Volta Grande,Água Vermelha e Porto Colômbia; Grupo 4: Galvão, Capivara e Água Inhuma; Grupo 5: Capivara, Salto Grande eXavantes; Grupo 6: Taquaruçu e Rosana.
Alto Rio Paraná
Ilha Solteira 1.231 1994 -- 97,5 0,0008 -- acará, corvina e mandi
1999 -- 136 0,001 -- Idem
Jupiá 352 1989 - 1991 0,14 185,7 5,28 36,8 curimba, mandi e corvina
1994 -- 174,8 5,0 -- idem
Itaipu 1.350 1987 - 1998 0,74 1.470 13,3 11,2 mapará, corvina, armado curimba
Paranoá 37,5 1985 - 1991 -- 200 48 -- tilápias e carpas
1999 - 2000 0,6 62,5 16,4 11,23 Idem
Sub-bacia Iguaçu
Salto Santiago 230 1996 -- 113 4,9 17,5 lambaris, peixe-rei, pintadinho
Salto Osório 62,9 1996 7,0 1,11 9,7 lambaris, peixe-rei, pintadinho
Tabela 5.2.3 - A pesca em reservatórios brasileiros. As informações foram obtidas de diversostrabalhos independentes, citados ao longo do texto desse capítulo
(conclusão)
PESCA
Reservatórios ÁreaKm2
Ano doCenso
Pescadoresind./Km2
Rendimentot ano-1
ProduçãoKg há-1
ano-1
CPUE Kgpesc.-1 dia-1
Principais espécies napesca
Diversos peixes nobres, como o dourado eo pintado, além dos grandes bagresamazônicos, passam a ser raros nascapturas, sendo substituídos por espéciessedentárias. Nos casos como o de Itaipu ealguns reservatórios com grandes de rioainda livre a montante, a pesca na metadesuperior do reservatório pode ser aindabaseada em espécies migradoras. Ressalta-se que o mandi P. maculatus, um migradormoderado, que pode se reproduzir emtributários laterais, tem importanteparticipação nos desembarques dereservatórios da bacia do rio Paraná. Oslevantamentos evidenciam quereservatórios dispostos em série têm suapesca baseada em espécies sedentárias, que,embora resultem em maior biomassa que ado rio original, têm menor valorcomercial.
Além disso, é comum que a pesca sejacomposta por uma ou duas espéciesoportunistas (muitas vezes introduzidas nosistema), que, eventualmente, conseguemelevada proliferação nas águas represadas.Dessa forma, em todas as bacias, asespécies mais difundidas e pescadas são atilápia, a corvina e o tucunaré. Na regiãoAmazônica, o tucunaré, nativo nessa bacia,é a principal espécie, enquanto que naregião Nordeste a introduzida tilápiaapresenta rendimentos espantosos. Nasregiões Sul e Sudeste, a tambémintroduzida corvina, associada à tilápia eao tucunaré, tem sustentado diversasatividades pesqueiras. O preocupante é queessas espécies dominam as assembléias eapresentam alto rendimento pesqueiro,mas fora de seu local de origem. Seusimpactos nas assembléias locais ainda não
Rendimento da Pesca em Reservatórios: diagnóstico 193193193193193
foram satisfatoriamente elucidados, mas opotencial de extermínio de espécies depequeno porte por piscívoras introduzidasparece alto (ZARET; PAINE, 1973; SANTOS; MAIA-
BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ, 1994; LATINI; PETRERE
JUNIOR, 2004).
3 - O rendimento pesqueiro, embora muitovariável entre reservatórios, é, em geral, baixo nosreservatórios neotropicais. Como já discutido, orendimento é muito dependente do esforçode pesca empregado, da área, profundidade eidade do reservatório, além de seu grau detrofia e dos demais usos da baciahidrográfica. No Brasil, a amplitude devariação no rendimento total dosreservatórios varia de modestas 7 t.ano-1
(Salto Osório), até o fantástico rendimentodos açudes nordestinos, com 20.000 t.ano-1. Amaioria dos valores situa-se, entretanto,entre 100 e 500 t.ano-1. De qualquer modo, aprodução pesqueira de reservatóriosneotropicais é baixa quando comparada coma produção de reservatórios tropicais deoutros continentes. Com exceção dosreservatórios nordestinos, muitos mantidospor um grande esforço de estocagem comtilápia e sujeitos a prolongados períodos dedepleção de nível, e que apresentam umaprodutividade média de pesca de 112 kg ha-1
ano-1, a maioria apresentou valoresinferiores a 10 kg ha-1 ano-1. Vale lembrarque as médias asiática e africana são,respectivamente, 100 e 88 kg ha-1 ano-1.Reservatórios amazônicos e da bacia doParaná são marcados por valoresextremamente baixos (< 10 kg pesc.-1dia-1).Reservatórios como Tucuruí e Sobradinhoapresentaram rendimentos relativamentealtos em épocas passadas, mas hoje também
caminham para baixos valores. Aquantidade diária de pescado por pescador(CPUE) ainda é alta em muitosreservatórios (> 30 kg pesc.-1dia-1),possivelmente associada ao baixo númerode pescadores (< 1/km2). Entretanto, oaumento do número de pescadores emItaipu, por exemplo, diminuiu a CPUE e nãoelevou o rendimento. Alguns autores jádiscutiram as possíveis causas para essabaixa produtividade dos reservatóriosbrasileiros, especialmente na bacia do rioParaná (GOMES; MIRANDA, 2001; GOMES;
MIRANDA; AGOSTINHO, 2002; PETRERE JUNIOR;
AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002). Entreessas causas, destacam-se o baixo esforço depesca, a oligotrofia característica da maioriadeles, a ausência de espécies pelágicasverdadeiras, o longo comprimento das teiastróficas, e fontes variáveis de impactos,inerentes ao represamento.
Mesmo com todos esses problemas,somando a falta de investimentos e atençãodo setor público, a pesca tem tido papelsocial relevante, não apenas por seconstituir em fonte de proteínas para aalimentação humana ou de lazer para ascomunidades urbanas, como também porabrigar segmentos sociais que nãoencontram nos meios de produção formal asoportunidades de sobrevivência familiar.No reservatório de Itaipu e no segmento dorio Paraná a montante, a pesca profissionaltem atuado como refúgio para contingentespopulacionais consideráveis, que não obtêmos rendimentos necessários para amanutenção familiar em outros setores dasociedade (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; PETRERE
JUNIOR, 1994; AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1996).
194 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Em síntese, os padrões que emergem dasinformações disponíveis sobre a pesca emreservatórios brasileiros são os de que, nosprimeiros anos, a pesca apresenta elevadorendimento, estimulando o ingresso degrandes contingentes de pessoas àatividade, especialmente excluídos deoutros setores da produção. Decorridosalguns anos, a produtividade diminui, osestoques de peixes migradores tornam-secomercialmente extintos (com rarasexceções) e a pesca fica restrita a poucasespécies de baixo valor comercial. Oesforço de pesca inicial torna-se exacerbadopara os estoques remanescentes,acentuando a queda na rentabilidade,tornando difícil ao pescador obter osustento de sua família com a atividade. Abusca de outra fonte de renda é dificultada,especialmente nos reservatórios da bacia
do rio Paraná, pelo fato de a pesca ser umdos últimos refúgios para contingentespopulacionais excluídos de outros setoresda produção.
Essa situação requer disciplina nainstalação da atividade de pesca em novosreservatórios, através de um ordenamentopesqueiro adequado, um controle rígido doacesso ao recurso e de um conhecimentoamplo do sistema de pesca da região, além,obviamente, do apoio do Estado aospescadores. Nos reservatórios em que asituação da pesca é caótica, o ordenamentoé também necessário, porém medidasadicionais de natureza social e econômica,como assistência à saúde, educação,segurança e linhas de créditos para aatividade, além da agregação de valores aopescado, são fundamentais.
Capítulo 5.3Aspectos Socioeconômicos da Pesca:
diagnóstico
Introdução
Os empreendimentos hidrelétricopromovem, em todas as etapas do projeto,impactos no modo de vida e nas relaçõessociais e econômicas da região onde seinserem. Generalizações sobre o grau e anatureza desses impactos são difíceis deserem feitas, dadas as diferentescaracterísticas dos projetos, das dimensõesdo reservatório e, especialmente, de sualocalização (WCD, 2000).
O principal impacto socioeconômico daconstrução de reservatórios está relacionadocom a re-alocação das pessoas quehabitavam originalmente a área. Esseprocedimento, implícito na maioria delas,altera o modo de vida da comunidade,modificando sistemas econômicos deagricultura e pesca, além de quebrar laçosemocionais e culturais (PETRERE JUNIOR,1996). Outros impactos, cuja natureza temsido objeto de controvérsia, estãorelacionados às transformações sociaisdecorrentes do grande afluxo detrabalhadores envolvidos temporariamentena construção da barragem.
Por outro lado, há custos sociais que têmsido frequentemente negligenciadosdurante as análises socioeconômicas dosempreendimentos. Entre estes, destacam-serelacionados aos trabalhadores que nãodetêm posse da terra, as comunidades quevivem abaixo da barragem (WCD, 2000) e,especialmente, os pescadores tradicionais.Geralmente desorganizados e semparticipação clara no sistema produtivo,esses segmentos populacionais têm baixopoder de reivindicação e não são, em geral,objeto das ações sociais e econômicas quevizam atenuar as dificuldades desobrevivência impostas pelosrepresamentos.
Os que não possuem títulos de terra sãogeralmente trabalhadores volantes rurais,que, com a formação do reservatório,perdem a oportunidade de trabalho e sãodeslocados para os núcleos urbanosregionais ou para a periferia dos maiorescentros, compondo o grande contingentede desempregados ou “biscateiros”.Alternativamente, ingressam na pesca semo necessário treinamento.
196 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Entre os segmentos populacionais que vivema jusante das grandes barragens, os maisafetados são os ribeirinhos que praticam aagricultura ou a pesca de subsistência,especialmente se localizados em planíciesaluviais onde a produtividade do solo e arenovaçãodos recursos explorados (aquáticoou florestal) dependem do regime de cheias.Como mencionado no Capítulo 4, osimpactos a jusante, geralmentenegligenciados nas avaliações e namitigação/compensação, podem se estenderpor centenas de quilômetros, principalmentepelo efeito regulador das cheias e retençãode nutrientes.
Além dos pescadores da área a jusante dosreservatórios, aqueles que praticavam apesca no trecho alagado são tambémafetados de modo relevante. Como visto emoutros capítulos, os represamentos mudam acomposição dos recursos pesqueiros,geralmente favorecendo espéciesoportunistas de menor porte e menor valorcomercial. Dessa maneira, embora orendimento da pesca seja maior, em termosde biomassa capturada, no período que sesegue ao represamento, as espéciesdesembarcadas têm menor preço nacomercialização e maior dificuldade devenda, por não estarem ainda incorporadasno hábito alimentar do consumidor. Alémdisso, a exploração do novo recurso requerestratégia de pesca distinta e, às vezes, maisdispendiosa, para a qual o pescadorgeralmente não tem equipamento ouexperiência. As pescarias em rios são muitasvezes baseadas em anzóis ou formas ativasde pesca (cerco, arraste), enquanto aquelasem ambientes represados, mais profundos e
com paliteiros, podem estar restritas ao usode redes de emalhar.
Os grandes empreendimentos hidrelétricostêm como meta atender as demandas ligadasao desenvolvimento econômico e social dopaís, sendo, portanto, necessários einquestionáveis. Entretanto, o exame devários estudos de caso em todo o mundorevela que os benefícios dessesempreendimentos atingem populaçõesurbanas, grandes fazendeiros e indústrias, etipicamente não incluem alguns grupos locaisque arcam com os custos (WCD, 2000). É,portanto, paradoxal e injusto que qualquersegmento das comunidades humanas locais,participante ativa ou não do sistemaprodutivo, arque com os custossocioambientais do empreendimento e osbenefícios diretos sejam direcionados a outrasregiões ou grupamentos sociais.
Os reservatórios, como ambientes lênticos ousemilenticos, são mais produtivos que os riosque lhes dão origem (AGOSTINHO; MIRANDA; BINI;
GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999). Assim, àprimeira vista, a construção de reservatóriospoderia ser considerada altamente positiva naprodução de alimento e no sustento degrandes contingentes de pescadores.Entretanto, a baixa lucratividade da exploraçãodos recursos pesqueiros nesses ambientes temapontado para outra direção. Levantamentosrealizados no reservatório de Itaipu, um dosmais produtivos da bacia do rio Paraná,revelam que apenas 15,8% dos pescadoresmanifestaram satisfação com a atividade. Amaioria nela permanece por falta de opção ouqualificação (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/ITAIPU BINACIONAL, 2004).
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 197197197197197
As razões para tais contradições são várias, amaioria relacionada a falhas noordenamento da atividade e a problemascom a comercialização. Assim, além de serespoliada na cadeia de comercialização, aatividade pesqueira em reservatórios éiniciada de forma atabalhoada einsustentável.
A falta de opção de trabalho na região apósa formação de reservatórios e os altosrendimentos da pesca nos primeiros anos desua formação (fase heterotrófica; verCapitulo 4) levam grande número depessoas a ingressar na pesca. Esse fato temsido recorrente no histórico da pesca emvários reservatórios. Levantamentosrealizados no reservatório de Manso, porexemplo, revelam que, no terceiro ano desua formação, cerca de 85% dos pescadoresem atividade haviam ingressado naatividade havia apenas dois anos(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
FURNAS, 2005). Fato similar foi registrado emItaipu (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA/ITAIPU BINACIONAL, 1998).Nesse período é comum a presença depescadores itinerantes (barrageiros) queexploram temporariamente esse tipo deambiente (PETRERE JUNIOR, 1996; AGOSTINHO;
OKADA; GREGORIS, 1999). O afluxo depescadores e a desorganização com que aatividade é exercida lembram o caos daexploração ilegal de novas jazidas em zonasde garimpo.
A atividade pesqueira estabelecida com essascaracterísticas e estimulada pela altalucratividade inicial, é responsável poralgum desenvolvimento econômico local.
Como visto na seção anterior, isso ocorredevido ao fato de algumas espécies de peixesproliferarem intensivamente no novoambiente, mantendo a atividade pesqueira egarantindo o sustento de famílias depescadores por alguns anos. Essa é a situaçãocaracterística do estabelecimento daatividade pesqueira em reservatórios comoItaipu, Tucuruí, Sobradinho e, maisrecentemente, Porto Primavera.
Com o ingresso na fase autotrófica, aprodutividade do reservatório cai, reduzindoa capacidade de suporte e instalando amiséria entre os que dependem dos recursos.Pescadores com outras opções de trabalhoabandonam a atividade. Para a maioriadeles, entretanto, não há essas opções, tendo,muitas vezes, ingressado na pesca por teremsido excluídos de outras atividadesprodutivas. Estes permanecem na pesca,pressionando os estoques e inviabilizando-acomo atividade rentável.
A percepção de boas pescarias logo setransforma em pesadelo e a necessidade desobrevivência familiar leva às práticas depesca ilegal. Tentativas isoladas de controlara pesca pelas agências de controle ambientalsão infrutíferas. Multas, apreensões e outrasmedidas de fiscalização, com a devidacobertura da mídia, submete estesprofissionais à execração pública, sendo lhesatribuída a culpa pela depleção dos estoquese outras mazelas que não são de suaresponsabilidade (extinção local de grandespeixes migradores, por exemplo). Esseambiente desfavorável à atividade da pescanão motiva o poder público para o seuordenamento e apôio.
198 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
O aspecto talvez mais lamentável é que umaatividade que poderia funcionar como formade inclusão social acaba por desempenharpapel oposto, colocando na marginalidade dalei um segmento da população que já eraeconomicamente marginalizado.
Diagnóstico socioeconômicoda pesca
Nessa capítulo serão sumarizadas, para cadabacia, as informações disponíveis acerca daestrutura e funcionamento da pesca emreservatórios, com foco nos aspectossocioeconômicos. Ressalta-se que a escassezde estudos socioeconômicos e as abordagensdistintas empregadas por eles refletem emum desequilíbrio no grau de detalhamentoconferido à descrição da pesca nas diferentesbacias. Ainda, visando o entendimento dasalterações nas estratégias de pesca com aformação do reservatório, consideraçõessobre as pescarias vigentes na bacia antes dorepresamento ou fora dos limites dosreservatórios serão feitas.
Bacia Amazônica
Como mencionado no capítulo anterior, asmodalidades de pesca praticadas na regiãoamazônica são bastante diversas. A pesca desubsistência é a mais difusa, sendoresponsável por parte considerável daprodução. Entretanto, a pesca comercialpraticada nas imediações dos maiores centrosurbanos tem alta relevância. As estratégiasmais comuns envolvem o uso de anzóis,arpões, tarrafas, espinhéis, arco e flecha, alémde redes. Destas, as redes de malhadeira
correspondem à estratégia mais aceita eversátil (GOULDING; SMITH; MAHAR, 1996). Osambientes pescados incluem as várzeas, osprincipais tributários e os estuários do rioAmazonas. A produção, que envolve dezenasde espécies de peixes, é direcionadabasicamente aos mercados de Manaus, Beléme exterior. Com a diminuição no rendimentode espécies nobres, as frotas pesqueirasviajam distâncias cada vez maiores atrás depescado de boa qualidade. Com oinvestimento privado, a pesca comercialcomeçou a empregar novas tecnologias, comoenormes redes de arrasto e barcos equipadoscom melhor sistema de refrigeração para opescado. Evidências de sobrepesca sobrealguns estoques são relatadas por PetrereJunior, Barthem, Córdoba e Gómez (2004) epor Santos, G.M. e Santos, A.C.M. (2005).
Com uma realidade muito diferente, a pescaem reservatórios da Amazônia não recebeuinvestimentos e restrições aouso de diferentesestratégias são comuns. O controle da pescavia proibição é a forma de manejo maiscomum nesses reservatórios, podendo esta sertotal ou parcial. A alta rentabilidade inicialdas pescarias nesses ambientes impulsionoueconomias locais, atraindo pessoas eestabelecendo um novo comércio pesqueiro.Contudo, a falta de ordenação na atividadepesqueira tem, decorridos alguns anos,colaborado com o aumento da pobreza daspopulações de vilas ribeirinhas, tornando essaatividade pouco rentável. Além disso, osimpactos que acompanham o processo deocupação humana no entorno de umreservatório, como desmatamentos, poluiçãoe doenças, contribuíram ainda mais naintensificação da pobreza e piora naqualidade de vida (FEARNSIDE, 1989).
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 199199199199199
Como não existem levantamentossocioeconômicos da pesca nos reservatórios,as informações apresentadas são escassas ecentralizadas nos excelentes trabalhos deSantos e Oliveira Junior (1999) para oreservatório de Balbina, e Santos (1995) parao reservatório de Samuel.
Reservatório de Balbina
Entre os reservatórios brasileiros e, emespecial, aqueles da Amazônia, este foi omais polêmico em relação à avaliação decusto x benefício, sendo freqüentementemencionado como exemplo de decisãoerrada (FEARNSIDE, 1989). Desconsiderandotodo o conjunto de impactos ambientais,perda de recursos e controvérsias queacompanharam a construção dessereservatório, sua formação teve certoimpacto positivo na economia local, vistoque possibilitou o estabelecimento de umaatividade pesqueira comercial, inicialmentetida como promissora.
Além disso, uma pesca de caráter esportivotambém se instalou, sendo responsável pelapresença de cerca de 50 pescadores por finalde semana, resultando inclusive narealização de festivais anuais. Ressalta-se,entretanto que, essas duas modalidades depesca têm-se tornado concorrentes nosúltimos anos.
Os pescadores profissionais, ou seja, que têmna pesca a atividade produtiva principal,residem nas imediações do reservatório,estando organizados em uma Colônia dePescadores criada em 1990 (Z-8). O número
de pescadores atuantes, embora impreciso,parece estar caindo nos últimos anos. Em1992 haviam 300 sócios filiados à Colônia eem 1997 esse número caiu para 100. AColônia seria mantida pela arrecadação deuma taxa de 10% da produção de cada barco(5% do intermediário na comercialização; 5%do pescador), além de uma mensalidade que,em 1997, era de R$ 1,50. Entretanto, a falta depagamentos tem levado a Colônia Z-8 agrandes dificuldades financeiras para ocumprimento de sua missão, e com reduzidaatuação na organização da atividadepesqueira ou nos serviços prestados aospescadores.
A pesca é exercida com anzol, única arte depesca permitida nesse reservatório, além dearpão e arco-flecha (Portaria 003/95-IBAMA).A estratégia mais comum na pesca é ocurrico, para a captura do tucunaré. Esteconsiste em arremessos consecutivos doanzol iscado (pequenos peixes) de maneiraque, quando recolhido, a isca simule anatação de um peixe pequeno. A vantagemdo currico está na sua seletividade,capturando principalmente tucunarés nasuperfície. Nos primeiros anos doreservatório era comum também o uso deiscas artificiais do tipo colher,confeccionadas industrial ou artesanalmente.
A pesca, realizada em equipes de 4 a 5pessoas, tem duração média de seis dias. Em1993 existiam 33 equipes, caindo para 25 noano de 1997.
Os pescadores utilizam embarcações demadeira (capacidade entre 0,8 a 1,0 tonelada)para realizar os deslocamentos até os pontos
200 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de pesca, onde se distribuem em canoasmenores (“montarias”), pescando somentedurante o dia. As embarcações maiores sãodotadas de caixas térmicas paraacondicionamento do gelo e do pescado.
Quando a carga está completa, os barcosretornam aos portos e entregam os peixes acompradores, que despacham a mercadoria aManaus. Pouco pescado é consumidolocalmente. Os comerciantes locais têm,entretanto, preferência na compra, já quefornecem insumos aos pescadores, sendo,alguns deles, donos de frotas pesqueiras. Ogelo utilizado provém de Manaus, compradoa R$ 1,50 a barra de 25 Kg. O pescadorrecebia, em 1999, em torno de R$ 0,50 a 0,70por quilo do peixe, o que significava umganho diário de aproximadamente R$ 20,00(R$ 1,82= U$ 1,00). O comerciante entregavao peixe em Manaus por R$ 2,00 o quilo,sendo que este produto chegava aoconsumidor final ao preço de R$ 4,00 o quilo.
Devido à queda no rendimento pesqueiro(ver Capitulo 5.2) e à diminuição dotamanho dos peixes nos desembarques,existem discussões acerca da necessidade dese programar estratégias de manejo maiseficientes no reservatório.
Reservatório de Samuel
A pesca na área do rio Jamari tem caráterprincipalmente de subsistência. Após aconstrução de Samuel, em 1988, ocorreu umgrande impulso na atividade pesqueira, pelapresença de cardumes de espécies apreciadasno mercado. Em especial, houve grandeproliferação de tucunarés. Em fevereiro de
1991, a companhia responsável pelaadministração do reservatório (Eletronorte)liberou a pesca comercial com malhadeiras,para cerca de 20 pescadores cadastrados naColônia de Porto Velho. No entanto, no mêsseguinte, a pesca comercial voltou a serfechada, pela dificuldade de fiscalização daatividade e acompanhamento nosdesembarques.
A partir daí, os únicos aparelhos de pescapermitidos no reservatório foram linhadas eanzóis. Redes malhadeiras, emboraproibidas, têm uso freqüente e de formaclandestina, havendo movimentos pela sualiberação. Todo o pescado encontrado emvilas da região deve estar sendo capturadono reservatório, assim como o pescadocomercializado nas cidades próximas e narodovia que cruza a região (BR 364). Nãoexistem, entretanto, informações deacompanhamento socioeconômico dospescadores envolvidos na atividade,provavelmente em decorrência dessasproibições.
Bacia Araguaia-Tocantins
Como descrito na seção anterior, aatividade pesqueira tem longo histórico deatuação nessa bacia. A pesca nos riosAraguaia/Tocantins era executada por frotasde barcos provenientes de diversosmunicípios, distribuídos desde as regiõessuperiores até sua foz. Com áreas de atuaçãoespecíficas, essas frotas apresentavam intensaatividade pesqueira, com o rendimento totalpara a bacia estimado em aproximadamente4.200 t.ano-1 (SANTOS; MÉRONA, 1996).
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 201201201201201
As estratégias de pesca empregavam enormegama de apetrechos, dependendo doambiente e da espécie de peixe-alvo: redes decerco, espinhéis, malhadeiras e tarrafas. Operíodo de maior rendimento era o de águasbaixas.
Ribeiro, Petrere Junior e Juras (1995)identificaram três tipos de pescadoresatuando na fase pré-represamento: ribeirinhosde subsistência, que pescam de forma artesanale somente parte do tempo, explorandoprincipalmente lagoas marginais; fazendeirospescadores, que também pescamesporadicamente, mas podem vender oexcedente para mercados regionais; pescadoresprofissionais, os quais se mantêm na atividadeem tempo integral e utilizam diversosapetrechos para maximizar as capturas,pescando principalmente na calha dos rios.Uma quarta categoria seria dos pescadoresbarrageiros, com atividade itinerante, que seestabelece na pesca nas fases iniciais dosreservatórios. Utilizaram grandes redes, semcompromissos com a conservação do recursoe abandonaram o local assim que orendimento diminuiu. Por isso, o atrito comas demais categorias era freqüente.
Na bacia do Araguaia-Tocantins, a pescaprofissional é legalizada apenas noreservatório de Tucuruí, dado que os demaisestão localizados nos Estados de Goiás eTocantins, onde essa modalidade de pesca éproibida, embora hajam evidências de queela efetivamente ocorra de formaclandestina. Nesses estados, a opção da pescafoi dada à esportiva, em detrimento datradicional, e seu componente turístico éfortemente apoiado pelo poder público.
Reservatório de Tucuruí
Embora considerada uma das usinas commelhor relação área alagada/geração, aconstrução do reservatório de Tucuruí geroutambém grande polêmica sobre relaçõesambientais de custo/beneficio (FEARNSIDE,1999). As informações aqui apresentadasacerca dos pescadores de Tucuruí foramextraídas de Ribeiro, Petrere Junior e Juras(1995), Petrere Junior (1996), Santos e Mérona(1996), Cetra e Petrere Junior (2001),Camargo e Petrere Junior (2004) e Eletrobrás(c2003-2005).
A pesca no reservatório de Tucuruí seinstalou espontânea e, como sempre ocorre,desordenadamente, a partir de 1986, doisanos após a sua formação. As alteraçõesambientais promovidas pelo represamentoalteraram também o sistema de pesca,especialmente no reservatório, comsubstituição de espécies (diminuição dacaptura de bagres migradores e aumento decurimba, mapará e tucunaré, por exemplo),perda de pontos de pesca (corredeiras elagoas), substituição dos aparelhos (maioruso de vara e anzol), e alteração na dinâmicasazonal da atividade.
Como geralmente acontece, a atividade depesca no reservatório representou umaalternativa econômica para a populaçãoribeirinha da região. Os altos rendimentosapresentados após a formação doreservatório ainda vêm atraindo pescadores,com claras tendências de aumento nadensidade destes nos últimos censos. Em1993, uma das estimativas apontava cerca de6.000 pescadores, enquanto que em 2004 esse
202 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
número foi ampliado para 8.000(ELETROBRÁS, c2003-2005). A construção doreservatório inegavelmente impulsionou aeconomia da região e promoveu ocrescimento populacional observado nascidades do entorno, hoje com umcontingente superior a 250.000 habitantes.Porém Camargo e Petrere Junior (2004) nãodetectaram relação direta entre essecrescimento populacional e um aumento noesforço de pesca.
As pescarias praticadas na área doreservatório podem ser categorizadas comoprofissional (artesanal e comercial) eesportiva, sendo esta última esporádica. Em1988 cerca de 80% eram pescadorescomerciais e 20% artesanais. Pescadoresartesanais utilizam equipamentosmodestos, como pequenas canoas, linhadas,tarrafas e pequenas malhadeiras. Pescadorescomerciais estão melhor equipados,possuindo barcos motorizados e, como jádito, muitos tipos de apetrechos, comomalhadeiras, arrastos, tarrafas, espinhéis,varas com carretilhas e iscas artificiais. Ospescadores esportivos talvez sejam acategoria mais bem-equipada, com lanchasmodernas e até pequenos aviões,conseguindo alcançar mais facilmente oslocais pouco explorados.
Os censos atuais não detectam conflito entrepescadores de diferentes categorias, mesmocom os esportivos, embora explorem osmesmos recursos. O fato pode ser atribuídoao rendimento da pesca ainda elevado.Contudo, a exploração dos recursos écaracterizada pela ausência de cooperaçãoentre as categorias de pescadores.
Entrevistas realizadas pela Eletrobrás(c2003-2005) junto a 8.000 pescadoresprofissionais do reservatório de Tucuruírevelam que 7.200 estão registrados emcolônias de pesca, estando o restanteassociado a cooperativas. As principaiscolônias, onde ocorrem as maioresconcentrações de pescadores, estãolocalizadas em Marabá (Z30), Tucuruí (Z32)e Nova Jacundá. Petrere Junior (1996) afirmaque os pescadores da regiãoespontaneamente procuram pelalegalização de sua situação profissional, eque a licença de pesca é um documentomuito valorizado e apreciado.
Com relação à situação de moradia equalidade de vida, dos 8.000 pescadoresinventariados somente 10% possuem casaprópria, sendo que a metade dessecontingente tem acesso à rede de energiaelétrica. Cerca de 10% possui rede de águaencanada, mas 50% consomem a água dopróprio reservatório. Quase a totalidadenão possui sistema de esgoto nas casas.Quanto ao grau de instrução, 40% sãoanalfabetos e 30% têm o ensinofundamental incompleto. Cerca de 90% dospescadores recebem até 1 salário mínimopor mês, sendo que o mesmo percentualtem atividade extra, no setor rural.
Em relação à posse dos apetrechos de pesca,somente 10% dos entrevistados seconsideram donos; o restante relata que elesforam cedidos ou financiados pelascolônias, cooperativas e intermediários.Aqui a rede de espera é o principalaparelho, seguido de vara, espinhel etarrafa. Grande parte do pescado é vendida
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 203203203203203
LocalNúmero
dePescadores
CasaPrópria
ÁguaEncanada
Analfa-betos
Rendaaté 1
sal. min.
ApetrechoPróprio
EnergiaElétrica
Rendaacima de 1
sal. min
Represa 8.000 10 10 20 40 90 10 10
Jusante 1.500 60 20 30 40 80 20 50
Tabela 5.3.1 - Aspectos socioeconômicos dos pescadores atuantes no reservatório deTucuruí, na região represada e a jusante do reservatório (ELETROBRÁS, c2003-2005).Com exceção do número de pescadores, o restante significa números percentuais (%)
a intermediários no atacado (40%), sendoquase todo o restante destinado ao consumopróprio ou vendido a varejo.
Comparações entre as condiçõessocioeconômicas e de qualidade de vida dospescadores no reservatório de Tucuruí e ajusante da barragem (Tabela 5.3.1)demonstram que estes últimos têm maisconforto e renda.
A pesca no reservatório, a exemplo do queocorre em outros de áreas subtropicais,também tem caráter sazonal, com maioresrendimentos no período de seca. Essasazonalidade se reflete nas espéciescapturadas, na quantidade do pescado e nosaparelhos de pesca utilizados. Comoesperado, as estratégias de pesca mostramtambém variações espaciais relevantes.Assim, nos trechos fluviais do reservatório enos lóticos a montante, redes de arrasto etarrafas são os equipamentos preferidos naépoca de águas baixas, enquanto nas cheias ouso de malhadeiras é predominante. Já nostrechos mais internos, a pesca é realizadaessencialmente com redes malhadeiras eequipamentos à base de anzóis.
A Tabela 5.3.2 apresenta o rendimentofinanceiro para as principais espécies
capturadas no reservatório de Tucuruí,evidenciando a maior importância da pescado tucunaré e uso de anzóis. Essas diferençassão, entretanto, bastante influenciadas pelospreços praticados no comércio regional. Opreço de venda do mapará correspondia, naocasião (2004), a 1/10 daquele do tucunaré eda corvina (também conhecida comopescada). O tucunaré e a corvina,considerados de melhor qualidade, sãoconsumidos majoritariamente pelapopulação ribeirinha ou são vendidos nascidades que circundam o reservatório. Já omapará é quase todo exportado para omercado de Belém. O retorno financeiro dapesca do mapará é, entretanto, fortementedependente da demanda desse mercado. Oganho diário com a atividade pesqueira emTucuruí fica em torno de US$ 2,00 pesc.-1dia-1,baseando-se em dados de desembarques nomunicípio de Imperatriz, MA, que recebepescado das regiões superiores doreservatório (CETRA; PETRERE JUNIOR, 2001).
A percepção vigente entre os própriospescadores é a de que existem mais peixes naregião represada, e de que esses peixes sãomais facilmente capturados. De fato, amovimentação financeira resultante da pescano mercado do município de Tucuruí foiestimada em R$ 9,9 milhões entre 1992 e
204 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Espécies Apetrecho Rendimento (R$)
Tucunaré anzol 6.285.410,00
Corvina anzol + rede 4.205.583,00
Mapará rede 462.531,60
Tabela 5.3.2 - Rendimento proporcionado pelacomercialização de tucunaré, corvina e mapará naregião de Tucuruí, Pará, no período de 1992 a 1999. Oapetrecho de pesca utilizado nas capturas também estádestacado (Fonte: 2004)CAMARGO; PETRERE JUNIOR,
1999. Comparativamente, omontante movimentado nomunicípio de Marabá,localizado a montante doreservatório, somou poucomais de R$ 3,5 milhões, nomesmo período. Entretanto,aspecto importante e muitopreocupante está na falta depercepção dos pescadores comrelação a suas atitudes eestratégias de sobrevivência, ou seja, nasrelações de causa-efeito em que estãoinseridos. Não foram capazes de relacionar oalto esforço de pesca/caça com diminuiçõesno rendimento dos recursos explorados.Segundo Camargo e Petrere Junior (2004), talposição se manifesta pela ausência deavaliações de risco conduzidas pelospróprios usuários, que, nesse caso, nãoconsideram a possibilidade de ocorrer umcolapso no uso dos recursos explorados.
Bacia do São Francisco
O s estoques pesqueiros do rio SãoFrancisco eram considerados entre asprincipais fontes de pescado nacional,fornecendo proteínas para a populaçãoribeirinha e atendendo demandas demercados do Nordeste e do Sudeste doBrasil. A pesca na bacia era efetuada naforma de subsistência, comercial e esportiva.Os pescadores ribeirinhos obtinham peixessuficientes para seu consumo ecomercialização, gerando recursos egarantindo seu sustento. Muitosestabelecimentos comerciais e turísticoseram baseados na pesca. Estima-se que o
número de pescadores profissionais ematividade na bacia do rio São Francisco nadécada de 1980 tenha sido deaproximadamente 26.000 (SATO; GODINHO,c2003). Apesar de não existirem estatísticasde pesca consistentes, há evidências de que aatividade mostrou acentuado declínio nasultimas décadas (SATO; GODINHO, c2003).Como visto no capítulo anterior, diversosfatores devem estar contribuindo para essatendência, destacando-se dentre eles, aconstrução de reservatórios, a poluição, asubtração de água para grandes projetos deirrigação e a sobrepesca.
Com a construção de grandes reservatóriosnessa bacia, particularmente os deSobradinho e Três Marias, um enormecontingente de pessoas teve de ser re-alocado. Entretanto, o elevado rendimentopesqueiro inicial nas áreas represadas atraiumuitas pessoas de volta para a região.Embora os escassos levantamentossocioeconômicos realizados na bacia do rioSão Francisco envolvam predominantementeos trechos lóticos (CAMARGO; PETRERE JUNIOR,2001), alguns deles, apesar de tambémconduzidos em porções de rio, incluem áreasde reservatórios e permitem que as
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 205205205205205
intrincadas relações sociais dos pescadoresnesses ambientes comecem a ser reveladas((MANCUSO; VALENCIO, c2003; VALENCIO; LEME;
MARTINS; MENDONÇA; GONÇALVES; MANCUSO;
MENDONÇA; FELIX, c2003; THÉ; MADI; NORDI,c2003).
Como mencionado no capítulo anterior, duasmodalidades de pesca são bem característicasna bacia do rio São Francisco: as de rios e asde reservatórios, que se distinguemmarcantemente em relação às espéciescapturadas e aos aparelhos de pescautilizados. A pesca em ambientes lóticos érealizada com o uso de diversos aparelhos,incluindo redes malhadeiras, tarrafas, anzóis,linhadas e arpões, que objetivamessencialmente a captura de espéciesmigradoras. Em reservatórios,diferentemente, a pesca é executadabasicamente com o uso de redes de esperacom diferentes malhagens, na tentativa decapturar tucunarés, corvinas e mandis(GUTBERLET; SEIXAS; THÉ, 2004). Os pescadorescostumam acampar próximos aos locais depesca, permanecendo por até duas semanas ouaté que o rendimento obtido cubra os custosda atividade.
De modo similar à situação encontrada nosreservatórios, os pescadores que exploram ostrechos de rio desta bacia sofrem com aexclusão social, a falta de apoio do Estado e abaixa auto-estima gerada pela precariedadecom que a atividade é exercida. A qualidadede vida é muito baixa, e somente aqueles quevivem em centros urbanos dispõem deserviços de água tratada, esgoto e energiaelétrica. Muitos têm sua rendacomplementada pela atividade agrária,
tendo na pesca, entretanto, sua principalfonte de renda. Embora com grande variaçãosazonal e espacial, a renda semanal destespescadores pode alcançar US$ 70 por semana(GUTBERLET; SEIXAS; THÉ, 2004).
A participação de mulheres na pesca étambém constatada nesta bacia. Muitasiniciam a atividade de forma auxiliar,tornando-se, mais tarde, profissionais, comdedicação integral à atividade. Esteengajamento acontece pela ausência dealternativas empregos formais e pelosbenefícios de direito oferecidos aospescadores. Em geral utilizam anzóis,linhadas e peneiras nas atividades. Nomunicípio de Penedo, AL, uma Associação dePescadoras foi criada, filiada à Colônia Z-12,congregando profissionais de 24 municípios(GUTBERLET; SEIXAS; THÉ, 2004).
Os grandes represamentos contruídos nabacia afetaram de forma relevante aspopulaçoes ribeirinhas que tradicionalmenteexploravam a pesca nesta bacia. Os laçosculturais e as relações produtivasanteriormente existentes foram rompidaspela re-alocação das famílias que ocupavamas áreas alagadas. Nos trechos abaixo dorepresamento, a redistribuição temporal davazão, inevitável em represamentos,contribuiu na queda dos estoques dos peixesde grande porte, que em geral sãomigradores e dependentes do regime decheias sazonais, afetando a rentabilidade dapesca e contribuindo para a deterioração naqualidade de vida.
Ressalta-se que os pescadores estãoconscientes das ameaças que sucedem a
206 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
construção de um represamento, e na regiãoinferior da bacia, reclamam da presença deespécies exóticas e do sumiço das deinteresse (GUTBERLET; SEIXAS; THÉ, 2004).Embora culpem as concessionáriashidrelétricas pelas alterações hidrológicas eo desaparecimento das espécies de peixesmigradoras, identificam, também, uma sériede outras fontes de impactos ambientais,como a poluição, siltagem, agricultura,mineração, desflorestamento e a pescapredatória.
Os conflitos na região são, no entanto, maisamplos e se estendem por diversos grupossociais, principalmente pela pesca ser umaatividade histórica e intensa na bacia. Entreos grupos em conflito destacam-sepescadores amadores, profissionaisregistrados, profissionais não registrados,fazendeiros e os órgãos ambientais. Acategoria mais execrada é a dos pescadorescomerciais e ribeirinhos, acusados de seremos responsáveis pelas acentuadas quedas norendimento pesqueiro da bacia edesaparecimento de espécies de grandeporte, embora esta assertiva careça decomprovação cientifica. Sabe-se, entretanto,que, além da sobrepesca, vários fatorespodem ser responsáveis pelo nível atual dorendimento pesqueiro, com destaque aocontrole das cheias pelos represamentos.
A fragilidade na organização dos pescadoresprofissionais não permite constestaçõeseficazes ou que suas reivindicações sejamatendidas. Um número relevante depescadores está registrado nas Colônias dePesca existentes ao longo da bacia. Poucos,no entanto, participam efetivamente das
atividades associativas, sendo que umnúmero reduzido tem seus débitos com asColônias quitados. A ausência do Estado e afragilidade das associações promovemdistorções no sistema de pesca, sendo asregras da pesca e o preço do pescadoestabelecidos pelos intermediários nacomercialização, que financia os insumos daatividade e, mesmo precariamente, prestaassistência básica à família dos pescadores.Contudo, a Federação de Pescadores deMinas Gerais realizou uma reunião no anode 2000, entre pescadores e o poder público,para a discussão do manejo pesqueiro e aelaboração da legislação pertinente aatividade. Contrariando as expectativas, osresultados de tal encontro foramconsiderados altamente positivos, edemonstraram a que a capacidade dospescadores na solução de problemasrelativos ao manejo de seus recursos temsido amplamente subestimada (GUTBERLET;
SEIXAS; THÉ, 2004).
Como já mencionado, o conhecimento darealizade socioeconômica dos pescadoresdesta bacia, a exemplo das demais, é,precário. Em razão da escassez de dadosdesta natureza serão apresentados apenasaqueles referentes aos reservatórios deXingo, Sobradinho e Três Marias.
Reservatório de Xingó
O reservatório de Xingo foi fechado em1994, alagando uma área de 60 km2 nosegmento inferiores do rio São Francisco. Osdados sobre a pesca nesse ambiente sãoescassos.
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 207207207207207
Gutberlet, Seixas e Thé (2004) relatam, paraeste reservatório, uma renda em torno deUS$ 30,00/semana durante o melhorperíodo de pesca (cheias), podendo diminuira US$ 7,00/semana nas piores temporadas.Os autores acreditam que o rendimento dapesca na região do baixo São Francisco vemapresentando tendência de queda, e talfenômeno tem levado os pescadores abuscar emprego fora dela. Na estação deaqüicultura de Xingó, um pescador recebe,por uma jornada fixa de serviço (8h.d-1) atéUS$ 71,00 por mês.
A construção de outras centrais hidrelétricasna trecho baixo do rio São Francisco vempromovendo quedas acentuadas norendimento gerado pela pesca, de peixes ecamarão. Antes do represamento, orendimento alcançava até US$ 70,00 por dia,caindo drasticamente para valores de US$30,00 por mês, após a construção dosreservatórios. As alternativas consideradaspelos pescadores têm sido a execução deatividades agrícolas, como o trabalho emplantações de cana-de-açúcar. Estasatividade geram um retorno deaproximadamente 4 a 9 dólares por dia.
Reservatório de Sobradinho
As informações sobre a vida dospescadores aqui apresentadas são baseadasnos trabalhos de Petrere Junior (1996) eAgostinho (1998). Segundo esses autores,após a construção de Sobradinho, a pescaprofissional foi exercida por dois tipos depescadores: (i) pescadores locais, na verdaderibeirinhos que já habitavam a região e que
foram realocados por programas deassentamentos conduzidos pelaconcessionária hidrelétrica, engajando-se napesca pela falta de opção e incentivo àagricultura, de onde eram oriundos; (ii)barrageiros, provenientes de diversos pontosdo Nordeste do país, itinerantes e altamenteespecializados, que utilizavam longas redesna região a jusante do reservatório. No picode produção, em 1981, os barrageirossomavam cerca de 3.400 pessoas, sendo quea maioria evadiu da região após o inicio dadepleção dos estoques em 1986.
Problemas sociais eram freqüentes entre asduas classes de pescadores. Os barrageirossão essencialmente profissionais e, por nãoterem vínculos com os costumes enecessidades sociais da região, usualmentetransgrediam regras comunitárias e aprópria legislação. Por isso, não obtiverama simpatia dos pescadores locais, sendotambém relevante para isso o estilo de vidaitinerante daqueles, a competição geradapelo seu elevado poder de pesca, e oaumento no custo de vida local, gerado pelomaior poder aquisitivo dessa categoria. Ospescadores locais tinham natureza muitodistinta, já que exerciam a atividade depesca consumindo ou comercializando opescado, além de balanceá-la também comatividades paralelas (agricultura). A disputaentre as duas categorias só foi amenizadacom a troca mútua de experiências.
O número de pescadores aumentouexponencialmente nos anos seguintes aobarramento. No primeiro ano após orepresamento, o número estimado era deaproximadamente 2.500 pescadores,
208 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
principalmente famílias locais. No segundoano, o número total manteve-se, comacréscimo da parcela barrageira. Contudo,em 1980 (terceiro ano), a atividade já eraexercida por 8.000 pessoas, sendo 3.400barrageiros.
Passado o período de elevadaprodutividade, grande parte de barrageirosmigrou para outras regiões do país. Comisso, no final da década de 1990, aquantidade de pescadores estimada era bemmenor, somando cerca de 3.500 pessoas.Destas, cerca de 50% não eram filiadas àscolônias de pesca da região e, portanto,consideradas clandestinas na atividade.Além da situação profissional irregular,costumam utilizar equipamentos eestratégias de pesca proibidas.
Posteriormente, em 1997/98, o número depescadores apresentou incrementosrelevantes novamente, motivados pelaaparente reversão trófica do reservatório(maior produtividade). Esse reservatório,operado na maior parte do tempo em níveisbaixos, apresenta elevações espaçadas edependentes das chuvas do ano. A elevaçãode nível do reservatório e o alagamento dosterrenos adjacentes são responsáveis peloincremento na produtividade e conseqüenteelevação dos estoques pesqueiros. Naverdade, esse é um padrão bemcaracterístico em Sobradinho, que marca aafluência de pescadores da região atraídospela oferta de peixes.
As estratégias de pesca na década de 1980eram baseadas essencialmente na rede deespera, sendo que cerca de 80 a 90% da
biomassa de peixes era capturada com esseequipamento. Apesar de o limite legal demalhagem ser 14 cm, redes com malha deaté 7 cm também foram utilizadas pelospescadores, as quais capturavam grandesquantidades de juvenis. O anzol era osegundo apetrecho mais empregado,utilizado na captura de pescadas e surubim.Dentre os outros apetrechos, destacam-se asredes de cerco, arrastos, covos e timbó.
Os deslocamentos até os pontos de pesca sãorealizados com canoas independentes,movidas a vela ou a remo, que costumamviajar por 3 h até esses locais. Outro tipocomum de transporte é a embarcaçãomotorizada, de maior porte, que reboca ascanoas menores (até cinco) até os pontos deinteresse. Essas embarcações maioresfuncionam também como base de apoio,fornecendo mantimentos, mantendo osequipamentos de pesca e transportando opescado. Na década de 1980, existiam quase500 rebocadores e mais de 2.200 canoas,número que caiu substancialmente nadécada de 1990, passando para 200rebocadores e cerca de 1.500 canoas.
Em meados da década de 1990, existiam setecolônias de pescadores no reservatório deSobradinho, embora metade dos pescadoresnão fosse filiada (~ 1.700 pessoas).Entretanto, mesmo os filiados tinham baixaparticipação nas reuniões e o interesse eravoltado apenas para a obtenção de licençade pesca e, mais tarde, seguro desempregodurante a piracema. Por outro lado, apesarde duas colônias possuírem instalações einfraestrutura adequadas para a conservaçãodo pescado, a participação no
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 209209209209209
armazenamento e escoamento da produção,bem como a atuação em favor dos filiados,era reduzida. Dessa forma, com o baixoengajamento dos pescadores e da própriacolônia, a atividade encontrava-se poucoarticulada, com níveis precários deorganização.
A comercialização do pescado se concretizapela ação de intermediários (patrões dapesca), que se aproveitam da falta deorganização entre os pescadores e ascolônias para praticar preços ínfimos. Essesintermediários financiam todos os insumosnecessários à pesca e à família do pescador,criando uma situação de dependência eendividamento permanentes, que nãofaculta ao pescador negociar o preço doproduto. Para isso contribui bastante aausência do Estado, cujo papel,especialmente na área de saúde, é exercidopelo intermediário.
O pescador pode, entretanto, escoar suaprodução diretamente para um compradorno porto (balanceiro). Os principais portosde desembarque são os de Remanso, Portode Passagem, Sento Sé e Xique-Xique.Contudo, é normal que o peixe sejarepassado a intermediários ou para o barcorebocador, que podem também vendê-lo aum balanceiro ou entregá-lo diretamente aocaminhão responsável pelo transporte aomercado varejista. O preço final do pescadoao consumidor pode representar umincremento 600% superior àquele praticadona primeira transação comercial (pescador).
A comercialização dos peixes ocorrebasicamente na forma fresca, mas pode
ocorrer também na forma de salga. Emambos os processos o peixe é comumentemal-acondicionado, devido ao usoinsuficiente de gelo e à aplicação do sal empeixes já deteriorados. Neste último caso, asituação decorre de pessoas que não têmacesso a gelo ou a outros meios deacondicionar o pescado, sendo a salga aúnica opção. Conseqüentemente, aqualidade do pescado é severamenteprejudicada no reservatório. A maior partedo pescado é comercializada em grandescentros urbanos do Nordeste, mas espéciesnobres podem ser despachadas para Brasíliae região Sudeste.
O rendimento financeiro dos pescadoresnesse reservatório é considerado alto para opadrão nacional, principalmente aconsiderar o baixo preço pago pelo quilo dopescado (AGOSTINHO, 1998). Em 1998, esseautor estimou uma receita mensal em tornode R$ 675,00 por pescador, com despesa deaproximadamente R$ 90,00, o que confereum saldo líquido de R$ 585,00. Porém édigno de ressalva que esse levantamento foirealizado na parte mais produtiva doreservatório e as únicas despesascomputadas foram redes, gelo ecombustível. Portanto, se considerarmos oreservatório como um todo, o rendimentodeve estar num patamar abaixo.
As principais restrições legais à pescarelacionam-se ao controle da malhagem dasredes, aos locais destinados à pesca e aotamanho dos peixes. Contudo, a ausência deuma fiscalização efetiva e os problemassociais supracitados tornam pouco relevantea sua existência.
210 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Reservatório Três Marias
Informações sobre aspectossocioeconomicos da pesca profissional noalto/médio São Francisco, incluindo oreservatório de Três Marias, podem serencontadas em Valencio, Leme, Martins,Mendonça, S.A.T., Gonçalves, Mancuso,Mendonça, I. e Felix (c2003) e Thé, Madi eNordi (c2003). Esses trabalhos se destacampor retratar a difícil vida do pescadorartesanal, que vem se degradandoprogressivamente. As informações a seguirprovêm desses trabalhos, além daquele deSato e Godinho (c2003).
A pesca nessa região é centrada na unidadefamiliar, sendo o marido o chefe-pescadore as mulheres responsáveis pelasatividades domésticas, podendoeventualmente ajudá-lo nas pesca. Aatividade pesqueira é geralmente passadade pai para filhos. Entretanto, as principaisrazões alegadas para o exercício daprofissão foram o desemprego e a falta deopção de trabalho fora da pesca. A rendamédia mensal na região do reservatório éde aproximadamente 3,5 salários mínimospor família, sendo maior que a rendaestimada para pescadores de regiões ajusante do reservatório. Entretanto, grandeparte dos pescadores realiza atividadesparalelas para complementar osrendimentos, com destaque para aagricultura. Conflitos com pescadoresesportivos são, atualmente, comuns, já queo peixe está escasseando e a competiçãopelo recurso aumentando. Ressalta-se, apropósito, que a categoria esportiva temmaior representatividade política/
econômica, pressionando legisladores eórgão ambientais para a proibição da pescacomercial.
As famílias de pescadores, quando nãoribeirinhos, habitam a periferia de centrosurbanos, em condições marginalizadas eprecárias, com pouco acesso aos bens deconsumo. Apesar de preocupados com osestudos e a formação social dos filhos, osnúmeros relacionados ao tempo de estudoescolar são alarmantes, sendo que 64% dospescadores inventariados têm problemascom leitura.
A maioria dos pescadores está filiada acolônias da região e procuraespontaneamente estas para a obtenção delicença, evitando problemas com afiscalização ambiental. Mesmo assim,pescadores clandestinos estão semprepresentes. A pesca é realizadaprincipalmente em canoas de madeira, compropulsão a remo ou motor (Figura 5.3.1).As redes empregadas na pesca nessereservatório (malhadeiras e tarrafas) são,em geral, confeccionadas artesanalmentepelos pescadores. O pescado é vendido noatacado, a maior parte para “peixeiros”(intermediários) locais ou de outras regiões,sendo o restante vendido para as colônias. Arelação de dependência que o pescador temcom o intermediário é também grandenesse reservatório. As dívidas com insumosrelacionados à atividade de pesca, comogelo, redes, combustível, são pagas aointermediário com o pescado. Emboraexplorado pelo intermediário, geralmenteum ex-pescador, o pescador tem nele agarantia de vazão para toda a produção.
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 211211211211211
Figura 5.3.1 - Embarcações e propulsoresmais utilizados na pesca artesanal:barco de alumínio (a), canoa demadeira a remo (b) e motor de popa (c).Fotos: E. K. Okada.
a
b
c
Paradoxalmente, os pescadores consomempouco pescado, preferindo produtospecuários. Embora essa preferência possa seruma questão de gosto, alguns tabus epreconceitos parecem também envolvidos,alguns relacionados a crenças e outros àaparência do pescado.
Entrevistas realizadas com mulheres depescadores da região de Três Marias porMancuso e Valencio (c2003) revelam aprecariedade e a marginalização das famíliasde pescadores. Esse trabalho deixa clara afalta dos serviços e da assistência do Estado.Embora a valorização do núcleo familiar eanseios de desenvolvimento social sejamelevados e semelhantes aos de famíliasencontradas em grandes centros urbanos, asensação de “desgraça” na vida parece serperene, e a auto-estima muito baixa. A faltade perspectiva de sucesso na vida e apercepção manifesta de uma situação cadavez pior caracterizam esse segmento,contribuindo para isso a queda norendimento da pesca. No Box 5.3.1 sãotranscritos alguns dos vários depoimentos depescadores da região (colhidos por VALENCIO,
LEME; MARTINS; MENDONÇA, S.A.T.; GONÇALVES;
MANCUSO; MENDONÇA, I.; FELIX, c2003).
Thé, Madi e Nodi (c2003), avaliando osconhecimentos locais no trecho alto-médiodo rio São Francisco, onde se insere oreservatório de Três Marias, demonstraramcomo o conhecimento adquirido pelaexperiência acumulada dos pescadoresrevela-se, em muitas ocasiões, altamentesobreposto com o conhecimento adquiridocom a metodologia científica convencional.O conhecimento adquirido é, entretanto,
muitas vezes ignorado ou não creditado,demonstrando a falta de valor que nossasociedade atribui às culturas tradicionais. Naregião de Três Marias, a percepção dospescadores a respeito da biologia, ecologia efuncionamento do sistema mostrou-seextremamente acurada, envolvendo noçõesde biologia reprodutiva e distribuiçãoespacial das espécies, envolvendo inclusivepadrões temporais de variação nas suas
212 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
abundâncias. O conhecimento empíricoacerca do papel da cheia e da piracema nageração de elevados rendimentos tambémfoi evidente.
Em especial, o conhecimento empíricomanifestado pelo sr. Norberto, de SãoGonçalo de Abaeté, e reproduzido por
Valêncio e colaboradores – ver Box 5.3.1 -demonstra de forma sintética e precisaresultados recentes de pesquisas que vêmsendo conduzidas há vários anos e cujaignorância levou (e leva) a inúmerosequívocos no manejo da pesca emreservatórios brasileiros, com fantásticodesperdício de esforço e dinheiro.
Box 5.3.1
A precarização do trabalho no território das águas: limitações atuais ao exercício da pescaprofissional no alto-médio São Francisco.
VALENCIO, N. F. L. S.; LEME, A. A.; MARTINS, R. C.; MEN-DONÇA, S. A. T.; GONÇALVES, J. C.; MANCUSO, M. I. R.;MENDONÇA, I.; FELIX, S. A. In: Godinho, H.P.; Godinho,A.L. (Org.). Águas, peixes e pescadores do São Francisco das Mi-nas Gerais. Belo Horizonte: PUC Minas, c2003. cap. 23, p. 423-446.
Nesse capítulo, os autores avaliaram, em termos socioeconômicos, a vida dos pescadores do alto-médio rioSão Francisco, onde se insere o reservatório de Três Marias. Abaixo são feitas algumas transcrições dosdepoimentos dos próprios pescadores, que revelam, a partir de suas próprias percepções, o permanenteestado de aflição e falta de perspectiva da profissão.
“Só tem represa pra cima e represa pra baixo, como é que vai prestar? O peixe fica trancado nas lagoas, semcheia para trazer o peixe.” Sr.Ismael, colônia de Januária.
“Eu queria que deixassem de ver o pescador como vilão. A pesca bem feita não faz o rio sofrer. A pescaprofissional sempre existiu. Algumas modalidades precisa fazer correção, das modalidades ou das leis. Agente precisa sentar junto para discutir. Não queremos ser extintos pois não temos do que sobreviver. Fazo que com a proibição das redes? Tô olhando para aquele que é marginalizado pela fiscalização, que mora coma família num rancho de capim.” Sr. Norberto, São Gonçalo do Abaeté.
“Que o IBAMA, o IEF, fornecessem para CEMIG o momento exato em que a água deveria ser liberada paraas lagoas marginais para o peixe desovar lá. Que o IBAMA e o IEF fiscalizassem, também, a mata ciliar, queserve de alimento para os peixes. Tem que tirar o gado da mata ciliar (...). Prá repovoar o rio no prazo maiscurto? A única coisa que repovoa o rio é a água. É preciso voltar a ter enchente para repovoar o rio.” Sr.Norberto, São Gonçalo do Abaeté.
“Na época em que a gente pegava muito peixe, todo mundo conhecia e respeitava. Hoje, não pode comprarnada no comércio, porque não tem crédito. Meu fogão pifou e não pude comprar outro porque o comércio nãoachava que a gente é trabalhador. (...) hoje aumentou o número de pescadores por falta de emprego nacidade. Antigamente, tinha fartura de peixe, tinha mercado, o pescador vivia melhor. Hoje ele pega umpouco, ou nada, e vive em grande dificuldade.” Sr. Luís, Pirapora.
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 213213213213213
A queda nos rendimentos pesqueiros temsido atribuída à pesca excessiva, masamparada por pouca evidência científica(VALENCIO, LEME; MARTINS; MENDONÇA, S.A.T.;
GONÇALVES; MANCUSO; MENDONÇA, I.; FELIX,c2003). De qualquer maneira, essa crença temculminado em medidas restritivas econtroversas de controle da pesca que,embora tenham uma implicação socialdevastadora, não são avaliadas em relação àsua efetividade. Com os resultados dostrabalhos apresentados acima, não restamdúvidas de que essas ações de manejo nãovêm produzindo os resultados esperados,contribuindo somente no agravamento damiséria social. As medidas de manejo dapesca nos reservatórios do rio São Francisco,a exemplo daquelas de outras bacias onde elaé tradicional, devem ser precedidas dediscussões com os pescadores, dando-lhesuma atenção compatível com oconhecimento de que dispõem sobre osistema.
Região Nordeste
Além dos limites da bacia do rio SãoFrancisco, a pesca em ambientes represados épraticada principalmente em açudes. Estesambientes foram construídos como parte daspolíticas de governo para amenizar osproblemas da seca na região. Estima-se queexista atualmente cerca de 60.000 açudesnessa região, inundando uma área deaproximadamente 8.000 km2. O propósitodesses reservatórios é principalmente aestocagem de água para a agricultura e usodoméstico durante períodos prolongados deestiagem, sendo usados também para a pesca
e aqüicultura. Poucos destes açudes têmfinalidade de produção de energia elétrica(HARTMANN; CAMPELO, 1998). Devido àscondições climáticas e às demandas deconsumo urbano e irrigação, essesreservatórios podem deplecionar de formadramática durante a estiagem, sendo comumchegarem a apenas 10% de sua capacidade.
Em estudos desenvolvidos com pescadoresem açudes do Ceará, Hartmann e Campelo(1998) relatam a existências de duascategorias de usuários dos recursos, ou seja,aqueles que detêm a posse de pequenos lotesonde desenvolvem cultivos de subsistênciaem concomitância com a pesca, e os que sededicam integralmente a esta última. Deacordo com levantamentos realizados pelaCNBB (Pastoral Regional da Seca) emencionados por esses autores, apenas 10%dos residentes nas imediações doreservatório não exercem a pesca, sendo que42% o fazem para consumo próprio, 40%para subsistência e comércio e 2,5% apenaspara o comércio. Os estudos realizados porPaiva, Petrere Junior, Petenate, Nepomucenoe Vasconcelos (1994), em 17 reservatórios daregião, registraram uma média de 148 pesc.ano-1 por reservatórios, entre 1977 e 1986,com variações relevantes entre eles.
As embarcações utilizadas são, em geral, demadeira, raramente motorizadas. Osartefatos de pesca utilizados são bastantevariados, predominando aqueles baseadosem redes de emalhar (GURGEL, 1986), que sãoutilizados passivamente como redes deespera ou ativamente na pesca de batida(HARTMANN; CAMPELO, 1998). No primeiro, asredes são instaladas durante a tarde e
214 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
recolhidas, com os peixes (sardinha de águadoce, pescada, curimatã, tilápia e tucunaré),na manhã seguinte. Na pesca ativa (batida),eficiente na captura de tilápias, as redes sãoinstaladas em áreas rasas e os peixesafugentados em direção a elas por batidas nasuperfície da água com varas ou remo. Apóscada manobra, os peixes são recolhidos e asredes reinstaladas. Outras modalidades depesca utilizadas nesses ambientes sãobaseadas em anzóis, na forma de linhas demão, especialmente para a captura detucunaré e pescada (corvina) e em bóias, parapesca da traíra. Tarrafas e covos são tambémempregados na captura de várias espécies depeixes e camarão.
No final da década de 1970 diversas colôniasforam organizadas. Nos idos de 1986existiam cerca de 10 colônias, prestandoapoio médico, sanitário, financeiro e técnico(GURGEL, 1986). As principais controvérsias econflitos existentes relacionam-se aos tiposde pesca de batida e redes de espera. Aprimeira tem sido objeto de proibições eliberações sucessivas, dada a sua eficiência napesca, chegando a capturar quatro vezes maisque a pesca passiva. Em geral, os pescadoresque se utilizam de redes de espera são maisvelhos, têm mais equipamentos, pescampróximo a suas residências e são membrosde associações comunitárias. Já os quepraticam a pesca de batida pescam em todo oreservatório e não participam de associaçõescomunitárias. Além disso, se da zona rural,são jovens e sem posse de terra, se urbanos,têm pouco equipamento de pesca, arriscam-se ao roubo dos aparelhos, gastam o dinheiromais facilmente e são mais orientados para oconsumo (HARTMANN; CAMPELO, 1998).
Embora os reservatórios nordestinostenham-se revelado os mais produtivos dopaís e a pesca neles praticada tenhaimportante papel na subsistência de grandescontingentes populacionais, neles tambémnão se conseguiram erradicar as precáriascondições em que vivem os moradores dasimediações.
Bacia do rio Paraná
A bacia do rio Paraná é, entre as sul-americanas, aquela que apresenta maiornúmero de reservatórios hidrelétricos, sendoa pesca profissional e a amadora bem-difundidas em todas as sub-bacias, tanto emregiões lóticas quanto represadas.
Nos trechos livres remanescentes dessabacia, além da pesca amadora e profissional,registra-se também a de subsistência, raranos reservatórios. Nesses trechos, osdesembarques são baseados em grandesespécies migradoras, como o dourado, piaus,curimba e grandes bagres (PETRERE JUNIOR;
AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002;AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003).Os pescadores comerciais e de subsistênciautilizam diversos aparelhos de pesca,atuando na calha do rio, lagoas e canais. Osbarcos utilizados, em geral, não são muitopotentes, a pesca emprega diferentesestratégias e o seu rendimento émarcadamente sazonal (CEREGATO; PETRERE
JUNIOR, 2003). Esses pescadores habitamprincipalmente áreas ribeirinhas. Ospescadores esportivos, por outro lado, atuamespecialmente nos finais de semana e sãooriundos de centros urbanos regionais mais
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 215215215215215
Figura 5.3.2 - Emprego de redes de espera na pesca artesanal(Foto: E. K. Okada).
desenvolvidos, utilizando primariamenteartefatos de pesca baseados em anzóis (varase linhadas).
A pesca profissional e aspectossocioeconômicos dessa atividade no Estadode São Paulo, especificamente nas sub-baciasdos rios Grande, Tietê e Paranapanema,foram descritos detalhadamente por Santos,Camara, Campos, Vermulm Junior e Giamas(1995), tendo como base levantamentosrealizados entre 1992 e 1993, envolvendo 279municípios. Esses autores estimaram em2.800 os pescadores atuando no Estado de SãoPaulo. Destes, cerca de 80% possuemembarcação própria, mais da metade feita demadeira. Cerca de 70% dos pescadores têmde 1 a 4 dependentes na família e quase 75%vivem exclusivamente da pesca. A maioriaexerce a atividade durante mais de 20 dias acada mês, empregando principalmente redesde espera (Figura 5.3.2) e, em menoresproporções, tarrafas, espinhéis e anzóis. Comrelação à renda, mais da metade recebia, naocasião, menos que 4 salários mínimos pormês. Infelizmente, osautores não apresentaminformações a respeito dasformas de organização emcolônias de pescadores.Entretanto, dentre as váriasdificuldades apontadaspelos próprios pescadoresna execução de suaatividade, estão (i) aincapacidade das colônias ecooperativas em servircomo fonte de subsídios eintermediar transaçõescomerciais, tanto para o
escoamento da produção quanto na aquisiçãode insumos, (ii) a precariedade nos serviçosprestados por essas organizações, como oatendimento médico, odontológico ejurídico, e (iii) a falta de atenção do poderpúblico no auxílio e incentivo para aformação de cooperativas.
Em estudo recente, Carvalho (2004)descreveu alguns aspectos socioeconômicosda pesca na região da planície de inundaçãodo alto rio Paraná, nos municípios de PortoRico e Porto São José, revelando que ascondições vigentes nessa região sãosemelhantes às observadas em outras baciasbrasileiras. Como padrão recorrente, aatividade pesqueira está centrada na unidadefamiliar, sendo que cerca de 85% dospescadores são casados e muitos contam coma ajuda de parentes nas tarefas pesqueiras. Amaioria dos pescadores está cadastrada emcolônias, e quase a totalidade possui carteiraprofissional. Aspecto negativo reside no fatode que quase 50% dos pescadoresentrevistados são analfabetos. Os pescadores
216 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
dessa região estão, de certa forma, bem-equipados, pois possuem aparelho de pescapróprio, bem como barcos de madeira oualumínio motorizados (central ou de popa).Visam espécies migradoras, como o armado,o barbado, o dourado, o pacu, dentre outras.No entanto, a pesca parece não estar sendosuficiente, visto que mais da metade dospescadores desempenham atividadesparalelas como forma de complementar arenda. Essas atividades concomitantes estãorelacionadas à construção civil e ao turismo,que vêm se ampliando na região.
As informações da pesca em reservatórios nabacia do rio Paraná, embora consistentes emrelação aos desembarques pesqueiros, sãoescassas para os aspectos estruturais esocioeconômicos, estando restritas a algunsreservatórios.
Sub-Bacia Rio Grande
Na sub-bacia do rio Grande, por exemplo,informações detalhadas sobre artes de pescae socioeconomia estão disponíveis apenaspara o reservatório de Furnas (ELETROBRÁS,c2003-2005). Assim, estima-se que cerca de15.000 pessoas estejam envolvidas de algumaforma com a pesca nesse reservatório (cincopessoas por família, em média), embora osregistros no IBAMA em 1998 acusem aatuação de apenas 1.019 pescadores. Adedicação integral à pesca é, entretanto, deapenas 30% desse contingente, sendo osdemais envolvidos principalmente com aatividade agrícola. Há evidência de que onúmero de pessoas dedicadasexclusivamente à pesca venha diminuindo.
Grande parte dos pescadores reside emáreas urbanas, em casa própria (80%) egeralmente de alvenaria. Em razão disso, amaioria dos pescadores contam com águaencanada (80%) e quase todos dispõem deenergia elétrica e aparelhos de televisão.Quanto ao grau de instrução,aproximadamente 13% são analfabetos e74% têm ensino fundamental incompleto. Arenda média para aqueles que dependem dapesca situa-se entre dois e três saláriosmínimos mensais, com um esforço de pescavariando de 5 a 6 dias por semana.
Um grande percentual (88%) está cadastradonas colônias de pescadores de Alfenas (Z-04)e Formiga (Z-06). A Colônia de Alfenascongrega mais de 700 associados, produz evende gelo para a conservação do pescado,sendo o lucro com essa venda e a anuidadepaga pelos associados (com inadimplênciade 50%) a receita que mantém a colônia emfuncionamento. A única assistênciaprestada, além do fornecimento do gelo abaixo preço, é a facilitação na obtenção doseguro-desemprego. A colônia de Formigatem pouco mais de 150 associados, nãopossui sede própria e é mantida pelopagamento da anuidade obrigatória. Essacolônia presta importante assessoriajurídica e administrativa aos seusassociados. Contudo, vale ressaltar quenenhuma das duas colônias tem convêniosou recebe suporte técnico regular do Estado.
Todos os pescadores são proprietários dematerial de pesca (98% pescam com redes deespera, com média de 21 redes/pescador;Figura 5.3.2) e se deslocam principalmentecom canoa e remo.
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 217217217217217
O pescado é, em sua maioria, comercializadono mesmo dia da pesca, sendo conservado nogelo (56%) ou vendido a fresco (32%), esendo o remanescente mantido emcongeladores. O pescado é vendido direto aoconsumidor ou repassado paraintermediários (compradores). Estes,geralmente ex-pescadores, possuemmelhores condições de armazenamento etransporte, podendo despachar o produtopara outros municípios. É comum, inclusive,que se formem grupos de pescadorestrabalhando para um único intermediário, oque garante o escoamento da produção. Noentanto, os intermediários não costumamfornecer subsídios à pesca, com exceção dotransporte do gelo aos pontos de pesca, o quefaz com que não se crie um sistema de fortesdependências entre as partes. O consumidorfinal compra geralmente os peixes decomerciantes, pessoas com estabelecimentocomercial fixo, que conseguem o produtomajoritariamente das mãos deintermediários.
Castro e Begossi (1995) fizeram umaavaliação das estratégias empregadas porpescadores profissionais no trecho a jusanteda represa de Marimbondo. Nesse trecho, asestratégias de pesca variaram conforme aépoca do ano. Assim, durante a épocachuvosa as pescarias foram realizadasprincipalmente com tarrafas, na transiçãodos períodos chuvoso/seco utilizaram-semais espinhéis, e na seca, as redesmalhadeiras. As capturas foram maisrentáveis nos períodos de transição e nochuvoso, quando os cardumes ocorrem emmaiores concentrações no trecho. Já naépoca de seca, o baixo rendimento leva
muitos pescadores a procurarem outrasatividades ou a praticarem apenas a pesca desubsistência.
Na represa de Água Vermelha, a pescacomercial utiliza basicamente redes deespera, com diferentes malhagens, armadasdiariamente no período crepuscular erecolhidas no amanhecer. Os pescadoresatuam em média 240 dias/ano e a principalembarcação é a canoa motorizada (CORRÊA;
SANTOS; FERREIRA; TORLONI, 1993).
A pesca esportiva está bem estabelecida nabacia do rio Grande, sendo praticada namaioria dos reservatórios, durante quasetodo o ano. Diversas pousadas, com boainfra-estrutura, fornecem suporte aopescador. A pesca é realizada com caniços elinhadas, estando voltada principalmente àcaptura de tucunaré e corvina.
Sub-Bacia Tietê
As pescarias na bacia do rio Tietê têm umahistória de elevadas capturas de espéciesmigradoras de grande porte, antes dosbarramentos (PETRERE JUNIOR; AGOSTINHO;
OKADA; JÚLIO JÚNIOR, 2002). Conforme osreservatórios foram construídos, acomposição dos desembarques e asestratégias de pesca alteraram de formafantástica. Atualmente a atividade estárestrita a essas represas, com pescaprofissional baseada em espécies de menorporte e menor valor comercial, capturadascom o uso de redes malhadeiras, e pescaesportiva que incide sobre espéciespiscívoras introduzidas ou pequenos peixescapturados a partir das margens.
218 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A pesca esportiva é praticada essencialmentenos finais de semana e durante o verão(PETRERE JUNIOR ;AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO
JÚNIOR, 2002), apresentando características delazer. Esses pescadores utilizam caniços oulinhadas e objetivam diversas espécies, comotucunarés, corvinas, mandis, piaus e mesmolambaris e acarás.
Os profissionais atuam em todos osreservatórios da série, desde Billings atéTrês Irmãos. Organizam-se em torno decolônias de pescadores e, como mencionado,utilizam redes malhadeiras com malhas dediversos tamanhos, atuando principalmentenos braços laterais do reservatório (TORLONI;
CORRÊA; CARVALHO JUNIOR; SANTOS; GONÇALVES;
GERETO; CRUZ; MOREIRA; SILVA; DEUS; FERREIRA,1993; PETRERE JUNIOR ;AGOSTINHO; OKADA; JÚLIO
JÚNIOR, 2002). As redes são armadasdiariamente, geralmente no períodocrepuscular, e recolhidas no amanhecer,sendo que alguns utilizam também tarrafas.A modalidade de pesca de batida é aplicadanaqueles reservatórios com altas densidadesde tilápia. Trabalham em média 240 dias porano. A embarcação principal utilizada é acanoa de madeira com motor. Duranteépocas de baixo rendimento é comum que ospescadores migrem entre os reservatórios ouexerçam outras atividades.
Quanto às estratégias adotadas nessa bacia,os pescadores também buscam maximizar oesforço de acordo com a espécie alvo. Naregião de Barra Bonita, os pescadoresutilizam diversas malhagens de rede, massempre direcionando o esforço para capturarespécies mais apreciadas (SILVANO; BEGOSSI,2001). Entre os peixes mais procurados estão
curimbas e corvinas. Os lambaris, tambémcom bom preço no mercado, são vendidos jáprocessados aos restaurantes e bares daregião.
No reservatório Billings, o mais alto dasérie, a pesca se intensificou nas últimasdécadas. Esse é um importante ponto depesca, sustentando muitas famílias depescadores profissionais, além de grandeparte do comércio regional de pescado. Atérecentemente, cerca de 3,8% do contingentede pescadores artesanais e comerciais doEstado de São Paulo pescavam nas águasdesse reservatório urbano (MINTE-VERA;
PETRERE JUNIOR, 2000), sendo que a maioriaatuava exclusivamente nessa represa (MINTE-
VERA; CAMARGO; BUBEL; PETRERE JUNIOR, 1997).
O número total de pescadores profissionaisnesse reservatório foi estimado em 101 em1996/1997, residindo em três vilarejos depescadores localizados no entorno doreservatório. Como as distâncias são curtas,alguns pescadores realizam até duas viagensde pesca por dia. Os apetrechos utilizadosincluem redes de diferentes malhagens etarrafas, sendo que Minte-Vera e PetrereJunior (2000) identificaram duas estratégiasde pesca diferentes, uma especializada eoutra mais geral. A pesca da tilápia, principalespécie comercial, é baseada na captura ativacom redes de emalhar. Essa estratégia, jádescrita para os açudes nordestinos, éconhecida por pesca de batida: redesmalhadeiras são posicionadas próximas àmargem e pancadas são desferidas na água,fazendo com que os peixes se movimentem ecaiam nas redes. O restante das espécies écapturado com a estratégia generalizada, ou
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 219219219219219
seja, o uso convencional das malhadeiras etarrafas. Em épocas de baixo rendimento,alguns pescadores costumam abandonar aatividade ou mesmo migrar parareservatórios do interior do Estado de SãoPaulo, particularmente o de Barra Bonita(PELICICE, 1999).
Apesar de a produção pesqueira nessereservatório ser uma das mais altas daregião, o pescador profissional enfrentaproblemas com o rendimento (muitovariado), segurança, poluição econtaminação química do pescado, já que aBillings recebeu por muito tempo as águaspoluídas do rio Pinheiros, colhendoatualmente apenas efluentes domésticos deorigem difusa.
Nesse reservatório é característica a visita demuitos pescadores amadores durante finaisde semana, oriundos da regiãometropolitana de São Paulo. Ocupampraticamente toda a margem onde é possívelo acesso, e, em períodos piscosos, levam“sacos” completamentecheios de tilápias.
Alto Rio Paraná
No lago Paranoá, Brasília,também um reservatóriourbano, cerca de umacentena de famílias vivia dapesca, apesar de clandestina,entre 1985 e 1991. A tarrafaera o principal instrumentode pesca (Figura 5.3.3),objetivando a captura de
tilápias. A renda mensal do pescador, dada aabundância do recurso, era elevada, sendo opescado enviado para cidades satélites doDistrito Federal por meio de intermediários,constituindo-se importante atividadesocioeconômica na região. Entretanto, com aintensificação da fiscalização, a atividadereduziu drasticamente até o final da década.
Tendo em vista que era uma pesca voltadapara espécies exóticas e praticada há váriosanos, tendo grande importância como fontede sustento para muitas famílias depescadores, a proibição foi revista no final dadécada de 1990 (RIBEIRO; STARLING; WALTER;
FARAH, 2001).
Walter (2000) avaliou os aspectossocioeconômicos da pesca nesse reservatórioentre 1999 e 2000. De acordo com essaavaliação, os pescadores envolvidos naatividade vivem no Distrito Federal e nascidades satélites, sendo que a maioria temresidência própria (de alvenaria ou madeira).A infra-estrutura das moradias é considerada
Figura 5.3.3 - Emprego de tarrafas na pesca (Foto: E. K. Okada).
220 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de boa qualidade, todas com abastecimentopúblico de água e energia elétrica. O númeromédio de pessoas por família é estimado emcinco, que têm no peixe importante alimentona dieta. O analfabetismo atinge cerca de21% deles, sendo que outros 23% têm algumgrau de escolaridade.
Quase 20% vivem exclusivamente da pesca,com outros 20% realizando a pesca comoatividade principal. Os demais ingressam napesca quando as oportunidades de empregosmelhores estão escassas. As embarcações sãopredominantemente de madeira compropulsão a remo, sendo a maioria daspescarias realizada por duplas. Os aparelhosempregados foram tarrafas e malhadeiras, asúltimas utilizadas como redes de espera oupesca de batida. A renda média dospescadores ficou em torno de dois saláriosmínimos.
Em avaliação nos reservatórios de IlhaSolteira e Jupiá, curso principal do rioParaná, Ceregato e Petrere Junior (2003)caracterizaram alguns aspectos da bio-economia da pesca artesanal. Nessesreservatórios a pesca é realizadaprincipalmente com barcos de alumínio, aocontrário dos outros reservatórios, 100% dospescadores entrevistados possuíam motor nobarco. Os apetrechos de pesca incluem redesmalhadeiras, tarrafas, linhadas, espinhéis ecaniços. Os autores verificaram que noperíodo de seca a rentabilidade da pesca émaior na região represada, enquanto nacheir, esta é maior nas regiões lóticas ajusante, fato provavelmente associada àconcentração dos peixes migradores nasabaixo da barragem. Nesses reservatórios, o
lucro da pesca esteve associado ao níveleducacional do pescador, ao número desemanas gasto por pescaria, e ao apetrechoutilizado, bem como à época do ano.
O reservatório de Itaipu tem talvez o maisdetalhado acompanhamento socioeconômicodentre todos os reservatórios brasileiros(AGOSTINHO; OKADA; GREGORIS, 1999), com umasérie de dados coletados desde 1987. Duasmodalidades de pesca estão bem-estabelecidas atualmente no reservatório, acomercial e a amadora (recreativa eesportiva).
A pesca comercial na região consolidou-seformalmente há muito tempo, com a criaçãode duas colônias de pescadores durante adécada de 1960 (Z-12 em Foz do Iguaçu, PR eZ-13 em Guaíra, PR). Essas colôniasauxiliavam no armazenamento ecomercialização do pescado. Com ofechamento do reservatório (outubro de1982), foi decretada a proibição da atividade,estado que perdurou até 1985. Isso,entretanto, não impediu que a pescacontinuasse, de forma clandestina.
Assim, a pesca neste reservatório foioficialmente reconhecida em 1985, quando seiniciaram também os trabalhos demonitoramento da pesca. Nos primeirosanos, quando a pesca nesse reservatórioapresentava elevado rendimento, a elaafluíram os pescadores “barrageiros”, jádescritos em outros reservatórios (Tucuruí,Sobradinho), os quais tiveram uma relaçãode conflito com os pescadores locais, vistoque tinham maior poder de pesca (maisequipamentos e experiência com ambientes
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 221221221221221
represados), não eram filiados às colôniaslocais e tinham nenhum comprometimentocom o sistema de pesca local. Aliás, osbarrageiros vieram ao reservatóriocontratados por importantes peixarias doEstado de São Paulo. A relação delicadadurou até 1988, quando muitos deixaram aregião pela queda nos estoques de interesse,e outros conseguiram se integrar àscomunidades locais.
No ano de 2004 (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPÉLIA/ITAIPU BINACIONAL, 2005), onúmero de pescadores titulares noreservatório de Itaipu foi de 710, que,somados aos ajudantes de pesca, alcançaram1.135. Considerando-se que o número médiode dependentes por pescador titular era de2,6 naquele ano, o número de pessoasdiretamente dependentes da exploração dosrecursos pesqueiros foi estimado em 1.846. Onúmero de mulheres nesse contingente foide apenas 30. Pouco mais da metade dospescadores em atividade nesse reservatórioatuam nos trechos mais internos. Entretanto,a densidade de pescadores é maior na zonafluvial (1,4 pesc./km2), seguida pela detransição (0,28). Aproximadamente 28% dospescadores atuavam na pesca antes de exercê-la no reservatório de Itaipu. A origem nazona rural, como pequeno produtor outrabalhador volante, compôs 39% do total depescadores. Cerca de 55% das pessoas queatuam na pesca no reservatório de Itaipu sededicam-se somente a essa atividade,enquanto que as demais compartilham otempo com a agricultura ou trabalhos devolante rural ou urbano. A dedicaçãoexclusiva à pesca atinge, entretanto, 75%daqueles que atuam na zona fluvial. No ano
de 2004, 53% dos pescadores já estavam naatividade havia mais de 10 anos, enquantomenos de 5% haviam ingressado nos últimos12 meses. A idade média dos pescadores foide 45,5 anos, sendo que cerca de 37% tinhammais de 50 anos.
Cerca de 90% dos pescadores do reservatóriode Itaipu são filiados a uma das quatrocolônias de pescadores existentes ao longodo reservatório (Z-12, Z-13, Z-15 e SantaHelena). O restante pratica a pesca de formailegal. A participação dos pescadores nessasassociações tem sido reduzida e ainadimplência no pagamento das taxas éelevada. O papel das colônias em termos debenefícios aos filiados se concentra nasreivindicações da categoria junto àsconcessionárias hidrelétricas, órgãosreguladores da atividade e ambientais. Amanutenção dessas organizações dependeem grande parte do apoio de prefeituraslocais e, mais esporadicamente, dacomercialização do pescado.
O analfabetismo entre os pescadores doreservatório de Itaipu é um dos mais baixosem reservatórios brasileiros onde o nível deinstrução foi avaliado, alcançando 5,9% dototal. Entretanto, 67% têm apenas o primeirograu incompleto. O analfabetismo é, poroutro lado, maior na zona fluvial (14%).
A pesca profissional no reservatório deItaipu é realizada principalmente com redesde espera (86% dos pescadores), seguida porespinhéis (37%), anzóis de espera (18,9%),linhadas (18,7%), caniços (6,8%) e tarrafas(5,1%), além de fisgas, covos e anzóis degalho (Figura 5.3.4). Constata-se uma notável
222 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Redes
Espinhéis
Espera
Linhada
Caniço
Fisga
Tarrafas
Covo
Outros
0 150 300 450 600
Nº de pescadores
Figura 5.3.4 - Número de pescadores utilizando os diferentesaparelhos de pesca no reservatório de Itaipu, durante oano de 2004.
Fluvial Transição Lacustre0
20
40
60
80
100
Nú
me
rod
ep
esca
do
res
(%)
Redes
Espinhéis
Espera
Linhada
Caniço
Fisga
Tarrafas
Covo
Outros
Figura 5.3.5 - Proporção entre os pescadores que usaramdiferentes aparelhos de pesca no reservatório de Itaipu noano de 2004.
variação no emprego dosdiferentes apetrechos de pescaentre as zonas do reservatório,sendo aqueles baseados emanzóis mais freqüentes na zonafluvial, e em redes na maislacustre (Figura 5.3.5).Diferenças na composição dopescado entre as zonas explicamessas variações.
Em 2004, a pesca noreservatório foi exercida com ouso de 1.115.000 m2 de redes,94.000 anzóis e 51 tarrafas.Aproximadamente 95% dospescadores detinham a possedesses equipamentos. Emrelação às embarcações, 79%eram de madeira e 15%alumínio, sendo as demaismistas, de latão oucompensado. Os mecanismos depropulsão forampredominantemente os motorestipo rabeta (32%) e o remo(31%). Motores de centro emotores de popa compuseram17% e 11% dessas facilidades,respectivamente.
A maioria dos pescadores do reservatório deItaipu vive em áreas urbanas próximas(50,6%), sendo que 29,0% têm suas residênciasestabelecidas na zona rural. Acampamentosestão restritos a pouco mais de 10% deles. Aágua para o consumo é obtida principalmenteda rede pública (45%), seguida de poçosartesianos (25%) e poços simples (17%).Embora, em média, apenas 0,5% dos
pescadores utilize água do reservatório ou deminas próximas, esse percentual alcançou 21%daqueles da zona fluvial. A energia elétricachega a 81% dos pescadores.Aproximadamente 2/3 dos pescadoresdeclararam problemas crônicos de saúde,sendo os de coluna os mais freqüentes (39,2%dos pescadores), seguidos por malesreumáticos (15,8%), renais (4,7%) e de pele
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 223223223223223
(3,6%), a maioria ligada à atividadeprofissional (postura, insalubridade,insolação).
A renda média com a pesca no reservatóriode Itaipu, considerando o declarado pelospescadores, é de aproximadamente 1,5salário mínimo. Entretanto, cerca de 12%deles ganham menos de um salário mínimo.A intenção de permanência na pesca foimanifestada por 93% dos pescadores.Entretanto, apenas 14% declararamsatisfação com a atividade.
O consumo de pescado na dieta do pescadore de sua família foi declarada por 90% deles,sendo que para 32% o pescado é a principalfonte de proteína. A maioria do pescado évendida na forma congelada (60%) ouresfriada (26%), sendo essa comercializaçãofeita principalmente com intermediários(50% dos pescadores). A análise dacomposição do preço do pescado emmercados de Maringá-PR, cerca de 300 kmdesse reservatório, revela que o pescadorparticipa com menos de 23,3% do preçofinal.
A pesca no reservatório de Itaipu, adespeito do seu baixo rendimento, quandocomparada com outros ambientes demenores latitudes, tem importânciafundamental para o sustento familiar desegmentos menos favorecidos da populaçãoe excluídos dos demais setores produtivosda região. Representa também aoportunidade de permanecer numaatividade legal numa região de fronteira,onde as oportunidades para o exercício deatividades ilícitas são grandes.
A pesca esportiva/amadora também estábem estabelecida no reservatório,impulsionada pelo apoio das prefeituraslocais. Essa modalidade gera recursosfinanceiros para os estabelecimentoscomerciais das cidades. Durante o ano de2004 foram entrevistados 1.496 pescadoresamadores, sendo estimado que esse númerorepresenta cerca de 30% do total. Cerca de98% deles são oriundos do Estado do Paranáe 82% residem em municípios lindeiros. Apesca é praticada com o uso de caniço oucarretilha (70%), enquanto a linha de mãoestá restrita a 25% deles. A maioria declaraque consome o pescado capturado e apenas2,3% praticam a modalidade de pesque-solte.
Embora tenham sido registradas 26 espéciesde peixes nos desembarques dessamodalidade de pesca, a maioria (87%) foicomposta de corvina, piapara e tucunaré.Nas mais de 7.000 incursões de pescamonitoradas, foram capturadas 52 toneladasde peixes por essas pescarias. Considerandoque a cobertura do monitoramento é de30%, acredita-se que o total estimado esteveem torno de 155 toneladas.
Em 2004, os principais torneios de pesca noreservatório de Itaipu (sete) envolverampelo menos 1.117 pessoas, considerando-seapenas as que retornaram ao ponto inicial einformavam sobre suas pescarias. O total depeixes computados nesses eventos foi de700 kg, 31% dos quais eram de corvina(Figura 5.3.6).
Embora ainda pouco pronunciados, éesperado que os conflitos entre a pesca
224 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 5.3.6 - Cenas de torneios de pesca no reservatório de Itaipu(Foto: E. K. Okada).
profissional e a amadoradevam se acirrar nospróximos anos, dado que aprincipal espécie nestaúltima modalidade é acorvina, posicionada entreas três primeiras na pescaprofissional. Por outrolado, a participação dotucunaré na pescaprofissional vemaumentando,posicionando-se entre asdoze principais nosúltimos anos.
Sub-Bacia Iguaçu
O rio Iguaçu não tem histórico de pescaprofissional (ver seção anterior). Entretanto,ela é exercida de forma ilegal, tendo seusaspectos socioeconômicos avaliados porOkada, Gregoris, Agostinho e Gomes (1997)em dois reservatórios dessa bacia (SaltoSantiago e Salto Osório).
Na verdade, a pesca parece ser antiga nabacia, mas com caráter de subsistência.Cerca de 27% dos pescadores já atuavam napesca desse rio antes da formação dessesreservatórios. O contingente é formado porpequenos proprietários rurais e bóias-frias,sendo a pesca uma fonte de renda adicional.Apenas 6,7% dedicavam-se exclusivamenteà pesca.
Moram em propriedades rurais próximas aorio e não comem regularmente o própriopescado. Mais de 80% contam com o serviço
de energia elétrica e 46,7% são abastecidoscom água da rede pública.
Quanto ao grau de instrução, cerca de 76%são alfabetizados e apenas 3,4% sãoanalfabetos. A totalidade dos filhos até oitoanos é alfabetizada ou freqüenta escolas. Noque concerne às reivindicações, uma grandepercentagem clama pela liberação da pesca,reclama do furto de aparelhos e da depleçãodos estoques.
A embarcação principal utilizada é a demadeira com remo, sendo menos comum omotor rabeta. Barcos de alumínio commotor de popa são raros. O aparelho maisutilizado é a rede de espera, seguida deespinhéis e covo. Os desembarques sãocompostos essencialmente por lambaris,que são processados pelos familiares evendidos na forma congelada paraintermediários que os destinam a peixariasde centros urbanos maiores.
Aspectos Socioeconômicos da Pesca: diagnóstico 225225225225225
LocalÁgua Energia
AnalfabetosRenda Média
Tucuruí 10 20 40 1
Sobradinho -- -- -- 3
Três Marias -- -- > 60 3,5
Furnas 80 98 13 2 - 3
Paranoá 92 94 21 2
Itaipu 45 81 6 1,5
Bacia Iguaçu 47 80 3,5 1,5
Encanada Elétrica (sal. min.)
Tabela 5.3.3 - Aspectos socioeconômicos dos pescadoresatuantes em alguns reservatórios brasileiros. Os valoresapresentados significam números percentuais (%). Afonte das informações está detalhada no texto
Considerações Finais
Entre as conclusões que emergem dasinformações apresentadas nesse tópico sobrea pesca profissional podem-se destacar: (i) apesca em reservatórios hidrelétricosbrasileiros é caracteristicamente artesanal ede baixa rentabilidade; (ii) a pesca se instalade forma desorganizada e continua sendoexercida sem qualquer ordenamento; (iii) oEstado não se faz presente, tanto no fomentoà produção quanto no atendimento dedemandas básicas asseguradas pelaConstituição, como os serviços de saúde eeducação; (iv) os conflitos no uso dosrecursos são freqüentes, geralmenteenvolvendo as distintas modalidades depesca e os distintos usuários da água; (v) asraras medidas de manejo da pesca executadassão, no geral, ineficientes; (vi) o pescado temprocessamento precário e há dificuldades noescoamento; (vii) o pescador é espoliado noprocesso de comercialização; (viii) aqualidade de vida dos pescadoresprofissionais é precária, com parte relevantedeles vivendo em estado de miséria; (ix) ograu de insatisfação éelevado, sendo que ospescadores permanecem naatividade por falta de outrasopções; (x) a auto-estimados pescadores é baixa. ATabela 5.3.3 sumarizaalguns indicadores dequalidade de vida e rendada pesca. Ressalta-se,entretanto, que os altospercentuais de pescadoresservidos por água e energia
elétrica da rede pública decorrem do elevadopercentual de pescadores que moram emáreas urbanas, não sendo um serviço de quedispõem em sua rotina de pesca.
Contribui para a baixa auto-estima dospescadores profissionais a visão difundidajunto à população de que a atividade épredatória e de que a categoria é responsávelpela depleção nos estoques de espéciesimportantes que originalmente habitavam aregião, como as grandes espéciesmigradoras.Além disso, o abandono dessa categoriaprofissional pelo Estado, exceto pela atuaçãopolicial da fiscalização, o estado de misériano qual muitos vivem, os conflitos com ospescadores esportivos - com maior influênciapolítica e de mídia - e a divulgação freqüentede autuações de pescadores infratores,contribuem para essa visão.
Por outro lado, pode ser também inferido apartir das informações desse tópico que apesca representa, em vários reservatórios,um importante refúgio para segmentos dapopulação excluídos de outras atividades
226 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
produtivas. Assim, a despeito dasdificuldades no exercício dessa atividade, amaioria dos pescadores tem nela sua únicaalternativa de sobrevivência.
Com relação às outras modalidades de pesca,é preciso enfatizar a natureza distinta quecaracteriza a pesca esportiva e a amadora,embora estas sejam tratadas de modosemelhante pela legislação. A primeiraenvolve embarcações e equipamentos depesca mais eficientes, sendo os seus adeptosmelhor organizados e com maior poderaquisitivo e político. Já a amadora, praticadaem finais de semana por moradores daregião, não tem características competitivas,sendo geralmente exercida com caniço nasmargens dos reservatórios e é carente deordenamento. Esta última, embora tenhaforte conotação de lazer, é praticada para aobtenção de pescado para o consumo.Entretanto, ambas competem com o pescadorprofissional visto que exploram os mesmosestoques.
Desse modo, a pesca em reservatório é umaatividade complexa, que envolve aspectospolíticos, ambientais, econômicos e sociais,necessitando de planejamento e medidasespeciais, e devendo ser gerida com aparticipação de todos os que se utilizam dosrecursos ou possam, por suas atividades,afetá-los. Qualquer abordagem visando o seuordenamento deve contemplar,concomitantemente, o meio ambiente, ospescadores e os peixes, considerando asrestrições impostas pelos usos múltiplosprevistos para esses ambientes (AGOSTINHO;
GOMES; LATINI, 2004). Assim, as restriçõessocioeconômicas e as biológicas devem ser
consideradas nessa gestão. A negligência daprimeira torna ineficaz o controle, e dasegunda afeta a sustentabilidade daexploração.
A ausência de ações ordenadoras da pesca emreservatórios já no início da exploraçãoagrava, em curto prazo, as condiçõessocioeconômicas dos pescadores. Além disso,essa ausência foi responsável pelo estado demiséria que se instalou em muitos dessesambientes. Naqueles reservatórios em que apesca tem caracteristicas de sobreexplotação,esta deve ser ordenada, com investimentosdo Estado em ações que contribuam com aredução no esforço de pesca, comooportunidades de empregos mais rentáveis,agregação de valor ao pescado, intervençõesplanejadas no sistema de pesca e qualidadedo pescado, além de iniciativas nas áreas deeducação e saúde. A re-alocação docontingente de pescadores que excede asustentabilidade deve ser tambémconsiderada. Além disso, gestão ou manejoparticipativo, acordos de pesca e manejoadaptativo são experiências bem sucedidasem várias partes do mundo, porém aindapouco empregados no Brasil.
O manejo responsável da pesca, desprovidode intenções eleitoreiras, baseado noprofundo conhecimento do sistema de pescae alimentado por um monitoramentointensivo, evitará desperdício de recursos,esforços e oportunidades. O Capítulo 6 dessaobra nos fornece uma ideia razoável do quenão deve ser feito nessa área. Assim, conclui-se que o problema da pesca em reservatóriosdo Brasil é enorme, e requer atenção evontade política para ser resolvido.
Capítulo 6Manejo da Pesca em Reservatórios
Brasileiros:lllllições a serem aprendidasições a serem aprendidasições a serem aprendidasições a serem aprendidasições a serem aprendidas
As atividades de manejo dos recursos aquáticos nos reservatórios
brasileiros foram, historicamente, exercidas através do controle da
pesca, do repovoamento e da construção de mecanismos de
transposição de peixes. Outras ações não diretamente ligadas ao
manejo, porém com reflexos na conservação dos recursos
pesqueiros, referem-se à remoção prévia da vegetação, à medidas de
prevenção de mortandade de peixes em turbinas e vertedouros, e à
produção de peixes em tanques-redes ou soltura de espécies não-
nativas.
Excetuando-se algum sucesso localizado, essas iniciativas, em
maioria, não produziram o resultado esperado, sendo que em alguns
casos constituíram-se em fontes adicionais de impactos negativos
sobre a ictiofauna. Essas estratégias serão objeto de discussão
nesse capítulo.
228 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Os reservatórios, a exemplo de outrosambientes artificiais, requerem mais atençãono gerenciamento que os ambientes naturais(NOBLE, 1980). Nos lagos naturais, porexemplo, as comunidades tiveram tempo eoportunidade de evoluir no sentido decompartilhar os recursos disponíveis, o queresulta em sistemas complexos e eficientes.Nesses, o nível de estabilidade alcançadopode ser tal que dispense um manejointensivo, mesmo que seriamente afetado.Assim, a interferência humana, geralmenteexercida pela poluição ou sobrepesca, umavez interrompida, pode permitir a suarecomposição.
Já em reservatórios, a natureza recente dasrelações entre os componentes dataxocenose, a modificação nos hábitats, osprocedimentos operacionais na barragem ouo fato de esses ambientes serem pontos deconvergência das ações antropogênicas dabacia, os tornam altamente estocásticos e,portanto, sujeitos a maiores flutuaçõespopulacionais. Desse modo, açõesambientais são indispensáveis. Nessesambientes, inclusive a decisão de “nadafazer” deve ser tomada com base nasinformações disponíveis sobre o sistema, edeve ser considerada como uma forma demanejo.
No Brasil, a busca por formas de mitigaçãodos impactos de represamentos hidrelétricossobre a ictiofauna e de conservação dosrecursos pesqueiros teve seu início com osprimeiros reservatórios no começo do séculopassado, com a construção da escada depeixes do reservatório de Itaipava (rio Pardo;bacia do rio Paraná), concluída em 1911.
Desde então, e até meados do século, essa foia alternativa de consenso no setor para amitigação dos impactos, especialmente paraas espécies de peixes migradoras. A partirdos anos 1950, o foco passou a ser as estaçõesde piscicultura, inicialmente concebidas paraações de estocagem. Mais recentemente, aopção dos mecanismos de transposiçãovoltou a ser discutida, agora em grandesbarragens.
Além dessas obras, consideradas durantemuito tempo como “fins em si mesmas” enão como instrumentos para o manejo,outras iniciativas ligadas ao controle dapesca foram implementadas. Algumas dessasiniciativas foram consideradas bem-sucedidas, enquanto outras não. Entretanto,jamais houve consenso sobre a oportunidadede qualquer delas. Por outro lado, a despeitoda escassez de monitoramento, acumularam-se experiências.
Nos anos de 1993 e 1994, por iniciativa daEletrobrás, através do Comitê Coordenadordas Atividades de Meio Ambiente do SetorElétrico (COMASE), foram realizadas sériesde Reuniões Temáticas Preparatórias e umSeminário Nacional que congregou, nasdiferentes etapas, técnicos do setor elétrico,pesquisadores e comunidade acadêmica,visando fornecer ao setor elementos parasubsidiar diretrizes nacionais para aconservação da fauna aquática emreservatórios.
Os documentos gerados durante esseseventos representaram avançosconsideráveis no trato da questão dosrecursos aquáticos em reservatórios,
Manejo da Pesca em Reservatórios Brasileiros: lições a serem aprendidas 229229229229229
diagnosticando a situação vigente,sistematizando o conhecimento e propondosoluções (SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA...,1994).
Decorridos mais de 10 anos desde arealização do “Seminário Sobre FaunaAquática e o Setor Elétrico Brasileiro”,verificaram-se avanços relevantes naatuação das concessionárias dehidroeletricidade na área ambiental, como asensível redução nas estocagens comespécies não-nativas, mudanças nosprotocolos de estocagem, nomonitoramento e no esforço sobre oentendimento do sistema a ser manejado(ver Capítulo 7). Entretanto, muitasrecomendações ainda são ignoradas e erroscontinuam a ser cometidos.
Neste capítulo são discutidos alguns temasrecorrentes nos embates entre especialistasdo Setor Elétrico, das Universidades, dosórgãos ambientais e entre os ambientalistas.Todos os temas propostos relacionam-sedireta ou indiretamente com as ações demanejo e as tentativas de atenuar impactosdos represamentos sobre os recursospesqueiros ou seus usuários. Assim, sãodiscutidos os mecanismos de transposiçãode peixes (Capítulo 6.1), as estocagens oupeixamentos (6.2), a aqüicultura, com ênfasenaquela praticada em águas públicas (6.3), amortandade de peixes em barragens (6.4), aremoção prévia da vegetação e seus reflexosna qualidade de água e ictiofauna (6.5), aintrodução de espécies deliberada ouacidental (6.6) e o controle da pesca pelosórgãos ambientais (6.7).
Capítulo 6.1Mecanismos de Transposição:
sucessos e falhas
Introdução
As passagens para peixes têm umalonga história, iniciada na Europa há pelomenos 300 anos (CLAY, c1995). Anecessidade de se construir passagens paraque os peixes migradores pudessemtranspor obstáculos nos rios,aparentemente desenvolveu-sesimultaneamente nos países do hemisférioNorte, onde ocorre a migração desalmonídeos, grupo de peixes importantena indústria pesqueira daqueles países.
Embora o primeiro barramento artificial aser dotado de facilidade de transposiçãodate de 1828 (GODOY, 1985), foi no século XXque essas estruturas foram difundidas emtodo o mundo, sendo consideradas comomedidas adequadas de mitigação aoimpacto decorrente do bloqueio interpostopelas barragens aos deslocamentos depeixes. O número dessas obras, estimadopara todo o mundo, é de cerca de 13.000unidades (MARTINS, 2000). A maioria delasestá distribuída na Europa e América doNorte.
Nos Estados Unidos, das 2.350 barragenshidrelétricas em operação, 1.825 são não
federais, sendo licenciadas pela FERC(Federal Energy Regulatory Commission).Destas, cerca de 174 barragens (9,5%) sãodotadas de mecanismos de transposição(CADA, 1998).
Na Grã-Bretanha, inventários recentesdemonstram a existência de 380 passagenspara peixes, das quais 100 foram construídasapós 1989 (COWX, 1998). Na Espanha, foramcatalogados sistemas de transposição em108 barragens, 31% construídas após 1990 e amaioria destinada à transposição desalmonídeos (89%) – Elvira, Nicola eAlmodóvar (1998). Na França, onde alegislação prescreve a obrigatoriedade demecanismos de transposição, mais de 500passagens de peixes foram construídas oureformadas nos últimos 20 anos (LARINIER,2000), grande parte destinada asalmonídeos. Na Alemanha e Áustria, aconstrução de mecanismos de transposiçãotambém foi intensa nos últimos 15 anos,tendo como espécies-alvo os peixespotamódromos. Em vários outros paíseseuropeus, a transposição é voltadaprincipalmente para salmões, enguias eoutros migradores. Na Rússia, além dosalmão e enguias, as escadas visam tambéma passagem de esturjões, arenque e peixescom baixa capacidade migratória.
232 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Na China, onde o número estimado degrandes reservatórios supera 20.000, existementre 60 e 80 passagens de peixes, e visamessencialmente espécies potamódromas(quatro espécies de carpas) e catádromas(enguia).
As escadas de peixes são concebidas parareduzir a velocidade da água e o gradiente demaneira que eles possam ascender e passarpela barragem de forma eficiente. São dotadasde uma entrada, uma passagem (condutor),uma saída e um suprimento auxiliar de água,geralmente usado para promover a atração.
Inicialmente, essa modalidade detransposição era restrita a escadas comseqüência de tanques, onde os peixesvenciam a declividade saltando de tanqueem tanque. Com os novos aportes deconhecimentos científicos à hidrologia, estaspassaram a ter desenhos mais eficientes, commelhores dissipadores de energia,resultando em uma grande variedade demodelos.
Estes podem, no entanto, ser agrupados emquatro modelos hidráulicos/funcionaisbásicos (Figura 6.1.1):
Figura 6.1.1 - Principais modelos de escadas de peixes. a = seqüência de tanques; b = seqüência detanques com orifício; c = ; d = .Denil vertical slot
fluxo fluxo fluxo fluxo
c
fluxo fluxo
orifício
fluxo fluxo
a b
d
orifícios
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 233233233233233
fluxo
Comporta aberta
1- Fase de atração
2- Fase de enchimento
3- Fase de saída
fluxo
Comporta fechada
fluxo
Comporta fechada
Figura 6.1.2 - Eclusa para transposição de peixes.
1 − 1 − 1 − 1 − 1 − seqüência de tanques, dispostos emdiferentes patamares, onde o peixenecessita pular ou ascender pela lâminad’água ao tanque seguinte (tipo pool &weir);
2 − 2 − 2 − 2 − 2 − seqüência de tanques, com passagem defundo por meio de orifícios, por onde opeixe ascende ao tanque seguinte (tipoweir & orifice);
3 − 3 − 3 − 3 − 3 − com defletores instalados no fundo e/ou nas paredes (soleiras centrais),servindo de dissipadores de energia. Aságuas são turbulentas, requerendonatação constante dos peixes e, portanto,tanques de repouso (descanso). Essemodelo foi desenvolvido há mais de 90anos, na Bélgica, pelo cientista G. Denil(tipo Denil);
4 − 4 − 4 − 4 − 4 − seqüência de tanquese orifícios lateraiscom jatos d’água,modelo desenvolvidoem 1943, conhecidopor tipo Hell’s Gate(tipo pool & jet ouvertical slot).
Um tipo especial deescada é utilizado nohemisfério Norte para apassagem de enguias,consistindo em tufos defibras sintéticas ao longode um canal inclinado(tipo eel pass).
A eficiência desses dispositivos natransposição de peixes depende das espécies-alvo e das condições locais. Algumas formashíbridas, onde características de diferentestipos são combinadas, foram construídas como objetivo de acomodar variações no fluxoda água ou servir a diferentes espécies.
Eclusas e elevadores são modalidadesdistintas, também utilizadas para atransposição de peixes.
Eclusa de peixes (fish locks, Borland locks) –Figura 6.1.2 - consiste em um compartimentolocalizado ao nível da água, a jusante, ligadoa um outro localizado ao nível de montantepor uma câmara delimitada por comportas ede nível variável. A operação é similar à deuma eclusa de navegação, ou seja, os peixessão atraídos para o compartimentointermediário, que é então fechado e enchido
234 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
fluxo
Montante
Jusante
fluxo
Comporta aberta
Barragem
Válvula de suprimento
Atrator
Sistema de elevação
Figura 6.1.3 - Elevadores para transposição de peixes.
Comporta fechada
Comporta aberta
até o nível de montante, sendo assimliberados no reservatório pela abertura dacomporta superior. A eficiência dessemecanismo depende da capacidade deatração dos compartimentos aos peixes. Dadaa impossibilidade de preverantecipadamente o ótimo hidráulico para talatração, é desejável que essa estrutura tenhaa máxima flexibilidade de operação. Eclusastêm sido consideradas pouco ou nadaeficientes.
Várias dessas obras foram construídas emtodo o mundo. Na América do Sul,entretanto, há apenas uma emfuncionamento (rio Uruguai, reservatório deSalto Grande), considerada pouco eficiente(QUIRÓS, 1988). Para esse autor, emboraalgumas espécies a ascendam, ela apresentadeficiências de funcionamento relacionadas àatração dos peixes e aos ajustes de caudal eciclo hidrológico.
As eclusas de navegação,freqüentes emreservatórios brasileiros,especialmente na bacia dorio Paraná, sãoconsideradas poucoeficientes, tanto pela baixacapacidade de atração dospeixes (localizam-se, emgeral, em águas maiscalmas para permitirmanobras emembarcações) quanto pelaincompatibilidadeoperacional com asdemandas da navegação(LARINIER, 2000). Segundo
esse autor, adaptações operacionais podemtornar as eclusas já construídas em boasalternativas para a passagem de peixes.
Os elevadores de peixes (fish lifts) – Figura6.1.3 - têm funcionamento similar ao daseclusas, ou seja, os peixes são atraídos paraum compartimento com água posicionadoabaixo da barragem e transportadospassivamente para o alto, sendo entãoliberados no reservatório. Sua eficiência éregulada pela capacidade de atração efreqüência de funcionamento. As vantagensdesses dispositivos são (i) os custos deconstrução, que, praticamente, independemda altura da barragem, (ii) suas dimensõesmais reduzidas e (iii) menor sensibilidade avariações de nível do reservatório. Alémdisso, (iv) são menos seletivos e (v)permitem um controle da quantidade depeixes transpostos. Como aspectos negativos
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 235235235235235
Entretanto, estudos paralelos os consideramcom uma eficiência satisfatória natransposição de peixes migradores(ARGENTINA, 1996). No período de jan/95 ajul/96, a transposição envolveu 36 espécies,ou seja, 44% das espécies registradas notrecho imediatamente a jusante. Estima-seque no ano de 1995 tenham sido transferidos1.767.000 indivíduos, correspondendo a umabiomassa aproximada de 252 toneladas.
Embora com resultados distintos, essas duasavaliações diferem especialmente peloscritérios utilizados para o julgamento daeficiência.
destacam-se os maiores custos operacionais ede manutenção.
Na América do Sul, três estruturas desse tipoencontram-se em funcionamento, sendo umana Argentina (barragem de Yacyretá, no rioParaná) e duas no Brasil (barragem de PortoPrimavera, no rio Paraná, e Funil, no rioGrande). Os elevadores de peixes dabarragem de Yacyretá foram, entretanto, osprimeiros a serem construídos na Américado Sul, estando em operação desde 1995. Suaeficiência na transposição de peixes foiavaliada por Oldani e Baigún (2002), queconcluíram pela ineficiência - ver Box 6.1.1.
BoBoBoBoBox 6.1.1x 6.1.1x 6.1.1x 6.1.1x 6.1.1
Performance de um sistema de passagem de peixes em uma grande barragem no rio Paraná(Argentina-Paraguai).
OLDANI, N.O.; BAIGÚN, C.R.M. Performance of a fishwaysystem in a major South American dam on the Paraná River(Argentina-Paraguay). River Research and Applications, Chichester,v. 18, no. 2, p. 171-183, Mar.-Apr. 2002.
“Desenhos e operações bem-sucedidos de sistemas de passagem de peixes são importantes para protegercomunidades de peixes dos impactos de barragens hidrelétricas na bacia do rio da Prata. Nós avaliamos aperformance de um elevador para passagem de peixes adultos pela barragem de Yacyreta, no rio Paraná,entre 1995 e 1998. O sistema de elevadores esteve fora de operação entre 30 e 38% do tempo durante operíodo de maior migração de peixes (Out-Dez). As espécies-alvo que representaram 30% do número totalde peixes em amostras com redes de espera no trecho imediatamente a jusante, constituíram apenas 10% donúmero total de peixes transferidos. Os peixes coletados dentro do sistema foram dominados pelo mandiPimelodus clarias (>69%), embora essa espécie represente apenas 10% das capturas experimentais ajusante. O curimba Prochilodus lineatus ,uma espécie-chave, representou menos que 5% dos peixestransferidos, mas constituíram 22,1% das amostras a jusante. O número estimado de peixes anualmentetransferidos variou de 1.210.000 (1995) a 3.610.000 (1996), com uma biomassa de 631 a 1.989 toneladas,respectivamente. Nós estimamos a eficiência na passagem de peixes de 1,88% para todas as espécies e0,62% para as espécies-alvo. Com esse nível de eficiência, as espécies transferidas aumentariam o rendimentototal de peixes no reservatório em cerca de 4,9 kg.ha.ano-1, mas apenas 0,5 kg.ha.ano-1 para as espécies-alvo.Nós concluímos que a eficiência na transferência de peixes é inadequada para manter as populações deespécies-alvo no sistema do rio Paraná, e identificamos a necessidade de pesquisas para melhorar a passagemde peixes na barragem.”
236 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 6.1.4 - Canal de passagem secundário.
Montante
Jusante
Fluxo
S/escala
Canais de passagem secundários (bypasschannel) – Figura 6.1.4 - são tipos especiais demeios de transposição desenhados parapermitir a passagem de peixes, localizando-se em torno do principal obstáculo. Sãomuito semelhantes aos tributários naturaisdo rio (LARINIER, 2001). Esses “rios artificiais”buscam restabelecer o contato entre ostrechos a montante e a jusante da barragem ese caracterizam pelo baixo gradiente(geralmente menor que 5%), sendo a energiadissipada através de corredeiras e cascatasdispostas de forma regular ao longo do curso(GEBLER, 1998). Têm, em geral, um cursosinuoso.
Dificuldades em relação a essa estratégia depassagem relacionam-se à necessidade deespaço nas imediações da barragem e ao fatode ser de difícil adaptação às variações de nívela montante, exceto se providos de comportas.De qualquer maneira, a entrada no sistemadeve estar localizada o mais próximo possíveldo obstáculo, onde os peixes se acumulam. OCanal de Piracema de Itaipu, que se utiliza, emparte, do rio Bela Vista, é o único conhecidonessa modalidade de meio de transposição naAmérica do Sul. Entretanto, nesse caso, dada adeclividade a ser vencida em alguns trechos,foram implantadas escadas e redutores develocidade da água.
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 237237237237237
Figura 6.1.6 - Elevador de peixes nabarragem da UHE Funil, no rio Grande( Foto: V. C. Torquato).
Figura 6.1.5 - Modelo experimental deescada a jusante de Porto Primavera.Seta mostra o local de carregamento docaminhão (Foto: J. H. P. Dias).
O sistema de transposição do tipo captura etransporte por caminhões (trapping andhauling), utilizado apenas em carátertemporário no Brasil, porém freqüente emoutros países, é uma opção válida para aquelesempreendimentos cuja casa de força posiciona-se distante da barragem. Esse sistema tem avantagem de permitir o controle dastransposições (período reprodutivo) e, emgeral, destina-se a manter a qualidade genéticados fragmentos populacionais. Na barragemde Porto Primavera, um sistema desse tipoteve funcionamento satisfatório (Figura 6.1.5).
Alternativamente, os elementos detransposição em atividade podem serutilizados na captura de peixes para a obtençãode matrizes no ambiente natural, promovendoa desova e realizando estocagens a partir deum grande número delas. Nesse caso, osmesmos conhecimentos e cuidados necessáriosà estocagem são recomendados.
Várias outras estruturas têm sido utilizadaspara a transposição de peixes para oreservatório, muitas delas representandocombinações dos tipos descritos (Martins, 2000).
A Experiência Brasileira
No Brasil, as facilidades de transposição depeixes restringem-se às escadas, excetuandoos elevadores instalados nas barragens dePorto Primavera (CESP, rio Paraná, operado apartir de 1999) e de Funil (CEMIG; rio Grande,concluído em 2001 - Figura 6.1.6), além docanal de migração em Itaipu (ItaipuBinacional; rio Paraná, operado a partir de2003),
As escadas foram inicialmente concebidascom base na experiência norte-americana comsalmonídeos e destinadas a assegurar amigração de peixes para as partes superioresdos rios represados.
Ao contrário da crescente tendência existenteno hemisfério Norte de garantir o retorno dospeixes para os segmentos a jusante, nenhumtipo de obra de transposição que assegureesse movimento foi construído no Brasil. Issose deve, em parte, ao foco dado às ações demanejo aos trechos represados, à maiorvisibilidade dada pelo acúmulo de peixes a
238 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
jusante e à crença de que os peixes poderiamdescer pelo mesmo dispositivo usado parasubir.
A primeira escada de peixes construída noBrasil foi a da represa de Itaipava, no rioPardo (alto rio Paraná), concluída em 1911,com um desnível de 7 m, sendo consideradabem-sucedida na transposição de peixes(GODOY, 1985).
No início da década de 1920, uma segundaescada foi construída na barragem darepresa Cachoeira das Emas, no rio MogiGuaçu. Embora com um desnível de apenastrês metros, foi mal-dimensionada ecomeçou a funcionar com eficiência apenas apartir de uma reforma realizada em 1942(GODOY, 1985).
A construção de escadas de peixes ganhouimpulso, entretanto, já a partir de 1927,quando a sua instalação passou a serexigência legal (Lei no 2250/SP, de 28/12/1927; Decreto no 4390, de 14/03/1928). Essalegislação prescrevia que “todos quantos, paraqualquer fim, represarem as águas dos rios,ribeirões e córregos, são obrigados a construirescadas que permitam a livre subida dos peixes”.
Ao se generalizar a obrigatoriedade de umaobra, cujo funcionamento é resultado deinterações entre suas características técnicas(tipo, declividade, vazão, posição em relaçãoao eixo da barragem, etc.) e a natureza daictiofauna presente, sem o necessárioconhecimento técnico-científico doempreendimento ou dos peixes, incorreu-seno risco de insucesso e desperdício derecursos, esforços e oportunidades.
Nesse período, foram construídas escadas depeixes logo acima de cachoeiras de até 70 mde altura, como a edificada no córrego dosNegros (São Carlos-SP), ou em riachos ondea ictiofauna era composta apenas porespécies sedentárias (CHARLIER, 1957).
Após a construção das escadas, nenhumaavaliação sistemática e abrangente de suaefetividade como ferramenta de manejoconservacionista foi realizada nessesempreendimentos. Entretanto, algunsestudos, com conclusões distintas, em relaçãoà eficiência na transposição de peixes, sãoencontrados na literatura.
Godoy (1957, 1975) relata a grande eficiênciada escada construída em Cachoeira das Emas(Pirassununga-SP), que, embora de alturareduzida, foi objeto de amplos estudos.Borghetti, Perez Chena e Nogueira (1993) eBorghetti, J.R., Nogueira, Borghetti, N.R.B. eCanzi (1994) registraram um grande númerode espécies ascendendo uma escadaexperimental que se localizava logo abaixoda barragem do reservatório de Itaipu, comaltura aproximada de 27,3 m. Essa mesmaescada foi considerada como de desenhohidráulico adequado por Fernandez,Agostinho e Bini (2004), assegurando aascensão de proporção significativa dasespécies presentes a jusante. No complexoCanoas, médio rio Paranapanema, Britto eSirol (2005) atestam a efetividade natransposição ascendente de várias espécies depeixes, incluindo migradoras. Uma avaliaçãofavorável de escadas construídas em 23açudes do Nordeste brasileiro entre os anosde 1957 e 1980 é também feita por Godoy(1985).
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 239239239239239
Godinho, H.P., Godinho, A.L., Formagio eTorquato (1991), por outro lado, informamacerca da baixa eficiência da escada (10,8 m)instalada junto à barragem do reservatóriode Salto Morais, no rio Tijuco (ver Box 6.1.2).
Essas avaliações foram, por outro lado,realizadas apenas em relação à ascensão dospeixes. Diferenças nas conclusões referem-seao fato de alguns dos estudos consideraremapenas a abundância de peixes que ascendemessas estruturas, enquanto outros levam emconsideração a seletividade imposta pelaescada e a composição específica dos peixesque são transpostos. Assim, enquanto Oldanie Baigún (2002) consideram a passagem deaté 3,5 milhões de peixes na barragem deYacyretá como pouco eficiente (1,88% deeficiência) - ver Box 6.1.1, Tamada e Martins(2002) ressaltam que a ausência de sistema detransferência de peixes seria pior que suaprovável baixa eficiência. Entretanto, deve-seconsiderar que os mecanismos detransposição transferem peixes numaproporção muito diferente daquela que
alcançaria os trechos superiores caso nãoexistisse a barragem (GODINHO, H.P.; GODINHO,
A.L.; FORMAGIO; TORQUATO, 1991; OLDANI;
BAIGÚN, 2002; FERNANDEZ; AGOSTINHO; BINI,2004). É esperado, portanto, que algumaperturbação de natureza transitória oupermanente seja interposta no processo decolonização dos reservatórios dotados comessas estruturas.
Infelizmente, as informações sobre o destinodas espécies que sobem são escassas eaquelas sobre o retorno, virtualmenteinexistentes.
Transposição x Conservação
A ausência de monitoramento das obras detransposição era, entretanto, a característicamais notável até recentemente, dado que elasforam propostas como medida mitigadorade impactos e, em geral, envolveram altosinvestimentos e esforços. Aquelasconstruídas nos últimos anos têm, entretanto,
BoBoBoBoBox 6.1.2x 6.1.2x 6.1.2x 6.1.2x 6.1.2
Eficiência de escada de peixes em um rio do Sudeste brasileiro.
GODINHO, H.P.; GODINHO, A.L.; FORMAGIO, O.S.;TORQUATO, V.C. Fish ladder efficiency in a southeasternBrazilian river. Ciência e Cultura: Journal of the Brazilian Associationfor the Advancement of Science, São Paulo, v. 43, no. 1, p. 63-67,Jan./Febr. 1991..
“Realizaram-se coletas de peixes na escada situada na barragem da UHE Salto do Morais, rio Tijuco, dabacia do alto rio Paraná, Estado de Minas Gerais, no intuito de avaliar a capacidade dos peixes de subir osdegraus-tanques. Seu comprimento é de 78,3 m e altura de cerca de 10,8 m. Das mais de 41 espéciescapturadas na região da UHE Salto do Morais, pelo menos 34 ocorreram na escada. No entanto, o númerode indivíduos das espécies presentes foi pequeno e apenas 2% conseguiram atingir o terço superior daescada. Os resultados indicam que a escada é seletiva para as espécies de peixes que tentam subir e que ospimelodídeos são os que mais sofrem essa restrição.”
240 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
sido monitoradas. Os resultados produzidosem algumas delas têm estimulado asdiscussões sobre o assunto e a identificaçãode alguns problemas (AGOSTINHO; GOMES;
FERNANDEZ; SUZUKI, 2002).
A primeira e mais importante questãoresultante desse debate relaciona-se àefetividade dessas obras no contexto daconservação dos estoques pesqueiros ou napreservação dos peixes migradores. Afinal,essas foram e estão sendo as razões quejustificam sua construção.
Agostinho, Gomes, Fernandez e Suzuki(2002) discutem os aspectos que devem serconsiderados no processo decisório daimplantação de facilidades de transposição,no contexto da conservação. Entre esses, sãodestacados (i) o desenho da facilidade detransposição; (ii) a eficiência na transposição;(iii) a continuidade da migração reprodutiva;e finalmente (iv) a migração descendente e apassagem pela barragem.
Esses autores ressaltam, como primeiropasso do processo decisório, um diagnósticoabrangente que permita inferências sobre acomposição da ictiofauna local e suasestratégias de vida, seguido pelaidentificação dos locais de desova, dedesenvolvimento inicial (“berçários”) e decrescimento, bem como suas relaçõesespaciais com o eixo da barragem.
A adequacão do desenho
O desenho da facilidade de transposição éaltamente relevante na eficiência de seufuncionamento, afetando o seu uso pelospeixes e a seletividade de espécies (Ver Box6.1.3). Desde que respeitadas algumaslimitações, ele não se constitui no problemafundamental para a passagem de peixes.
O aspecto mais crítico em uma obra detransposição parece ser o mecanismo deatração, que permite ao cardume encontrar oinício da escada (entrada). Caso a entrada não
BoBoBoBoBox 6.1.3x 6.1.3x 6.1.3x 6.1.3x 6.1.3
Seletividade em uma escada de peixes experimental na barragem do reservatório de Itaipu.
FERNANDEZ, D. R.; AGOSTINHO, A. A.; BINI, L. M. Selectionof an experimental fish ladder located at the dam of the ItaipuBinacional, Paraná River, Brazil. Brazilian Archives of Biology andTechnology, Curitiba, v. 47, no. 4, p. 579-586, Aug. 2004.
A seletividade específica em uma escada de peixes (tipo tanques seqüenciais com passagem de fundo),operada experimentalmente no reservatório de Itaipu (rio Paraná) foi avaliada por amostragens no rio,abaixo da barragem, e em dois pontos da escada (alturas de 10 m e 27 m) durante 28 meses. Entre as 65espécies registradas no rio, 27 foram capturadas na escada. As espécies com maiores densidades na escada,a maioria migradora, foram moderada ou apenas levemente abundantes no rio. Entre as espécies maisabundantes no rio, apenas não-migradores foram registradas na escada. A escada apresentou uma seleçãonegativa em relação aos grandes pimelodídeos, fato atribuído à escala do desenho da escada. Embora asamostras demonstrem uma moderada seleção de espécie na entrada e na ascensão da escada, seu modelohidráulico mostrou-se satisfatório.
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 241241241241241
seja prontamente reconhecida, os peixespodem permanecer em suas imediações portempo prolongado, atrasando a migração ecomprometendo a desova, ou mesmo jamaisa acessando.
A barragem em si já se constitui numa fontede estresse aos peixes, que ao longo dosséculos alcançavam suas áreas de desova semesse tipo de obstáculo. Aliam-se a essa fontede estresse as condições físicas e químicas daágua a jusante (temperatura, velocidade,qualidade da água, etc.).
Assim, a entrada à obra de transposição deveser reconhecida no menor tempo possívelpara que o processo migratório tenhasolução de continuidade.
Qualquer que seja o tipo de obra detransposição, a efetividade dos atratores éfundamental. Estes são geralmente denatureza hidráulica, o que implica quedevam ser mais efetivos que os fluxos deágua dos vertedouros e do canal de fuga. Porser uma “perda” de água para geração, seufuncionamento pode se tornar conflitantecom o uso hidrelétrico do reservatório,particularmente em usinas que tenhamlimitações na vazão. O fato de as migraçõesascendentes ocorrerem, em geral, emperíodos de vazão crescente, reduz esseconflito.
A localização da obra de transposição(escada, elevador, eclusa, etc.), pelo fato de aentrada ser um aspecto crítico do seufuncionamento, deve ser um tema prioritáriono seu planejamento. Entretanto, em razãoda localização dos outros componentes da
barragem, especialmente vertedouro etomada de água para as turbinas, aefetividade da transposição pode sercomprometida, visto que os peixestranspostos podem ser colhidos pela tomadade água e retornar ao ponto inicial. Napassagem pelas turbinas ou vertedouro, estessão, em geral, submetidos a intensa injuria emortalidade.
Nas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs),outra dificuldade em relação à capacidade deatração das escadas pode se configurar: adistância do canal de fuga em relação aoobstáculo. É comum que essa distânciaultrapasse cinco quilômetros, sendo que aregião próxima à barragem permanece combaixa vazão, e às vezes com baixa qualidadeda água durante a maior parte do ano. Nessecaso, uma escada posicionada próximo àbarragem não teria sentido.
Um complicador adicional em relação à saídado peixe da obra de transposição é aflutuação de nível do reservatório. Esse é umgrande desafio, especialmente emreservatórios destinados a regularizar avazão de outros dispostos em série ou aatender picos de demanda energética. Nestes,as flutuações de nível estão implícitas em seufuncionamento.
A efetividade na transposição
Os dados disponíveis na literatura sobre aeficiência das escadas na transposição depeixes no Brasil carecem de detalhamento ede um trabalho mais sistematizado. Amaioria das escadas de peixes jamais foiobjeto de monitoramento. Entretanto, são
242 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
CurimbaMandi
Piapara
PiavaPiau
LambariArmadoDentudo
Mandi beiçudo
Dourado cachorroPeixe cachorroSorubim lima
Jurupoca
AbotoadoMandi prata
510152025
Participação (%)
0 5 10 15 20 25
Caixa 1 = 10m Caixa 2 = 27m
Figura 6.1.7 - Freqüência das 15 principais espécies registradasnas duas caixas de repouso da escada experimental deItaipu. Nomes grafados em negrito são de espéciesconsideradas migradoras (Caixa 1 = 10m; caixa 2 = 27,0m).
essas as únicas informações disponíveis naliteratura.
Dados obtidos pelo Departamento deMeio Ambiente da Itaipu Binacional(FERNANDEZ; AGOSTINHO; BINI, 2004) na escadaexperimental da UHE Itaipu (altura:27,3m; comprimento: 155m; velocidade:1,2m/s) revelam que 28 das 68 espéciesregistradas a jusante da barragemascendem a escada em alguma extensão.
Entre as espécies migradoras de médio agrande porte destacam-se o curimba P.lineatus, o mandi P. maculatus e a piapara L.elongatus (Figura 6.1.7). Entretanto, afreqüência de outros migradores de grandeporte na escada foi muito baixa, como odourado S. brasiliensis, o pintado P. corruscanse a piracanjuba Brycon orbignyanus.
Outras espécies, como o pacu Piaractusmesopotamicus e o jaú Zungaro zungaro,presentes na área a jusante, jamais foramregistradas nesse dispositivo.Restrições impostas aotamanho (ou altura) dospeixes, pelas dimensões dasaberturas superficiais e defundo nas traves queseparavam os tanques nessaescada experimental, têmsido mencionadas porBorghetti, J.R., Nogueira,Borguetti, N.R.B. e Canzi(1994).
Espécies reofílicas, porém nãoconsideradas grandesmigradoras, e formas juvenis
de espécies de grande porte foramregistradas ao longo da escada. Borghetti,J.R., Nogueira, Borguetti, N.R.B. e Canzi(1994), em estudos realizados anteriormentenessa mesma escada, relatam que amotivação dos peixes em ascendê-la foi denatureza reprodutiva, baseados na elevadafreqüência de indivíduos em maturaçãoavançada. Os dados obtidos posteriormente,entretanto, não permitem considerar areprodução como motivo da ascensão, dadoo grande número de indivíduos juvenis enão-preparados para a desova nelaregistrados. Fernandez (2000) relata que,entre as espécies migradoras, nenhumarelação foi encontrada entre a habilidade deascender a escada e a migração reprodutiva,constatando-se, mesmo durante a quadrareprodutiva, um predomínio significativo deindivíduos com gônadas em fases pré-vitelogênicas.
Outros estudos recentes sobre a eficiência deescadas de peixes foram realizados para
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 243243243243243
Figura 6.1.8 - Escada de peixes da barragemdo reservatório de Lageado (LuizEduardo Magalhães), rio Tocantins(Foto: C. S. Agostinho).
aquelas localizadas junto às barragens dePorto Primavera, Canoas I, II e Lageado.
Na escada de peixes da barragem de PortoPrimavera, onde dados quantitativos nãoestão ainda disponíveis, registrou-se apresença de 21 espécies das quais 12 sãoreconhecidamente migradoras, incluindoalgumas de grande porte para as quais essedispositivo tem sido consideradonegativamente seletivo (CESP, 2000b). Emboraesses dados sejam ainda preliminares, érelevante o fato de que, no trecho a jusante,sejam registradas cerca de 170 espécies, dasquais pelo menos 17 são grandes migradoras(AGOSTINHO; BINI; GOMES; JÚLIO JÚNIOR;
PAVANELLI; AGOSTINHO, 2004).
No reservatório de Lageado, no rio Tocantins,o monitoramento da eficiência detransposição da escada (Figura 6.1.8)realizado pela Universidade Federal deTocantins/Investco tem revelado a presençade 63 espécies na escada, de um total de 268catalogadas para a região, com amplopredomínio de cinodontídeos (30%),curimatídeos (21%) e doradídeos (18%) – verBox 6.1.4.
No monitoramento realizado pela DukeEnergy (DUKE ENERGY INTERNATIONAL, 2001,2002) nas escadas das barragens de Canoas I eCanoas II, cujos reservatórios localizam-se norio Paranapanema e estão contidos no trechoentre aqueles de Capivara e Salto Grande,foram registradas 42 espécies de peixes (27%das espécies catalogadas para a bacia).Destas, sete são consideradas grandesmigradoras e representaram juntas 9,2%(Canoas II) e 6,9% (Canoas I) do número de
peixes registrados nas amostras. Entre asespécies mais numerosas nas escadasdestacaram-se o mandi beiçudo I. labrosus e omandi-chorão Pimelodella sp., nas escadas deCanoas I e II, respectivamente. Estas não sãoconsideradas espécies migradoras.
A avaliação realizada por Godoy (1985) eoutros autores (Tabela 6.1.1) sugere que, pelomenos para barragens com altura inferior a16 metros, as escadas são eficientes meios detransposição. Falhas no desenho fazem quemesmo aquelas destinadas a superarpequenos desníveis não funcionem. É sabido,entretanto, que as escadas são, em geral,seletivas. Esse aspecto é precariamenteabordado nos estudos existentes.
A transposição de peixes pelo elevador dePorto Primavera envolveu, em 688 ciclos detransposição, 19 toneladas de peixes noperíodo de novembro/99 a abril/00,resultando numa média de 29 kg.ciclo-1.Embora os dados de proporção entre asespécies não estejam disponíveis, pelo menos36 espécies foram transpostas, das quais 15consideradas grandes migradoras (CESP, 2000b).
244 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
No Canal de Piracema de Itaipu, queapresenta 10 km de extensão, os resultadospreliminares do monitoramento têmdemonstrado a presença de várias espéciesmigradoras (curimbas, piracanjubas, pacus,pintados e dourados), sendo que algumasdelas já alcançaram o reservatório(Figura 6.1.9).
Esses resultados atestam que a transposiçãode peixes pelos sistemas existentes no país,embora seletivos, são razoavelmentesatisfatórios para a passagem de espéciesmigradoras. Problemas com elevadosdesníveis a serem vencidos, embora comimplicações na seleção de espécies, podemser eficientemente resolvidos pelo desenho
da estrutura. Este não é, portanto, aspecto deelevada relevância no uso das escadaspara fins preservacionistas ouconservacionistas.
A continuidade da migração reprodutiva
Uma dúvida que permeou as discussõessobre a eficiência das escadas de peixes atérecentemente era a capacidade de um peixeem migração contra a corrente, uma veztransposta a barragem, continuar migrandono ambiente lêntico das áreas mais internasdos reservatórios.
Estudos de marcação e recaptura realizadosno reservatório de Itaipu parecem elucidar
BoBoBoBoBox 6.1.4x 6.1.4x 6.1.4x 6.1.4x 6.1.4
Levantamento das espécies que ascendem a escada de peixe da UHE Luís Eduardo Magalhães, Lajeado - TO.
AGOSTINHO, C. S.; FREITAS, I. S.; PEREIRA, C. R.; OLIVEIRA,R. J.; MARQUES, E. E. In: CONGRESSO BRASILEIRO DEZOOLOGIA, 25., Brasília, DF, 2004. Resumos... Brasilia, DF:Sociedade Brasileira de Zoologia, 2004. p. 348.
“A escada de peixe da UHE Luís Eduardo Magalhães tem aproximadamente 700 m de comprimento, 5 m delargura e 5 tanques de descanso. O número de degraus-tanque para vencer o desnível de 30 m é deaproximadamente 100. Cada degrau apresenta aberturas de fundo e ranhuras de superfície duplas situadasem posições intercaladas. Com o objetivo de avaliar quais espécies ascendem essa escada, foram realizadascoletas quinzenais durante o período de novembro de 2002 a outubro de 2003. De forma padronizada, foramutilizadas tarrafas de malha 4 cm, entre nós opostos, fio 0,50 mm, perímetro de 15 m e peso aproximado de8 kg. As coletas foram realizadas a cada 6 horas (12h00; 18h00; 00h00; 06h00). Os peixes capturados foramimediatamente identificados, medidos, marcados e soltos no tanque a montante. Foram capturadas 63espécies de peixes, pertencentes às ordens Characiformes (68,3%), Siluriformes (20,6%), Perciformes(9,5%) e Clupeiformes (1,6%). A maioria dos indivíduos capturados pertence às espécies Rhaphiodonvulpinus, Psectrogaster amazonica, Oxydoras niger e Auchenipterus nuchalis. Do total de espéciescapturadas, aproximadamente 43 espécies são migradoras e 20 espécies de comportamento sedentário e/oude migração curta. Cerca de 50% dos peixes capturados apresentaram comprimento inferior a 20 cm. Ohorário de maior captura de indivíduos foi 18h00. Das espécies capturadas, 12 foram constantes nas coletas,sendo que 4 são grandes migradores: Hydrolycus armatus, O. niger, Pseudoplatystoma fasciatum eProchilodus nigricans. Outras 12 espécies foram acessórias e 39 ocorreram de forma acidental nascoletas.”
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 245245245245245
Rio / represa Desnível (m) Efetividade Fonte
Poço do Barro / P. Barro - CE 15 + Godoy (1985)
Pardo / Itaipava 7 + Godoy (1985)
Jacaré Guaçu/Gavião Peixoto Martins (2000)
Mogi Guaçu / Cachoeira Emas 5 + Godoy (1985)
Sapucaia Mirim/Dourados 8 Martins (2000)
Sorocaba / Faz.Cachoeira 6 + Godoy (1985)
Tibagi / Salto Mauá 6 + Godoy (1985)
Paranapanema / Piraju 16 + Godoy (1985)
Tijuco / Salto do Moraes 10,5 -Godinho, H.P., Godinho, A.L.,Formagio e Torquato (1991)
Jacuí / Amarópolis 5 + Godoy (1985)
Jacuí / Anel de Dom Marco 5 + Godoy (1985)
Jacuí / Fandango 5 + Godoy (1985)
Taquari / Bom Retiro do Sul 9 + Godoy (1985)
Itapocu / Guaramirim 2 - Godoy (1985)
Sapucaia Paulista/S.Joaquim 8 Martins (2000)
Mogi Guaçu / Mogi Guaçu 10,5 Martins (2000)
Grande / Igarapava
Paranapanema / Canoas I Duke Energy International (2001)
Paranapanema / Canoas II
Paraná / Porto Primavera 20 Cesp (2001)
Tocantins / Lageado 30
Ano deconstrução
1911
1913
1922
1926
1942
1943
1971
1972
1973
1973
1973
1973
1985
1991
1994
1999
2000
2000
2001
2002Agostinho, Freitas, Pereira,Oliveira e Marques (2004)
Tabela 6.1.1 - Avaliação da eficiência de transposição de peixes de algumas escadas depeixes em reservatórios brasileiros (Modificado de , 1988 e outros)QUIRÓS
+
+
+
+
8
Duke Energy International (2001)
essa questão (AGOSTINHO; BORGUETTI;
VAZZOLER; GOMES, 1994; AGOSTINHO; GOMES;
SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, c2003). Curimbas P.lineatus e armados P. granulosus provenientesdo trecho imediatamente a jusante dabarragem de Itaipu, marcados e liberados amontante, foram capturados acima doreservatório, até cerca de 180km distante dolocal de soltura (AGOSTINHO; BORGUETTI;
VAZZOLER; GOMES, 1994). A velocidade médiae a distância percorrida por esses indivíduosforam maiores que as daqueles capturadoslogo acima da barragem e liberados nomesmo local. Sete dos nove indivíduos commaior deslocamento e velocidade (7.855
indivíduos marcados; 315 recapturados)pertenciam a essa categoria (Figura 6.1.10).
Padrão semelhante foi observado porAntônio (2006) na região do reservatório dePorto Primavera. Indivíduos de curimba,quando transpostos artificialmente pelabarragem, foram recapturados a montanteem locais distantes dos pontos de soltura(entre 120 e 250 km). Além disso, muitosviajaram longas distâncias (> 170 km) numcurto período de tempo (< 50 dias), o queindica elevada velocidade de deslocamentoem direção oposta à barragem, rumo a locaiscom menor influência do represamento.
246 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Movimentosascendentes
km
Movimentosdescendentes
km
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
Ou No De Ja Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Ou No De Ja Fe
Figura 6.1.10 - Representação gráfica dos deslocamentos(direção, sazonalidade, distância e velocidade)realizados pelo armado noreservatório de Itaipu. Linhas tracejadas = capturas,marcação e liberação no reservatório; linhas escuras =capturas a jusante, marcação e liberação noreservatório (Fonte:
, 1994).
Pterodoras granulosus
AGOSTINHO; BORGUETTI;
VAZZOLER; GOMES
Meses
Figura 6.1.9 - Canal de Piracema de Itaipu, um canalsecundário para a transposição de peixes (Fonte: ItaipuBinacional).
Estudos de marcação e recapturaforam também realizados pelaDuke Energy (DUKE ENERGY
INTERNATIONAL, 2001) nas escadasdas barragens de Canoas I eCanoas II. Nesse estudo, realizadona quadra reprodutiva de 2000/01, foram marcados 1.590exemplares de espéciesmigradoras e liberados na escadade Canoas I. Capturassubseqüentes, experimentais eprofissionais, registraram umarecaptura de 59 indivíduos (3,7%),dos quais 19 (32% dos marcados)no mesmo reservatório, 37 (63%)no reservatório de cima (CanoasII) e 3 (5%) no reservatório ajusante (Capivara). Nessesmesmos reservatórios, Britto eSirol (2005) concluem que apósserem transpostos, os peixesorientam-se rumo a trechos livresa montante.
Esses resultados sugerem que aorientação dos peixes no corpo doreservatório não se constitui emlimitação aos esforços detransposição de peixes a montante.
A migração descendente epassagem pela barragem
Um aspecto relevante nasfacilidades de transposição depeixes pela barragem é orecrutamento de peixes para osestratos populacionais localizadosa jusante.
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 247247247247247
Para que o sistema de transposição tenhasignificado na manutenção de populações ouestoques de peixes é necessário que osresultados da desova se propaguem para ostrechos inferiores. Esse tema é tão ou maiscrítico que a ascensão dos peixes aos trechossuperiores e tem sido sistematicamenteignorado no planejamento dos mecanismosde transposição (QUIRÓS, 1988; CLAY, c1995).
Nesse contexto, dois aspectos são críticospara a ictiofauna neotropical, ou seja, (i) aslarvas e juvenis devem atravessar todo ocorpo do reservatório até a barragem, e (ii)devem passar pela barragem com ummínimo de mortalidade.
Em relação ao primeiro, é oportuno lembrarque os peixes migradores neotropicais,especialmente os das bacias dos rios Paraná,São Francisco e Tocantins, desovam em áreasaltas da bacia, no período de níveisfluviométricos crescentes, temperaturas altasou em elevação e com águas túrbidas (quereduzem a predação dos ovos e larvas porpredadores visuais). Ovos e larvas migrampassivamente com a correnteza por dezenasde quilômetros enquanto se desenvolvem.As larvas são levadas pelas cheias para avárzea lateral (berçários = lagoas e baías),onde permanecem por um tempo variável(até dois anos, conforme a espécie). Maistarde os juvenis dispersam, integrando osestoques adultos, geralmente a jusante.
O grau de interferência de um reservatórionesse processo dependeria basicamente desua posição em relação às áreas críticas aociclo de vida dos peixes (área de desova,criadouros naturais e área de alimentação).
No caso de o trecho a montante doreservatório ser extenso, comportar locais dedesova inalterados e apresentar extensasáreas naturalmente alagáveis, é esperado queas espécies migradoras retidas a montantemantenham seus estoques, com perdas nadiversidade genética ao longo do tempo.Nesse caso, a transposição teria comoobjetivo apenas a manutenção dadiversidade genética, com prejuízos aosestoques a jusante da barragem.
Num outro cenário, o trecho a montanteseria curto, conteria apenas os locais dedesova, sem áreas alagáveis relevantes.Nesse caso, o estoque de grandes migradoresseria drasticamente reduzido, podendo apósalguns anos ser eliminado da área amontante. A transposição, dessa forma,poderia permitir a desova em áreas amontante. Entretanto, os ovos e larvasseriam conduzidos ao ambiente represado,cujas águas apresentam baixa velocidade, oque pode promover sua sedimentação, e altatransparência, facultando intensa predação,principalmente por predadores visuais. Ovose larvas, mesmo de espécies migradoras degrande porte, como o sorubim ou o dourado,são naturalmente predados por peixes deoutros hábitos alimentares, incluindoespécies forrageiras, como insetívoros ouplanctófagos. Embora não haja informaçõesna literatura especializada, é improvável queos ovos e larvas alcancem a barragem antesde serem totalmente dizimados pelasabundantes populações de peixes forrageirosque dominam os reservatórios, cujas águassão, em geral, muito transparentes,especialmente nas áreas mais internasdaqueles de maior área.
248 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A construção de meios de transposição nesteúltimo caso se configuraria como uma fonteadicional de impactos ao inviabilizar osucesso da reprodução de indivíduos comchance de desova em segmentos inferiores àbarragem.
Uma situação diferente ocorre entre ossalmonídeos, peixes do hemisfério Norte,nos quais a concepção de meios detransposição foi baseada no Brasil. Suamigração em direção ao mar é ativa e ocorreem tamanhos muito maiores (smolt ouyearling = 10 a 15cm), reduzindodrasticamente a predação.
Na hipótese, aqui considerada remota, de aslarvas provenientes de pontos altos da baciaalcançarem a barragem, sua transposiçãopara jusante é outro aspecto que tornaquestionáveis as obras de transposição comoinstrumento de preservação dos estoques depeixes.
As perdas na passagem pela barragem variamde acordo com a rota tomada pelo peixe. Emgeral, as perdas pelo vertedouro sãodiferentes daquelas das turbinas (CLAY, c1995).
No vertedouro, a mortalidade depende dasua altura e desenho, variando de 0,2% a99%. Entretanto, outras características dodispositivo de saída estão relacionadas a essamortandade, como a abrasão contra asuperfície, mudanças bruscas de pressão,mudanças rápidas de direção de fluxo(shearing effect) e supersaturação gasosa(RUGGLES, 1980). Esses fatores podem, noentanto, ser minimizados pelo desenho dovertedouro.
A mortalidade em turbinas, de solução maisdifícil, decorre de (i) danos mecânicos devidoao contato com os equipamentos fixos oumóveis, (ii) danos induzidos pela pressão oupela exposição a condições de drásticavariação de pressão, (iii) danos pordecepamento, resultantes de extrematurbulência, (iv) danos por cavitação,decorrentes de exposição a áreas com vácuoparcial. Em geral, esses danos ocorrem deforma combinada (ver Capítulo 6.4).
Diversas técnicas visando afastar os peixesem migração descendente da tomada de águapara as turbinas ou da área de influência dovertedouro têm sido desenvolvidas. Entreessas, destacam-se as barreirascomportamentais, como cortinas de bolhasde ar, correntes pendentes, luzes de váriostipos, barreira sonora, eletricidade, telas, etc.
Esses recursos foram, no entanto,desenvolvidos para os salmonídeos, que sãonadadores ativos e que podem ser repelidospor condições artificiais adversas. O mesmonão é esperado de larvas, que descempassivamente com a água.
A barreira física apresenta o inconvenientedo acúmulo de resíduos e detritos, exigindointenso trabalho de manutenção. De algumamaneira, ela requer rota alternativa para apassagem de peixes para jusante (by pass).Envolve, geralmente, o uso de telas commalhagens suficientemente pequenas paraimpedir a passagem de peixes grandes e paranão bloquear a circulação da água. É difícilimaginar a instalação de telas commalhagens suficientemente pequenas parareter larvas com alguns milímetros de
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 249249249249249
diâmetro. De qualquer maneira, se retidas,poderiam ser esmagadas pela correntecontra a parede da tela, dependendo dascondições hidrodinâmicas locais.
Estudos de ovos e larvas conduzidos peloNupélia/Universidade Estadual de Maringános primeiros quilômetros abaixo doreservatório de Itaipu demonstram que (i)as larvas registradas eram provenientes doreservatório, como demonstraram os fatosde pertencerem essencialmente às duasespécies que se reproduziam naqueleambiente, ou seja, sardela (H. edentatus; 90%do total) e corvina (P. squamosissimus; 8,5%),e de suas formas adultas e em reproduçãoestarem ausentes no trecho amostrado, (ii) ataxa de larvas danificadas (decepadas eesmagadas) alcançou valores superiores a30% do total, sugerindo alta mortalidade,visto que aquelas fracionadas não eramretidas pela rede de ictioplâncton, (iii)nenhuma larva de grande migrador foiregistrada.
Esses resultados, embora demonstrem quemuitas larvas podem passar pela barragemcom a água turbinada ou vertida, sugeremque eventuais larvas que penetrem noreservatório a partir de tributários lateraisnão logram alcançar as áreas mais internasdo reservatório.
A possibilidade de retorno dos peixes queascenderam a escada para os segmentos ajusante é ainda uma incógnita. É sabido quea maioria das espécies migradoras se utiliza
de ambientes lóticos como áreas dealimentação e crescimento (espéciesreofílicas) e geralmente ocupam a metadesuperior dos reservatórios, evitandoaquelas lacustres e menos produtivas maisinternas (AGOSTINHO; MIRANDA; BINI; GOMES;
THOMAZ; SUZUKI, 1999).
Assim, é esperado que os movimentosdescendentes dos adultos até a barragemsejam restritos a algumas espécies menosexigentes em relação à dinâmica da água e,caso ocorram, estes enfrentem tambémproblemas com mortalidade ao passarempelos componentes da barragem.Liberações de peixes marcados na escada deCanoas II revelam que 71% permaneceramno trecho a montante nos mesessubseqüentes à marcação e 29% noreservatório de Canoas I. Nenhum dos 1.499exemplares marcados foi capturado abaixodeste último reservatório (DUKE ENERGY
INTERNATIONAL, 2001). Britto e Sirol (2005)também enfatizam o caráter unilateral natransposição realizada pelas escadasinstaladas no complexo Canoas.
Desse modo, embora ainda careça decomprovação, as escadas podem seconstituir em fontes de impactos àspopulações localizadas em trechos a jusante,especialmente nos casos em que essestrechos apresentem áreas alternativas dedesova e desenvolvimento inicial. Nessescasos, o fluxo unidirecional dos cardumesimplicaria sua subtração dos trechosinferiores (ver Box 6.1.5).
250 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
BoBoBoBoBox 6.1.5x 6.1.5x 6.1.5x 6.1.5x 6.1.5
Sobre os impactos das escadas na atividade pesqueira.
DUKE ENERGY INTERNATIONAL. Relatório de monitoramentoda transposição de peixes pelas escadas instaladas nas UHEs Canoas Ie Canoas II - Médio Paranapanema. Chavantes, SP, 2002. 36 f., il.(algumas color.). (Relatório técnico).
“A instalação das escadas para peixes nas UHE’s Canoas I e Canoas II teve dois momentos distintos: oprimeiro, ocorrido na piracema 2000/2001, onde foi registrada a ascensão de grandes cardumes deespécies migradoras através dos mecanismos de transposição. Durante este período foi mantida a atividadepesqueira a jusante de Canoas I e observou-se um crescimento da atividade pesqueira junto a jusante daUHE Salto Grande, decorrente da migração dos peixes através das escadas. No segundo momento,ocorrido na piracema 2001/2002, foi registrada uma redução dos cardumes de grandes migradores, fatoponderado como possível efeito negativo das escadas sobre os estoques de jusante. Ao mesmo tempoocorreu um contínuo crescimento da pesca a jusante da UHE Salto Grande. A despeito da satisfaçãogeral observada no primeiro momento, o segundo trouxe consigo a insatisfação de pescadores situados ajusante de Canoas I, em vista da aparente depleção dos estoques de espécies migradoras, apreciadascomercialmente. Os pescadores atribuíram essa redução à transposição dos cardumes durante a piracema2000/2001, quando a escada permaneceu aberta até o mês de julho, sendo fechada para manutençãoposteriormente, após a aprovação do IBAMA/Brasília. A insatisfação com a pesca durante a piracema de2001/2002 ocasionou a mobilização dos pescadores, que realizaram manifestações de protesto junto àDuke Energy International e aos órgãos fiscalizadores, especialmente o Instituto Ambiental do Paraná(IAP). Através da mobilização, os pescadores sensibilizaram o IAP, de forma que o órgão exigiu da DukeEnergy International, através de carta formal, o fechamento das escadas. A Gerência de Meio Ambienteda Empresa respondeu à carta, evidenciando o fato de que a Licença de Operação (LO) da UHE CanoasI havia sido expedida pelo IBAMA/Brasília, visto que o Paranapanema é um rio federal, e que qualquermanobra nas escadas deveria ser submetida a aprovação desse órgão. Apesar do esclarecimento, o IAP eos pescadores ainda mantiveram suas posições quanto ao fechamento das escadas, criando um impasseentre as orientações dos dois Órgãos fiscalizadores. O impasse levou os pescadores a formalizar umapetição, assinada por todos, solicitando o fechamento das escadas devido ao baixo rendimento em suasatividades. Diante do impasse e da petição, a Gerência de Meio Ambiente da Duke Energy Internationalvoltou a consultar o IBAMA, apresentando também a petição formalizada. O Órgão, após analisar osfatos ocorridos, indicou a necessidade do aval do Ministério Público, que havia movido a ação legal paraa construção das escadas, para fechar o mecanismo de transposição. Até que haja uma concordância doMinistério Público para o fechamento, as escadas permanecerão abertas. Cabe ressaltar que, ao mesmotempo em que ocorriam esses fatos relativos a jusante de Canoas I, o aumento de peixes migradores ajusante da UHE Salto Grande promoveu um expressivo aumento da pesca, como mencionado. Decorrentedesse aumento de peixes e, por conseguinte, de pescadores, houve um concomitante incremento deinfrações ambientais, decorrentes da pesca irregular, pesca predatória e invasão de áreas de segurançaa jusante da barragem. Não obstante esse aumento de peixes nos reservatórios de Canoas I e,especialmente, de Canoas II, não há indícios de sucesso reprodutivo de nenhuma das espécies migradorasque utilizaram o sistema de transposição do Complexo Canoas.”
Mecanismos de Transposição: sucessos e falhas 251251251251251
Considerações Finais
Como visto, as informações acerca daeficiência das escadas de peixes no Brasilreferem-se apenas à capacidade das espéciesem ascenderem esses sistemas, não sendoavaliadas a importância e a efetividadedesses dispositivos para a preservação dosestoques nas bacias hidrográficas.
A efetividade da desova dos peixestranspostos está sendo monitoradaatualmente (CESP, 2001; DUKE ENERGY
INTERNATIONAL, 2001), porém sem resultadosconclusivos. Das 17 espécies de larvasregistradas nos tributários do reservatóriode Porto Primavera, apenas uma foi deespécie migradora (jaú Z. zungaro) (CESP,2001).
Assim, informações disponíveis demonstramque, com um desenho adequado, as escadassão mecanismos eficientes na transposição depeixes, embora com problemas em relação àseleção das espécies. Evidências obtidas emestudos sobre o ciclo de vida das espéciesneotropicais demonstram, entretanto, que osmovimentos descendentes e o recrutamentoaos estoques de trechos a jusante dabarragem constituem-se em pontos críticosrelevantes no processo decisório deconstrução desses instrumentos de manejo.
Dessa maneira, deve-se considerar que asestratégias reprodutivas de peixes
potamódromos da região neotropicalenvolvem movimentos descendentespassivos de ovos e larvas por dezenas dequilômetros, ao final dos quais necessitamde lagoas marginais ou baías para que odesenvolvimento dos jovens seja bem-sucedido. O fato de reservatóriosapresentarem águas calmas, maistransparentes, e comportarem um grandenúmero de pequenos peixes, retardaria osdeslocamentos passivos de ovos e larvas, osexporiam a uma intensa predação e/oupromoveriam a sua sedimentação para ascamadas d’água mais profundas, onde ascondições de oxigenação são geralmentecríticas.
Na hipótese remota de as larvas alcançarema barragem, elas sofreriam grandemortandade ao passar pelas turbinas ouvertedouro, sem que houvesse possibilidadede atraí-las para escadas (escadas eelevadores são concebidos apenas paramovimentos ascendentes) ou afugentá-lasdas imediações da tomada d’água, visto quetêm movimentos passivos.
A migração descendente dos adultos deespécies migradoras é dificultada pelo fatode serem, nessa fase, geralmente reofílicos(hábitat de água corrente) e ocuparem apenasos trechos superiores de reservatórios (zonafluvial e de transição). Além disso, aquelesque atravessam as estruturas da barragemexperienciam fortes injurias, o que podeacarretar em elevada mortalidade.
Capítulo 6.2Estocagem
Introdução
A estocagem de peixes, tambémconhecida como repovoamento oupeixamento, é uma das ações de manejomais aplicadas em todo o mundo(WELCOMME, 1988). Ela se constitui nasoltura deliberada de peixes provenientesde outros sistemas naturais ou de cultivoem um determinado corpo d’água.
De modo geral, as estocagens podem serclassificadas em (i) introdução, quando seutilizam espécies não-nativas e visam oestabelecimento de população auto-sustentável; (ii) manutenção, na qual estassão repetidas anualmente com afinalidade de manter uma população depeixes que não se reproduz no corpo deágua receptor; (iii) suplementação,quando visam aumentar a população deuma determinada espécie de peixe ou suavariabilidade genética (WHITE; KARR;
NEHLSEN, 1995). Esta última modalidadepode ser realizada com finalidadesconservacionistas ou preservacionistas(elevação do tamanho da população acimade limiares críticos, incremento daheterogeneidade genética) ou pesqueiras(incremento na biomassa). As duasprimeiras, entretanto, servem apenas a
interesses na exploração pesqueira e,eventualmente, no controle biológico depragas.
A estocagem de suplementação, objetoprincipal deste tópico, é uma medida demanejo recomendada apenas em trêssituações, ou seja, (i) nos casos em que umdado estoque apresente sinais desobrepesca e, portanto, a capacidade desuporte do ambiente comporta maiornúmero de indivíduos da espécieexplorada; (ii) quando as áreas de desovae/ou os criadouros naturais sãoinsuficientes, e (iii) nas condições em quea capacidade biogênica ou de suporte foiampliada por uma determinada ação dohomem (incorporação de alimento ounutrientes).
Destinada, portanto, a recompor estoques,essa técnica de manejo deve ser realizadacom metas claras e na solução deproblemas específicos. Tal prática, quandobem conduzida, pode auxiliar norestabelecimento de populações deinteresse, sendo relevante para aconservação dos recursos aquáticos(pesca). Em reservatórios em que adepleção dos estoques, como decorrênciada alteração qualitativa e quantitativa doshábitats e da sobrepesca é um fato
254 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1
0,1
Re
nd
ime
nto
(kg
ha
an
o)
..
-1-1
0,1 10 1.000 10.000.000100.000
Densidade (peixes ha ano ). .-1 -1
Figura 6.2.1 - Relação (log) entre o rendimento médio anual dapesca e a densidade de peixes estocados, para 691 corpos deágua de todo o mundo. = tropical; = temperado (Fonte:
, 1999).QUIRÓS
recorrente, a estocagempode se constituir emalternativa válida. Ela temcontribuído para o aumentodo rendimento pesqueiro emdiversos corpos de água aoredor do mundo (SHANER;
MACEINA; MCHUGH; COOK, 1996;HANSSON; ARRHENIUS;
NELLBRING, 1997), sendoregistrados casos de forterelação entre a densidade depeixes estocados e orendimento da pesca, emdiferentes tipos deambientes (Figura 6.2.1;QUIRÓS, 1999).
Entretanto, apesar de seu valor intrínseco,muita discussão permeia a adoção dessamodalidade de manejo, visto que existe, nahistória da estocagem, uma profusão deresultados infrutíferos (MATHIAS; FRANZIN;
CRAIG; BABALUK; FLANNAGAN, 1992; COWX, 1994;VEHANEN, 1997; QUIRÓS; MARI, 1999), incluindoseveros impactos sobre o ambiente e osestoques originais (RADOMSKI; GOEMAN, 1995).Na maioria dos casos de fracasso, a razão nãodecorreu da prática em si, mas sim do seumau uso.
Numa escala mundial, os fracassos têm sidoatribuídos à falta de clareza nos objetivos e adisplicência com vários detalhesmetodológicos fundamentais (COWX, 1999). Abanalização dessa técnica de manejo,aplicada em qualquer ecossistema aquático ecom a espécie que se tem disponível,conjugada à ausência de avaliação dosresultados, têm sido características marcantes
de seu uso e causas de insucesso (COWX, 1994).A esse propósito, Quirós (1999) pondera quena busca por melhores rendimentospesqueiros, a estocagem pode ser realmentenecessária, porém não suficiente. Muitosoutros fatores podem comprometer seusucesso, com destaque para as característicasbiológicas da espécie em questão, amorfometria e estado trófico do ambiente, acapacidade suporte, dentre outros.
Porém as controvérsias sobre o sucesso daestocagem não têm sido o pior aspectodessas iniciativas. O uso indiscriminado dospeixamentos tem elevado potencial depromover impactos irreversíveis sobre osestoques que se quer incrementar ou naictiofauna em geral (RADOMSKI; GOEMAN,1995). Esses impactos estão geralmenterelacionados à introdução de espécies não-nativas, à soltura deliberada de indivíduosde péssima qualidade genética e àcontaminação dos cursos naturais com
Estocagem 255255255255255
patógenos veiculados de forma associada aosalevinos ou pela água. Essas iniciativas nãopodem ser banalizadas pelos interesseseleitoreiros de políticos que se aproveitamde um senso comum equivocado dapopulação, no qual “soltar peixes em umcorpo de água só pode ajudar”. Também nãopodem ficar à mercê de iniciativasatabalhoadas de pessoas ou instituições,mesmo que bem-intencionadas. Como serãovistas neste tópico, as decisões de estocagemdevem ser baseadas em rigorosa avaliaçãoda necessidade, da espécie, da procedênciados alevinos, da metodologia, dos riscos edas formas de avaliação. É preferível aausência de manejo a um manejo equivocadoe não passível de monitoramento.
Aspectos Históricos dasEstocagens
A estocagem de peixes em reservatórios foiuma das estratégias de manejo mais adotadaspelas concessionárias hidrelétricas eentidades responsáveis pelo manejo dereservatórios no Brasil. Os programas deestocagem foram iniciados em açudesnordestinos ainda na primeira metade doséculo XX, onde foram bem-sucedidos, comuso de tilápias e corvinas. Não demorou paraque esses programas fossem implantadostambém em reservatórios das bacias dos riosParaná, Paraíba do Sul e do Leste, sendobaseados em espécies não-nativas.
Embora atualmente praticados por livreiniciativa de algumas concessionárias,historicamente os peixamentos foram
resultantes de estímulos ou porconstrangimento legal imposto pelos órgãosde fomento à pesca e de “proteção à faunaaquática”, como a Superintendência para oDesenvolvimento da Pesca (SUDEPE).
O primeiro Código de Pesca do Brasil(Decreto-Lei No 794 de 19/10/1938) já previaque “as represas dos rios, ribeirões ecórregos devem ter, como complementoobrigatório, obras que permitam aconservação da fauna fluvial, seja facilitandoa passagem de peixes, seja instalandoestações de piscicultura”. Essas estaçõestinham como finalidade a obtenção dealevinos para o repovoamento. Poucos anosantes, Rudolph von Ihering havia iniciado,no Nordeste, experimentos bem-sucedidosde aplicação de extrato de hipófise para adesova artificial (induzida) de espéciesnativas, o que representou um marcoimportante para a piscicultura nacional(VIEIRA; POMPEU, 2001). Entretanto, asdificuldades iniciais de aplicá-las à maioriadas espécies nativas e as dificuldades aindaatuais de larvicultura, aliadas à facilidade naprodução de alevinos de espécies exóticas,levaram à massiva produção e peixamentoscom espécies não-nativas. Nesse período, asdiscussões acerca das ações de manejocentravam-se nos mecanismos detransposição e na estocagem, que aindapersistem atualmente.
As ações de estocagem ganharam impulsoapós a promulgação do Decreto-Lei No 221(28/02/1967) e a publicação da Portaria No
46/SUDEPE (27/01/1971). Esses documentoslegais prescreviam que “o proprietário ouconcessionário de represa em cursos de água,
256 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
além de outras disposições legais, éobrigado a tomar medidas de proteção àfauna” e delegava à SUDEPE a tarefa dedeterminar o melhor mecanismo para aproteção da fauna aquática.
Essa superintendência, voltada para a pescae piscicultura e, paradoxalmente, comcarência de técnicos com poder de decisãona área de conservação, entendeu que amelhor alternativa era o repovoamento e,para isso, exigiu que as concessionáriashidrelétricas instalassem em cada sub-baciapelo menos uma estação produtora dealevinos (ALZUGUIR, 1994; AGOSTINHO; GOMES;
LATINI, 2004). Isso pavimentou o caminhoque levou às massivas estocagens, comespécies nativas e não-nativas, sem quejamais fosse realizado um monitoramentosistemático para avaliar a eficácia damedida. Sem informações sobre osestoques da fauna nativa, com a escolha daespécie-alvo de estocagem baseada nasfacilidades de obtenção e nadisponibilidade de alevinos, e tendo comometa apenas a quantidade a ser estocada, ospré-requisitos e a metodologia dessatécnica foram atropelados. Já as espécies degrande porte, cujos estoques são afetadospelos represamentos, foram esporádicasnos peixamentos, em parte devido àdificuldade de cultivo nas fases de larva ealevino, dado que são geralmente grandesmigradores e de hábito piscívoro.
Entretanto, a atuação principal dasinúmeras estações de piscicultura foi ofomento através de distribuição dealevinos, na maioria das vezes comobjetivos puramente eleitoreiros. Nesse
período, espécies como corvina, tucunaré,tilápia, carpas, sardinha de água doce,apaiari, entre outras tantas, sedisseminaram pelas bacias dos rios Paranáe Paraíba do Sul, esta última recebendoainda várias espécies da primeira.Atualmente, essas estações estãoenvolvidas com a produção de alevinos deespécies nativas e/ou se tornaramestruturas de apoio a projetos ambientais.
Cabe ressaltar que o desprezo àsinformações técnicas e científicas e aausência de um monitoramento quepermitisse avaliar as medidas de manejo,obter novas informações e aprender comelas, não esteve restrito a essas ações. Issotambém foi constatado nas opções deinstalação de mecanismos de transposiçãode peixes em barragens (ver Capitulo 6.1).
Os reservatórios da região Sudeste e osinúmeros açudes da região Nordeste foramos locais onde mais se aplicou a técnica daestocagem (FONTENELE; PEIXOTO, 1979;GODINHO, H.P.; GODINHO, A.L., 1994; HILSDORF;
PETRERE JUNIOR, 2002; AGOSTINHO; GOMES;
LATINI, 2004). A pesca nos açudesnordestinos, especialmente a da tilápia, éainda hoje mantida por elevado esforço deestocagem com alevinos, produzidos emestações de piscicultura da região(FONTELES-FILHO; ALVES, 1995).
Nos reservatórios do alto rio Paraná, osprogramas de estocagem vêm sendoexecutados desde a década de 1970, tendosido utilizadas mais de 25 espécies depeixes, nativas ou não. A Figura 6.2.2apresenta o número total de alevinos
Estocagem 257257257257257
Bacias Hidrográficas
0
200
400
600
800
TietêParaná
Paranapanema
Paraíba do SulGrande
Figura 6.2.2 - Quantidade total de alevinos (ind.10 ) estocadospela CESP em reservatórios de diferentes bacias dosudeste, entre 1975 e 1997 (Fonte: CESP, 1998).
5
Al e
vin
os
(in
d.x
10
)5
Barra Bonita
Ibitinga
Promissão
Nova Avanhandava
48121620 0 4 8 12 16 20Alevinos (em milhões)
Nativas
Não Nativas
1979-1989 1992-2002
Figura 6.2.3 - Número de alevinos de espécies nativas e não-nativas utilizadas em programas de estocagem deconcessionárias hidrelétricas, nos períodos 1979-1989 e1992-2002, em quatro reservatórios do rio Tietê, bacia dorio Paraná (Fonte:
, 2002).ECO CONSULTORIA AMBIENTAL E
COMÉRCIO/AES TIETÊ
liberados em reservatórios de diferentesbacias, no período de 1975 a 1997. Note-seque o número ultrapassa 77 milhões nosreservatórios da bacia do rio Tietê e 40milhões naqueles situados na calha do rioParaná, considerando-se apenas o esforçode estocagem em reservatórioshidrelétricos realizados por umaconcessionária.
Espécies de outras bacias oucontinentes forampredominantes nasestocagens até o início dadécada de 1990, quandoforam substituídas pelasnativas. Isso decorreu deuma maior conscientizaçãoda população acerca dosriscos ambientais daintrodução de espéciesexóticas e de um maiordomínio das técnicas dereprodução artificial dasespécies nativas. Em 1992, aoassinar a Convenção daDiversidade Biológica, oBrasil se comprometeu acombater as iniciativas deintrodução de espécies,embora seja ainda hojepraticada de forma ilegal. Ohistórico das estocagens emquatro reservatórios dabacia do rio Tietêdemonstra, de formaevidente, essa tendência desubstituição de espécies nosprogramas de peixamento(Figura 6.2.3). Assim, as
estocagens na década de 1980 foramcompostas por 65% de espécies não-nativas,entre elas as tilápias (45%), a sardinha deágua doce (14%), a carpa (5%) e o apaiari(0,4%). Nesse período, a espécie nativamais estocada foi o curimba (24%), seguidode lambari (4%) e pacu (3%). Entre 1992 e2002, os programas de estocagens foram
258 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Ano
600
1200
1800
2400
3000
0
50
100
150
200
250
300
Ale
vinos
(x1000)
Rendim
ento
(ton.)
7980
8182
8384
8586
8788
8990
9192
9394
9596
9798
9900
0102
Figura 6.2.4 - Número de alevinos estocados (colunas claras) erendimento da pesca profissional (colunas escuras) de tilápia noreservatório de Barra Bonita durante o período de 1979 a 2002.
0
executados apenas com espécies nativas,especialmente curimba (58%), pacu (30%) epiapara (6,5%).
Embora a ausência de monitoramento, que,como visto, é a principal característica dessesprogramas de estocagem no país, nãopermita um quadro preciso dos resultadosaté agora obtidos, a documentaçãodisponível sobre o rendimento da pescaprofissional e experimental nosreservatórios em que eles foramimplementados sugere que tenham sidoiniciativas fracassadas, tanto na perspectivado rendimento pesqueiro quanto na daconservação da biodiversidade.
Para as espécies não-nativas, oriundas deoutras bacias do país, a ausência ou o caráteresporádico nas capturas indicam claramenteisso. Assim, grandes estruturas foraminstaladas para a produção de alevinos,algumas destinadasoriginalmente a espéciesexóticas de outroscontinentes, e programasde estocagemfuncionaram por décadas,sendo freqüente que osindivíduos liberadosjamais fossemcapturados. A estação depiscicultura doreservatório de Capivari,na bacia Atlântico Sul,por exemplo, foiadaptada para a produçãode alevinos de truta arco-íris, tendo desenvolvidoestocagens por anos
sucessivos, sem que jamais os indivíduosadultos fossem registrados na pesca. Outroexemplo é o da tilápia nos reservatórios dorio Tietê, onde ela foi a principal espécie nasestocagens. No reservatório de Barra Bonita,onde atualmente encontra-se estabelecida, oesforço de estocagem, exercido durantequase uma década, não produziu o resultadoesperado. A espécie começou a aparecer napesca apenas 12 anos depois, provavelmenteem razão dos massivos e constantes escapesde estabelecimentos de pesque-pagues queproliferaram na região no final da década de1990 (Figura 6.2.4).
Nos casos de estocagens com espéciesnativas, de avaliação mais difícil e quedemandam o apoio de laboratóriosespecializados, o sucesso, muitas vezesmanifestado com base em percepçõestecnicamente frágeis, não é comprovado. Adepleção dos estoques, a despeito do esforço
Estocagem 259259259259259
Figura 6.2.5 - Cenas de peixamentos realizados emreservatórios do rio Paraná, nas quais os participantesacreditam, equivocadamente, estar contribuindo com apreservação ambiental.
de estocagem, é um indicativo de frustração.A falta de monitoramento também nãopermite comprovar os impactos negativosque são esperados de programas deestocagem executados sem consideraçõessobre a qualidade genética dos reprodutores,que sabidamente era baixa (AGOSTINHO;
GOMES; LATINI, 2004).
O tema tem proporcionado acirradasdiscussões envolvendo cientistas, políticos,tomadores de decisão e osdiversos usuários dos recursosnaturais, sem, contudo, haverconsenso sobre a oportunidadede tais medidas. Os programasde estocagem, entretanto,continuam, mais por umademanda de políticos cominteresses eleitoreiros ouinstituições por eles utilizadas,que pela posição dos técnicosenvolvidos (AGOSTINHO; GOMES;
LATINI, 2004). A soltura depeixes durante campanhaseleitoreiras, envolta emgrandes festividades ecobertura da mídia, éfreqüente em todo o Brasil(Figura 6.2.5), sem que omotivo alegado (recuperaçãodos estoques) seja objeto deavaliação. O grande desserviçoprestado por essas iniciativasestá certamente nadeseducação ambiental dapopulação. A estocagemtornou-se arraigada de talforma na concepção de“conservação da natureza” do
povo brasileiro, que é uma das súplicas maisfreqüentemente ouvidas dos dependentesde recursos aquáticos e da sociedade emgeral (VIEIRA; POMPEU, 2001; SIROL; BRITTO,2005). No reservatório de Itaipu, porexemplo, foi a sugestão predominante (42%)nas entrevistas com mais de 500 pescadoresprofissionais sobre a melhor medida paramelhorar o rendimento da pesca(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
ITAIPU BINACIONAL, 2002).
260 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
O Insucesso da Estocagem:lições a serem aprendidas
Os programas de estocagem desenvolvidosem diferentes partes do mundo têm, emgeral, sido bem-sucedidos. Como visto, osucesso daqueles realizados em reservatóriosbrasileiros, embora não adequadamentemonitorados, está restrito aos peixamentossistemáticos em açudes do Nordeste. Na raizdesse insucesso estariam a falta de clarezanos objetivos dos repovoamentos, o
A despeito do esforço de estocagem, namaioria dos casos as espécies liberadas nãoproduziram efeito algum, sendo que amaioria não conseguiu se estabelecer (VIEIRA;
POMPEU, 2001) e várias jamais foramcapturadas (AGOSTINHO; GOMES, 1997). Noentanto, algumas espécies introduzidas, emespecial a corvina, o tucunaré e a tilápia,conseguiram tamanho sucesso nacolonização dos reservatórios que hojecompõem grande parte dos desembarquespesqueiros em reservatórios do Sudeste eNordeste (ver Capítulo 5). É relevante o fatode que as duas primeiras espécies, as maisbem-sucedidas na ocupação dosreservatórios da bacia do rio Paraná, nãoconstem da série histórica de dados dorepovoamento elaborada pelasconcessionárias dessa bacia. A introdução daprimeira é atribuída ao rompimento detanques de cultivos mantidos porconcessionária hidrelétrica na bacia do rioPardo, e a segunda, acredita-se que foiresultado de solturas clandestinas deassociações de pescadores esportivos.
desconhecimento ou negligência dasinformações sobre o ambiente e a espécie-alvo, além de falhas metodológicas.
Necessidade de estocagem e faltade clareza nos objetivos
Qualquer que seja a técnica de manejo, ela ésempre fundamentada na implementação demedidas sobre um sistema visando otimizá-lo conforme um dado objetivo. Issopressupõe que o objetivo deve estar claropara que a ação seja efetiva e passível deavaliação. Objetivos vagos, como “melhoraros estoques”, “aumentar o rendimentopesqueiro”, “melhorar a pesca”, “contribuirpara a conservação da biodiversidade”,freqüentes nos programas de peixamento,embora sejam eficientes formas decomunicação popular, são tecnicamenteinadequados. Durante muito tempo e mesmoatualmente, em algumas concessionárias, osobjetivos explicitados nos programas anuaisde peixamento estão restritos a uma metageral de soltura, expressa em milhares dealevinos, configurando casos típicos nosquais meios e fim são as mesmas coisas. Éóbvio, por outro lado, que, dados os riscosambientais das ações de repovoamento, osobjetivos eleitoreiros são ilícitos.
No caso dos repovoamentos, os objetivosespecíficos devem ser elaborados com basenas necessidades aferidas no ambiente-alvo.Essas necessidades podem ser de naturezagenética (incremento na heterogenidadegenética) ou demográfica (recomposição deestoques deplecionados pela pesca ou porproblemas no recrutamento decorrentes de
Estocagem 261261261261261
redução ou inadequação dos locais dedesova ou criadouros naturais).Repovoamentos realizados em áreas ondenão há exploração dos recursos pesqueirossão justificados apenas para a melhoria dadiversidade genética de espécies, dado queos aspectos demográficos vigentes devemestar sendo determinados pela capacidadede suporte do ambiente (tamanho dapopulação no limiar permitido peloambiente) e/ou falhas no recrutamento(reprodução incipiente ou alta mortalidadenas fases iniciais).
Desconhecimento e/ou negligênciadas informações
O estado do conhecimento limnológico eictiológico dos reservatórios durante asprimeiras décadas em que osrepovoamentos foram realizados eraprecário, sendo os programas concebidosdentro de uma diretriz geral e extensiva adiferentes bacias. Isso levou espécies comestratégias distintas a serem estocadas deforma similar, ou uma mesma espécie sereleita para a estocagem em váriosreservatórios e sub-bacias,independentemente das restriçõesambientais particulares ou da necessidadelocalizada da ação. A necessidade depesquisas e levantamentos prévios eracontestada por se considerar que a produçãonos reservatórios não poderia esperar odesenvolvimento de pesquisas na área, poisseriam financeiramente custosas e levariammuito tempo para gerar frutos.Paradoxalmente, entretanto, vultosasquantias em dinheiro foram investidas na
construção de estações de piscicultura e naformação de equipes responsáveis para aexecução das estocagens (AGOSTINHO; GOMES,1997), sendo que ainda hoje busca-se amelhor maneira de tornar os peixamentoseficientes.
Atualmente, o conhecimento da bioecologiade várias espécies e de padrões espaciais etemporais de variação limnológicas emreservatórios é satisfatório. Esseconhecimento, em grande parte patrocinadopelo próprio setor elétrico como parte deseus programas ambientais, é, entretanto,negligenciado. Mesmo indicações básicasque deveriam ser consideradas antes dequalquer plano de estocagem, como o statusdos estoques naturais, as restriçõesambientais, a biologia e as exigências daespécie a ser estocada, os efeitos (positivosou negativos) que essa espécie poderiacausar na comunidade residente, acapacidade de suporte do ambiente, osmelhores locais e época para a soltura, sãoignoradas ou têm sido consideradassecundárias.
Embora notícias de peixamentos sejamfreqüentes na mídia, ironicamente commaior recorrência durante a Semana deMeio Ambiente, nunca se procurou saber desua necessidade. Eles não são motivados pordemandas de estoques ou populações depeixes, sendo comum a soltura de espéciesque sabidamente não se instalam emreservatórios (espécies lóticas) e/ou cujoestoque é naturalmente baixo, emdecorrência das condições tróficas doambiente e não pela mortalidade por pesca(ex.: piracanjuba, pacus).
262 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Falhas metodológicas
As dificuldades metodológicas, aindaatuais, nos programas de estocagens têmna ausência de monitoramento a principalrazão de sua persistência. Omonitoramento, procedimento obrigatórioapós qualquer ação de manejo, tem sidoamplamente negligenciado, em partedevido às dificuldades técnicas que aindaenvolvem essa avaliação para espéciesnativas. Para as não-nativas, o sucesso doprograma, pelo menos em seu início, podeser satisfatoriamente aferido pela simplespresença da espécie. Para as nativas, o fatode as populações apresentaremnaturalmente marcantes flutuações anuaisnão permite inferir, com base apenas emdados de abundância, se a ação deestocagem foi bem-sucedida ou não.Nesse caso, a marcação genética énecessária.
Agostinho e Gomes (1997) atribuem osinsucessos nesses empreendimentos àsfalhas metodológicas, com destaque para aescolha da espécie, o local e a época desoltura, o número e o tamanho dosalevinos estocados. É intrigante, noentanto, que, embora a literatura fosseescassa no início, como já mencionado,muitos equívocos foram cometidos à luz deconhecimentos já existentes. Um casoilustrativo é a soltura de jovens decurimbas em reservatórios da bacia do rioParaná, quando os trabalhos de Godoy(1957, 1975), desenvolvidos nessa bacia,revelavam que a espécie passa seus doisprimeiros anos em lagoas marginais,abrigada na vegetação.
O tamanho reduzido dos alevinos estocadosfoi outro procedimento equivocado.Embora esses tamanhos não constem emmuitos dos relatórios técnicos consultados,é sabido que grande parte da estocagem foirealizada com pós-larvas e alevinos muitopequenos, muitas vezes sob protesto veladodos técnicos envolvidos, que sofriampressões para o cumprimento de metasbaseadas na quantidade de alevinos. Tendocomo base o que ocorre no ambientenatural, onde esses indivíduos sãoliberados, a mortalidade éexponencialmente inversa à fase dedesenvolvimento do alevino. Há estimativasde que mais de 99% das larvas que eclodemde espécies que não cuidam da prole morremprecocemente. No caso dessas solturas, umcomplicador adicional é o local onde elasgeralmente foram feitas, ou seja, no corpo doreservatório, onde a transparência da água éelevada e a predação visual intensa. Existemcasos em que um grande número depredadores é atraído para locais próximos àsestações produtoras de alevinos ou para ospontos de soltura, causando severosimpactos, inclusive nas populações selvagensresidentes nesses locais (HINDAR; RYMAN;
UTTER, 1991).
As evidências ambientais em relação à épocado ano apropriada para a soltura, conformeas fases de desenvolvimento, foram tambémignoradas. Com isso fica patente odesperdício de dinheiro e esforço ao liberarcentenas de milhares de indivíduos deespécies migradoras nos reservatórios, sendoque eles precisam de lagoas marginais nosprimeiros anos de vida para garantir certopercentual de sobrevivência.
Estocagem 263263263263263
Tabela 6.2.1 - Estocagem de curimba epacu nos reservatórios de TrêsIrmãos e Jupiá, bacia do rio Paraná, realizada pela CESP nadécada de 1990. São apresentados o total de alevinosliberados no período indicado, a quantidade média e adensidade anual. Informação obtida em CESP (2000a)
Prochilodus lineatus
Piaractus mesopotamicus
Total 2.132.000 1.717.000 3.727.500 1.425.000
Número médio (ind. ano )-1 533.000 429.250 621.250 285.000
Densidade média (ind. ha ano )-1 -1 6,79 5,47 18,83 8,64
Três Irmãos (1996-1999) Jupiá (1994-1999)
Curimba Pacu Curimba Pacu
Entretanto, a maior restrição dos programasde peixamento parece relacionada ao esforçode estocagem. Embora o número de alevinosliberados em cada estocagem sejaaparentemente alto (média de 1,3 milhões decurimbas liberados anualmente durante 17anos no reservatório de Promissão), adensidade revela-se baixa quandoconfrontada com as grandes dimensões dosreservatórios brasileiros. As densidadesmédias anuais de estocagem do curimba, aprincipal espécie nativa utilizada nosprogramas depeixamento, é mostradana Figura 6.2.6 paraquatro reservatórios dabacia do rio Tietê e umdo rio Grande (ÁguaVermelha). Verifica-seque o número médioanual oscilou entre 4 e 39indivíduos por hectare.
Outros reservatórios dabacia do rio Paranátambém têm recebidopeixes há longo tempo. Oesforço de estocagem dasduas principais espécies(curimba e pacu)realizado em dois delesnos últimos anos (TrêsIrmãos: 1996 – 1999 eJupiá: 1994 – 1999) émostrado na Tabela 6.2.1.Observando o númerototal liberado no período,o esforço parece serconsiderável, já queultrapassa um milhão de
indivíduos. Entretanto, tal número é ilusório,pois, ao considerarmos a enorme áreaalagada pelos reservatórios, fica evidente abaixa densidade estocada anualmente(menos de 20 alevinos ha-1). Esses valoresestão bem abaixo do limiar estimado porQuirós (1999) para que haja uma respostarelevante no estoque (>500 peixes.ha-1.ano-1).
Na avaliação realizada sobre essespeixamentos pela concessionária, eles foramconsiderados bem-sucedidos (CESP, 2000a),
BarraBonita
Ibitinga
N. Avanhandava
Promissão
A. Vermelha
Reservatório
0
10
20
30
40
50
60
70
Média Média ±EP
(9) (21)
(17)
(9)
(13)
Esto
cage
m(in
d.ha
ano
).
.-1
-1
Figura 6.2.6. Densidade média anual de estocagem de alevinosde curimba Prochilodus lineatus (indivíduos por hectare)utilizada nos programas de estocagem de cincoreservatórios da bacia do rio Paraná. Números entreparênteses representam o número de anos em que asestocagens foram realizadas (Fonte: AES Tietê, 2002).
BarraBonita
Ibitinga NovaAvanhandava
Promissão ÁguaVermelha
Reservatório
0
10
20
30
40
50
60
70Média Média ±EP
(9) (21)
(17)
(9)
(13)
Est
oca
ge
m(in
d.
ha
an
o)
..
-1-1
Figura 6.2.6 - Densidade média anual de estocagem de alevinos decurimba (indivíduos por hectare) utilizadanos programas de estocagem de cinco reservatórios da bacia dorio Paraná. Números entre parênteses representam o númerode anos em que as estocagens foram realizadas (Fonte:
, 2002).
Prochilodus lineatus
ECOCONSULTORIA AMBIENTAL E COMERCIO/AES TIETÊ
264 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Alevinos Estocados (ind. ha ano )-1 -1
0
100
200
300
400
500
0 10 20 30 40 50 60 70 80
F = 0,0008; p = 0,97871, 6
R² = 0,0001
a
0
2
4
6
8
10
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80
bF1, 6 = 1,33; p = 0,2927
R² = 0,18
Figura 6.2.7 - Relação entre a quantidade de alevinos estocados eo rendimento (a) e a produção pesqueira (b) de 8 reservatóriosda bacia do rio Paraná, nas décadas de 1980 e 1990.
Pro
duçã
opesq
ueira
(kg
ha
ano
).
.-1
-1R
endim
ento
pesq
ueiro
(tano
).
-1
Alevinos Estocados (ind. ha ano )-1 -1
estimulando a sua continuidade. Entretanto,a forte correlação encontrada entre orendimento e o esforço de estocagem (R2
superior a 0,90) não considerou o retardo notempo entre a soltura e o recrutamento dosindivíduos na pesca, que, segundoAgostinho, Vazzoler, Gomes e Okada (1993),pode demandar pelo menos 2 ou 3 anos.
Embora também carente de maiordetalhamento, uma avaliação dos dadoshistóricos de esforço de estocagem anual(1975 e 1997) e derendimento pesqueiromédio (1988 e 1996),considerando dados de 8reservatórios (Barra Bonita,Ibitinga, Promissão, N.Avanhandava, Três Irmãos,Ilha Solteira, Jupiá e ÁguaVermelha), mostra que nãohá significância nacorrelação estatística entreas variáveis, fato quepermite concluir que aestocagem realizadadurante mais de 20 anos nãoparece ter resultado embenefícios à pesca para aqual foi destinada (Figura6.2.7). Quirós e Mari (1999)observaram que, parareservatórios cubanos,incrementos significativosno rendimento pesqueiro sóforam observados apósestocagens intensivas (> 10kg ha-1 ano-1), o quedependeu também daespécie escolhida.
Quirós (1999), em uma avaliação daestocagem realizada em mais de 700reservatórios de diferentes tamanhos emtodo o mundo, demonstrou que a relaçãoentre a densidade de estocagem não é lineare um aumento relevante no rendimento só éobservado quando essa densidade ultrapassalimiares de 500 alevinos ha-1 ano-1 ou acimade 5 kg ha-1 ano-1. Esses limiares são entre 12a 125 vezes superiores àqueles praticados emreservatórios brasileiros, se considerado oesforço de estocagem nos reservatórios do
Estocagem 265265265265265
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1
0,1
Rendim
ento
(kg
ha
ano
).
.- 1
-1
0,00001 0,001 0,1 10 1.000 100.000
Área (km²)
Figura 6.2.8 - Relação (log) entre o rendimento médio anual dapesca e a área superficial para 709 corpos de água de todo omundo. = tropical; = temperado; = reservatórios do rioTietê ( , 1999).QUIRÓS
Tietê como padrão. Esse autor, por outrolado, ressalta que o sucesso nas estocagens éregulado pelo tamanho do reservatório, pelaauto-sustentabilidade das populações deinteresse e pela entrada de nutrientes oualimentos.
Embora os dados sobre programas deestocagem brasileiros não permitam chegara esse nível de debate, visto que não hámonitoramento sistemático e neminformações sobre a capacidade de suportedos reservatórios, a área dos reservatórios ésabidamente grande. Quirós (1999)encontrou uma relação fortemente inversaentre a área dos reservatórios analisados e orendimento da pesca, tanto em ambientestropicais quanto em temperados (Figura6.2.8). Através de análise decorrelação parcial, esseautor registra uma relaçãodireta e significativa entreo rendimento e a densidadede estocagem quando aárea superfícial é mantidaconstante. Entretanto, omesmo não aconteceuquando a densidade deestocagem foi mantidaconstante. Dessa maneira, éesperado que em grandesreservatórios, como os dabacia do rio Paraná, asrestrições no recrutamentodas espécies nativas nãopossam ser superadas porprogramas derepovoamento, mesmocom estocagens fantásticas,como a requerida em
densidades superiores a 500 alevinos ou 5 kgdeles por hectare (no reservatório de Furnasseriam 72 milhões de alevinos anualmente).
Como visto, é comum que se aplique umbaixo esforço de estocagem em grandesreservatórios, em virtude de sua grande áreasuperficial. Mas também é esperado que umaumento no esforço de estocagem ultrapasse acapacidade suporte do ambiente, dado quemuitos reservatórios brasileiros sãooligotróficos (PAGIORO; THOMAZ; ROBERTO,2005), têm grandes dimensões e apresentampopulações de peixes auto-sustentáveis. Alémdisso, a falta de espécies fluviais pré-adaptadas que explorem com eficiência asáreas pelágicas dos reservatórios restringe aocupação desses ambientes às áreas litorâneas
266 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
e superiores, fato explicado pela escassez degrandes lagos naturais no Brasil (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).Isso torna latente o problema da capacidadesuporte para os programas de estocagens.
O aumento na capacidade suporte com oobjetivo de elevar o rendimento pesqueiropode ser obtido em pequenos reservatóriosatravés de entradas de nutrientes ou alimentono sistema. Nos grandes reservatórios dehidrelétricas, essa estratégia seriaimpraticável, especialmente naquelesdispostos em série, como os das bacias dosrios Paraná, Uruguai, São Francisco, Paraíbado Sul ou Tocantins, onde a retenção denutrientes e sua captura pelo sedimentotornam aqueles de jusante extremamentepobres. Além disso, mesmo nos pequenos, atransformação do sistema de produçãonatural para um de piscicultura semi-intensivo pode ser dispendiosa, por requererenorme esforço de fertilização e estocagem, eimpor fortes restrições a outros usos devido àeutrofização e deterioração da qualidade daágua.
Embora com alguns pontos controversos, asestocagens regulares da modalidade deintrodução ou de manutenção exercidas nosaçudes nordestinos têm sido consideradasnecessárias em face da demandasocioeconômica regional. Já aquelasrealizadas nos grandes reservatórios, do tiposuplementar, são tidas, de forma consensualno meio técnico e científico, como ineficazes edesnecessárias, mesmo com as mudanças deenfoque que vêm apresentando nos últimosanos em algumas companhias de energia (ex.:CESP, 2000a) em relação à qualidade genética
dos alevinos. Elas continuam, no entanto,sendo realizadas, tanto pelo setor hidrelétricoquanto por órgãos de controle ambiental, namaioria das vezes com as mesmas falhasexplicitadas até aqui. Como exemplo, Vieira ePompeu (2001) informam que os peixamentosem reservatórios e rios desenvolvidos pelaCompanhia de Desenvolvimento do Vale doSão Francisco (CODEVASF) na bacia do rioSão Francisco, entre os anos de 1996 e 1997,envolveram mais de 30 milhões de alevinos.
Finalmente, destaca-se que o equívoco nosprogramas de estocagem envolve, além dosaspectos mencionados, falhas na abordagem.Desenvolvida sem o conhecimento do sistema(fauna nativa, ambiente e espéciesintroduzidas), a estocagem no Brasil é aindafortemente marcada por uma abordagem de“tentativa e erro”, porém sem omonitoramento, que facultaria umaprendizado mesmo nessa situação. Issoexplica a razão de ações equivocadas seremimplementadas por tanto tempo e por tantasinstituições e pessoas. Isso é, em parte,decorrente de conceitos equivocados de que aestocagem sempre aumenta o rendimento dapesca (COWX, 1999), amplamente difundidospelos meios de comunicação, arraigados nosenso comum da população e utilizados porpolíticos e empresas para fins eleitoreiros oucomo demonstração supostamenteincontestável de que atuam na preservaçãoambiental. Entretanto, há razoável consensono meio técnico e científico de que aestocagem suplementar (populações auto-sustentáveis) não é uma ação apropriadaquando há evidências de insuficienterecrutamento natural de populaçõesexploradas.
Estocagem 267267267267267
Implicações nos RecursosNaturais
Embora as estocagens sejam ações demanejo com grande potencial para aconservação da biodiversidade,especialmente genética, elas são fontespotenciais de grandes impactos sobre acomposição, estrutura e funcionamento dascomunidades locais, incluindo as populaçõesque eventualmente se pretenda suplementarcom novos indivíduos.
Introdução de espécies
O principal impacto ocorre nas estocagensdo tipo introdutória ou de manutenção,quando a espécie é não-nativa ou incapaz deum recrutamento natural. Geralmenteconduzidas com intuito de elevar orendimento pesqueiro, essas introduçõesforam, na maioria das vezes, inócuas oumesmo apresentaram impactos negativossobre os desembarques, comprometendorecursos aquáticos tradicionalmenteexplorados e afetando os estoques nativos(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1996).
A relevância e preocupação a respeito dessasintroduções decorrem do fato de que, emâmbito global, a introdução de espécies étida como a segunda principal causa deextinção de espécies, sendo precedida apenaspela degradação de hábitats.Lamentavelmente, as introduções emreservatórios são justificadas comonecessárias para mitigar ou compensar asalterações impostas à ictiofauna e à pesca
pelo represamento, este talvez um dos meiosde se alterar mais profundamente os hábitatsaquáticos. As questões da introdução deespécies em reservatórios, relativas adefinições, impactos, mecanismos einterações, serão objeto de discussão noCapítulo 6.6.
Ironicamente, os programas de estocagemcom espécies não-nativas foram conduzidose/ou estimulados por órgãos públicos, àsvezes ligados ao controle ambiental. Foi como estímulo ou constrangimento dessesórgãos que o setor hidrelétrico desenvolveuas massivas introduções de espécies nasbacias hidrográficas do Sul, Sudeste eNordeste brasileiro. O número de espéciesque ingressou no Brasil para o propósito demelhoria nos estoques pesqueiros, paraexploração comercial ou esportiva,assemelha-se ao número daquelasimportadas para fins de cultivo (WELCOMME,1988). Tanto que o maior afluxo de espéciesno Brasil ocorreu entre os anos de 1960 e1980, quando houve grande proliferação dereservatórios hidrelétricos e massivasestocagens de espécies não-nativas.
Não sendo um fenômeno restrito às políticaspúblicas brasileiras, a introdução de espéciesfoi amparada até recentemente pororganizações mundiais de renome, como oBanco Internacional de Desenvolvimento, oBanco Mundial e a Organização das NaçõesUnidas para a Alimentação e Agricultura(FAO). Essas organizações estimularam,dirigiram e ainda dirigem investimentos emprojetos envolvendo o cultivo dessasespécies fora de seu país de origem (PÉREZ;
ALFONSI; NIRCHIO; MUÑOZ; GÓMEZ, 2003).
268 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A FAO, que atualmente estabelece e apóiaprotocolos e códigos de conduta naintrodução de espécies, até recentementeestimulava tal prática, através de suaspublicações. É emblemático o documentodivulgado por essa entidade e de autoria deSugunan (1997) que, dentre diversasrecomendações sobre a pesca e aqüicultura,sugere que alguns países introduzam tilápiase carpas onde elas ainda não foramintroduzidas, para que a produção depescado aumente. O trecho a seguir é umatradução literal de uma de suasrecomendações: “As restrições do IBAMAsobre a estocagem de reservatórios brasileirosprecisa ser revisada com base em assessoriascientíficas seguras. Reservatórios selecionados soba concessão de agências de eletricidade e irrigaçãodevem ser estocados através de uma apropriadatransferência de espécies entre-bacias e entre-fronteiras, no intuito de melhorar o rendimentopesqueiro. A atual política de produção de alevinose estocagem somente de espécies nativas e aconstrução de transposições podem não resultarem benefícios factíveis”. Embora a conclusãodesse curioso texto esteja condizente com asavaliações feitas aqui e em outros tópicosdeste capítulo, as recomendaçõesdemonstram profundo desconhecimento dasexperiências e a realidade dos grandesreservatórios brasileiros, ou que foramelaboradas com base nas informações deassessorias cientificamente pouco sólidas.
O autor sugere ainda que um númeroapropriado de reservatórios e trechos de riosdeveria ser reservado como santuários para aproteção da biodiversidade, enquanto orestante seria massivamente estocado comespécies não-nativas. Embora com um
reconhecimento implícito dos riscos dessasestocagens para a biodiversidade, não sãoexplicitados os mecanismos debiossegurança que manteriam essas espéciesem apenas um trecho da bacia oureservatório.
Como resultado de opiniões semelhantes, aAmérica do Sul figura hoje como ocontinente com o maior número deintroduções de peixes (WELCOMME, 1988;AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1996), a despeito decontar com a maior diversidadeictiofaunística do planeta. É parodoxal queessa posição de destaque seja compartilhadacom a de maior exportador de espécies depeixes para as águas da América do Norte(32%das espécies introduzidas; FULLER; NICO;
WILLIAMS, 1999).
A propósito das estocagens com espéciesnão-nativas, é oportuno reafirmar queaquelas com importância na pesca, como acorvina P. squamosissimus, o tucunaré Cichlaspp. e as tilápias Oreochromis niloticus e Tilapiarendalli, parecem ter se estabelecido na baciado rio Paraná por outros mecanismos quenão os programas de povoamentodesenvolvidos pelo setor elétrico. A corvinafoi objeto de estocagem em apenas um ano,tendo sido utilizados menos de 12 milalevinos (Tabela 6.2.2). Acredita-se que suaintrodução tenha ocorrido pelo rompimentode um açude no rio Pardo. O tucunaré, poroutro lado, não figura nos relatóriosdisponíveis como uma das espéciesintroduzidas pelos programas. Finalmente atilápia, embora os dados não sejam aindaconclusivos, ganhou relevância na pescaartesanal de Barra Bonita, como mencionado
Estocagem 269269269269269
Espécies Período Tietêê Paranapanema Paraná Grande Paraíba do
Sul
Apaiari 1975 -1985 201.969 (4) 50.300 (2) 459.581 (2) 96.435 (1) 1.200 (1)
Corvina 1975 -1977 0 0 11.800 (2) 0 0
Sardinha 1975 -1990 9.489.000 (5) 1.380.000 (2) 5.139.650 (2) 1.237.000 (1) 0
Trairão 1975 -1987 60.400 (4) 357.580 (2) 343.337 (2) 22.500 (1) 0
Carpa 1980 -1984 2.025.499 (4) 1.209.557 (2) 1.677.637 (2) 373.227 (1) 456.212 (1)
1978 -1989 20.198.765 (5) 7.629.200 (2) 7.306.897 (2) 2.367.245 (1) 1.583.541 (1)
Truta 1980 -1982 0 0 0 0 370.852 (1)
Tilápia do Nilo
Tabela 6.2.2 - Espécies de peixes introduzidas em reservatórios da região Sudeste, a partirde programas de estocagem realizados pela CESP (CESP, 1998). São apresentados onúmero de peixes liberados no período indicado, e o número de reservatórioscontemplados com o programa (em parênteses)
Bacias brasileiras
Outros continentes
anteriormente, apenas após 12 anos dainterrupção da estocagem. Ressalva-se, apropósito dessa espécie, que sua estocagemno Nordeste e em alguns reservatóriosmenores da bacia do rio Paraná tem sidobem-sucedida.
Além da tilápia, atualmente bem-estabelecida em alguns reservatórios dabacia do rio Paraná, nos açudes nordestinos ena bacia do Leste, outras espécies decontinentes diferentes figuraram nosprogramas de estocagem do setorhidrelétrico (carpas, black bass e trutas), sendoregistradas nos ambientes naturais, porémcom baixa ou nenhuma participação na pescaartesanal.
Entre as espécies não-nativas que foramobjeto de estocagem pelo setor hidrelétricona bacia do rio Paraná, destacam-se asardinha de água doce Triportheus angulatus,
o apaiari Astronotus ocelatus e o tambaquiColossoma macropomum, todas provenientes dabacia Amazônica. Várias delas tiveram seuspropágulos oriundos de estações depiscicultura do Nordeste, onde haviamtambém sido introduzidas. Algumas espéciestípicas da bacia do rio Paraná foram, poroutro lado, introduzidas em reservatórios dabacia Leste e na do rio Paraíba do Sul (Tabela6.2.3). Como visto, de todas essas espécies,apenas a corvina e o tucunaré têmparticipação relevante na pesca,curiosamente espécies que não fizeram partedos programas de estocagem oficiais. Osindícios obtidos em estudos recentesdemonstram que o custo ambiental dessasintroduções foi elevado, visto que sãopredadoras e têm efeito devastador sobreespécies de pequeno porte ou jovensdaquelas de grande porte (SANTOS; MAIA-
BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ, 1994; SANTOS;
FORMAGIO, 2000; LATINI; PETRERE JUNIOR, 2004).
270 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Espécies Ilustração Bacia de Origem Bacia Introduzida
Paraná Doce e Paraíba do Sul
Paraná Doce e Paraíba do Sul
Paraná Doce e Paraíba do Sul
Paraná Paraíba do Sul
Paraná Doce
Paraná Doce
Prata Paraná
Amazônica Paraná, Paraíba do Sul e Nordeste
AmazônicaParaná, Doce, Paraíba do Sul,
São Francisco e Nordeste
Parnaíba Paraná, e Nordeste
Amazônica Paraná e Nordeste
Amazônica Nordeste
Curimba
spp.
Dourado
Mandi
spp.
Caborja
Piranha
Surubim
spp.
Peixe-Rei
Tambaqui
Tucunaré
spp.
CorvinaParaíba do Sul
Apaiari
Pirarucu
Prochilodus
Salminus brasiliensis
Pimelodus
Hoplosternum litoralle
Pygocentrus nattereri
Pseuplatystoma
Odonthestes bonariensis
Colossoma macropomum
Cichla
Plagioscion squamosissimus
Astronotus ocelatus
Arapaima gigas
Tabela 6.2.3 - Algumas espécies de peixes transferidas entre bacias e sub-bacias porprogramas de estocagem brasileiros
Todas as introduções citadas anteriormentevisaram o aumento da produtividadepesqueira. Porém introduções a partir deestocagens com a alegação de combate apragas (controle biológico) também foramrealizadas. Nesse caso, a esperança era deque os indivíduos da espécie liberada
promovessem algum tipo de controle sobrealguma espécie “indesejável” existente noambiente, promovendo alterações em nívelpopulacional, da comunidade e até noecossistema. Como exemplo, para controlara infestação de larvas de mosquitos, foramintroduzidos em diversos cursos d’água do
Estocagem 271271271271271
país o peixe-mosquito Gambusia, originárioda América Central e do Norte, o peixe-de-briga asiático Betta, além de outros peixespequenos. A documentação de taisintroduções é obscura, e seu sucesso epossíveis impactos ainda são incógnitas. Damesma forma, carpas asiáticas(Ctenopharyngodon idella) foram introduzidasem reservatórios do Sul e Sudeste paraerradicar macrófitas aquáticas. Entretanto,não existem registros de que essas carpastenham eliminado porções significativas davegetação aquática em reservatórios. Dequalquer maneira, em nenhum momento foiconsiderado o papel relevante que avegetação aquática exerce na manutenção deuma rica assembléia de invertebrados ealgas, que formam a base da teia alimentarde muitas espécies de peixes. Além disso,abrigam populações de peixes de pequenoporte e jovens de espécies maiores (SÁNCHEZ-
BOTERO; ARAÚJO-LIMA, 2001; CASATTI; MENDES;
FERREIRA, 2003; AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO JÚNIOR,2003; PELICICE; AGOSTINHO; THOMAZ, 2005).Como último exemplo, tucunarés foramusados para combater o nanismo de tilápiasem aqüicultura ou reduzir populações depiranhas em açudes (FONTENELE; PEIXOTO,1979). Esses e outros exemplos de uso depeixes para controle biológico foram muitodifundidos no Brasil, inclusive por órgãospúblicos, sendo que na maioria dos casos asações foram tomadas sem nenhuma basetécnica ou científica, que assegurasse aeficiência da introdução para a finalidadeproposta.
Embora o Brasil seja signatário daConvenção da Biodiversidade, pela qual opaís se compromete não apenas a combater
novas introduções de espécies, mas tambéma empenhar-se no controle ou na erradicaçãodaquelas já introduzidas nos corpos d’águabrasileiros, a estocagem com espécies não-nativas continua a ocorrer, tanto poriniciativa de associações privadas, quantoinadvertidamente por órgãos públicos,incluindo alguns que são responsáveis pelaprópria aplicação da lei. Suspeita-se que asoltura de tucunarés para a pesca esportivaem reservatórios da bacia do rio Paranáesteja sendo feita clandestinamente porpescadores esportivos, visto que essa espécietem registro de ocupação de novosambientes a cada ano.
Espécies nativas
Ao contrário do que aponta o senso comum,a liberação inadvertida de espécies nativas,criadas em cativeiro, também podepromover impactos ambientais, como adegeneração genética (HINDAR; RYMAN; UTTER,1991; VIEIRA; POMPEU, 2001). As estaçõesprodutoras de alevinos estabelecidas noBrasil, com raras exceções, negligenciam avariabilidade genética dos reprodutores. Énormal que, para a produção de alevinospara a piscicultura, ocorra uma seleçãogenética artificial em favor de certaspeculiaridades do peixe, privilegiando acriação de reprodutores com característicaszootécnicas mais adequadas à produção(tamanho, cor, crescimento) e, portanto,geneticamente menos diversos. Além disso,os alevinos e jovens utilizados nasestocagens, em geral, provêm de poucasmatrizes, se comparado ao ambiente naturale, portanto, comportam baixa variabilidade
272 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
genética. A prole produzida por um númerolimitado de reprodutores leva à redução dopool gênico populacional que, com umaestocagem intensiva, pode aumentar osníveis de consangüinidade na populaçãosilvestre. Entre os efeitos já comprovadosque isso pode provocar estão a redução nastaxas de crescimento, sobrevivência,conversão alimentar e o aumento naincidência de anomalias (KINCAID, 1995; verBox 6.2.1).
Quando o plantel de uma estação produtorade alevinos permanece isolado por algumasgerações, a seleção artificial age no sentidode produzir mudanças nas característicasgenéticas dos indivíduos (fisiológicas,morfológicas e comportamentais), quediferem significativamente da populaçãonativa e que podem ser transmissíveis paraoutras gerações (KINCAID, 1995). Essesindivíduos, privados da atuação da seleçãonatural nas etapas iniciais da vida, mostram-
Box 6.2.1
Melhor função para a estocagem de peixes e manejo de recursos aquáticos.
WHITE, R. J.; KARR, J. R.; NEHLSEN, W. Better roles for fish stockingand aquatic resource management. In: SCHRAMM, Jr., H. L.; PIPER,R. G. (Ed.). Uses and effects of cultured fishes in aquaticecosystems. Bethesda, Maryland: American Fisheries Society, 1995.p. 527-547. (American Fisheries Society Symposium, 15).
“A propagação artificial e estocagem de peixes tem sido uma característica marcante nos programas demanejo da pesca em reservatórios da América do Norte, desde seu início há mais de um século. A despeitodos questionamentos que têm sido levantados durante muito tempo acerca da efetividade destas estocagens,cidadãos, agências de pesca e legisladores freqüentemente baseiam suas esperanças de pesca futura nosprogramas de estocagem. São abundantes as evidências de que o desempenho (sobrevivência e reprodução)de peixes de estações produtoras de alevinos seja inferior àquele de co-específicos selvagens, assim comotambém o são os danos que os peixes estocados podem produzir nas populações naturais. Tão importante edanoso como os problemas anatômicos e fisiológicos são aqueles comportamentais vigentes logo após aestocagem, sendo que estes últimos recebem menos atenção dos programas, talvez pela maior dificuldade nasolução. A severidade dos problemas induzidos pela produção artificial dos alevinos aumenta com a duraçãodo período que os indivíduos permanecem sob cultivo. A produção de peixes maiores e um maior número degerações de peixes reproduzidos artificialmente aumentam a chance de problemas. Quando uma populaçãocom capacidade de reprodução já existe no ambiente, a estocagem é pouco recomendada. Suplementação, ouseja, estocagem de progênie de alevinos selvagens é, especialmente, um contra-senso. Os programas poderiamser aprimorados se uma melhor avaliação do desempenho de alevinos liberados no ambiente e do efeito destessobre as populações selvagens fosse realizada e seus resultados considerados. Avaliações de programas deestocagem deveriam ir além de considerações sobre custos operacionais e valores monetários do peixe paraa pesca; ela deveria computar os custos e benefícios econômicos e ecológicos, em um contexto social. Análisesde impactos ambientais da estocagem deveriam ser realizadas para cada espécie e corpo d’água. Programasestaduais, provinciais, tribais e federais deveriam recorrer à estocagem de peixes apenas no contexto depolíticas ecologicamente consistentes. A prioridade principal dos programas de pesca deveria ser a proteçãodos estoques nativos e selvagens e do ambiente do qual ela depende.”
Estocagem 273273273273273
se menos adaptados às condições naturais epodem transmitir essas características àpopulação já existente no corpo d’água.Dados analisados por Philipp e Claussen(1995) revelam diferenças genéticas efisiológicas entre estoques de black bassMicropterus salmoides na América do Norte,sendo que os não-nativos exibem menoreficiência reprodutiva e desempenho geralque os nativos. Outra possibilidade é a deque o estoque liberado ou seus descendentes,inclusive a prole resultante de cruzamentocom a população selvagem, não sobrevivamou tenham elevada mortalidade no ambientenatural, devido à menor performanceexibida pelos indivíduos mantidos emcativeiro. Esse fenômeno tem sidofreqüentemente descrito para espécies desalmonídeos (HINDAR; RYMAN; UTTER, 1991).
Outro problema com a estocagem desuplementação é o uso de alevinos oriundosde bacias diferentes e com pool gênicodistinto. Populações isoladas entre si tendema ser selecionadas, cada uma, para ummelhor desempenho às condições locais. Amistura pode resultar na perda dessascaracterísticas ajustadas nas condiçõespeculiares do ambiente, através de trocasgênicas. Dessa maneira, a estocagemsuplementar de dourado (S. brasiliensis)realizada no rio dos Sinos (RS) a partir deplantel de reprodutores obtido no pantanalmato-grossense (MS) representaria um riscopara as populações daquele rio, dada amenor tolerância a baixas temperaturasesperada no pool gênico introduzido. Hindar,Ryman e Utter (1991) relatam, através dediversos exemplos empíricos, que, quando épossível a comparação do desempenho entre
indivíduos selvagens e aqueles obtidosartificialmente (incluindo híbridos), aperformance da parcela selvagem é sempresuperior. A adaptação das populações àsparticularidades locais do ambiente temrelação direta com esse fenômeno.
Esses exemplos mostram que, mesmo setratando de espécies nativas, a liberaçãoinadvertida e em grandes quantidades podelevar à progressiva degradação do poolgênico, sendo essa ocorrência tão impactantequanto a introdução de um piscívoro vorazou a degradação da qualidade da água.Porém a degradação genética tem uma sériaagravante: ela não produz efeitos visíveis aolho nu, e somente técnicas e análisesespecíficas podem quantificar tais efeitos.Quando suas conseqüências são detectadas, asituação pode não ser mais reversível.
Entretanto, a estocagem com espécies nativastem outros problemas além dos genéticos,destacando-se os desequilíbrios impostos nasrelações interespecíficas pela adição artificialde novos elementos na ictiocenose, apossibilidade de disseminação de patógenosveiculados pela água, sendo que esta últimapode ocorrer tanto com a estocagem deespécies não-nativas, quanto com nativasestocadas a partir de estações de cultivo (verCapítulo 6.3).
Considerações Finais
Do exposto neste tópico, concluímos que,da forma como são conduzidas, as estocagensdefinitivamente não são recomendadas. Osprogramas carecem de metas e objetivos
274 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
claros e não podem prescindir de umaavaliação continuada, tanto do sucesso daação quanto dos possíveis impactos. Assim,para que estas tenham algum papel naconservação dos recursos pesqueiros e daictiofauna brasileira, uma reformulação énecessária, da concepção à elaboração deações específicas.
Para exemplificar a complexidade doprocesso decisório e executivo de um projetode estocagem, Cowx (1994) apresenta umdiagrama envolvendo o cumprimento deexigências e subseqüentes decisões,particularmente voltadas para a pesca. Daquestão inicial, que deve impor os objetivospara o manejo da pesca, até o estágio em quea estocagem é de fato concretizada, quase
vinte etapas devem ser cuidadosamenteanalisadas, e a cada etapa evadida a incertezade sucesso aumenta progressivamente. Logo,se a intenção é a utilização da estocagemcomo forma de manejo, e a situação apontá-la como medida necessária, muitos detalhesdeverão ser sempre considerados e analisadosatentamente a priori. Concluindo, aestocagem requer muita informação para serbem-sucedida e, por isso, torna-se umamodalidade de manejo complexa (NOBLE;
JACKSON; IRWIN; PHILLIPS; CHURCHILL, 1994;COWX, 1999; PEARSONS; HOPLEY, 1999; SIROL;
BRITTO, 2005), muito diferente do esquemano qual ela foi conduzida em águasbrasileiras até os dias de hoje, caracterizadopela falta de cuidado, critério econhecimento.
Capítulo 6.3Aqüicultura
Introdução
Embora, em seu sentido restrito, aaqüicultura não possa ser enquadradacomo uma atividade de manejo de recursospesqueiros, as políticas públicasatualmente vigentes preconizam seu usocomo uma forma de reduzir as pressões depesca sobre os estoques naturais, tanto peloenvolvimento de pescadores na atividadede produção quanto no afrouxamento dademanda do pescado produzido pelaatividade extrativista.
Considerada uma atividade econômicaimportante e uma maneira eficiente deproduzir alimento, a aqüicultura, comooutras atividades produtivas, afeta oambiente de forma mais ou menos intensa,estando essa gradação geralmenterelacionada à modalidade com a qual ocultivo é praticado (extensiva, semi-intensiva, intensiva).
Nessa área, a exemplo de outras, éconstatado que experiências de umaprodução ecologicamente não-sustentávelacabam sendo consideradas nodelineamento de políticas públicas e
projetos de desenvolvimento. Entretanto, écomum que fracassos econômicos ouambientais sejam ignorados e conflitos deprioridades entre a conservação e odesenvolvimento sejam recorrentes.
De um lado, situa-se a necessidade deatender à demanda de alimento,exacerbada pelo crescimento populacionale exaustão dos estoques explorados, e, deoutro, a urgência em se conservar osrecursos naturais e os serviçosecossistêmicos, incluindo a água deabastecimento, esta escassa, maldistribuídae também com demanda crescente.
Embora seja uma prática antiga, aaqüicultura tem ainda uma fraca basecientífica (PILLAY, 2004) e muito do esforçoda pesquisa nessa área é voltado aodesenvolvimento de tecnologias deprodução e ao manejo das condições doambiente dentro dos tanques, pouco sendoinvestigado acerca de sua sustentabilidadeambiental.
A aqüicultura recebeu vultososinvestimentos após a Segunda GuerraMundial, quando seu potencial produtivocomeçou a ser reconhecido no mundo
276 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ocidental. Até então, o cultivo de organismosaquáticos, como forma de produção dealimentos e geração de renda, era valorizadobasicamente em países asiáticos. Essesistema, conduzido por milhares de anos deforma artesanal, familiar e em pequenaescala, foi absorvido pela demandaeconômica de países desenvolvidos, e desdeas décadas de 1960 e 1970 vem adquirindocaracterísticas cada vez mais industriais. Oresultado tem sido o crescimentoprogressivo da produção da aqüiculturamundial, a um ritmo superior a 9% ao ano.
Similar à Revolução Verde desencadeada naagricultura no século passado, vem-seproclamando que a atividade de aqüiculturapresenciará revolução análoga, também emâmbito mundial: a Blue Revolution(Revolução Azul). Isso tem motivado osgovernos a realizarem grandesinvestimentos no setor, comdesenvolvimento de metodologias maisprodutivas e uma conseqüente expansão detoda indústria. A expectativa é de que aaqüicultura resolva o problema dos estoquesexauridos pela pesca extrativista, tornando-se, conseqüentemente, a “salvação” mundialna produção de alimentos.
Por outro lado, na esteira dessedesenvolvimento, inúmeros problemas têmsido registrados, especialmente em cultivoscosteiros. A aqüicultura tradicional,praticada em pequena escala, com baixatecnologia e insumos, era tida como umaatividade ambientalmente saudável, vistoque atuava na reciclagem de resíduosagrícolas ou domésticos, reduzindo omontante desse tipo de poluição. Já a adoção
de práticas de manejo intensivo e odesenvolvimento da atividade em escalaindustrial, têm gerado preocupações nosórgãos de controle ambiental, sendoexigidos, na maioria dos países, programasque assegurem sua sustentabilidadeambiental e incorporem medidas deminimização, mitigação ou compensação deimpactos adversos (PILLAY, 2004).
Além das alterações de hábitats, maisevidentes nos cultivos em áreas demanguezais ou em áreas de preservaçãopermanente, a aqüicultura tem sidoassociada à introdução de espécies, incluindodoenças e parasitas, e à deterioração daqualidade da água pelos seus efluentes.Neste tópico, pretende-se discutir a atividadede cultivo de peixes no Brasil, com ênfase naaqüicultura em águas públicas, como partedos usos múltiplos de reservatórios.
Problemas na AqüiculturaBrasileira
A exemplo do que se verificou em todo omundo, a aqüicultura brasileira mostrouconsiderável crescimento na última década,sendo considerada uma opção promissora deinvestimentos e produção alternativa depescado. Com a diminuição das capturas deespécies nobres na pesca de águas interiores,devido a uma possível sobrepesca e pelaconstrução de represamentos (ver Capítulo5), a aqüicultura tem sido vista como agrande “salvação” da produção de pescadono país, além de ampliar a possibilidade deabsorver a mão-de-obra antes envolvida coma pesca extrativista.
Aqüicultura 277277277277277
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anos
Extrativa
Aqüicultura
Pro
du
çã
oTo
tal(t
)
Figura 6.3.1 - Produção de pescado em águas interiores no Brasil,de 1995 a 2000 (Fonte: , 2002).IBAMA
Assim, entre os anos 1995 e2000, enquanto a pescaextrativa interiorapresentava tendências àestagnação (~ 200.000 t ano-
1), a aqüicultura teve umaumento de produçãoprogressivo e substancial(Figura 6.3.1) (IBAMA, 2002).Por exemplo, em 1995, aaqüicultura representavacerca de 17% da produçãototal em águas continentais,passando para 40% em 2000.
A produção brasileira deaqüicultura em águas interiores é quase todacomposta por peixes (96%), com menorparticipação de camarão (3%) e rã (0,5%). Aregião Sul do país é a maior produtora,representando mais da metade do totalnacional (53%), seguida pelas regiões Sudeste(24%) e Centro-Oeste (11%) (IBAMA, 2002).
Ressalta-se, no entanto, que a expectativa emrelação a esta atividade é antiga no país,tendo sido amplamente patrocinada pelopoder público no século passado, quandovárias iniciativas foram destinadas ao seufomento, na maioria das vezes de formaequivocada. Estações e postos de pisciculturaforam instalados em vários pontos do país emuitas espécies foram introduzidas outranslocadas, sempre com a promessa de altarentabilidade. No geral, essas iniciativasresultaram em retumbantes fracassos,gerando lucros apenas aos produtores dealevinos, sendo exemplos emblemáticos oscasos do bagre africano e de várias espéciesde tilápias.
Dessa maneira, crescimento efetivo foiconstatado apenas na última década. Apesarde todo esse otimismo econômico, derivadoem grande parte das facilidades de vazão daprodução proporcionada pelos clubes delazer (pesque-pagues), essa perspectiva écontrabalanceada fortemente com a falta deorganização da atividade, em termos dedistribuição de tecnologias, pesquisa,ordenação e comercialização da produção(BORGHETTI, 2000; EMBRAPA, 2005). Isso fazcom que inexistam políticas concretas queadministrem e ordenem a implantação daatividade, o que, somado ao constante –porém vago – incentivo governamental,torna fácil e descontrolada a instalação deinfra-estruturas de aqüicultura, gerandofracassos e o descrédito como atividadeprodutiva rentável.
A tendência constatada nos últimos anos, quede resto é similar à verificada na “RevoluçãoAzul”, é a de maximizar a produção,transformando uma aqüicultura de pequena
278 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
escala, mantida por ligações culturais, emuma atividade com características industriais(WHITE; O’NEILL; TZANKOVA, c2004), com óbviosreflexos negativos de natureza social eambiental. A falta de melhor embasamentocientífico e a precariedade do ordenamentoculminou na criação de um enorme númerode tanques espalhados por todas as baciashidrográficas brasileiras, sendo que muitosmantêm ou cultivam organismos, mas,devido à interrupção no fluxo deinvestimentos e dificuldades nacomercialização (após a decadência dospesque-pagues), pouco contribuem para aprodução nacional.
A aqüicultura é uma atividade complexa, queexige aprendizado constante, grandededicação, assistência técnica especializada econtínua, demanda de mercado e, acima detudo, embasamento científico. O desprezo dequalquer desses pré-requisitos explica ofracasso de tantos empreendimentos. Odocumento “How to make a small fortune inaquaculture?” (WILCOX, c2004), cuja síntese éapresentada no Box 6.3.1, fornece umaexcelente explicação sobre as razões dessesfracassos na piscicultura brasileira. Apercepção errônea de que bastam água ealimento para que o cultivo funcione é acausa principal das mazelas nesse setorprodutivo.
A aqüicultura brasileira é tradicionalmentepraticada em tanques escavados (tanques deterra), sendo essa modalidade responsávelpor grande parte da produção em águasinteriores. Por outro lado, temos assistidonos últimos anos a uma tendência crescentede ampliação do fomento pelo poder público
à criação de peixes em tanques-rede ougaiolas, sendo essa uma das formas maisintensivas de cultivo praticadas atualmente,estando em fase de expansão devido a umhipotético retorno rápido do investimento.Embora o uso dessas estruturas em águaspúblicas tenha sido facultado pelo Decretono 2.869, em 09/12/98, ele se tornou efetivoapenas a partir de 2003, como parte doPrograma Fome Zero, do Governo Federal.Neste sentido, contribuiu a criação daSecretaria Especial de Aquicultura e Pesca e aflexibilização dada pelo Decreto no. 4.895, de25/11/2003, que revogou o anterior. Desdeentão, vários empreendimentos foraminiciados, grande parte deles resultando emfracassos retumbantes. As razões dessesfracassos são muitas e complexas, sendo aalegação mais comum a restrição legal aouso de espécies com tecnologias maisconhecidas, especialmente as tilápias.Entretanto, mesmo com o emprego dessaespécie nos sistemas de cultivo, arentabilidade esperada não tem sidoalcançada, resultando em sucessivasdesistências, como a verificada noreservatório de Furnas, no rio Grande(Dirceu Marzulo, informação verbal). Algumsucesso tem sido observado, entretanto, emreservatórios do Nordeste, mesmo assimcom problemas de mortandades e subsídiossubstanciais do Estado.
Outra modalidade de cultivo que se tornoudisseminada nas bacias hidrográficas dasregiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste doBrasil foi a dos “pesque-pagues”(FERNANDES; GOMES; AGOSTINHO, 2003). Essamodalidade não tem no cultivo suaprincipal finalidade.
Aqüicultura 279279279279279
BoBoBoBoBox 6.3.1x 6.3.1x 6.3.1x 6.3.1x 6.3.1Como fazer uma pequena fortuna na aqüicultura?
WILCOX, J1. How to make a small fortune in aquaculture? Apopka, FL: AquaticEco-Systems, c2004. Disponível em: <http://www.aquaticeco.com/index.cfm/fuseaction/ popup.techTalkDetail/ttid/38>. Acesso em: jul. 2006.
A brincadeira é “Como fazer uma pequena fortuna na aqüicultura? Inicie com uma grande fortuna”. Aqüicultura é estritamenteum negócio pecuário. Cometa um erro e o seu cultivo definhará rapidamente. Cometa um erro diferente e as autoridadessanitárias entrarão em seu negócio. Cometa ainda um outro erro e as autoridades poderão embargar os seus equipamentos,revogar sua licença ou executá-lo na justiça. Esta não é uma atividade para pessoas desorganizadas, despreparadas ou tímidas.Aqüicultura não é uma maneira de enriquecimento rápido, freqüentemente não é nem mesmo uma forma de enriquecimentolento! Toda pessoa bem-sucedida nesta atividade teve que passar por um trabalho duro, de longas horas, com investimentorelevante e grande sacrifício pessoal. Apenas alguns poucos que não eram ricos se tornaram ricos com a aqüicultura.Há algumas maneiras garantidas de fracasso na aqüicultura. São elas:• Inicie seu negócio sem um planejamento: as falhas no planejamento são fatais: é como planejar o fracasso. Seguir
rigorosamente o planejado e suas revisões são atitudes fundamentais para o sucesso do empreendimento. Se você não sabepara onde está indo, não vá.
• Inicie seu negócio sem dinheiro suficiente: pouco capital é a causa número um do fracasso dos cultivos. Você deve estarpreparado para despesas não planejadas e perdas não esperadas. Se seus alevinos morrem, terá que repô-los. Se o preço daração aumenta, mesmo assim terá que adquiri-la. Se o aerador quebra você deve consertá-lo rapidamente. Finalmente, sevocê não tem capital para superar os imprevistos, não entre neste negócio.
• Empreste dinheiro de seus parentes e amigos: seus parentes podem querer lhe emprestar dinheiro, mas o não pagamentopoderá deixá-los irados. Empreste de amigos apenas se você não os quiser mais como amigos. Evite usar sua casa comogarantia, você poderá ainda querer uma casa para morar se seu cultivo fracassar.
• Escolha a espécie a ser produzida antes de fazer uma pesquisa de mercado: muitos produtores decidem o que queremproduzir antes de saber se, ou como, podem ganhar dinheiro com isto. O propósito da aqüicultura é fazer dinheiro. Dogrupo de espécies aptas a tolerar seu sistema de cultivo e clima, selecione as mais rentáveis e destas, as que têm compradoresno preço esperado. Cultive a espécie errada e perderá até a camisa.
• Decida que espécie produzir antes de conhecer sua biologia: mesmo a espécie mais apreciada pelo mercado pode serimpossível ou muito cara para produzir. Após sua pesquisa de mercado você deve avaliar se a espécie escolhida é compatívelcom sua capacidade ou seu sistema de cultivo. Espécies que não foram bem-sucedidas em sua região, falharam por algumarazão. Conheça a sua biologia geral, ecologia, doenças, parasitas e especialmente a biologia reprodutiva, antes de qualquer decisão.
• Gaste hoje o seu dinheiro com “tecnologia do futuro”: se um sistema lhe parece muito bom para ser verdadeiro,cuidado! Muitos “sistemas de produção altamente produtivos” estão à venda. Peça para visitar um sistema que estejafuncionando bem por cinco anos e ver seus documentos de lucros e perdas declarados à receita federal, antes de decidir.
• Escave seus tanques e depois corra atrás da licença: há regras restritivas para a atividade de aqüicultura comercial,drenagem, represamento, uso de várzeas, armazenagem e escoamento de água, etc. Se você escava seus tanques antes derevisar as regras cuidadosamente, você estará sujeito a multas, poderá ter que interromper suas atividades, ou ser obrigadoa realizar um monitoramento muito caro.
• Estoque seus tanques com altas densidades durante os primeiros anos: baixa densidade de estocagem pode significarmenos lucro, mas certamente significa menores riscos. Melhor conseguir uma lucratividade de 75% da máxima por algunsanos que perder tudo enquanto você aprende com tentativas e erros. Certamente, você cometerá alguns erros sérios. Torne-os tão baratos quanto possível.
• Produza o peixe e então tente vendê-lo: a produção é apenas uma parte de seu negócio. Preços variam durante o ano.Assim, parte de seu planejamento deve ser dirigido para que sua colheita ocorra na época em que os preços estão no seu pico.
• Não faça parte de associações de aqüicultura: nas reuniões e discussões você pode ter oportunidades de aprender comos erros de outros produtores ao invés de ter que fazê-lo com os seus.
• Não tenha contato com extensionistas: eles podem lhe fornecer literatura sobre as espécies, sistema de produção, manejoda qualidade da água e outras tecnologias, bem como lhe proporcionar assessoria técnica e apoio continuado.
1 Especialista em aquicultura da Florida A&M University.
280 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
De fato, são tanques de propriedadeparticular e destinados à pesca recreativa e/ou à comercialização do pescado. Não seconstituem em sistemas auto-sustentáveis,dependendo do aporte constante de juvenis eadultos produzidos pela aqüicultura.Participam, entretanto, de forma ativa nacadeia produtiva da aqüicultura nas regiõesdo país em que estão disseminados. Asflutuações no sucesso da aqüicultura nasregiões Sul e Sudeste do Brasil têm sidoassociadas ao sucesso dessesempreendimentos.
O crescimento da aqüicultura é, portanto,uma fonte permanente de preocupaçõesambientais e, conseqüentemente, sociais. Emrelação aos custos ambientais, destacam-se ocomprometimento da integridade dehábitats críticos, da qualidade da água e dosrecursos naturais e, principalmente, aintrodução de espécies não-nativas, quepodem causar alterações ambientaispermanentes, a ponto de promover rupturasem sistemas de produção tradicionais. Aliás,em termos mundiais, a aqüicultura éconsiderada o principal vetor de dispersãode espécies não-nativas (ORSI; AGOSTINHO, 1999;NAYLOR; WILLIAMS; STRONG, 2001; LIMA JUNIOR;
LATINI, 2006).
Esse quadro é particularmente preocupanteem relação aos usos de águas públicas,especialmente em reservatórios. O impulsodado ao setor, como parte das políticaspúblicas visando a produção de alimento,tem levado à implantação desordenada detanques-rede em áreas de relevância para abiodiversidade e para o recrutamento dafauna nativa, não sendo observadas as
exigências legais em relação aos parques ouáreas aqüícolas, na maioria dos casos sequerdelimitadas. Cultivos ilegais, com espéciesnão-nativas, são comuns em reservatórios dabacia do rio Paraná.
A falta de um controle efetivo dos orgãoresponsáveis sobre a atividade faz com que aproveniência dos animais cultivados nãoobedeça aos critérios legais de sanidade, oque, como veremos, traz uma série deconseqüências negativas. Aspectos comoesses colocam em risco a manutenção dosrecursos aquáticos naturais do país elegítimam a preocupação com o tema.
Distorções na Atividade
É consenso que uma aqüicultura bemplanejada pode ser benéfica para odesenvolvimento econômico do setor e dopaís, e até mesmo para a conservação eaproveitamento dos recursos naturais. Comodiscutiu Valenti (2000), a aqüiculturanacional pode ser uma importanteferramenta no estímulo ao aproveitamentode recursos locais, contribuindo para ageração de renda e criação de trabalho paracomunidades tradicionais.
Por outro lado, quando conduzida de formadescuidada, pode facilmente se transformarem ferramenta de acumulação de riquezas e,conseqüentemente, em vetor de misériasocial e degradação ambiental. A próprianatureza do recurso dificulta sua gestão,pois, diferentemente dos recursos pesqueirosnaturais, a produção gerada pela aqüicultura
Aqüicultura 281281281281281
não é um bem coletivo. Para que não hajadistorções no caminho do desenvolvimentoda aqüicultura, Valenti (2000) destaca que,fundamentalmente, a atividade deve mantera preocupação de se apoiar na tríade (i)produção, (ii) conservação de recursosnaturais e (iii) desenvolvimento social. Odesvio ou a ênfase dada sobre qualquer umdesses pilares pode derivar paraconseqüências negativas em relação aosdemais. Além disso, com o envolvimento demúltiplos atores no cenário, aumenta apossibilidade de ocorrer conflitos pelo usomúltiplo dos recursos e do espaço, tornandonecessário considerar uma quarta dimensão,a político-institucional (ASSAD; BURSZTYN, 2000).
Infelizmente, no Brasil, e também no restodo mundo, a atividade tem-se impulsionadopor objetivos essencialmente econômicos epolíticos. Essa forma de produção segue nacontramão das tendências modernas dedesenvolvimento, nas quais a atividadeprodutiva tem, a cada dia, procurado suasustentabilidade ambiental. Atransformação das formas de cultivotradicional para uma escala industrial, comincentivos do poder público noestabelecimento de grandesempreendimentos, que concentram o capitalproduzido, contribui enormemente noagravamento das desigualdades sociais. Asgrandes fazendas de cultivo de organismosaquáticos em áreas costeiras são exemplosdessa distorção, onde os hábitats naturaissão alterados, espécies e doençasintroduzidas, recursos explorados demaneira coletiva são depauperados, compassivos ambientais que deverão ser pagospela sociedade.
Assim, o desenvolvimento da aqüicultura episcicultura brasileiras poderia desempenharimportante papel na conservação dabiodiversidade do país, se tivesse umplanejamento abrangente e incluísse outrosobjetivos, além dos puramente econômicos.Um exemplo disso está no caso das espéciescom estoques sobre-explotados emambientes naturais. As estratégias de manejodestinadas à conservação dessas espéciespoderiam se beneficiar com a produçãoartificial, pois teoricamente elas deveriam (i)promover uma diminuição na pressão deexplotação, visto que a produção paraconsumo é mantida em tanques artificiais, e(ii) criar oportunidades de estocagemtemporária, especialmente nos casos detanques-rede, para liberações posteriores nosambientes naturais, assegurando maioreschances de sobrevivência dos indivíduos nosprogramas de repovoamento destinados amelhorar geneticamente os estoques nativos(ver Capítulo 6.2).
A redução na pressão de pesca sobreestoques naturais tem sido uma das maisfamosas argumentações, de ordemambiental, em prol da implantação desistemas de aqüicultura (NAYLOR; GOLDBURG;
PRIMAVERA; KAUTSKY; BEVERIDGE; CLAY; FOLKE;
LUBCHENCO; MOONEY; TROELL, 2000).Entretanto, a realidade tem-se mostradomuito diferente, e justificativas desse tiposão facilmente contraditas pela conduta dospróprios responsáveis pela produção. Oaspecto de maior relevância é a predileçãodo setor pelo cultivo de espécies não-nativase o esforço reduzido em buscar alternativasna fauna local. Fato curioso é que este tematem sido recorrente ao longo de pelo menos
282 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Espécies Produção (t) Participação (%)
Total
Produção Total
Carpa 54.566 41
Tilápia 32.459 24
Tambacu 8.763 6,6
Bagre-de Canal 1.867 1,4
Truta 1.447 1,1
Bagre-Africano 478 0,4
99.580 75
132.955
Tabela 6.3.1 - Produção de espécies exóticas e um híbrido(tambacu) através da aqüicultura, no ano de 2000 ( ,2002). A tabela também apresenta a produção de peixestotal para o ano, considerando todas as espéciescultivadas no país
IBAMA
trinta anos, tendo sido consideradoprioritário em alguns congressos nacionaisque buscavam soluções para a pesca e aaqüicultura brasileiras (ENCONTRO NACIONAL
SOBRE LIMNOLOGIA..., 1976; ENCONTRO NACIONAL
DE PESQUISA PESQUEIRA, 1980; SAINT-PAUL, 1986).Após várias tentativas fracassadas comdezenas de espécies não-nativas, tidasinicialmente como salvadoras, apenas atilápia do Nilo é considerada satisfatória e abusca por alternativas exóticas aindacontinua.
Os dados da produção nacional não deixammargem a dúvidas. Do total produzido pelapiscicultura no ano de 2000, que somouquase 133.000 t, 68% corresponderam àprodução de espécies não-nativas,basicamente tilápias e carpas (Tabela 6.3.1).Esta claro que estas espécies compõem a baseda produção da piscicultura no país.Conseqüentemente, devido à falta depredileção pelo cultivo de espécies nativas, aatividade não pode aliviar qualquer pressãoextrativista, visto que ospreços não são atrativos(custo de produção elevado).Além disso, a predileçãopelas espécies nativasmigradoras, como sedepreende de seus elevadospreços no mercado, sugereque estas continuarão a serpescadas.
Os esforços de fomento àaqüicultura desenvolvidospelo governo poderiam sejustificar, então, por eladesempenhar importante
papel econômico e social, gerando renda edisponibilizando proteína de alta qualidadeàs camadas sociais mais carentes. Essepropósito encontra, entretanto, restrições naescala em que ela deve ser praticada para queseja rentável. Por essa razão, asoportunidades de produção de peixesoferecidas pelos programas governamentaisaos pequenos produtores, especialmente emtanques-rede nas águas públicas, têm-serevelado ineficazes. Dificuldades naaquisição de insumos, precariedade daassistência técnica e obstáculos nacomercialização são alguns dos problemasencontrados nessas iniciativas. Osbeneficiários dessa atividade são geralmenteos produtores de alevinos. A venda dealevinos é comércio certo, enquanto que oescoamento da produção de pescado podeapresentar notáveis flutuações. Por exemplo,com a diminuição do comércio de pesque-pagues, um superávit na produção de peixestem sido constatado, o que dificulta seuescoamento e provoca a queda dos preços
Aqüicultura 283283283283283
(KUBITZA; ONO; LOPES, 2001). Essa é uma dasrazões da tendência de reversão nocrescimento da atividade no Sul-Sudeste doBrasil nos últimos anos. Dessa maneira, éesperado que a única chance de a aqüiculturaexercida por pequenos produtores serviabilizada, especialmente em águaspúblicas, é a organização em grandescooperativas, assessoradas por especialistas,com pesados investimentos governamentaise após uma análise racional do mercado.
Quanto à produção de proteínas paraconsumo humano, o pescado ainda não éuma das opções mais baratas no mercado, oque dificulta sua acessibilidade à maioria dascamadas da população humana. Assim, oelevado valor do pescado, necessário paracobrir os custos de produção, ainda não écompatível com os objetivos dos queenxergam essa produção como alternativaviável à erradicação da fome no país. Outraagravante é que parte considerável daprodução não é destinada ao consumohumano direto. No Brasil, o mercado quemais absorve a produção da piscicultura é odos pesque-pagues (KUBITZA; ONO; LOPES,2001), de onde o pescado poderá,eventualmente, ser consumido. Entretanto,como esses estabelecimentos destinam oproduto à recreação, ocorre um considerávelaumento de preço, que o torna proibitivopara o consumo das camadas mais carentesda população.
Embora não haja levantamentos sistemáticosacerca da destinação do pescado produzido,em âmbito mundial, grande parte daprodução da piscicultura também se destinaa outros fins, alheios ao consumo humano
direto. Destaque nesse caso para as fazendasque destinam sua produção exclusivamente àfabricação de ração e outros insumosagropecuários, utilizados na alimentação depeixes, frangos, suínos e outros animais(NAYLOR; GOLDBURG; PRIMAVERA; KAUTSKY;
BEVERIDGE; CLAY; FOLKE; LUBCHENCO; MOONEY;
TROELL, 2000).
Uma demanda particularmente elevada ecrescente tem sido constatada na própriaaqüicultura. Para manter cultivos intensivossão requeridas quantidades fantásticas deinsumos (rações e fertilizantes), oriundos daaqüicultura ou da pesca extrativista (NAYLOR;
GOLDBURG; PRIMAVERA; KAUTSKY; BEVERIDGE;
CLAY; FOLKE; LUBCHENCO; MOONEY; TROELL,2000). Existem cultivos, principalmente napiscicultura de espécies carnívoras, em quesão necessários 5 kg de peixe de menorqualidade – pescado ou cultivado – para seproduzir 1 kg da espécie de interesse. Grandeparte das importações de pescado realizadaspelos Estados Unidos a partir de produtoresasiáticos é destinada à produção de insumospara a aqüicultura. Parte dos desembarquesda pesca oceânica também tem a mesmadestinação.
Embora esses fatos tenham sido levantadosna aqüicultura do hemisfério Norte, parecemnão estar restritos a ele. Embora pontual, odesenvolvimento da aqüicultura em tanques-rede em reservatório tem levado ao usocrescente de espécies de baixo valorcomercial capturadas na pesca extrativistapara o preparo de insumos alimentares,destinados ao cultivo (Figura 6.3.2). Isso temsido constatado inclusive com espécies queanteriormente eram consumidas pelas
284 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 6.3.2 - Algumas espécies de baixovalor comercial, antes destinadas aoconsumo próprio ou processadaspara a venda (a), agora são desviadaspara produzir a ração dos peixes emcultivo (b), fato que pode privarfamílias de pescadores de umaimportante fonte de proteína (Fotos:E. K. Okada).
a
b
famílias de pescadores artesanais e queconstituíam a fonte primária de proteína,dado que os peixes de maior valor comercialsão vendidos. Isso tem duas implicaçõesrelevantes: (i) transforma em falácia pelomenos o argumento de que a aqüicultura éambientalmente saudável por reduzir aspressões sobre os estoques naturais, e (ii)tem um efeito social inesperado e oposto aoapregoado no Programa Fome Zero, no qualos programas de aqüicultura têm posição dedestaque.
Por fim, a aqüicultura pode se justificar portrazer oportunidades econômicas e sociais àscomunidades envolvidas com a atividade, oque seria justo. Sobre isso, o artigo publicadopor Ostrensky e Viana (2004) é contundente.Segundo esses autores, o estímulo inicialdado ao micro e pequeno produtor é logotransformado em carência de tecnologias,falta de capacitação técnica, de capital, deorientação e de organização. O resultado é oagravamento da situação do produtor emdireção à condição de miséria. Comoexemplo, a receita média diária obtida nasafra de 2003-2004 por aqüicultores do Estadodo Paraná, um dos maiores produtores depeixes cultivados do país, ficou abaixo dalinha de pobreza estabelecida pela ONU, quecorresponde a uma receita de US$ 1,00 pordia (OSTRENSKY; VIANA, 2004). A ausência daatuação do poder público tem papeldeterminante na deterioração da condiçãosocial das pessoas envolvidas, visto quemuitas vezes o Estado apresenta aaqüicultura como alternativa viável,desengaja as pessoas de suas antigasocupações e deixa-as, em seguida, à mercê deuma atividade desconhecida.
Não se pretendeu com essa discussão acondenação dos propósitos da aqüicultura,mas, sim, que os problemas nela existentessejam honestamente colocados e a busca desoluções conduzida com responsabilidadeeconômica, social e ambiental. Em poucasáreas produtivas o esforço de fomento falseia
Aqüicultura 285285285285285
tanto a verdade como naquele daaqüicultura. Números inconsistentes sãotirados de expectativas como se fossemreais. Um exemplo emblemático é o dopotencial da aqüicultura em águas públicas,onde a cadeia produtiva se resume a algunscálculos envolvendo a lâmina d’água,ignorando propositadamente as restriçõesambientais e os outros elos da cadeia.
A forma como o desenvolvimento daaqüicultura vem sendo preconizado estájustamente sendo acusada de incompatívelcom a conservação da biodiversidade e amanutenção do funcionamento deecossistemas naturais. A banalização dosproblemas ambientais claramentecomprometerá sua própria viabilidade, poisa aqüicultura depende dos recursos locais eda manutenção da integridade ambiental daárea onde ela se insere. Basta lembrar que ocomponente básico desse sistema produtivoé a água, e que sem ela não existe aatividade. Contudo, a água é o primeirorecurso a ser degradado numa aqüiculturairresponsável.
Se o setor mantiver o ritmo de crescimento(~ 9% ao ano, no mundo) e não mudar suascondutas, existe a real possibilidade de, embreve, a atividade ser classificada como oprincipal vetor de impactos ambientais aecossistemas aquáticos continentais emarinhos, ou mesmo se igualar a sistemasde agropecuária, em termos de poder demodificação de hábitats e biota. O estímulodado ao cultivo em tanques-rede, uma dasmais intensivas formas de cultivo, é maisuma tendência geradora de preocupação,em vista dos inúmeros impactos associados
à atividade e que logo estarão instalados emreservatórios de diversas bacias brasileiras(AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, 1999).O mais lamentável, entretanto, é que osdados atuais não permitem assegurar suarentabilidade econômica, pelo menos para oprodutor, especialmente o pequeno, quegeralmente é o mais influenciado pela mídia.
Problemas Socioambientais
Considerando as estimativas do númerode aqüicultores no Brasil e a área ocupadapelos seus estabelecimentos (Tabela 6.3.2),quase 95.000 pessoas estão envolvidas naatividade, ocupando uma área de quase61.000 ha (BENITES, 2000; PEREIRA; SILVA;
CORREIA, 2000; PEZZATO; SCORVO-FILHO, 2000;POLI; GRUMMAN; BORGHETTI, 2000; VAL; ROLIM;
RABELO, 2000). Certamente o número depessoas envolvidas está amplamentesubestimado, já que por todo o país existemmilhares de pequenos produtores exercendoa atividade de forma clandestina, comtanques em condições irregulares, inclusiveinstalados em áreas de preservaçãoambiental permanente.A maior parte dos aqüicultoresinventariados está concentrada no eixo Sul-Sudeste e, coincidentemente, essas regiõespossuem o maior número de reservatórioshidrelétricos (ver Capítulo 3), o quedesperta grande inquietação, em vista dosconflitos e outros problemas quefatidicamente surgirão na gestão dessesambientes, dado que estes ambientesconcentram os problemas de usosinadequados de sua bacia de captação.
286 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
RegiãoNúmero de
Área (ha)Sistema (%)
Extensivo Semi-Intensivo Intensivo
Total
Produtores
Norte 4.319 3.014 59,8 38,4 1,8
Nordeste 2.239 3.753 41,3 53,9 4,8
Centro-Oeste 1.858 2.099 20,7 77,3 2
Sudeste 17.804 5.537 -- 80 20
Sul 68.765 46.543 26 72,3 1,7
94.985 60.946
Tabela 6.3.2 - Panorama da piscicultura e aqüicultura no Brasil, apresentando o número deprodutores em cada região e a área ocupada pelas instalações. A tabela também informaa representatividade dos diferentes sistemas de cultivo nas diferentes regiões (Fonte:
, 2000)BENITES PEREIRA; SILVA; CORREIA PEZZATO; SCORVO-FILHO POLI;
GRUMANN; BORGHETTI
, 2000; , 2000; , 2000;, 2000; VAL; ROLIM; RABELO
A natureza e a extensão das conseqüênciasambientais da aqüicultura dependemamplamente de sua localização e tipo decultivo, bem como da tecnologia deprodução utilizada (PILLAY, 2004). Noscultivos de tanque escavado o acesso afontes de água superficiais ou do subsolo éprioritário na localização doempreendimento aqüícola. Isso, aliado àconveniência econômica de ocupação deáreas “perdidas” ou não adequadas àagropecuária, conduz à escolha de espaçoscom lençóis freáticos subsuperficiais ouvárzeas, sabidamente hábitats com papelfundamental na manutenção daprodutividade aquática e da diversidadebiológica.
Assim, alterações nas nascentes de cursosd’água ou em áreas de preservaçãopermanente de riachos e rios são requeridaspara a instalação das estruturas de captaçãoda água e instalação dos tanques. Remoçãoda vegetação, construção de diques para aproteção das estruturas, desvios do curso depequenos rios e riachos para o
abastecimento dos tanques, ou mesmorepresamentos com a interceptação dopróprio curso d’água são alteraçõesrecorrentes em empreendimentos deaqüicultura. Como o sistema não é isolado,a água desviada volta ao rio com ascaracterísticas por ele alteradas.
No caso de tanques-rede, a seleção do localde instalação tem como critério a boaqualidade da água, a proteção de ventos eondas e a natureza moderada das correntese profundidades (BEVERIDGE, 2004). Emreservatórios, onde as facilidades logísticassão também consideradas, a escolhageralmente recai sobre braços protegidos eáreas litorâneas que sabidamente sãohábitats importantes para odesenvolvimento inicial e alimentação damaioria das espécies de peixes, e para areprodução de várias delas. Essa escolhapode promover alterações na paisagem eheterogeneidade espacial desses hábitats,além de causar modificações no regime decirculação de água, taxa de sedimentação econflitos de uso do espaço.
Aqüicultura 287287287287287
Tentativas de planejamento na ocupação doespaço por cultivos em águas públicas têm-semostrado pouco efetivas em vários pontosdo mundo. Um bom exemplo disso é o daLaguna de Bay, nas Filipinas, onde oplanejamento previa a ocupação de umcinturão litorâneo em parte da baía, comáreas destinadas à pesca, ao tráfego deembarcações e de santuários para os peixes.O que se verificou, entretanto, foi umaocupação desordenada que cobriu entre 38 e45% de sua superfície de 890 km2,bloqueando a navegação, ocupando áreas depreservação e gerando conflitos queresultaram em roubos, vandalismos eassassinatos (BEVERIDGE, 1984). No Brasil,onde essa atividade está apenas começando,alguns conflitos pontuais com o uso doespaço estão surgindo, especialmente pelaocupação de áreas de pesca ou dedesembarques pesqueiros. Áreas ou parquesaqüícolas estabelecidos no zoneamento dereservatórios não tem sido obedecidas.
Esses são apenas alguns dos impactos maisevidentes, de caráter físico/estrutural, queocorrem em grande escala e de formaabrupta e imediata. No entanto, muitosoutros impactos também podem ocorrer, eserão apresentados nesta seção.
Deterioração na qualidade da água: sistemasde cultivo artificiais são alimentados porinsumos externos ao sistema, constituindo-senuma entrada constante e em elevadaquantidade de nutrientes (nitrogênio-N efósforo-P) e carbono (TACON; FORSTER, 2003).Quanto mais intensivo é o sistema decultivo, maior será a densidade de animaisem confinamento e, portanto, maior o aporte
de insumos. A adição desses insumos é, naverdade, uma tentativa de aumentar acapacidade de suporte do sistema, ou seja,elevar a capacidade de produção (biogênica)do ambiente.
Com essa elevada carga de entrada, é comumque o sistema de cultivo seja um grandeprodutor de resíduos, devido (i) ao fato de osnutrientes não incorporados pelosorganismos em cultivo seremautomaticamente carreados pela águaefluente ou circundante, quando nãodepositados no sedimento do tanque ou docorpo d’água, (ii) à produção constante dedejetos pelos organismos em confinamento,que também são carreados pela água, e (iii)aos resíduos de biocidas e substâncias queimpedem a multiplicação de patógenos eparasitas. Além disso, Beveridge (1987)admite que, embora as espécies de peixesnecessitem quantidades mínimas de P naalimentação, as dietas desenvolvidas para ocultivo intensivo contêm uma quantidade deP superior à requerida, ou incluem formas deP não-assimiláveis. O P excedente éexcretado, enquanto que o não-assimilável ésimplesmente eliminado nas fezes, amboscontribuindo para o aumento da produção dedejetos.
A carga excedente de nutrientes que éeliminada no ambiente tem relação diretacom a capacidade do animal em converteralimento em massa corporal, ou seja, quantomaior a eficiência de conversão, menor seráa perda de nutrientes. Porém a quantidademínima necessária de P e N dependem daespécie de peixe considerada, e a eficiênciade conversão desses elementos é bastante
288 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
2:1 26 22,6 87
3:1 39 35,6 91
3,5:1 45,5 42,1 93
2:1 61,8 55,7 90
2,5:1 77,3 71,2 92
3:1 92,7 86,6 93
1 t de RaçãoPerda
Conversão P (kg) P (kg) %
Tilápia
Carpa
Tabela 6.3.3 - Quantidade de fósforo (P) na ração de tilápias ecarpas com diferentes taxas de conversão alimentar(quantidade de P na ração:quantidade de P assimilado), equantidade de P não assimilada perdida para o meioambiente. O conteúdo de P na ração da tilápia foi de 1,30 % ena de carpa 3,09 % (Fonte: , 1987)BEVERIDGE
influenciada pelacomposição química e adigestibilidade doalimento, além dascondições fisiológicas doanimal (BEVERIDGE, 1987).Estima-se que cerca de26% do peso seco daração consumida pelospeixes, dependendo desua composição, sejamexcretados na forma defezes (PILLAY, 2004).Assim, é comum quegrandes perdas de P e Nocorram para o ambiente.Por exemplo, para seproduzir uma toneladade tilápia, é normal quemais de 95 kg de N nãosejam absorvidos pelos animais, enquantoque, sob condições de baixa conversãoalimentar, mais de 40 kg de P podem serperdidos para o meio ambiente. A Tabela6.3.3 apresenta as perdas de P derivadas docultivo de tilápias e carpas, sob condições deeficiência distintas na conversão alimentar.Note-se que, mesmo para a maior conversãoalimentar, o percentual de P perdido éextremamente alto.
Desse modo, somente um pequenopercentual da carga de ração adicionada nostanques é convertida em biomassa depescado, o que explica a necessidade poralimentos de melhor digestibilidade e ricosem N e P. Esses elementos entram no sistemaatravés do uso de rações e adubação, maspodem ser depositados no tanque oucarreados para cursos d’água por diferentes
formas, como nos fragmentos de ração,dissolvidos na água, alimentos nãoconsumidos, fezes, excreção e indivíduosmortos.
No caso de sistemas de cultivo em tanquesterrestres, o escoamento dos dejetos paracursos d’água adjacentes é inevitável, poisexiste a necessidade de que esses resíduosdeixem o sistema. Caso contrário,deteriorariam a qualidade da água dostanques, com conseqüente deplecionamentodo oxigênio dissolvido, eutrofização,proliferação de algas e inviabilidade docultivo.
A proliferação massiva de algas é adversaaos cultivos, não apenas por alterarem oodor e sabor da carne dos peixes, mastambém por algumas delas serem tóxicas e
Aqüicultura 289289289289289
promoverem mortandades (ZIMBA; ROWAN;
TRIEMER, 2004). A concentração de fósforo naágua tem, em geral, uma relação positivacom essas proliferações (BEVERIDGE, 1987).Além disso, a ausência de um escoamentoeficiente dos detritos e da biomassa de algasacarretaria um acúmulo de matéria orgânicanos tanques. Esse acúmulo pode diminuirdrasticamente a quantidade de oxigêniodissolvido, pelo aumento de sua demanda nadecomposição do material, diminuindo o pHda água (acidez), o que igualmente podeprovocar mortandade em massa dosorganismos confinados.
O transporte dos dejetos do cultivo para oscursos d’água ou, como nos tanques-rede, asua diluição no meio circundante, resultarána degradação dos hábitats e biotas. No casode um reservatório, a capacidade de diluiçãoe minimização dos impactos sobre a biotadependerá da circulação da água. Dequalquer maneira, reservatórios costumamser os receptores de todas as ações realizadasno seu entorno, e a aqüicultura pode ser umafonte a mais de nutrientes, podendo adquirirrelevância em escala local (TEMPORETTI;
ALONSO; BAFFICO; DIAZ; LOPEZ; PEDROZO;
VIGLIANO, 2001; ALVES; BACCARIN, 2005) e levara mortandades em algumas áreas. Alémdisso, a longo prazo, o recebimento de umacarga constante de poluentes a partir daaqüicultura pode superar a capacidade dosistema em absorver e metabolizar essesresíduos, resultando em sua eutrofização(PENCZAK; GALICKA; MOLINSKI; KUSTO; ZALEWSKI,1982), com impactos relevantes nascomunidades planctônicas, com destaque àtendência de proliferação de cianobactérias(BEVERIDGE, 2004).
Com os tanques-rede há a agravante de osinsumos alimentares serem lançadosdiretamente na água do reservatório(AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR, 1999;DIAZ; TEMPORETTI; PEDROZO, 2001; TACON;
FORSTER, 2003; ALVES; BACCARIN, 2005). Tudoque não é consumido ou assimilado, alémdos produtos da excreção dos animaiscultivados, contribui para o processo deeutrofização do ambiente. Parte do materialsolúvel é imediatamente respirada pormicroorganismos decompositores,demandando consideráveis aportes deoxigênio (NAVA, 1989). A taxa desedimentação de resíduos sob as gaiolastambém é altíssima (PENCZAK; GALICKA;
MOLINSKI; KUSTO; ZALEWSKI, 1982; BEVERIDGE,1987), deplecionando as concentrações deoxigênio. O intenso aporte de N e P promovea proliferação de algas nas redondezas, alémde alterar a comunidade zooplanctônica ezoobêntica. Em estudo num lago chinês, Guoe Li (2003) estimaram que os efeitos daeutrofização podem ser perceptíveis, a olhonu, num raio de até 50 m de distância dosistema de cultivo.
Como exemplo, no lago Kariba, África,Troell e Berg (1997) avaliaram a taxa dedeposição média de ortofosfato (PO4) enitrogênio amoniacal (NH4) no sedimentolocalizado sob tanques de cultivo, e nosedimento de locais sem os tanques(controles). A Figura 6.3.3 apresenta essesresultados, e é evidente como a taxa desedimentação foi substancialmente superiornas zonas de cultivo. Os autores destacamque tal fenômeno, antes observado e descritopara cultivos intensivos de salmonídeos deregiões temperadas, ocorre de maneira
290 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Tratamentos
0
10
20
30
40
Controle 1 Controle 2 Cultivo
NH4
Tratamentos
0
1
2
3
4
5
6
Controle 1 Controle 2 Cultivo
PO4
mg/m
²/dia
mg/m
²/dia
Figura 6.3.3 - Taxa de sedimentação de nitrogênio amoniacal (NH )e ortofosfato (PO ) em três localidades no lago Kariba, África.Dois dos locais estudados situavam-se fora da zona de cultivo(Controles 1 e 2), enquanto que no terceiro local, o sedimentofoi amostrado sob tanques flutuantes utilizados para o cultivode peixes (Fonte: , 1997).
4
4
TROELL; BERG
similar em regiõestropicais. De fato, noreservatório de NovaAvanhandava, bacia do rioTietê, o cultivo em tanques-rede modificou as taxas desedimentação de materiaisem suspensão, aumentou acondutividade e asconcentrações de N e P naágua, e provocouacidificação (ALVES;
BACCARIN, 2005).
A deposição de restos dealimento e fezes sob ou nasimediações de tanques-redeé, portanto, inevitável. Oresultado dessasedimentação é o acúmulode matéria orgânica enutrientes, afetando osprocessos químicos pelaelevada demanda deoxigênio, tornando esseambiente crescentementeanóxico, liberandocompostos de nitrogênio efósforo na água, podendo resultar ememissões relevantes de gás sulfídrico. Emrelação às comunidades bentônicas, comdestaque ao macrozoobentos, são esperadasalterações relevantes em sua estrutura ecomposição, com redução no número deespécies e incremento de biomassa. Espéciestolerantes à poluição, como oligoquetas ealguns quironomídeos, tornam-sedominantes e aquelas sensíveis, como osefemerópteras, desaparecem (BEVERIDGE,2004).
O cálculo da capacidade de suporte doambiente é uma estratégia comum para seestabelecer a biomassa máxima de peixessuportável na área, sendo baseadaprincipalmente no aporte de nutrientes. Nocaso de tanques-rede, esse cálculo permiteestabelecer o volume de produção e tambémo número de tanques a serem instalados.
O conhecimento desses limites é importante,pois orienta o produtor sobre o número depeixes, a produtividade e a quantidade de
Aqüicultura 291291291291291
ração necessária, com o objetivo de balancearo esforço de produção e as condições doambiente de cultivo. Quando a entrada denutrientes é intensa – situação comumenteobservada em cultivos intensivos e semi-intensivos – a determinação da capacidade desuporte e a determinação de uma biomassade peixes condizente com esse limite sãoaspectos fundamentais para a manutenção daprodução e da qualidade ambiental. Existemfórmulas que permitem esse cálculo, queconsideram, principalmente, a entrada denutrientes, a dimensão do sistema, o tempode residência da água e a taxa desedimentação desses nutrientes (BEVERIDGE,2004). Essas estimativas devem, no entanto,ser feitas para cada local e em diferentesépocas do ano, de preferência utilizandoséries históricas de informação, dado que emreservatórios há grande heterogeneidadeespacial e temporal na taxa de renovação daágua e nas condições tróficas. É relevanteconsiderar que os cultivos demandaremquantidades variáveis de ração conforme afase em que se encontram.
Para ilustrar a dimensão do aporte denutrientes em sistemas de aqüicultura,durante a fase de alevinagem é sugerido ofornecimento de uma alimentação diária emquantidade equivalente a até 20% dabiomassa dos peixes confinados. Essepercentual diminui com o desenvolvimentodo peixe, e, quando adulto, na fase deengorda, a quantidade usual fica entre 1,5 e7% da biomassa (TEIXEIRA FILHO, 1991; PADUA,2001). Nota-se que essa quantidade podeatingir elevados valores, dependendo daquantidade de organismos estocados. Porexemplo, Teixeira Filho (1991) sugere que
uma densidade de peixes de 10 t.ha-1 é umvalor razoável para águas brasileiras. Logo,se considerarmos um aporte de 5% dabiomassa de peixes em cultivo, serianecessário um aporte de alimento de,aproximadamente, 500 kg.ha-1 dia-1 ou 0,05kg.m2 dia-1.
Especialmente no caso de tanques escavados,podem existir fontes adicionais denutrientes, que é o caso da adubação comfertilizantes. Tal procedimento é comum aesses cultivos e realizado no intuito deelevar a produtividade de todo o sistema. Éimportante destacar que, no Brasil, umaconsiderável porcentagem dos produtoresexecuta o cultivo na sua forma semi-intensiva (Tabela 6.3.2). Essa modalidadetende a administrar uma grande quantidadede insumos fertilizantes (ração e adubagem),a fim de manter uma produtividade entre 2 a6 t.ha-1 ano-1 (PADUA, 2001).
Existem técnicas que reciclam o materialfertilizante administrado, ou tratam a águaque flui pelo sistema, retendo parte dosnutrientes (LIN; YI, 2003; PIEDRAHITA, 2003). Anecessidade de sua implantação é elementar,porém essas técnicas não têm sido muitoconsideradas por pequenos produtores. Umaalternativa promissora se refere ao uso de“biofiltros” ou “wetlands” artificiais.Sipaúba-Tavares, Fávero e Braga (2002)apresentam um sistema barato e acessível, noqual macrófitas aquáticas flutuantes sãoutilizadas para absorver os compostosfertilizantes presentes nos efluentes dostanques. Posteriormente, essas macrófitassão removidas e utilizadas como adubosorgânicos em sistemas de agricultura. Cabe a
292 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
importante ressalva, no entanto, de que, porrazões óbvias, existe a impossibilidade dotratamento ou retenção da carga de insumosno caso dos tanques-rede.
Ainda em relação aos tanques escavados,estes, periodicamente, devem ser esvaziadospara o preparo ou tratamento corretivo(PADUA, 2001). O objetivo desseprocedimento pode ser somente aoxigenação do solo, a oxidação da matériaorgânica depositada ou mesmo correções dopH, mas pode também ser necessária adesinfecção da área. Em geral, estesprocedimentos envolvem a aplicação deprodutos químicos como cal virgem,hidratada ou hipoclorito de sódio. Essescompostos são tóxicos aos organismosquando em altas concentrações, e, se nãovolatilizarem substancialmente antes doenchimento do tanque, podem ser carreadospara os cursos d’água naturais, com impactosinerentes a esse tipo de poluição. Calagem edispersão de sal são procedimentos de rotinana aqüicultura, e, quando em demasia,podem promover alterações na salinidade ealcalinidade dos cursos d’água.
Recentemente, um problema bem conhecidode países europeus e norte-americanos vemocorrendo também em águas brasileiras: oentupimento dos encanamentos dos sistemasde cultivo (fouling). O agente causador dessasobstruções tem sido o mexilhão douradoLimnoperna fortunei, que foi introduzido porágua de lastro na foz do rio da Prata ealcançou os trechos altos das bacias dos riosParaná e Paraguai (DARRIGRAN; DAMBORENEA;
PENCHASZADEH; TARABORELLI, 2003). Essemolusco fixa-se nas superfícies sólidas de
qualquer material submerso, podendoentupir as tubulações e encanamentos em umcurto período de tempo, demandando aremoção mecânica, porém eventualmente ouso de compostos químicos paradesobstrução ou prevenção (anti-foulants;COSTELLO; GRANT; DAVIES; CECHINI;
PAPOUTSOGLOU; QUIGLEY; SAROGLIA, 2001). Oscompostos utilizados têm princípiosbiocidas, à base de chumbo, sendo sualiberação direta nos corpos d’água receptoresuma nova modalidade de poluição. Devidoao fato de o mexilhão dourado se fixar emqualquer tipo de estrutura submersa, deforma agressiva e rápida, os tanques-redeinstalados em reservatórios com a presençadessa espécie invasora têm sidofreqüentemente acometidos e avariados. Oprincipal problema da incrustação dessemolusco é a obstrução das telas da gaiola,que dificulta a renovação da água dentro dotanque-rede e deteriora sua qualidade. Alémdisso, a incrustação nas estruturas é tãoagressiva que pode provocar seuafundamento por excesso de peso,ocasionando prejuízos ao produtor. Essesepisódios, frutos de um mal manejo, têmsido registrados no reservatório de Itaipu(Figura 6.3.4).
Disseminação de doenças: a ocorrência dedoenças e infestações parasitárias nosorganismos em cultivo é um dos problemasmais conspícuos da aqüicultura mundial(SCHOLZ, 1999). Entre os organismoscausadores de doenças estão parasitas,bactérias, fungos e vírus. Algumascaracterísticas do cultivo em tanques-redesão favoráveis à disseminação de doenças eepidemias na aqüicultura, destacando-se (i) o
Aqüicultura 293293293293293
Figura 6.3.4 - Incrustação de mexilhão-douradonas estruturas de tanques-rede instalados no
reservatório de Itaipu (Foto: E. K. Okada).
Limnopernafortunei
confinamento dos peixesem altas densidades e odecorrente estresse deestocagem; (ii) o intensotráfego de indivíduos,especialmente matrizes ealevinos entre estações depiscicultura, desde umaescala local atéintercontinental; (iii) oestresse ambientalpromovido por processosde eutrofização e dedecomposição decorrentesdo grande ingresso denutrientes e matériaorgânica.
Os sistemas de cultivos fechados não sãorealidades no Brasil. A prática da aqüiculturaem sistemas abertos, com lançamento deefluentes nos cursos naturais, facilitaconsideravelmente a dispersão de patógenosno ambiente. Assim, a disseminação deparasitas e doenças para corpos d’águanaturais se constitui em ameaça permanenteà integridade da fauna e flora silvestres.
Acredita-se que a disseminação do crustáceoparasita Laernea cyprinacea em riosbrasileiros tenha ocorrido devido àimportação, pela piscicultura, de carpascontaminadas, que trouxeram o parasita deseus ambientes de origem (VIEIRA; POMPEU,2001). Na bacia do rio Paranapanema,Gabrielli e Orsi (2000) verificaram elevadaocorrência desse parasita em tanques decultivo localizados em diferentespropriedades. Aspecto preocupante é que onúmero de propriedades infectadas
aumentou progressivamente de 1995 a 1999(Figura 6.3.5). Com as cheias catastróficas de1998, que promoveram o rompimento detanques e represas e resultaram no escape demais de um milhão de indivíduos não-nativos nesta bacia (ORSI; AGOSTINHO, 1999), aincidência dessa doença aumentoudrasticamente entre várias espécies nativasem seu ambiente natural (GABRIELLI; ORSI,2000).
Em tanques-rede, a possibilidade deinstalação e disseminação de doenças pelasespécies em cultivo é notavelmente maior.Nessa modalidade de cultivo está implícito oemprego de elevadas densidades, nas quaisos indivíduos são submetidos a maiorestresse, facultando a proliferação dedoenças. Além disso, o contato praticamentedireto dos indivíduos confinados no cultivocom a fauna local do lado de fora é ampliadopelo adensamento destes últimos, atraídos
294 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Nú
me
rod
ere
gis
tro
s
Anos
0
10
20
30
40
50
1995 1996 1997 1998
Figura 6.3.5 - Número de propriedades com registro denos peixes mantidos em tanques de aqüicultura,
localizados na bacia do rio Paranapanema (Fonte:, 2000).
Laerneacyprinaceae
GABRIELLI;ORSI
pela constante oferta dealimento (DEMPSTER;
SANCHEZ-JEREZ; BAYLE-
SEMPERE; KINGSFORD, 2004).
Um parasita potencialmentetransmissível e quepreocupa pelo seu poder deinfestação, tanto de espéciesnativas quanto de peixescultivados, é a têniaDiphyllobothrium latum, queinfesta a carne dos peixes.Ainda não registrada empeixes brasileiros, nostanques-rede poderia serum foco preocupante, principalmente se opescado for consumido na forma crua oumalpassada. O hospedeiro definitivo(mamíferos, incluindo o homem) libera osovos que são ingeridos por microcrustáceose estes por peixes, onde irão infestar seustecidos. Como as águas nos tanques-redecirculam livremente, a possibilidade daingestão é aumentada. Além disso, valelembrar que no Brasil somente 10% daságuas de esgoto são tratadas antes de seremlançadas nos cursos d’água (IBGE, 2006).
A concentração de peixes e outros animais,especialmente vertebrados, na área decultivo pode ainda levar ao estabelecimentode ciclos de parasitas, que de outra formaseria altamente improvável. Aves piscívoras,por exemplo, podem atuar comohospedeiros intermediários do nematóideContracaecum e mamíferos piscívoros podemter papel fundamental no ciclo do trematóidedigenético Haplorchis, ambos parasitas detilápias.
Outro problema é a contaminação da águacom medicamentos utilizados no tratamentoe prevenção das epidemias, como hormônios,vacinas, antibióticos e desinfetantes. No casode infestações parasíticas e doenças nosanimais, a aplicação de antibióticos(fungicidas e bactericidas) pode ser deletériapara as comunidades microbianas dos corposd’água contíguos, levando a alterações nosciclos biogeoquímicos de alguns elementos,como o nitrogênio. Suspeita-se que mais de70% da carga de antibióticos aplicada emconjunto com a ração não seja consumidapelos organismos, sendo depositada nosedimento (HALLING-SORENSEN; NIELSEN; LANZKY;
INGERSLEV; LUTZHOFT; JORGENSEN, 1998;LALUMERA; CALAMARI; GALLI; CASTIGLIONI; CROSA;
FANELLI, 2004). Além disso, a aplicaçãoindiscriminada de antibióticos pode favorecero desenvolvimento de resistência microbianaaos medicamentos, nos organismos emcultivo e até mesmo em seres humanos(HOLMSTROM; GRASLUND; WAHLSTROM;
POUNGSHOMPOO; BENGTSSON; KAUTSKY, 2003).
Aqüicultura 295295295295295
Atração de predadores: as perdas dealimento no processo de cultivo,especialmente em tanques-rede, exercemgrande atração sobre espécies de peixes dafauna nativa, promovendo sua concentraçãonas imediações dos tanques. Tal fato leva,por outro lado, à concentração de outrosanimais, piscívoros facultativos ouobrigatórios, especialmente vertebrados,como répteis, aves e mamíferos, atraídospela elevada disponibilidade de presas.Além do já mencionado aumento naprobabilidade de fechamento de ciclo devida de parasitas, verifica-se também umaelevação na pressão de predação eincrementos nos riscos de avarias nasestruturas dos tanques-rede, levando aoescape dos animais cultivados. Oincremento na densidade de peixes atraitambém os pescadores para a área docultivo, sendo isso uma fonte relevante deconflito entre esses profissionais e osprodutores, caso medidas de ordenamentonão sejam adotadas (BEVERIDGE, 1984) erespeitadas.
Introdução de espécies não-nativas: aintrodução de espécies não-nativas,independentemente de sua veiculação, étida hoje como um dos maioresdeterminantes da perda de biodiversidade erecursos naturais (MACK; SIMBERLOFF;
LONSDALE; EVANS; CLOUT; BAZZAZ, 2000). Dessaforma, a introdução de espécies não-nativasé considerada como uma das maisagressivas formas de poluição biológica,com a agravante de que sua erradicação,após o estabelecimento no ecossistema, étida como impraticável. Dentre os muitosefeitos deletérios decorrentes de uma
introdução, estão a hibridização com asespécies nativas, a desestruturaçãopopulacional, disseminação de doenças,predação, competição por recursos e atéextinções (para detalhes de tais efeitos, verCapítulo 6.6).
A introdução de espécies aquáticas é umtema indissociável da aqüicultura, visto queescapes são fatos inevitáveis e, em todo omundo, estes se constituem na principalfonte de introdução de espécies não-nativas(WELCOMME, 1988; NAYLOR; WILLIAMS; STRONG,2001). Fato similar vem sendo constatado noBrasil, especialmente após as restriçõeslegais de estocagem de espécies não-nativasdos corpos d’água naturais, responsável atéentão por massivas introduções deliberadas(ver Capítulo 6.2). Entre os fatores queelevam o potencial da aqüicultura emintroduzir espécies destacam-se (i) afascinação exercida pelas espécies não-nativas e híbridos nos aqüicultoresbrasileiros, (ii) o descuido com oconfinamento, (iii) a precariedade dasinstalações, (iv) o cultivo em áreasmarginais sujeitas a inundação em cheiasextremas e (v) ações imprudentes de manejo(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1996; ORSI;
AGOSTINHO, 1999).
O uso de espécies não-nativas foiintensamente fomentado por agênciasgovernamentais, sem a devida preocupaçãocom a segurança no confinamento dessespeixes, com os aspectos sanitários damaioria das instalações e, principalmente,sem o adequado investimento nodesenvolvimento de tecnologias de cultivode espécies nativas. Assim, a despeito da
296 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
imensa diversidade ictiofaunística existenteno Brasil, sempre existiu uma enormepredileção pelo cultivo de espécies não-nativas, provenientes de outros continentes(tilápias e carpas), transferidas entre bacias(piauçus, tambaquis, pacus) ou mesmohíbridas.
Importações de peixes realizadas legal ouilegalmente por produtores de alevinos,aliadas a uma intensa propaganda articuladacom a apologia destas como a melhor opçãopara a piscicultura, muitas vezes com apoioda mídia e anuência de órgãos públicos, sãorecorrentes no país. Nesses casos, a produçãoe a comercialização de alevinos são iniciadassem que qualquer pesquisa sobre aadequação da espécie às condições regionaistenha sido feita, ignorando potenciaisimpactos à fauna nativa, e mesmodesconhecendo sua viabilidade econômica.Fracassos na atividade levam os piscicultoresa desistir do cultivo da espécie, eliminandoindivíduos no ambiente natural. Essaseqüência de fatos tem resultado em lucrospara o produtor de alevinos e prejuízos paraos piscicultores e à fauna nativa.Lamentavelmente, muitos piscicultoresorgulham-se de contar com uma novaespécie no plantel, principalmente quandooriunda de regiões distantes, propaladacomo “salvadora da piscicultura brasileira”(ver, por exemplo, PUPIM, 2005). Espéciescomo o bagre africano, o bagre-de-canal(americano) e alguns tipos de carpa e tilápiachegaram aos rios brasileiros dessa maneira.
Ironicamente, apesar de a introdução deespécies ser legalmente proibida no país, oque deveria restringir sobremaneira as
importações e a comercialização dessasespécies, agências ligadas ao governocontinuam a estimular o cultivo de espéciesnão-nativas. Essas agências colocam, porexemplo, como prioridade entre suasdiretrizes para o setor, a consolidação docultivo de tilápias e carpas na região Sul doBrasil (EMBRAPA, 2005), a despeito dasincertezas sobre sua rentabilidade e dospotenciais impactos negativos sobre a faunanativa e o funcionamento dos ecossistemas. Éoportuno ressaltar que uma série detrabalhos documenta os impactos negativosderivados da introdução de tilápias sobre afauna e flora residentes em diversas partesdo planeta (McKAYE; RYAN; STAUFFER, Jr.; LOPEZ
PEREZ; VEGA; BERGHE, 1995; HALL; MILLS, 2000;PÉREZ; SALAZAR; ALFONSI; RUIZ, 2003; PÉREZ;
ALFONSI; NIRCHIO; MUÑOZ; GÓMEZ, 2003; PÉREZ;
MUÑOZ; HUAQUÍN; NIRCHIO, 2004).
A mesma tendência é observada em termosde esforço aplicado em pesquisas. Parteconsiderável de recursos financeirosnacionais destinados à pesquisa é aindaconsumida por estudos envolvendo oaprimoramento do cultivo de espéciesexóticas. Para exemplificar isso, fizemos umlevantamento dos trabalhos científicospublicados nos periódicos indexados pelabase de dados Scielo (www.scielo.org), queindexa diversos periódicos sul-americanos. Apesquisa foi realizada em junho de 2005,utilizando a palavra-chave “aqüicultura orpiscicultura”, que retornou 140 artigos,sendo 57 relacionados à aqüicultura compeixes de água doce no Brasil. Destes, 36trabalhos (63%) consideraram espéciesneotropicais, avaliando principalmente suaviabilidade econômica e aspectos
Aqüicultura 297297297297297
nutricionais, destacando o piauçu Leporinusmacrocephalus, o bagre Rhamdia quelen, otambaqui C. macropomum e espécies de pacu.O restante dos trabalhos (37%) teve espéciesexóticas como alvo de pesquisa, avaliandosuas performances no cultivo ouestabelecendo procedimentos operacionaispara aumentar o rendimento. Nesse grupo,as espécies mais estudadas foram bagreafricano, bagre-de-canal, carpas e,principalmente, espécies de tilápias.Considerando que esses estudos forampublicados majoritariamente entre 2000 e2004, fica evidente que as agências quefomentam a pesquisa no país aindaapresentam certa predileção pelofinanciamento de pesquisas que visam oaprimoramento de técnicas de cultivo comespécies exóticas.
Uma tendência recente na aqüiculturabrasileira é a criação de híbridos, como os detambacu ou paqui (pacu x tambaqui), ponto-e-vírgula (pintado x cachara), pirabim(cachara x pirarara), entre outros. O escape depeixes híbridos ou geneticamentemodificados (OGM) dos tanques depiscicultura se constitui em ameaça relevanteà fauna nativa. A possibilidade de algunsdesses indivíduos reproduzirem com seusanálogos nativos é um risco real para aintegridade genética das populações destesúltimos. Além da grande fascinação que oaqüicultor tem pelas “novidades”, a boaperformance de alguns híbridos em cultivomotiva o emprego dessas aberrações naaqüicultura brasileira. A presença de algunsdesses híbridos já é registrada em cursosd’água da bacia do rio Paraná e no rioCuiabá (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ.NUPELIA, dados não publicados).Embora o uso de OGM na aqüicultura doBrasil seja ainda incipiente, é esperado que,nessa busca pela novidade, estes sejam logoobjetos de interesse dos produtores dealevinos.
Além da estrutura física inapropriada, alocalização dos tanques também é um fatorpreponderante na facilitação dos escapes,visto que usualmente encontram-seconectados aos cursos naturais de água. Alémdisso, é comum que esses tanques estejaminstalados na faixa marginal dos rios (área depreservação permanente), que pode seralagada em anos de cheias excepcionais. Emgeral, os locais de cultivo são portas deentrada para espécies não-nativas. Os jámencionados escapes de um milhão depeixes (11 espécies, sendo 10 não-nativas) nabacia do rio Paranapanema não seconstituem em fenômeno isolado, mas, sim,em um dos raros casos estudados no país(ORSI; AGOSTINHO, 1999).
Nos barramentos construídos no leito depequenos rios, para fim de produção semi-intensiva de peixes ou pesque-pagues, asituação é ainda mais caótica, já quetransbordamento e ruptura de diques sãoepisódios comuns durante cheias intensas.Além disso, em alguns casos, as espécies não-nativas podem alcançar livremente regiões amontante, ou atingir áreas a jusante,transpondo a barreira pelos vertedouros oumonjes.
Outro vetor de introduções está no manejodo cultivo por ocasião da seleção de
298 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
tamanho. Nestas ocasiões, os exemplaresrejeitados no processo são liberados a jusanteAlém disso, os peixes remanescentes ao finaldo cultivo, especialmente alevinosresultantes de reproduções indesejadas, são“descartados” durante o esvaziamento dosistema. Esse é um procedimento de rotinaem muitas pisciculturas com tilápia,incluindo aquelas que asseguram estaremusando plantéis com um único sexo(FERNANDES; GOMES; AGOSTINHO, 2003).
Os pesque-pagues, que proliferaram nametade final da década de 1990, representamtambém relevante ameaça. Eles têm sidoresponsabilizados pela profusão de espéciesnão-nativas em pequenos cursos d’água doSul e Sudeste, visto que é prática comum oesvaziamento dos tanques e o lançamento degrande quantidade de juvenis de espéciesque se reproduzem em confinamento ouformas adultas de outras, nos corpos d’águacontíguos. Uma avaliação conduzida porFernandes, Gomes e Agostinho (2003) naregião de Maringá/PR revelou grandequantidade de alevinos e juvenis de espéciesnão-nativas, tanto nos tanques onde sepraticava a pesca, quanto nos riachospróximos. Acredita-se que a recenteproliferação de tilápias no reservatório deBarra Bonita tenha principalmente essaorigem.
Recentemente, com a criação da SecretariaEspecial da Aqüicultura e Pesca peloGoverno Federal, o fomento ao cultivo emtanques-rede em águas públicas tende aelevar os riscos de contaminação biológicapor espécies introduzidas. Entre os tipos deinstalação para a criação de peixes, os
tanques-rede são os mais vulneráveis aescapes, sendo tais acidentes consideradosinerentes a essa modalidade de cultivo(NAVA, 1989). Os tanques-rede são altamentesusceptíveis a danos provocados em suasmalhas por vendavais, predadores, objetosflutuantes e vandalismo.
Embora o decreto que regula o uso de águaspúblicas pela aqüicultura vede a criação deespécies não-nativas em tanques-redeinstalados em ambientes em que elas nãoestejam estabelecidas (Decreto 4.895 de 25/11/2003, artigo 8), essa é uma prática comumnas áreas em que eles foram instalados.Grande parte das transgressões ao decretodecorre da falta de especificidade do termo“espécie estabelecida”, que, apesar de ser umconceito-chave na tomada de decisões e clarona literatura especializada, é interpretado demodo oportunista.
O uso de espécies não-nativas nos países emdesenvolvimento foi, historicamente,fomentado por organizações internacionaiscomo a FAO, o Banco Mundial e o Banco deDesenvolvimento Internacional (ver, porexemplo, as recomendações de Sugunan,1997, e a discussão de Pérez, Alfonsi,Nirchio, Muñoz e Gómez, 2003). Apenasrecentemente a FAO estabeleceu um códigode conduta para essas atividades, alertandopara os riscos de uma aqüiculturairresponsável.
Modificações nos recursos pesqueiros: aprática da aqüicultura, como já discutida, temgrande potencial de modificarnegativamente sistemas de pescatradicionais, pela alteração na dinâmica dos
Aqüicultura 299299299299299
recursos pesqueiros selvagens e nas formasde seu aproveitamento. Na verdade, ela podese somar a outras atividades econômicasimpactantes, agravando a situação.
A modificação ou destruição de hábitats seconstitui no efeito mais agressivo e imediato(NAYLOR; GOLDBURG; PRIMAVERA; KAUTSKY;
BEVERIDGE; CLAY; FOLKE; LUBCHENCO; MOONEY;
TROELL, 2000). A instalação de estações depiscicultura em hábitats críticos ao ciclo devida de espécies nativas, como áreas devárzea, terá implicações diretas norecrutamento dessas espécies. A drenagemdesses ambientes ou a re-conformação deseus atributos físico-químicos podeminviabilizar etapas da reprodução e interferirna taxa de sobrevivência de juvenis. Nessecaso, é esperada alguma diminuição norecrutamento de indivíduos para a pescaextrativista. Além disso, devido ao fato de aconstrução de reservatórios modificar oumesmo eliminar áreas de importância críticaà sobrevivência de diversas espécies depeixes, a preparação e instalação de tanquesde aqüicultura pode adquirir importânciadecisiva por comprometer áreasremanescentes.
Com isso, os planos da Secretaria Especial daAqüicultura e Pesca do Governo Federal, quevisionam a implantação de parques aqüícolaspara a instalação de tanques-rede emreservatórios, têm grande potencial emafetar remanescentes de hábitats aquáticos,com efeitos diretos sobre os recursosexplorados pela pesca extrativista. Essesparques estão em planejamento e pretendemestabelecer centros de produção de pescadoem alguns reservatórios do país, investindo
na implantação de grandes sistemas detanques-rede e convertendo pescadoreslocais em aqüicultores. Como exemplo, oprojeto de criação de parques aqüícolas noreservatório de Ilha Solteira, bacia do rioParaná, prevê a ocupação da região dedesembocadura de todos os grandestributários que deságuam no reservatório, oque, certamente, promoverá alterações naconformação de seus hábitats marginais.Vale lembrar que a ictiofauna dereservatórios ocupa especialmente hábitatslitorâneos, visto que estes apresentam maiorgrau de estruturação física (ver Capítulo 3). Adisposição dos tanques poderá, inclusive,influenciar a rota migratória das espéciesque porventura ascendam esses tributários,já que pode obstruir seções de rios de menorlargura.
Além disso, apesar de as áreas dessesparques serem definidas com base emavaliações prévias e comporem um plano deuso, a ausência do poder público emmomentos subseqüentes pode levar a umaocupação generalizada e desordenada dazona litorânea de reservatórios e seustributários, criando oportunidades para aocorrência de conflitos sociais e desastresambientais. O Governo Federal tem projetospara a implantação desses parques em seisreservatórios, além de Ilha Solteira, sendoeles Itaipu, Furnas (bacia do rio Paraná),Tucuruí, Serra da Mesa (Tocantins), TrêsMarias e Sobradinho (São Francisco)(www.planalto.gov.br).
Diversos outros impactos decorrentes daaqüicultura podem contribuir para amodificação da pesca, como a degradação da
300 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
qualidade da água, a disseminação dedoenças e, principalmente, a introdução deespécies não-nativas (NAYLOR; GOLDBURG;
PRIMAVERA; KAUTSKY; BEVERIDGE; CLAY; FOLKE;
LUBCHENCO; MOONEY; TROELL, 2000). Essesfatores se somam aos decorrentes de outrasatividades econômicas presentes na bacia e,em maior ou menor grau, podemdesestruturar severamente as populaçõesnaturais exploradas pela pesca. Exemplotípico pode ser observado nos reservatóriosda bacia do rio Tietê, onde a históricapoluição, a destruição de ambientes lóticose a liberação de inúmeras espécies não-nativas contribuíram para a rarefação dasespécies que tradicionalmente mantinham apesca comercial (migradoras), diminuindotambém a diversidade nas capturas. Emrazão disso, os desembarques pesqueirossão compostos majoritariamente porespécies não-nativas, como a corvina e atilápia, que têm menor valor comercial paraa pesca. Aliás, na pesca extrativista, asubstituição de uma rica fauna nativa poralgumas espécies não-nativas(especialmente tilápias, corvina e tucunaré)tem sido fenômeno comum emreservatórios de diversas bacias do Sul eSudeste, conforme discutido no Capítulo 5.
A redução da diversidade ictiofaunística temimplicação em um importante serviço doecossistema, que é o de forneceralternativas à pesca quando o estoque deuma dada espécie, por motivo variado, sedepleciona. A importância desse serviço dabiodiversidade foi bem evidente noreservatório de Itaipu, onde a depleção dosestoques de curimba foi amplamentecompensada pelos do mapará no primeiro
momento, e armado, posteriormente,evitando problemas sociais mais graves emrazão de quedas no rendimento (OKADA;
AGOSTINHO; GOMES, 2005). Além disso, asvariações sazonais nas capturas de umaespécie são compensadas por outras,reduzindo as oscilações nos desembarquesem níveis aceitáveis. Finalmente, adiversidade de espécies capturadas facultauma variedade de espécies ofertadas e apossibilidade de preços diferenciados, demaneira a contemplar diferentes segmentosda população.
Pescador x Aqüicultor
A extensa lâmina d’água formada pelosreservatórios na maioria das baciashidrográficas brasileiras tem, já há algumasdécadas, motivado propostas e iniciativasde seu uso para o cultivo de peixes,especialmente em tanques-rede. Uma dasprimeiras iniciativas no Sul do Brasil coubeà Companhia Paranaense de Energia(COPEL), que no ano de 1974/75desenvolveu um projeto experimental noreservatório de Capivari, na bacia AtlânticaSul, utilizando inicialmente o peixe-reiOdonthestes bonariensis, e posteriormente acarpa e a tilápia do Nilo (FREITAS, L.C.,informação verbal; GODOY, 1985). Problemascom as estruturas dos tanques e commortalidades indicaram as dificuldades comesse tipo de cultivo naquele reservatório.
Propostas audaciosas do uso de águaspúblicas para a criação de peixes emtanques-rede são também antigas. Destaca-se, por exemplo, a de Morais Filho (1976)
Aqüicultura 301301301301301
que preconizava a instalação de 417 milhõesde gaiolas de 1 m2 cada e que ocupariam umterço da superfície total dos reservatórios deSobradinho, Furnas, Ilha Solteira e TrêsMarias (MÜLLER, c1996). Nessa propostaestava prevista a produção de quatromilhões de toneladas de bagre-de-canal,bagre-africano e tilápias.
Entretanto, o fascínio por essa modalidadede cultivo foi impulsionado pela ampladivulgação na mídia dos bons resultadosobtidos com espécies nativas emexperimentos na Itaipu Binacional (CANZI;
BORGHETTI; FERNANDEZ, 1992; BORGHETTI;
CANZI, 1993). O marco relevante para adifusão dos tanques-rede foi estabelecido,por outro lado, com o Decreto 2869 de 09/12/98, que regulamentou o uso das águaspúblicas pela aqüicultura, e com a criaçãoda Secretaria Especial de Aqüicultura ePesca (SEAP), em 1o de Janeiro de 2003.
Como parte das ações de fomento da SEAPestá a tentativa de direcionar as atividadesextrativistas dos pescadores artesanais parao cultivo de peixes. Com o apoio dealgumas concessionárias do setor elétrico,essa Secretaria se propõe a transformar opescador tradicional ribeirinho empescador-aqüicultor, visando provê-lo deuma fonte de renda adicional e reduzir aspressões de pesca sobre os estoquesnaturais.
Para a consecução de seus objetivos, aSecretaria tem-se esforçado para eliminarbarreiras legais ao cultivo de espécies não-nativas, tendo sido bem-sucedida em váriasoportunidades. Embora esse programa
esteja ainda em fase de implantação, osprimeiros resultados demonstram que aatividade, da maneira em que foi concebida,deve resultar em frustração.
O primeiro obstáculo está na privatizaçãode um recurso antes público. A privatizaçãodo bem coletivo, associada à necessidade deespaço para a instalação do sistema, facilitaa ocorrência de mais conflitos numa classesocial já marcada por intensas disputas comoutros segmentos.
A falta de experiência com cultivo aliada àprecariedade da assistência técnica providapelo Estado ou pelas concessionárias é outrafonte de insucesso. Apesar de muitospescadores exercerem atividades alheias àpesca, como a agricultura e ocupaçõestemporárias, no caso da piscicultura, por setratar de sistema intensivo, seria necessárioum programa específico de capacitação dospescadores para executar a atividade.
As questões culturais também sãorelevantes. Um dos aspectos alegados pelospescadores artesanais para o ingresso(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
FURNAS, 2005) ou para se manterem naatividade de pesca (UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MARINGÁ.NUPELIA/ITAIPU BINACIONAL, 2005)foi a autonomia de trabalho, “sem receberordem de patrão” e sem horários fixos. Aaqüicultura, por outro lado, é uma atividadeque requer mais tempo de dedicação do quea pesca extrativista e demanda atividadesdiárias obrigatórias, modificando ocotidiano das pessoas envolvidas, quereceberiam uma carga de obrigação eresponsabilidade incompatível com a sua
302 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
cultura. Além do mais, o pescado édesembarcado e comercializado diária ousemanalmente, assegurando um intensofluxo de dinheiro, que, embora de pequenamonta, é adequado para as necessidades demanutenção familiar de curto prazo. Semcapacidade de investimentos e de se manterpor tempo prolongado sem essas entradasde capital, durante a espera das primeirassafras, o cultivo de peixes torna-seincompatível com suas necessidades. Otempo de retorno financeiro, que paraalgumas categorias sociais é meramenteuma questão de planejamento, para amaioria dos pescadores artesanais torna-sequestão de sobrevivência. Isso mantémmuitos pescadores à margem dosprogramas de cultivo, não porque desejam,mas por restrições culturais.
A questão do investimento demandado paraa aqüicultura em tanques-rede, emborainicialmente menor que nos cultivosconvencionais (CARNEIRO; CYRINO;
CASTAGNOLLI, 1999), é também crítica. Anecessidade constante de insumos paramanter a produção, uma característicamarcante nesta atividade, faz com que ospescadores se tornem dependentes de umconstante aporte financeiro por parte deórgãos oficiais ou das concessionáriashidrelétricas. Com isso fica evidente que osimples fornecimento da infra-estruturabásica (tanques e alevinos), como tem sido aprática atual, é insuficiente. É recorrente orelato de pescadores que investiram naprodução de ração os recursos de saláriodesemprego (período de defeso) e parte dopescado que antes consumiam, sem obter oretorno final esperado.
A prioridade dada pelas políticas públicasnos programas de desenvolvimento dapiscicultura em tanques rede, contrastantecom aquelas de apoio à pesca, cria tambémdistorsões na ocupação do espaço. A soluçãoda implantação de parques aqüícolas, adespeito de ainda incipiente, não tem sidosatisfatória, dado que sob a aparência deordenação de uso elas são destinadas alimitar o espaço dos usos correntes. Alémdisso, não tem sido respeitadas. Já aefetivação das áreas aquícolas estão distantedo idealizado no Anexo VI da IN 06 de 31/05/2004. Além disso, as instalaçõesirregulares são comuns em váriosreservatórios. Este quadro abre portas paraa ocorrência de conflitos entre os usuáriosdos recursos (produtores x pescadores xagricultores). Acesso e instalação deestruturas de apoio nas margens requer queo produtor seja proprietário da áreaadjascente (e, portanto, não pescador) outenha a anuência destes. O fato de váriosreservatórios terem suas áreas divididasentre os pescadores para pesca ou rotas denavegação para os desembarquespesqueiros pressupõe concessões eentendimento com aqueles envolvidos como cultivo. Além disso, sem uma constantefiscalização é grande a possibilidade de quesejam instalados mais tanques que oplanejado, engajando um número maior deprodutores numa área incapaz de comportartal contingente. O planejamento de parquese áreas aquícolas transformam-se emsimples instrumento de retórica se nãoacompanhado de fiscalização rigorosa.Oresultado esperado seria a intensificação deimpactos socioambientais na área, como aocupação massiva de áreas lindeiras,
Aqüicultura 303303303303303
aumento da ocorrência de vandalismo,diminuição da qualidade da água,esgotamento de recursos locais (e.g. lenhapara o preparo da ração), perda de recursospesqueiros, e agravamento de conflitos. OBox 6.3.2 ilustra alguns desses problemas etambém outros de ordem técnica, registradosna região do reservatório de Itaipu, bacia dorio Paraná. Tais acontecimentos já foramregistrados em outras partes do mundo,como nas Filipinas e na Indonésia(BEVERIDGE, 1984). Nestes últimos, o sucessodo cultivo levou a uma proliferação detanques dispostos em áreas muito distintasdo planejado. No caso de reservatórios dosul e mesmo sudeste, a baixa rentabilidade eos problemas com o manejo deve restringir aexpansão da atividade.
A lucratividade dos cultivos em tanques-rede, quando realizados em pequena escala,é outro fator polêmico. Essa modalidade decultivo, embora com baixo custo deinstalação, só é rentável quando envolvegrandes áreas, dados os custos operacionais.Isso é incompatível com a capacidade deinvestimento dos pescadores artesanais.Estudos acerca dessa restrição devem serrealizados antes que os programas defomento sejam difundidos como metas depolíticas públicas.
Nesse contexto, é conveniente comparar orendimento financeiro da pesca artesanalcom o da aqüicultura. Estudos conduzidos noreservatório de Itaipu no ano de 2004(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA/
ITAIPU BINACIONAL, 2005) revelaram umareceita média mensal de R$ 408,00 porpescador (cotação média em 2004: US$ 1,00 =
R$ 2,90), segundo declaração destes, e depelo menos R$ 496,00 se consideradas asmédias das capturas diárias e os preços devenda do pescado, bem como um esforçomensal de 21 dias de pesca. Na pisciculturaparanaense, dados publicados em Ostrenskye Viana (2004) estimam esse valor em R$208,30, considerando a safra de 2003-2004(cotação média no período: US$ 1,00 = R$2,90). Esses autores ressaltam que osprodutores somam cerca de 23.000 pessoas,a maioria de micro e pequeno porte.Embora essas atividades apresentemvariações relevantes de renda dentro decada categoria, sendo a média, portanto,pouco representativa, é relevante o fato deela ser consideravelmente maior na pesca.Ressalta-se que a piscicultura não seconstitui na única fonte de renda para amaioria dos aqüicultores, nem a pesca paraos pescadores.
As metas de governo que visamtransformar o pescador artesanal emaqüicultor, embora bem-intencionadas,padecem de um equívoco de base: fomentaruma atividade econômica sem o adequadoestudo de viabilidade técnica, econômica,social, cultural e ambiental. A criação depeixes em tanques-rede nos reservatóriosbrasileiros, em pequena escala, é uma tarefacomplexa. Ignorar os problemas levantadosacima aumenta a possibilidade de insucessodesses programas, desacreditando aatividade e resultando em prejuízos, tantoaos cofres públicos quanto aos própriospescadores. O caráter disperso da atividadee a baixa produção trazem problemas para aorganização do sistema produtivo, para acomercialização e para a assistência técnica.
304 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
BoBoBoBoBox 6.3.2x 6.3.2x 6.3.2x 6.3.2x 6.3.2
Episódios de ocorrência comum em programas que fomentam o cultivo de peixes emtanques-rede em reservatórios, destinados aos pescadores artesanais ou pequenos produtores,
conduzidos sem a adoção de um manejo técnico adequado.
(Fotos: E. K. Okada)Cena 1 . A estrutura dostanques-rede pode seravariada por intempéries,troncos flutuantes, grandesvertebrados ou vândalos (a),levando ao escape dos peixesem cultivo, o que requerprovidências como vigíliaconstante (iluminaçãoelétrica, por exemplo) (b).
Cena 2. Na produção doalimento para os peixes emcultivo pode haver grandedemanda por lenha (a), quepode ser eventualmenteretirada de áreas depreservação permanente (b).
Cena 3. O grande aporte denutrientes (ração não ingerida,fezes, excretas) nas áreas decultivo pode propiciargrandes proliferações demacrófitas aquáticas (a) ouflorações de cianobactérias(b), às vezes tóxicas.
Cena 4. Intempéries podemdestruir flutuantes (a), o queobriga o piscicultor aimprovisar, usando, porexemplo, recipiente vazios debiocidas (b), que têmpropriedades químicasextremamente nocivas aomeio ambiente.
a b
a b
a b
a b
Aqüicultura 305305305305305
Considerações Finais
Em águas interiores brasileiras, a produçãopesqueira realizada pela aqüicultura vemaumentando ao longo dos anos, enquanto quea extrativista tem-se estagnado. Espera-se,portanto, que essa atividade adquira cada vezmais relevância econômica no cenárionacional, como já preconizado pelasexpectativas da Revolução Azul. Entretanto,ao mesmo tempo, é certa a intensificação dosproblemas econômicos, ambientais e sociaisque acompanham essa atividade.
A análise da situação atual da aqüicultura noBrasil demonstra que, da forma com que elaestá sendo fomentada, será muito difícil aconsecução das metas conservacionistas esociais propaladas nas políticasgovernamentais para o setor, ou seja, aliviar apressão pesqueira sobre os estoques naturais,erradicar a fome ou garantir alternativaseconômicas para setores excluídos dasociedade. As ações de fomento dos órgãosoficiais para o desenvolvimento dessaatividade em águas públicas, por exemplo,vêm sendo caracterizadas pelo oportunismo eo descuido com regras básicas, tantoambientais quanto econômicas,transformando a atividade em um importantevetor de impactos. A falta de clareza nosobjetivos não permite sequer identificar ofoco dessas políticas, como por exemplo, osverdadeiros beneficiários (pequeno produtor,grandes corporações, pescadores ou osrecursos pesqueiros).
Negligências em relação ao controle daatividade de cultivo, especialmente na
localização dos empreendimentos e naspráticas inadequadas de manejo, representamgrandes ameaças de poluição de mananciais,disseminação de doenças, introdução deespécies não-nativas e liberação de indivíduoscom baixa variabilidade genética, com aconseqüente perda de recursos pesqueiros.Nos tanques escavados os problemas maisrecorrentes se relacionam à localização nasproximidades de rios e ribeirões (muitasvezes na faixa de preservação permanente) e àfalta de infra-estrutura básica, comomecanismos de segurança no confinamento etratamento de efluentes.
Em relação aos tanques-rede, os problemas seagravam com a expansão desordenada daatividade nas águas públicas, sendofreqüentes instalações fora das áreas previstasno planejamento (parques aqüícolas ou áreasaqüícolas). Ressalta-se, também, acomplexidade das variáveis envolvidas com acapacidade de suporte e a fragilidade doscritérios para se estabelecer os parquesaqüícolas nos reservatórios, destacando-se oconflito entre as demandas por locaisapropriados (sede dos potenciais interessados,requisitos necessários para odesenvolvimento dessa modalidade decultivo) e a importância da área para aconservação dos recursos pesqueiros,preservação ambiental e demais usos. Alémdisso, o estabelecimento da capacidade desuporte desses parques é também uma tarefadifícil, em face das variações temporais eespaciais das condições limnológicas de umadada área do reservatório.
O elevado risco de escapes de espécies não-nativas, especialmente de tanques redes, tem
306 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
sido motivo de grandes embates entreprodutores de alevinos, aqüicultores,órgãos ambientais, ambientalistas ecientistas. Posições antagônicas em relaçãoao tema, motivada predominantemente porrazões econômicas, políticas ou de puraintransigência, tem prejudicado oentendimento popular sobre os reaisprejuízos socioambientais destes escapes.Somente um esforço conjunto entre acomunidade científica, os órgãos deimprensa e o governo permitirá oesclarecimento público dos problemasrelacionados a estas atividades, inibindoiniciativas eleitoreiras e posturasnegligentes do problema pelos tomadoresde decisão. Aliás, esforço semelhante é
necessário para a ordenação da atividade deaqüicultura como um todo.
Por fim, destaca-se a dificuldade vivenciadapelas agências de fomento da aquicultura natransformação do pescador tradicional emaqüicultor. Essa conversão implica emmodificações culturais, requer assistênciatécnica contínuada e um sistema decomercialização de pescado adequado,sendo estes dois últimos quesitosdificultados pelo caráter disperso daatividade. É também necessário comprovartambém que o cultivo em tanques-rede,numa escala reduzida, seja rentável e tenhasustentabilidade sem os fartos subsídiosatualmente oferecidos.
Introdução
Entre os efeitos ambientais negativospromovidos pelo represamento de riosestão aqueles ligados ao livre trânsito dospeixes migradores entre seus sítios dedesova, desenvolvimento inicial ealimentação. Assim, a opção pela produçãode energia através de hidrelétricas, emboraevite uma série de impactos comuns aoutras modalidades de produção, afetaadversamente os movimentos dos peixes.
Os movimentos ascendentes, na ausênciade facilidades para transposição, podem serbloqueados. Mesmo quando essasfacilidades estão presentes, essesdeslocamentos podem ser retardados,alterando a quantidade, a qualidade e aacessibilidade dos peixes a habitatsbiologicamente fundamentais. Já naquelesdescendentes, os peixes são submetidos ainjúrias ou morte ao passar pelovertedouro ou turbinas, sendo estasúltimas a única via aos trechos a jusantequando o primeiro não está em operação.
Além disso, as condições hidrodinâmicasnos trechos imediatamente a jusante dabarragem durante a parada e partida dasunidades geradoras podem promover aatração de cardumes, seguida doconfinamento no canal de fuga (tubo desucção) e morte por asfixia ou pelaturbulência excessiva.
Injúrias ou mesmo grandes mortalidadesde peixes decorrem tanto do contato destescom a estrutura física dos componentes dabarragem (vertedouro e turbinas) quantodas condições hidrodinâmicas criadasdurante a operação da usina.
Entre os fatores que afetam a intensidadecom que esses impactos ocorrem destacam-se (i) o desenho dos componentes dabarragem, (ii) os procedimentosoperacionais, (iii) a natureza da ictiofaunaregional, e (iv) a abundância de peixes nasimediações, esta relacionada à época doano.
Os raros inventários de mortalidade depeixes em barragens têm computado
Capítulo 6.4Mortandades de Peixes em Barragens:
causas e mitigação
308 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
apenas os indivíduos efetivamente mortosou próximos à morte. Entretanto, amortalidade de peixes induzida pelasestruturas e operações de barragens deveconsiderar também o fato de que esta podeocorrer posteriormente. Embora de difícilestimativa, peixes submetidos a fortesestresses ou pequenas injúrias podemderivar a jusante, morrendo mais tarde pelaação de predadores, fungos e parasitas.Desorientação, remoção de escamas oumuco, perdas da capacidade sensitiva oulocomotora são alguns dos aspectos quetornam peixes estressados susceptíveis àpredação ou infecção. Dado o seu caráterpouco conspícuo, também a mortalidade delarvas e juvenis não é considerada nessesinventários.
Outro aspecto equivocado em relação àavaliação de mortalidades é considerar oimpacto destas sobre os estoques naturaisproporcional à quantidade de peixe morto.Embora uma mortalidade elevada tenhaimpacto visual extraordinário e seja umafatalidade ao nível de indivíduo, ela pode terum significado menor ao nível de população.
A severidade de um evento de mortalidadedepende dos atributos populacionais, ou seja,tamanho da população, estrutura emcomprimento, peso e idade, taxas demortalidade natural e por pesca, capacidadereprodutiva, etc. Entretanto, minimizar oevento sem qualquer informação confiávelsobre esses atributos, como é freqüentenesses casos, é, também, uma atitude errônea.
Os escassos dados existentes sobremortalidades de peixes em barragens
brasileiras mostram valores extremamentevariados, seriando de alguns peixes mortosa toneladas deles. Essa variação é esperadaem razão da grande variedade de desenhosde turbinas e procedimentos operacionais,além das peculiaridades de cada rio eictiofauna. Padrões gerais nesses eventos são,portanto, pouco prováveis de serem obtidos,dada sua natureza local-específica.
Entretanto, o fato de essas mortalidadesserem tratadas como temas sigilosos (àsvezes, nem mesmo o departamento de meioambiente da empresa tem acesso a todas asinformações) tem prejudicado oentendimento e a mitigação do problema. Osimpactos negativos de tais eventos na mídiae o receio de multas vultosas queeventualmente são aplicadas pelos órgãos decontrole ambiental dificultam a discussãoaberta e a troca de informações entre asconcessionárias, e destas com as instituiçõesde pesquisa. Assim, embora as mortalidadesem barragens ocorram há décadas, poucoaprendemos sobre o processo.
Causas das Injúrias e Mortesde Peixes
A perda de peixes em projetoshidrelétricos, a exemplo daquelas dederivação para termo-elétricas, irrigação eabastecimentos urbanos ou industriais,embora algumas vezes consideradarelevante, não tem sido investigada naAmérica do Sul. Mesmo na América doNorte, onde a hidroeletricidade também temimportante participação na matriz energéticae a busca da conservação dos estoques de
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 309309309309309
salmonídeos, principal espécie afetada poressas perdas, é tida como prioritária, asinformações sobre as causas, a tecnologiadisponível para atenuação e as açõesmitigadoras recomendadas são muitas vezescontroversas.
Em um documento publicado pela Seção deBioengenharia da American Fisheries Society(TAFT; BATES; BRUSH; HARN; SOLONSKY; WHITMAN;
ZAPEL, 2000) a relutância das agênciasambientais em aceitar a maioria dastecnologias e procedimentos propostos paraa mitigação do problema é atribuída aosseguintes fatores:
(i) a inconsistência dos resultados daavaliação dessas técnicas em relação àsua efetividade, com conclusões distintasentre locais, ou anos em um mesmolocal;
(ii) a maioria dos resultados obtidos nopassado estão contidos em relatórios eanais de encontros que são consideradoscomo grey literature (literatura cinzenta),e muitos profissionais relutam emaceitar testes que não são submetidos arevisões pelos pares;
(iii) inventores, fabricantes e/ouvendedores têm conflitos de interessesao apresentarem os resultados de testesde efetividade de seus produtos outécnicas, generalizando resultadospositivos obtidos em testes localizados;
(iv) devido à crescente demanda pelaefetividade biológica de tais dispositivosou técnicas nas últimas décadas, aquelasde natureza estrutural que excluemfisicamente os peixes têm sido mais
aceitas em relação às barreirascomportamentais, que não são efetivaspara a proteção de grande variedade depeixes sob condições tão variáveis.
No Brasil, técnicos do setor hidrelétrico têmrelatado suas percepções sobre o problema erecomendado medidas operacionais emvárias usinas, sendo os resultadosconsiderados positivos. Entretanto, essasmedidas são baseadas em observaçõesempíricas e não foram testadas. Além disso,embora as perdas de peixes sejam antigas epresentes em quase todas as grandesbarragens, temos ainda dúvidas básicassobre o assunto, destacando-se, entre elas,uma fundamental: a origem dos peixesinjuriados ou mortos, ou seja, são indivíduosoriundos do reservatório que passaram pelasestruturas da barragem ou são cardumes quese concentram próximo à barragem,provenientes de trechos a jusante? Essadúvida demonstra a carência de estudossistematizados sobre o problema.
Dado que qualquer medida mitigadora a seraplicada pressupõe um adequadoentendimento da fonte de estresse, oentendimento do processo que leva a injúriasou morte precede a tomada de medidasatenuadoras, sob pena de alto risco defracasso, com desperdício de esforços,recursos e oportunidades.
Os relatos de autopsias e necropsias depeixes em eventos de grandes mortalidadesrevelam desde descamações e pequenosferimentos até macerações, decepamentos,embolias gasosas e hemorragiasgeneralizadas. Sabidamente, essas injúrias
310 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
são decorrentes de mais de uma fonte deestresse (colisões, descompressões,turbulências, cisalhamento, saturação gasosa,etc.). Os peixes que se concentramimediatamente abaixo ou acima dasbarragens são submetidos a uma gama tãovariada de estresse que torna difícilidentificar aquela mais importante.
Como salientado anteriormente, a perda depeixes em usinas hidrelétricas depende defatores inerentes ao desenho doscomponentes da barragem (vertedouro eturbinas) e à sua operação, ou a fatoresrelacionados aos peixes, como a natureza daictiofauna e sua abundância nas imediações.
Vertedouro
O vertedouro é um componente presenteem todas as barragens hidrelétricas,necessário ao vertimento do excesso de água,protegendo as estruturas da estação geradoradas enchentes. A vazão e a freqüência de suaoperação dependem da capacidade da usina edo fluxo do rio. Assim, numa grande usina,especialmente naquela envolvida noatendimento de picos de demanda, na qual acapacidade da turbina excede a vazãoafluente, o funcionamento do vertedouropode ser esporádico.
Os vertedouros são variados em relação àlocalização, desenho, número e forma decontrole. Geralmente se localizam junto àcasa de força, são numerosos e controladosremotamente, e, portanto, de operação maisflexível, sendo possível operá-los de modo areduzir os impactos sobre os peixes e seus
habitats. Podem diferir também em relação àaltura da tomada d’água. Em geral, aquelesque vertem águas superficiais têm menorpossibilidade de promover distúrbios naqualidade da água a jusante. Ao verter ascamadas oxigenadas superficiais, estespodem, entretanto, agravar eventuaisproblemas com a qualidade da água noreservatório.
Nos casos em que a vazão afluente excede acapacidade da estação e a capacidade dearmazenagem do reservatório estejaesgotada, paradas de máquinas paramanutenção ou por problemas no sistemalevarão ao vertimento. O operador não terá,nesses casos, qualquer controle sobre oinício, duração e magnitude desse processo.Entretanto, um planejamento adequado naoperação da barragem dará maiorflexibilidade ao operador, permitindo quemanipule a vazão vertida de forma racional.Para esse planejamento, fatores como umpreciso conhecimento da capacidade dosistema, as predições de eventos de cheias e aprogramação adequada de manutenções dasunidades geradoras são essenciais e podemcompatibilizar os interesses na geração deenergia com os ambientais.
Por outro lado, quando a vazão afluente caipara valores inferiores aos dos limites desegurança de operação das turbinas, nãohaverá vertimento. Nesse caso, o trecho ajusante pode secar (exceto se um fluxomínimo acordado para a proteção dospeixes ou manutenção de outros usosestiver estabelecido), promovendomortalidade e alterações no habitat do canala jusante.
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 311311311311311
Mortalidades em vertedouro podem serdecorrentes do ingresso de peixes na tomadad’água ou do efeito combinado de suaoperação e da morfologia do canal a jusante.O arraste de peixes de montante para jusantenão se constitui na fonte mais relevante deimpacto biológico. Mortalidade decorrentedesse fato, embora seja constatada, é muitomenor que aquelas da passagem pelasturbinas. Desenhos e procedimentosoperacionais adequados podem permitir apassagem de peixes para jusante com baixastaxas de mortalidade. De qualquer maneira,as taxas de sobrevivência na passagem pelovertedouro têm sido estimadas em valoressuperiores a 90%, geralmente entre 97% a100%, fato que tem levado biólogospesqueiros do hemisfério Norte a optar porfavorecer a passagem de juvenis de salmãopor essas estruturas.
Uma das principais fontes de injúria emortalidade de peixes e de outrosorganismos aquáticos, relacionada aovertedouro, é a supersaturação de gases naágua, que pode levar a traumas conhecidoscomo embolia gasosa. Esse fenômeno não é,entretanto, privativo dessas estruturas.Níveis críticos de gases nos corpos d’águapodem ter origens naturais (ex.: grandesquedas d’água, produção primária por algasou vegetação submersa) ou artificiais(hidrelétricas, termelétricas ou injeçãointencional de ar). Nas barragenshidrelétricas esse fenômeno é mais conspícuoe pode ocorrer no vertedouro e nas turbinas.
No vertedouro, o ar atmosférico éincorporado à água que cai e mergulhaprofundamente na bacia receptora. Nesta,
sob condições de elevada pressãohidrostática, o ar, em forma de bolhas, élevado à dissolução. Esses gases, por difusão,alcançam locais de nucleação microscópicaou cavidades do corpo do animal e formambolhas. Estas podem alcançar todos osórgãos, provocando disfunções neurológicas,vasculares, respiratórias ou dos processos deosmorregulação. Além disso, as bolhaspodem formar embolismos sob a pele,levando a ulcerações pela ação demicroorganismos e fungos. Adicionalmente,essas bolhas podem promover injúrias emortalidades de animais aquáticos pelaelevação da flutuabilidade.
O limite superior preconizado pela Agênciade Proteção Ambiental dos Estados Unidos(EPA) é de 110% de saturação de oxigênio(Diferença de Pressão DP = 76mmHg ao níveldo mar). Esse valor tem sido consideradoelevado por alguns pesquisadores, visto que,nesse patamar, uma exposição prolongadapode levar à morte, especialmente emambientes restritos de águas rasas (BOUCK,1980). Argumentos opostos também têm sidoregistrados, visto que os peixes podem, namaioria das vezes, evitar as condiçõesadversas (SCHISLER; BERGERSEN, 1999). Dequalquer maneira, mortalidades podem serverificadas em concentrações superiores a125% (FIDLER; MILLER, 1994) e sua intensidadedepende das características do peixe e dotempo de exposição a essas condições,temperatura e a condição geral do peixe.Baixas profundidades do trecho a jusantepodem impossibilitar a fuga dos peixes dasáreas mais afetadas e essas condições podemser mantidas por dezenas de quilômetros(Box 6.4.1).
312 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A supersaturação gasosa ocorre, portanto,quando a pressão total dos gases (PTG) emum corpo d’água excede a pressão decompensação (PC). PTG é definida como asoma das pressões dos gases presentes,incluindo a pressão de vapor da água e a PCé igual à pressão barométrica (dependente daaltitude e condições do tempo) mais ahidrostática (dependente da profundidade;cerca de 76 mmHg/m). A diferença depressão (DP = PTG - PC) torna-sedeterminante de supersaturação apenasquando maior que zero (SCHISLER; BERGERSEN,1999).
A duração, intensidade e extensão dessefenômeno são determinadas principalmentepela vazão e pela profundidade de mergulhoda água que cai, podendo alcançar valores deDP até 400 mmHg (FIDLER; MILLER, 1994).Algumas alternativas têm sido aplicadas aosvertedouros com vistas a reduzir os efeitosda supersaturação gasosa, destacando-se ainstalação de defletores ou dissipadores de
energia, elevação na bacia receptora,alteração na forma, submersão dascomportas e passagens auxiliares. Dentreestes, os defletores de fluxo têm sido maisempregados.
Os peixes e seus habitats a jusante podem,entretanto, ser drasticamente afetados poroutros fatores, dependendo da operação dovertedouro, extensão do canal, gradiente doleito, escoamento e formação de poças.Trechos de canal com altos gradientes e comfluxos de água irregulares podem atrairpeixes durante o funcionamento (ou receberpeixes que descem o vertedouro) e, com ainterrupção do fluxo, aglomerar em poçaslevando a alta mortalidade por predação e/ou asfixia.
As injúrias e mortalidades podem tambémocorrer durante a passagem do peixe pelovertedouro, enquanto está na bacia receptorada água vertida, ou se manifestartardiamente em trechos mais a jusante.
BoBoBoBoBox 6.4.1x 6.4.1x 6.4.1x 6.4.1x 6.4.1
Identificação de fontes de supersaturação de gases no alto rio Colorado, EUA
SCHISLER, G. J.; BERGERSEN, E. P. Identification of gassupersaturation sources in the Upper Colorado River, USA.Regulated River: Research & Management, Chichester, v. 15, no. 4, p.301-310, July-Aug. 1999.
“Os níveis de saturação de gases atmosféricos foram monitorados através de um trecho de 40 km do alto rioColorado durante o verão e o outono de 1995 visando identificar possíveis fontes de supersaturação no rio.Dados de saturação gasosa de sete pontos de amostragem fixos e 40 pontos casualizados foram examinadosusando métodos de análise de variância e regressão múltipla. Os menores valores de saturação total de gases(DP = -27) foram encontrados nas liberações de fundo do reservatório Williams Fork e na confluência doriacho Willow e rio Colorado. Os níveis de saturação foram afetados pelas variáveis espaciais e temporais. Asupersaturação gasosa na área de estudos teve origem em ações humanas e em processos naturais. Adescarga de água do reservatório Windy Gap foi a principal fonte de saturação artificial, enquanto aatividade fotossintética de plantas aquáticas foi a natural.”
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 313313313313313
Ao descer pelo vertedouro as injúrias emortalidades podem ser atribuídas à fricçãoou abrasão do peixe com as estruturas que ocompõem, incluindo defletores oudissipadores de energia (flip lips, flip buckets).
A turbulência pode também levar a colisõescom objetos imersos, com a superfície daágua e mesmo com rochas. São igualmenterelevantes os processos de desaceleraçãoabrupta, diferenças localizadas de pressão eas forças de cisalhamento, especialmente natransição para a bacia receptora. Nesta, aexistência de zonas de cisalhamento (shearzone), determinada pela alta velocidade daágua na saída do vertedouro e podendo seracentuada pela presença de defletores,resulta, em geral, em injúrias físicas aospeixes. Essas injúrias ocorrem quando opeixe é deslocado de uma massa d’água dealta velocidade do vertedouro para aquelamenos veloz da bacia coletora, ou quandomigra de camadas mais profundas e calmaspara a zona de cisalhamento superficial, comjatos de alta velocidade emanados dosdefletores.
Estudos prévios têm demonstrado que jatoscuja velocidade exceda 15 m/s são danososaos peixes e que a 25 m/s são altamentedanosos (GROVES, 1972; BELL; DELACY, 1972).Entretanto, comparações realizadas entrevertedouros com e sem defletores mostramque, pelo menos para larvas, eles parecemreduzir a mortalidade (LONG; OSSIANDER;
RUELE; MATHEWS, 1975). Assim, as injúriassofridas pelos peixes na bacia receptora daágua vertida serão proporcionalmentemaiores quanto mais extensas forem as áreasafetadas pela alta turbulência. Esta última,
entretanto, relaciona-se negativamente comas estruturas de dissipação de energia.
As injúrias que ocorrem no verterdouro ouem sua bacia receptora podem não serevidentes e passíveis de detecção senãotardiamente. Peixes em processo demigração, atraídos pela corrente dovertedouro, podem se desorientar, nãoachando a entrada de mecanismos detransposição. Aqueles submetidos ao estresseda passagem pelo vertedouro, submetidos àabrasão e perda de escamas, são maissusceptíveis a doenças. Podem tambémmudar o comportamento e ser predados, poroutros peixes, ou mais comumente, por avese mamíferos que se concentram a jusante dasbarragens, incluindo a pesca ilegal.
A supersaturação pode se estender por umadistância variável, porém seu efeito deletérioé, geralmente, restrito e combinado comturbulência. A embolia gasosa é consideradao principal fator de mortalidades massivasque ocorreram a jusante do reservatório deYacyretá, na Argentina (DOMITROVIC; BECHARA;
JACOBO; FLORES QUINTANA; ROUX, 1993/94;DOMITROVIC; BECHARA; FLORES QUINTANA; ROUX;
GAVILÁN, 2000), podendo ser diagnosticada anível macroscópico pelas lesõeshemorrágicas, êmbolos gasosos nasbrânquias, olho, fígado e pele (Figura 6.4.1).A mortandade por supersaturação gasosaatinge diversas espécies de peixes, porém asmais afetadas são aquelas que habitam ofundo do rio, como raias e Siluriformes(armados P. granulosus, Oxydoras kneri eRhinodoras d’orbignyi, além de diversasespécies de cascudos) (DOMITROVIC; BECHARA;
JACOBO; FLORES QUINTANA; ROUX, 1993/94).
314 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
a
Figura 6.4.1 - Quadro de injúrias impostas aos peixesao serem submetidos a supersaturação gasosa ediferenças de pressão. a = brânquias; b = olho(Modificado de , 2001).ABERNETHY; AMIDAN; CADA
b
Apesar de a ocorrência desupersaturação gasosa estar maisassociada a turbulência da barragem,ela pode se estender por distânciasconsideráveis. Em Yacyretá, condiçõesde supersaturação foram detectadasem regiões distantes, localizadas a 91km a jusante da barragem. Algunspeixes capturados nesses locaistambém apresentaram lesões micro emacroscópicas (DOMITROVIC; BECHARA;
FLORES QUINTANA; ROUX; GAVILÁN, 2000).
A intensidade e a duração dosproblemas com supersaturação gasosapodem variar de um ano para outroem uma mesma usina hidrelétrica,dependendo das vazões. Assim, aseveridade e as conseqüências daembolia gasosa podem serexacerbadas em anos de altas vazões eelevado vertimento. Medidas quediminuam a vazão pelos vertedouros,ou mesmo alterações no desenho desuas estruturas, podem minimizar aocorrência de supersaturação nasimediações das barragens (BECHARA;
DOMITROVIC; FLORES QUINTANA; ROUX; JACOBO;
GAVILÁN, 1996; MIRANDA, 2001).
Turbinas
A mortalidade de peixes na casa de forçapode envolver (i) indivíduos oriundos doreservatório que entram pela tomada d’águae são forçados a passar pela turbina, e (ii)cardumes que são atraídos pelo canal de fugae submetidos ao estresse da operação/manutenção da turbina.
A passagem de peixes através deturbinas
Ao passar através da unidade geradora, ospeixes são submetidos a uma variedade decondições adversas relacionadas ao fluxo daágua, que podem atuar isoladamente ou emconjunto. Entre as condições adversas,enumeram-se as mudanças bruscas eextremas na pressão, a cavitação, forças decisalhamento, turbulência, e choquesmecânicos (CADA; COUTANT; WHITNEY, 1997 –Figura 6.4.2).
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 315315315315315
1
5
7
Incremento de pressão
Decéscimo rápido de pressão
Cavitação
Choques mecânicos
Abrasão
Força de cisalhamento
Turbulência
1
2
4
5
6
7
3
46
2 3
4
Figura 6.4.2 - Condições adversas a que são submetidos os peixes ao passar por uma unidadegeradora (Modificado de , 1997).CADA; COUTANT; WHITNEY
As variações de pressão que se verificamdesde a tomada d’água, e especialmente aonível das palhetas da turbina, levam agrandes mortalidades de peixes, não tantopelos valores positivos que alcançam, maspor serem abruptas. Numa turbina tipoFrancis, os peixes são submetidos a variaçõesna pressão que, em frações de segundo, vãode 5-10 atmosferas a uma pressão “negativa”(PAVLOV; LUPANDIN; KOSTIN, 2002). Esses
valores de pressão são bem suportados porum grande número de espécies de peixes,desde que a mudança seja gradual e comtempo de resposta (alteração no volume dabexiga natatória, por exemplo).
Em geral, espécies com bexiga natatórialigada por ducto ao esôfago (fisóstomas) têmmaior resistência às mudanças de pressãopor poderem expelir ou tomar ar e, portanto,
316 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 6.4.3 - Variações de pressão a que podem estar submetidos ospeixes em sua passagem por turbinas a partir de montante(superfície = 101 kPa e a nove metros = 191 kPa) para jusante(modificado de , 2001).ABERNETHY; AMIDAN; CADA
0
30
100
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0Tempo
Pre
ssão
(kP
a)
Aclimação(16-24 hr)
Passagem pela turbina(-60-90 sec)
Jusante(-60 sec)
30n (191 kPa)
Turbina (400 kPa)
Superfície Jusante (101 kPa)
Superfície Montante (101 kPa)
Superfície
Fundo
Pro
fundid
ade
(m)
alterar o volume e controlar a pressão dabexiga. Aquelas sem ducto (fisóclistas), ouseja, cujo volume da bexiga natatória deveser regulado pela secreção ou absorção doar por mecanismos de contracorrentesanguínea, são mais susceptíveis a injúrias,dada a lentidão do processo. As variaçõesbruscas na pressão podem fazer com que osgases presentes na bexiga apareçam nacirculação sanguínea, provocando emboliagasosa. Porém mesmo as fisóstomas podemnão suportar a rapidez com a qual a pressãoda água varia entre o conduto forçado e ocanal de fuga. Tsvetkov,Pavlov e Nezdoliy (1972)demonstraramexperimentalmente quea taxa de sobrevivênciade peixes fisóstomos foimaior que a dosfisóclistos a uma mesmataxa de variação depressão. Entretanto,mesmo os peixesfisóstomos são mortos apartir de uma taxa dedescompressão de 91kPa/s (13,2 PSI/s).
Estudos realizados compeixes fisóstomosrevelam que a pressãode aclimatação,dependente da posiçãona coluna d’água em queo peixe se posicionaantes de entrar natomada d’água, afeta amortalidade e querazões entre a pressão de
exposição durante a passagem e a deaclimatação, inferiores a 0,3 (30%) podempromover mortalidades. Para os peixesfisóclistos, o limiar dessa razão deve serainda maior (CADA; COUTANT; WHITNEY, 1997)– Figura 6.4.3.
Abernethy, Amidan e Cada (2002),simulando a passagem de peixes fisóstomos(salmão) e fisóclistos (Lepomis) através deturbina tipo Kaplan, avaliaram o efeito doregime de pressão e supersaturação gasosa.Esses autores relatam que o sinergismo
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 317317317317317
Figura 6.4.4 - Peixes de couro mostrando diferentes modalidades deinjúrias decorrentes de mudanças na pressão e choques com oscomponentes da turbina ou tubo de sucção. Acima = jaú
; abaixo = sorubim (Fotos:C. S. Agostinho).
Zungarozungaro Pseudoplatystoma fasciatus
Lacerações
Fratura no crânio
Eversão doestômago
Escoriações
entre essas duas fontes de estresse não ésignificativo e teve impacto distinto entre asespécies. Mortes ou injúrias severas foramconstatadas na espécie fisóclista quando apressão foi reduzida para 50 kPa, sendo queesse valor afetou apenas levemente os peixesfisóclitos quando provenientes da superfície.Entretanto, para aqueles com altas pressõesde aclimatação (de fundo),independentemente de sua categoria,mostraram distensões de parede ou rupturasda bexiga já nesses valores.
O efeito direto de variações bruscas napressão são hemorragias generalizadas,eversão do estômago pela boca e/ou suaruptura, dilatação do globo ocular, além doquadro de embolia gasosa (Figura 6.4.4).
Entretanto, podem ocorrer mortalidadesdecorrentes apenas indiretamente dasvariações bruscas na pressão. Estasgeralmente relacionam-se a mudançascomportamentaisimpostas por esseprocesso. Assim, algunsestudos demonstram quealgumas espécies oucondições são suficientesapenas para estontear oanimal temporariamentee que este, quandocapturado e mantido emaquário, se recupera apósalgumas horas ou dias.Sua derivação a jusantepoderia, entretanto,submetê-lo a intensapredação por outros
peixes ou vertebrados (aves e mamíferos).Entre os aspectos comportamentaisanormais, destaca-se a falta de reação visual,acústica ou a estímulos hidráulicos e, emcasos mais drásticos, a ausência de orientaçãodorso-ventral natural do corpo (PAVLOV;
LUPANDIN; KOSTIN, 2002).
Outro fator de incremento da mortalidade depeixes, ligado à variação da pressão nointerior da turbina, é a cavitação.Tal fenômeno resulta da formação de bolhasna água causada por uma redução localizadae extrema na pressão (igual ou inferior àpressão de vapor). No interior da turbina,isso pode ocorrer nas áreas de baixa pressão(ex.: imediatamente abaixo das palhetas) eem pontos com velocidades locais crescentesou mudanças bruscas de direção do fluxo. Ofluxo sobre superfícies irregulares ou mesmocertas condições de temperatura da água e deconteúdo de ar podem também dar origem
318 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 6.4.5 - Juvenil de salmão mostrandoinjurias decorrentes de entrada em zonade cisalhamento em experimento (Fonte:
, c2005).P A C I F I C N O R T H W E S T N A T I O N A L
LABORATORY
às bolhas de gás (CADA; COUTANT; WHITNEY,1997). As bolhas de vapor são levadas pelofluxo para áreas de alta pressão, ondecolapsam violentamente (condensação;“bolhas de cavitação”), gerando ondas dechoque que podem ultrapassar 100 kgf.cm-2
(PAVLOV; LUPANDIN; KOSTIN, 2002; 9.800 kPa).
A influência da cavitação sobre os peixes éaceita pela maioria dos autores. Poucosexperimentos têm, entretanto, sidoconduzidos, sendo o fato atribuído àsdificuldades de modelar a cavitação emescala de laboratório (PAVLOV; LUPANDIN;
KOSTIN, 2002). Além disso, alguns autores nãoconseguiram mostrar essa relação emcondições de laboratório (TURNPENNY; DAVIS;
FLEMING; DAVIES, 1992). Esses autoresacreditam, entretanto, que se a cavitaçãopode danificar os componentes das turbinas,peixes que passam próximos a cavidades devapor têm grande probabilidade de sofrerinjúrias.
A cavitação é, entretanto, uma preocupaçãodos gerentes de usinas, que procuramminimizá-la através de procedimentosoperacionais que são rotina nas barragensou, na sua inevitabilidade, pela injeção de ar,que reduz o impacto do colapso sobre oscomponentes e os peixes. Por outro lado, acrescente demanda energética tem levadomuitas usinas instaladas a operar próximoaos seus limites máximos, aumentando aocorrência de cavitação. Calainho, Horta,Gonçalves e Lomônaco (1999) estimam quecerca de 75% das companhias geradoras deenergia no Brasil estavam operando comalgum tipo de problema de cavitação emseus equipamentos.
O estresse produzido pelas forças decisalhamento é também uma modalidade deestresse por pressão. Ao contrário destaúltima, que atua perpendicularmente, asforças de cisalhamento agem paralelamenteà superfície do corpo, sendo o estresseresultante da incidência de duas massasd’água com velocidades distintas (CADA;
COUTANT; WHITNEY, 1997). Os maiores valoresde força de cisalhamento são encontrados nainterface entre fluxos de alta velocidade eobjetos sólidos, como as margens principaisdas palhetas da turbina.
As freqüências de injúrias e morteproduzidas pelas forças de cisalhamentodependem do tamanho do peixe e da regiãodo corpo onde incide a força do jato. Emgeral, peixes menores e jatos incidindo sobrea cabeça são mais letais (CADA; COUTANT;
WHITNEY, 1997). Peixes submetidos a essascondições mostram deformações no corpo(alongamento, compressão, torção), perda demuco e escamas, danos nos olhos(hemorragias, ruptura da córnea eextirpação), e esmagamento e hemorragiasem órgãos internos (Figura 6.4.5).
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 319319319319319
Figura 6.4.6 - Injúrias apresentadas por um cuiú-cuiú, capturado a jusante da barragem, provavelmente
decorrente de colisões com a maquinaria das unidadesgeradoras (Foto: C. S. Agostinho).
Oxydorasniger
A turbulência, por outro lado, é definidacomo movimentos caóticos das partículas deum fluido, mesmo quando este estiver sedeslocando em única direção. No interior deuma turbina, como em um rio, a turbulênciaocorre em escala variada, podendo atingiros peixes tanto com correntes opostasquanto de mesma direção, porém comvelocidades distintas. Embora possam serverificadas já a partir do conduto forçado,são, em geral, mais pronunciadas no tubode sucção (canal de fuga), que pode criargrandes turbilhões ou rodamoinhos.
Nos sistemas hidráulicos das barragens osestresses da turbulência e do cisalhamentosão, na maioria das vezes, inseparáveis edependentes um do outro. Assim, aturbulência induz as forças de Reynold queafetam a magnitude da viscosidade aparentee, portanto, o estresse de cisalhamento. Aavaliação dos efeitos de cada um é possívelapenas experimentalmente. A força dascorrentes de turbulência pode atingirdiferentes partes do corpo do peixe,causando injúrias emortes por inversão dasbrânquias edecepamento da cabeça.Rompimento dosopérculos e danos nasbrânquias são efeitosmenores. Conforme opeixe é capturado poruma situação em queexistem forças quetracionam a cabeça, osopérculos abrem-se,tornando a força maisefetiva na decapitação.
As injúrias de natureza mecânica a que sãosubmetidos os peixes ao passar pela turbinadecorrem do contato direto destes com amaquinaria da unidade geradora, através decolisões com os componentes fixos e móveisda turbina, ou a compressão ao passaratravés de espaços estreitos entre a partemóvel e a fixa (Figuras 6.4.4 e 6.4.6). Emambos os casos a intensidade e a freqüênciadas injúrias dependem das características dopeixe (ex.: espécie, idade, peso, condição) eda turbina (número de pás do rotor e depalhetas do distribuidor, tamanho e formadas aberturas, rotação e ângulo das pás dorotor, velocidade da água, nível daturbulência), bem como das relações entre aturbina e o peixe (posição, rota, orientação)- Cada, Coutant e Whitney (1997).
Em geral, turbinas do tipo Francis causammaior mortalidade por danos mecânicosque as do tipo Kaplan, que têm maiorespaço entre as palhetas e são operadas emmenor velocidade. As últimas, entretanto,têm maiores problemas com os demais
320 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 6.4.7 - Acúmulo de peixes no canal de fuga durante operíodo de piracema (Foto: H. São Thiago).
tipos de danos. Ambas podem promovertodos os tipos de danos se operadas comeficiência menor que a máxima. Entre asinjúrias sofridas pelos peixes em decorrênciade colisões e compressões, destacam-sehematomas, cortes profundos ou lacerações,perdas de escamas e de partes do corpo,fraturas da coluna, maceração, etc. (Figuras6.4.4 e 6.4.6).
Na maioria dos casos, é extremamente difícilidentificar a origem específica de um tipo dedano causado pelas turbinas, isso porque osvários fatores de injúria mencionados podemafetar o peixe de modo isolado oucombinado. Além disso, há uma grandesobreposição entre os tipos de injúriasproduzidas por diferentes fatores.
A Atração e Mortalidade dePeixes no Tubo de Sucção
O desenho da barragem e osprocedimentos de rotina na sua operação,que podem determinar maiores ou menoresinjúrias sobre os peixes que passam pelasturbinas, podem tambémpromover a atração decardumes de jusante para ointerior do canal de fuga(tubo de sucção) e,posteriormente, submetê-los a forte estresse,culminando com injúrias e,freqüentemente, mortes.
No Brasil, a quasetotalidade dos acidentesenvolvendo grandes
mortalidades de peixes abaixo das barragensé atribuída a esse tipo de mecanismo.Entretanto, esses acidentes foram poucoestudados e é possível que a maioria delesdecorra de peixes que passam pela turbinavindo de montante. Sabe-se, no entanto, quea atração e aprisionamento de peixes duranteas paradas das unidades geradoras podemlevar a mortalidades massivas, podendoalcançar proporções alarmantes durante operíodo de migração ascendente (piracema) –Figura 6.4.7.
Assim, mesmo com insuficiência de dados, aconcomitância de mortalidades massivas depeixes com alguns dos procedimentosoperacionais de rotina nas barragens permitealgumas inferências, como segue.
Paradas nas unidades geradoras das usinashidrelétricas são previstas com a finalidadede (i) manutenções programadas,preventivas ou corretivas, que têmocorrência periódica, (ii) emergenciais,necessárias para a correção de problemashidroeletromecânicos, e (iii) redução nademanda energética ou economia de água.
Mortandades de Peixes em Barragens: causas e mitigação 321321321321321
Nas paradas para manutenções programadasou emergenciais, as comportas de montante(ou palhetas dos distribuidores) e de jusante(comporta de manutenção) são fechadas.Entretanto, antes que o fechamento estejaconcluído, ocorre o ingresso de cardumesdas imediações para o canal de fuga e tubode sucção, possivelmente atraídos pelaredução da descarga e/ou pelas correntesgeradas pelas unidades vizinhas. Com ainterrupção do fluxo d’água, ocorre odeplecionamento gradual do oxigêniodissolvido no interior do tubo de sucção,podendo ocasionar a morte dos peixesretidos por asfixia. A gravidade dessasituação depende, diretamente, daabundância de peixes aprisionados e dotempo necessário para a realização dostrabalhos de manutenção. O setorhidrelétrico tem incorporado à rotina demanutenção das turbinas o que chamam“operação salvamento de peixes”, quecompreende o bombeamento de oxigênio ea retirada dos peixes, com resultadossatisfatórios.
No caso das paradas motivadas porinsuficiente demanda energética, acomporta de jusante é mantida aberta, dadoque pode ser necessária sua entradarepentina em operação para atender umademanda emergencial. Isso permite oacúmulo de peixes no tubo de sucção oucanal de fuga.
Em ambos os casos, a partida da unidadegeradora, com liberação repentina do fluxo,pode promover grandes variações napressão, produzir elevada turbulência elevar à colisão dos peixes com as paredes do
canal de fuga, resultando em mortalidadesmassivas. Isso tem sido agravado pelo fatode as demandas dos sistema elétrico,comandadas pelo Operador Nacional doSistema (ONS), requererem respostasimediatas.
Mortalidades podem ocorrer também nasunidades geradoras em funcionamento,especialmente quando, para atender a umademanda do sistema elétrico, ocorre umarápida abertura das palhetas dodistribuidor, incrementando subitamente avazão, com implicações na pressão e naturbulência do tubo de sucção. Esseatendimento é, em muitas usinas,automatizado.
Entre os procedimentos operacionais commaiores riscos potenciais para os peixes,destacam-se os testes de performance dasturbinas, que são parte integrante docomissionamento e aceitação dosequipamentos eletro-hidráulicos.Realizados durante o período de garantia,esses testes envolvem condiçõesoperacionais extremas (reguladas porprotocolos internacionais) durante as quaisos peixes são submetidos a forte estresse depressão, cavitação e turbulência.
Outro procedimento na operação das usinas,com impacto sobre os peixes, e que vem setornando gradativamente mais empregado, éo de transferência da operação compensador-síncrono para gerador. Nesse caso, a unidadeconectada ao sistema elétrico passa afuncionar como um motor, não gerandoenergia. Esse procedimento destina-se aproporcionar maior estabilidade ao sistema
322 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
elétrico através do controle da tensão,economizando água do reservatório semque a máquina pare. É, portanto, um recursode interesse tanto do gerenciador dosistema elétrico quanto do concessionárioda usina.
Entretanto, para possibilitar essa operaçãocomo compensador-síncrono, é injetado arna região da câmara do rotor para rebaixaro nível da água no tubo de sucção,impedindo seu contato com a turbina.Numa demanda emergencial de energiapelo sistema, a unidade em operação comocompensador-síncrono retorna automática eimediatamente ao modo gerador. Duranteesse processo, são abertas as palhetas dodistribuidor, ocasionando a expulsãoviolenta do ar comprimido desde a câmarado rotor até o tubo de sucção, gerandovariações de pressão, turbulência,supersaturação e arremessando os peixes deuma condição de pressão de águasprofundas para a superfície em fração desegundo.
Considerações Finais
A ocorrência de injúrias e mortes,provocadas pela passagem de peixes porestruturas da barragem, é um fenômenorecorrente nos grandes reservatóriosbrasileiros. Porém sua magnituderaramente tem sido avaliada, inexistindoestimativas reais sobre as perdas deestoques.
Em razão de muitas espécies apresentaremcomportamento reofílico e, portanto, serematraídas por locais com maior fluxo de água, écomum que ocorram adensamentos de peixesa jusante da barragem, e atração daquelessituados a montante, nas imediações dastomadas de água. No primeiro caso, aoperação das turbinas pode criar zonas degrande turbulência, e no segundo caso ospeixes são capturados pela tomada d’água eforçados a atravessar as estruturas dasturbinas ou dos vertedouros, acarretandoinjúrias. Estas podem ser ocasionadas porabrasão, diferenças de pressão, embolia ecolisões, sendo provável que parteconsiderável dos peixes injuriados não morrade imediato, porém podem perecer maistarde em decorrência do impacto ou pelafragilidade ante a predação e doenças.
Então, a despeito dos esforços de muitasconcessionárias de energia hidrelétrica nasolução do problema de mortalidades nasbarragens, o conhecimento disponível sobreos mecanismos dessas mortes ainda éprecário. Sequer sabemos a origem dos peixesque morrem (montante, jusante ou ambas),exceto quando a morte ocorre no tubo desucção durante as paradas de máquinas. Adeterminação exata da causa das injúrias emortes de peixes na barragem é tarefacomplexa, devido ao elevado número defatores envolvidos, às interações entre eles e àfalta de especificidade na resposta biológica(danos em tecidos e mortes), o que dependeráde mais estudos para sua elucidação emitigação.
Capítulo 6.5Remoção Prévia da Vegetação:
a qualidade da água x disponibilidade de abrigo
Introdução
Um dos grandes desafios com que sedefrontam o setor elétrico e os órgãos decontrole ambiental relaciona-se à falta deinformações sobre o efeito da remoção ounão da vegetação antes do enchimento dereservatórios. Isso tem gerado muitacontrovérsia a cada vez que um novoreservatório é construído.
O fato de a remoção ter vantagens e desvan-tagens sobre a manutenção da faunaaquática é o principal foco da controvérsia.
A manutenção da vegetação terrestresubmersa tem sido vista como fator favorá-vel por (i) fornecer substrato para operifiton e bentos, que são importantesrecursos alimentares para peixes, (ii)prevenir a sobrepesca, (iii) disponibilizarlocais de reprodução e refúgio,incrementando a sobrevivência e o recruta-mento, (iv) aumentar a produtividadebiológica em áreas litorâneas por fornecer
matéria orgânica, nutrientes e diversidadeestrutural, (v) atenuar os impactos com aerosão marginal pela ação das ondas evariação de nível, e (vi) reduzir os elevadoscustos com a remoção.
Entretanto, o excesso de vegetação alagadapode resultar em uma série de problemasque podem neutralizar, em alguma exten-são, as vantagens. Entre estas se destaca aanoxia em regiões mais profundas, resulta-do da decomposição da matéria orgânica, aqual pode levar a mortandades de peixes oulimitar sua distribuição no novo ambiente.Além disso, troncos submersos podeminterferir na navegação, recreação, redes depesca, e servir como suporte para bancos demacrófitas (PLOSKEY, 1985).
Importância da Estruturaçãodos Hábitats
A base teórica deste tópico pode serbuscada no conhecimento já estabelecidosobre a estrutura de hábitats, entendida
324 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
como as estruturas físicas no espaço (troncos,galhos, macrófitas, locas, etc.) que sustentamcomunidades animais e vegetais.
A heterogeneidade estrutural dos hábitatstem importante papel na diversidadebiológica dos ambientes aquáticos, nasrelações interespecíficas e na produtividadedo sistema. A importância dessa estruturaçãopode ser evidenciada pela abundância ediversidade de espécies suportadas por áreasbem-estruturadas, muitas vezes maiores queaquelas de áreas sem estrutura.
A adição de complexidade estrutural aoambiente aquático, promovido pelostroncos, macrófitas ou outros objetossubmersos, eleva a disponibilidade deabrigos para as espécies de peixesforrageiros e formas jovens daquelas degrande porte, reduzindo a taxa demortalidade e influenciando as interaçõesinterespecíficas (SAVINO; STEIN, 1982). Essasestruturas, a exemplo das macrófitasaquáticas, fornecem ainda o substrato para odesenvolvimento de organismos utilizadosna alimentação da maioria das espécies depeixes, pelo menos durante as fases iniciaisde desenvolvimento, além de serviremcomo locais de desova de espécies fitófilas(DIBBLE; KILLGORE; HARREL, 1996).
Os benefícios das estruturas submersassobre as assembléias têm sido associados,segundo Miranda e Hodges (2000), aobalanceamento entre a eficiência deforrageamento dos predadores e asnecessidades de refúgio da presa (HECK;
THOMAN, 1981; DIONNE; FOLT, 1991); a elevadacapacidade de suporte pelas fontes de
alimento resultantes do aumento nadisponibilidade de substrato (LILLIE; BUDD,1992); e elevada produtividade decorrente deseu efeito positivo sobre a penetração da luz(TREBITZ; NIBBELINK, 1996).
A importância da estruturação para adiversidade específica pode ser evidenciadapor um paralelo entre uma floresta tropicalluxuriante e uma árida paisagem de dunas(SCHEFFER, 1998). Embora não passível deamplas comparações, isso dá uma dimensãodas diferenças nas estruturas de hábitatsentre um corpo d’água com e outro semvegetação (Figura 6.5.1).
Embora a efetividade da predação dependado comportamento do predador e da presa, apresença de múltiplos predadores, commúltiplas estratégias, como ocorre namaioria dos reservatórios brasileiros,conduz à exacerbação na pressão predatória.Nesse caso, é consumido um número maiorde presas que aquele esperado pelosomatório da capacidade de cada espécie,devido à tendência de um predadoraumentar a vulnerabilidade da presa a outro,geralmente com estratégia de predaçãodiferente.
Num ambiente com pouco abrigo, umpredador, além de apresentar maioreficiência na captura, pode afugentar aspresas para outra área na qual seusmecanismos de fuga não sejam tão eficientes,sendo predados por outros (SOLUK, 1993). Oincremento na disponibilidade de abrigolevaria à redução na eficiência da predação ea um controle no tamanho populacional dopredador.
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 325325325325325
Figura 6.5.1 - Representação esquemática do nível de estruturação de habitats em cenários dereservatórios sem (a) e com (b) a remoção da vegetação.
a
b
Quando em excesso, entretanto, os efeitos daestruturação sobre a eficiência deforrageamento dos predadores podem seradversos, levando à redução na biomassadestes. Assim, uma interação negativadecorrente da redução no risco de predaçãoentre os predadores (SIH; ENGLUND; WOOSTER,1998) poderia levar a fortes competiçõesentre estes e incrementar a predaçãointraguilda, na qual um predador é parte dadieta de outro, inclusive da mesma espécie(canibalismo).
Concomitantemente, a redução namortalidade das presas aumentaria suaabundância e biomassa, fortalecendo asinterações competitivas, podendo resultarem baixo crescimento (MACEINA; BETTOLI;
KLUSSMANN; BETSILL; NOBLE, 1991; OLSON;
CARPENTER; CUNNINGHAM; GAFNY; HERWIG;
NIBBELINK; PELLET; STORLIE; TREBITZ; WILSON,1998; AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2003).
Dessa maneira, a estruturação dos hábitatsinfluencia não apenas a relação predador-presa, mas também as interações predador-predador e, portanto, o impacto combinadode múltiplos predadores (WARFE; BARMUTA,2004). Swisher, Soluk e Whal (1998) mostramque o impacto combinado de peixe-sol(Lepomis macrochirus) e larvas de odonatasobre presas foi menor quanto maior o nívelde estruturação do hábitat. Em hábitatsestruturados, o impacto de ambos ospredadores tornou-se apenas aditivo(somatório dos impactos individuais).
326 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
O saber popular acerca dos benefícios daestruturação do hábitat sobre aprodutividade do ecossistema édemonstrado pelo seu uso em sistemas decultivo em diferentes partes do mundo (verBox 6.5.1).
A importância da estruturação do hábitatsobre as interações ecológicas temmotivado gerentes de reservatórios arecorrer aos substratos artificiais parafavorecer as assembléias de peixes (BENNETT,c1970; JOHNSON; LYNCH, Jr., 1992; SUMMERFELT,1993; AGOSTINHO; GOMES, 1997; FREITAS;
PETRERE JUNIOR, 2001). Entre as vantagensdesses hábitats artificiais, são enumeradas:
(i) a diversificação dos elos da cadeia trófica,incrementando a capacidade biogênica;
(ii) o favorecimento do crescimento dacomunidade perifítica, alimento delarvas, juvenis e de espécies herbívoras;
(iii) o incremento no potencial reprodutivode diversas espécies que desovam nassuperfícies imersas das estruturasartificiais;
(iv) o aumento da sobrevivência de larvas,alevinos e juvenis, devido à maioroferta de refúgios contra predadores;
(v) o equilíbrio entre as populações, pelaredução dos efeitos de predação ecompetição;
(vi) a atração e concentração de peixes maioresnas proximidades das estruturas,melhorando a produtividade pesqueira;
(vii) a redução do efeito da pesca predatóriacom artefatos proibidos;
(viii) a estabilização do ambiente a longoprazo.
(ix) o aumento da biodiversidade local e entrehábitats.
BoBoBoBoBox 6.5.1x 6.5.1x 6.5.1x 6.5.1x 6.5.1
Interações entre peixes e macrófitas aquáticas em águas interiores: uma revisão.
PETR, T. Interactions between fish and aquatic macrophytes ininland waters: a review. FAO Fisheries Technical Paper, Rome, no.396, 2000. 185 p., ill.
“Mesmo antes de entender o significado da presença de árvores mortas em reservatórios para a produçãode peixes via cadeia alimentar, em algumas partes da África, a produção de peixes em lagos é artificialmenteincrementada pela inserção de galhos cortados nas matas circundantes. Estes galhos, quando submersosfornecem superfície para o perifiton e a fauna de invertebrados associados, atraindo peixes. O método,primeiro descrito em Benin, Oeste da África, com o nome de acadja é hoje amplamente difundido. Orendimento anual da pesca varia de 2 a 17 ton.ha-1, conforme o intervalo de pesca. A demanda pormadeiras para a acadja está em torno de 10 ton.ano-1 e isto deve ser prejudicial para a vegetação marginal.Como o uso da acadja se difunde e leva a um rápido desmatamento em torno dos corpos de água, estudostêm sido feitos na busca de espécies alternativas, com uma resistência razoável, que poderiam ser cultivadas.O uso deste método é agora comum no rio Niger, alguns países da Ásia, como a Indonésia, no rio Mekonge no Equador.”
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 327327327327327
Figura 6.5.2 - Reservatório de Mourão (bacia do rio Paraná), fechadoem 1964, mostrando área em que vegetação arbórea não foipreviamente removida (Foto: Arquivo do Nupélia).
Processo de Decomposição
A vegetação terrestre total ouparcialmente alagada durante o enchimentodo reservatório, mesmo em regiões onde oregime de cheias envolve amplosalagamentos sazonais, como na Amazônia,morre após um período que depende danatureza dessa vegetação. As plantasherbáceas sucumbem, geralmente, empoucos dias. As lenhosas, por outro lado,podem requerer até um ano (PLOSKEY, 1985),mas, em geral, morrem em menos de seismeses.
A mortandade envolve não apenas avegetação imersa, mas também aquelas desolo não-higromórfico, cujas raízes foramsubmetidas ao encharcamento permanenteou duradouro.
O tempo envolvido nadecomposição depende,entretanto, de fatorescomo temperatura,oxigênio dissolvido edistúrbios físicos, como aação de ondas e aexposição a intempériesnos períodos de depleçãodo reservatório.Temperatura e oxigênioafetam a taxa dedecomposição biológica,e os distúrbios físicoslevam a um incrementona taxa de remoçãosuperficial ou quebrafísica do material morto(PLOSKEY, 1985).
O processo de decomposição é altamentediferenciado conforme o grupo taxonômicoe a natureza da parte vegetal considerada.Plantas herbáceas, folhas e serrapilheira sãocomponentes ambientais com decomposiçãorápida, geralmente em menos de um ano(WEBSTER; SIMMONS, 1978), mesmo em regiõestemperadas (NURSALL, 1952).
Troncos lenhosos (árvores e arbustos)podem, por outro lado, levar mais de 100anos para que sejam decompostos,especialmente se não expostos à atmosfera(JENKINS, 1970). Isso se deve ao fato de estesapresentarem maiores proporções dematerial não-digerível (celulose, resina,lignina). Também, a menor área superficial(em relação ao volume) exposta à açãodegradadora é uma explicação desse fato(PLOSKEY, 1985) (Figura 6.5.2).
328 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Erosão
A manutenção da vegetação terrestre naárea a ser alagada, especialmente a arbórea,tem um papel favorável no controle daerosão, com reflexos positivos sobre aturbidez da água.
Assim, os chamados “paliteiros” atenuam aação das ondas sobre a margem e oaumento do material particulado emsuspensão. Além disso, reduzem amovimentação da água por ação de ventos epossibilitam a deposição de colóides. Issotem um reflexo positivo sobre a capacidadebiogênica do ambiente.
Mesmo as plantas herbáceas alagadas,enquanto não se degradam, ajudam naagregação do solo inundado, evitando,durante o enchimento, os desmoronamentosque elevam a turbidez da água nesseperíodo crítico para a fauna aquática.
Qualidade da água
Em regiões de clima temperado, aduração da influência da vegetaçãoterrestre submersa na qualidade da água enutrientes usualmente varia de 1 a 10 anos,com pico nos dois ou três primeiros anosde enchimento (trophic upsurge period;PLOSKEY, 1985). Essa informação não seencontra disponível para reservatóriostropicais ou subtropicais. Espera-se, noentanto, que o processo seja maisintenso e menos duradouro nestaslatitudes.
O tempo de residência da água e asflutuações de níveis têm notável impacto naduração do período heterotrófico.Reservatórios com baixo tempo de retençãoexportam mais nutrientes e outrosmateriais lixiviados e aqueles com grandesoscilações de nível aceleram o tempo dedecomposição pela exposição da matériaorgânica à atmosfera e às intempéries.
Os problemas mais graves de qualidade daágua em reservatórios surgem durante oenchimento, especialmente naqueles cujasdimensões em relação à vazão afluente sãoelevadas. Durante o enchimento, quase tudoo que é liberado pela vegetação permaneceno reservatório. A vazão efluente é total oudrasticamente reduzida. É nessa fase que,em geral, ocorrem as quedas mais críticas naconcentração de oxigênio, envolvendo aoxidação das frações lábeis dissolvidas eparticuladas (BIANCHINI JUNIOR, 2003),resultantes da lixiviação da matériaorgânica presente na área alagada,especialmente na serrapilheira. O fato deessas frações serem rapidamentedecompostas e demandarem maiorconsumo de oxigênio é agravado por seremprocessadas num período em que o tempode renovação da água é praticamente nulo(fase de enchimento) e o processo deestratificação, com a formação de camadaanóxica, acentuado. Segue-se a esta adecomposição das plantas herbáceas e daserrapilheira, principais responsáveis pelospicos de nutrientes, depleção de oxigênio edeterioração na qualidade da água após orepresamento (BALL; WELDON; CROCKER, 1975;CAMPBELL; BOBEE; CAILLE; DEMALSY, M.J.; DEMALSY,
P.; SASSEVILLE; VISSER, 1975) - ver Box 6.5.2.
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 329329329329329
Embora em uma mata a vegetação arbóreaapresente biomassa maior que a daserrapilheira ou de gramíneas, árvores earbustos, como visto anteriormente, têmdecomposição mais lenta (CRAWFORD;
ROSENBERG, 1984) e, portanto, uma taxa deconsumo de oxigênio e de liberação denutrientes muito menor.
Experimentos indicam claramente que oscompostos resultantes da lavagem daserrapilheira, folhas, gramíneas e ramos,nessa ordem, apresentam uma demandabioquímica de oxigênio (DBO)significativamente maior que os troncos.Altos valores de DBO refletem elevadaprodutividade secundária, incluindo aquela
BoBoBoBoBox 6.5.2x 6.5.2x 6.5.2x 6.5.2x 6.5.2
Desmatamento e limpeza do reservatório Peixe Angical.
LIMNOBIOS Consultoria em Ambientes Aquáticos. Desmatamentoe limpeza do reservatório do AHE Peixe Angical: parecer técnico sobrea relevância das áreas mantidas como suporte à ictiofauna (áreasde preservação e de desmatamento facultativo). Maringá, 2004.73 f. + anexos. Parecer técnico.
“Um acompanhamento detalhado do processo de enchimento foi realizado no reservatório de Corumbá(GO), formado em uma região coberta por cerrado, contendo aproximadamente 25 toneladas/ha (27% defolhas, galhos finos e médios). O enchimento se completou em 72 dias e as concentrações de oxigêniodissolvido responderam rapidamente e de maneira drástica ao alagamento. Redução dos valores do oxigêniocomeçou a ser constatada a partir do 3o dia nas camadas mais profundas e anoxia passou a ser observada apartir do 12o dia de alagamento. A camada anóxica migrou na direção da superfície e no 28o dia somente os10 metros superficiais estavam oxigenados, assim permanecendo até o final da fase de enchimento. Amanutenção da camada superficial oxigenada pode ser atribuída diretamente à atividade fotossintética dofitoplâncton, que se manteve em elevadas densidades nessa camada da coluna de água. No entanto, umagrande transformação foi verificada com a liberação de água pelo vertedouro, que levou à perda da camadasuperficial de água rica em oxigênio. Como resultado, no 80o dia de enchimento, somente os 3 metrossuperficiais do reservatório ainda continham oxigênio, mesmo assim em baixas concentrações (< 3 mg/l).Neste período constataram-se mortandades de peixes nas imediações da barragem. Em decorrência daelevada renovação de água logo após o vertimento, quando a vazão do rio Corumbá se elevou de 100 paraaproximadamente 500 m3/s, a oxigenação da coluna de água foi rapidamente restabelecida e, em dezembro,menos de um mês após o vertimento, concentrações de até 5 mg O2/l passaram a ser registradas até 20metros de profundidade. Este fato demonstra que a liberação de água deve ser realizada em consonância comas necessidades de conservação da ictiofauna, pois a rápida “lavagem” da camada superficial pode acarretarcondições desfavoráveis para essa comunidade. Os resultados apontam para algumas importantes lições: (i)nem sempre a remoção da biomassa vegetal é eficiente para reduzir a formação de camadas anóxicas duranteo processo de enchimento; (ii) anoxia usualmente ocorre nas camadas mais profundas, havendo a manutençãode uma camada superficial que se constitui em refúgio para peixes; (iii) a coluna de água pode ficar anóxica,mas este evento está relacionado às misturas da coluna de água ou liberação de água pela superfície; (iv) ascondições vigentes durante o enchimento são temporárias, voltando às condições favoráveis em curtoperíodo de tempo e (v) quanto maiores forem as vazões afluentes durante o enchimento do reservatório,menores serão as chances de se instalarem condições desfavoráveis no reservatório e menor será o tempo derecuperação das condições favoráveis.”
330 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de microorganismos – bactérias, fungos ealgas cianofíceas –, a qual, ao longo dosprocessos metabólicos, produz substânciasque conferem mau gosto ou odor à água,especialmente sob condições anóxicas(PLOSKEY, 1985).
Os troncos inundados, quando em excesso,podem afetar diretamente a qualidade daágua, pela liberação de substâncias que lheconferem gosto, odor ou coloraçãoindesejáveis. Entre essas substâncias,geralmente mais concentradas na casca dasárvores, destacam-se os fenóis e o tanino.Essas alterações são, entretanto,extremamente transitórias, desaparecendoem poucos dias (CUNHA-SANTINO; BIANCHINI
JUNIOR; SERRANO, 2002).
Acentuada liberação de nutrientes davegetação alagada pode ser observadamesmo em reservatórios já formados,durante fases de deplecionamento dos níveisde água, quando estes permanecem porcurtos períodos de tempo com as margensexpostas.
Como exemplo, no reservatório de Itaipu ,um período de 4 meses em que as margenspermaneceram expostas foi suficiente para oestabelecimento de uma densa comunidadede gramíneas. Com o restabelecimento dosníveis de água normais, a decomposiçãodessa vegetação elevou consideravelmenteas concentrações de fósforo da água,acarretando desenvolvimento maciço deplantas aquáticas flutuantes (THOMAZ;
PAGIORO; BINI; MURPHY, 2002). Esse fatodemonstra claramente que mesmo aremoção da vegetação pode não ser efetiva
no que concerne à eutrofização se medidasque dificultem o estabelecimento de plantasde rápido crescimento não forem adotadas.
Produtores primários
Os efeitos da inundação da vegetaçãoterrestre sobre a produtividade primária,evidenciadosa pela intensa proliferação defitoplâncton, perifiton e macrófitas aquáticas,decorrem primariamente da eutrofização doambiente pelos pulsos de liberação denutrientes. Esse efeito é essencialmenteindireto, podendo entretanto se manifestar apoucos dias do início do enchimento(THOMAZ; PAGIORO; ROBERTO; PIERINI; PEREIRA,2001).
Os fatores determinantes da proliferação dofitoplâncton são a disponibilidade denutrientes, luz e elementos traço, além datemperatura da água, padrão de circulação epredação. Destes, a disponibilidade denutrientes, a penetração da luz e os padrõesde circulação da água podem ser afetadospelo alagamento da vegetação. O primeiro,de natureza química, pode ocorrerindependentemente dos demais. Assim,mesmo nos casos de remoção da vegetaçãoarbórea, a liberação de nutrientes daserrapilheira, das plantas herbáceas e do solopode levar a notáveis incrementos naprodutividade primária do fitoplâncton. Oschamados “paliteiros” têm um papelpredominantemente de natureza física,podendo reduzir a ação de ondas e acirculação horizontal, aumentando, porconseqüência, a transparência da água e apenetração da luz, tendo portanto grande
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 331331331331331
potencial para favorecer o desenvolvimentodo fitoplâncton. Altas densidades de troncospodem, entretanto, restringir a penetração deluz. Além disso, o tempo de renovação daágua (tempo de residência) pode reduzir aprodução fitoplanctônica (PLOSKEY, 1985).
O perifiton (algas e microorganismos que sedesenvolvem sobre substratos subaquáticos)também pode ser afetado por nutrientes,microelementos, luz e predação. Embora nãosujeito às restrições no tempo de renovaçãoda água, dado que se prende ao substrato, éafetado pelas variações de nível dosreservatórios e pelas ações das ondas. Emgeral se desenvolve numa faixa deprofundidade cujo limite inferior é o dapenetração da luz e o superior, o da ação dasondas. Nele se desenvolve uma rica fauna deinvertebrados, importante fonte de alimentode peixes jovens ou mesmo adultos demuitas espécies. Em áreas com zonaslitorâneas desenvolvidas, sua produçãoprimária é o principal suporte da cadeiaalimentar (WETZEL, 1981). Os paliteirosincrementam notavelmente essa produção,visto que disponibilizam substratosadequados para sua instalação edesenvolvimento. O fato de esses substratosserem predominantemente verticaispossibilita seu uso pelas comunidadesperifíticas sob condições de variações donível da água. As plantas herbáceas, emborapossam servir de substrato ao perifiton, têm,ao contrário dos troncos das árvores,presença efêmera. Os “paliteiros” emreservatórios do rio Paraná têm sidoassociados com um elevado potencial para odesenvolvimento de comunidadesperifiticas, e sustentando elevadas
quantidades de peixes, principalmente ocurimba P. lineatus, que se alimenta desserecurso (GOMES; AGOSTINHO, 1997).
A vegetação alagada não é fator determinantepara o desenvolvimento de macrófitasaquáticas (PLOSKEY, 1985). O reservatório deRosana, no rio Paranapanema, teve avegetação arbórea e arbustiva de sua áreaalagada totalmente removida. Entretanto, éesse reservatório que apresenta a maiordensidade e riqueza de macrófitas aquáticasao longo da cadeia de oito reservatórios nessabacia (THOMAZ; PAGIORO; BINI; ROBERTO, 2005). Osfatores mais importantes para odesenvolvimento de macrófitas incluemprofundidade, velocidade da água, ação deondas, temperatura, transparência, qualidadeda água, e interações competitivas entreplantas (BOYD,c 1971). Níveis de água estáveistambém propiciam o desenvolvimento demacrófitas. Entretanto, pelo fato de reduzirema ação das ondas, proverem condiçõesadequadas de sedimentação de sólidossuspensos e, conseqüentemente,incrementarem a transparência da água, ostroncos alagados podem atuarfavoravelmente sobre o desenvolvimentodaquelas submersas. Em relação às macrófitasflutuantes, os “paliteiros” fornecem, além daproteção contra a ação das ondas, umancoradouro para os bancos dessas plantas.Porém períodos de rápida liberação denutrientes, associados à decomposição daserapilheira ou de gramíneas que sedesenvolvem em áreas desmatadas, podempropiciar o profícuo desenvolvimento deespécies livre-flutuantes, como o aguapéEichhornia crassipes e a alface-d’água Pistiastratiotes, dentre outras.
332 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Invertebrados do Plânctone Bentos
O zooplâncton é um componente dosistema ecológico fundamental como eloentre os produtores primários e os demaiscomponentes da cadeia alimentarfitoplanctônica, especialmente as formasjovens de peixes.
A disponibilidade desses elementos nacadeia está relacionada à disponibilidade derecursos (geralmente bactérias e algas) e àqualidade da água, incluindo seu tempo derenovação.
Embora a manutenção da vegetação arbóreana área alagada possa prolongar o períodode produção secundária, a densidade dezooplâncton relaciona-se mais com aliberação de nutrientes e matéria orgânicaparticulada resultante da lixiviação daserrapilheira e decomposição de compostosmais rapidamente degradados (herbáceas,folhas, etc.).
Assim, após os primeiros anos dorepresamento, a produção zooplanctônicaserá mais dependente do influxo denutrientes e detritos alóctones e,subseqüentemente, da produção primáriaautóctone (PLOSKEY, 1985). Decorrido esseperíodo, a vegetação alagada terá baixarelevância sobre a abundância dozooplâncton, restringindo-se adisponibilização de abrigos e à redução nosarrastes dos organismos, pelo efeito físicolocalizado sobre a circulação da água.Indiretamente, a vegetação pode interferir na
transparência da água, penetração da luz eprodução fitoplanctônica. Entretanto, avegetação herbácea que se desenvolve naárea de depleção dos reservatórios pode terum reflexo positivo sobre essa comunidade.
Os invertebrados bênticos são elosfundamentais na cadeia alimentardetritívora, esta considerada de granderelevância em ambientes aquáticosneotropicais. Assim, áreas recentementeinundadas com vegetação terrestre herbáceae litter são rapidamente colonizadas porespécies oportunistas dessa comunidade, queatuam no seu processamento e compõem adieta de grande parte das espécies de peixes.
Destacam-se, em ambientes tropicais, oschironomídeos, cuja densidade em geral seeleva logo após o represamento, o que podeestar associado ao aumento dadisponibilidade de matéria orgânica que seencontrava no ambiente terrestre alagado(BRANDIMARTE; ANAYA; SHIMIZU, 1999). Acolonização dos troncos pelo perifitonaumenta a disponibilidade de hábitat paraorganismos bentônicos que exploram esserecurso na alimentação. Entretanto, o papeldos troncos alagados sobre a abundância deorganismos bentônicos é secundário, vistoque estes são mais dependentes da matériaorgânica terrestre mais facilmenteprocessada, como partículas orgânicas emsuspensão, serrapilheira e herbáceas.
Além de disponibilizar o perifiton, ostroncos submersos reduzem a turbidez e aerosão marginal, com reflexos naestabilização das comunidades bentônicas.Ressalta-se, porém, que, ao contrário do
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 333333333333333
paliteiro, a vegetação herbácea e aserapilheira podem levar a drásticas reduçõesna concentração de oxigênio, restringindo aprodução do fito-zooplâncton e afetando adistribuição dos organismos bentônicos.
O fato de as camadas anóxicas sedesenvolverem, predominantemente, a partirdo fundo, torna essas comunidades maissusceptíveis de impacto. Destaca-se,igualmente, que os mosquitos, inclusivevetores de doenças, são componentes dessacomunidade na fase larval, e que estes podemse beneficiar das águas estagnadas e daproliferação de macrófitas flutuantes nasáreas mais rasas e marginais, entre ospaliteiros. Em Tucuruí, por exemplo, ocorreuuma grande explosão demográfica demosquitos hematófagos nos anos quesucederam o represamento, o que provocougraves transtornos sociais pela elevadaincidência de picadas (média de 500 picadaspessoa-1 hora -1; PETRERE JUNIOR, 1996).
Peixes
Embora os estudos sobre a importância davegetação alagada sobre a reprodução depeixes sejam escassos, especialmente naAmérica do Sul, é sabido que, em outroscontinentes, diversas espécies utilizam avegetação terrestre submersa como substratode desova e proteção de seus ovos e larvascontra a predação. Para algumas espécies, apresença desses hábitats é indispensável parao sucesso reprodutivo (PLOSKEY, 1985). Outrasespécies, com a denominação geral defitófilas, desovam sobre esses substratos(SAZIMA; ZAMPROGNO, 1985).
A vegetação inundada pode favorecer asobrevivência dos ovos por diminuir a açãode ondas, erosão e cargas de sedimento,reduzindo, portanto, a mortalidade porprocessos físicos. Esse fato é relevante seconsiderarmos que as desovas de espéciesem reservatórios ocorrerem principalmenteem suas áreas litorâneas. Além disso, aestruturação do ambiente, proporcionadapela vegetação inundada, contribui para aredução da mortalidade de larvas e juvenispela predação.
A ictiofauna neotropical, especialmente seusrepresentantes migradores, são fortementedependentes de cheias e do alagamentosazonal de áreas terrestres de planície(várzeas) para o recrutamento de novosindivíduos aos estoques (GOMES; AGOSTINHO,1997; AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI; JÚLIO JÚNIOR,c2003; AGOSTINHO; GOMES; VERÍSSIMO; OKADA,2004). Reservatórios fechados durante ascheias (Itaipu, Corumbá, Manso, entreoutros) apresentaram uma explosãopopulacional de espécies migradoras noprimeiro ano após o enchimento, sendo ofato atribuído por Agostinho, Miranda, Bini,Gomes, Thomaz e Suzuki (1999) àsemelhança desse processo com uma grandecheia, provendo os jovens de alimento eabrigo suficientes para o desenvolvimentoinicial.
Embora com riscos para a qualidade da água,a vegetação terrestre, a serrapilheira e osinvertebrados terrestres afogados fornecemimportantes suprimentos alimentares diretospara algumas espécies, embora com curtaduração (PLOSKEY, 1985). Num estágiosubseqüente, os organismos invertebrados
334 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
bentônicos assumem esse papel. Essesuprimento é responsável pelo rápidocrescimento exibido por muitas espécies nosprimeiros anos e pelo sucesso de insetívorosna colonização inicial. O perifiton e suafauna de invertebrados associada fornecemum suprimento alimentar permanente parapeixes, especialmente para jovens,insetívoros, detritívoros e iliófagos(ver Box 6.5.3).
Embora os ramos e talos alagados forneçammelhores hábitats para a fauna aquática queos troncos das árvores, devido ao fato deconferirem maior complexidade estruturalao ambiente, os troncos são estruturas maisduradouras. Por outro lado, os estudosrealizados em reservatórios de zonastemperadas (CROWDER; COOPER, 1982) e mesmolagoas de várzeas em áreas tropicais (OKADA;
AGOSTINHO; PETRERE JUNIOR; PENCZAK, 2003)
demonstram que hábitats de complexidadeestrutural intermediária são mais eficientesna otimização trófica, permitindo umconvívio sustentável entre predadores epresas, com reflexos positivos sobre adiversidade e equitabilidade.
O excesso de estrutura pode tornar as presaspouco disponíveis e levar a explosõesdemográficas, que podem predar os ovos elarvas do predador, que, por sua vez, podeincrementar as taxas de canibalismo. Aescassez de estrutura, por outro lado,aumenta a eficiência da predação, reduz adisponibilidade de presas maiores e maisrentáveis, com reflexos negativos tambémno crescimento do predador (PLOSKEY, 1985).
É relevante, igualmente, que várias espéciesdesenvolveram ao longo do tempoestratégias de predação que requerem
BoBoBoBoBox 6.5.3x 6.5.3x 6.5.3x 6.5.3x 6.5.3
Interações entre peixes e macrófitas aquáticas em águas interiores: uma revisão.
PETR, T. Interactions between fish and aquatic macrophytes ininland waters: a review. FAO Fisheries Technical Paper, Rome, no.396, 2000. 185 p., ill.
“O reservatório Volta em Gana, oeste da África, com mais de 8.480 km2 de área inundada, foi fechado semque a coberta vegetal fosse removida. Depois do alagamento, as árvores foram colonizadas rapidamentepor ninfas do efemeróptera Povilla adusta, nas áreas litorâneas. Estas ninfas cavam a casca e os troncosmais moles. O enchimento do reservatório demandou quatro anos e conforme o nível da água se elevava,as ninfas passavam a atacar as árvores recentemente submersas. Das plantas submersas que aparecerammais tarde, as ninfas preferiam os talos ocos do Polygonum senegalensis, que fornecem prontamente umacavidade protetora. Como consumidor primário, a Povilla tornou-se um importante elo na cadeia entre asalgas e os peixes, sendo que sua biomassa é a responsável pela manutenção de muitos estoques da ictiofauna,especialmente os insetívoros Alestes, Eutropius e Schilbe, que em 1967 constituíram 81% de todo odesembarque da pesca artesanal. Os estômagos de Brycinus leuciscus também continham altas proporçõesde Povilla. Os mormorídeos Mormyrus macrophthalmus e Mormyrops deliciosus preferiram as ninfas dePovilla e odonatas aos quironomídeos. Ao todo, 14 espécies de peixes basearam suas dietas nesta ninfa enão se constatou indicação de qualquer competição inter-específica ou inter-genérica entre elas.”
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 335335335335335
Steidachnerina insculptaRoeboides paranensis
Acestrorhynchus lacustrisPlagioscion squamosissimus
Serrasalmus marginatusLoricariichthys sp.
Crenicichla nierdeleiniAuchenipterus osteomystax
Astyanax altiparanaeGaleocharax knerii
Iheringichthys labrosusSatanoperca pappaterra
Loricaria sp.Leporellus vittatus
Pimelodus maculatusLeporinus friderici
Hypophthalmus edentatusLeporinus obtusidens
Parauchenipterus galeatusPimelodella sp.
Pimelodus ornatusCichla monoculus
Hypostomus sp.Pterodoras granulosus
Salminus brasiliensisApareiodon affinis
Astyanax fasciatusBryconamericus sp.
Crenicichla sp.Hoplias malabaricus
10203040 0 10 20 30 40720
Número de indivíduos
Sem remoção dasmacrófitas
Após remoção dasmacrófitas
Figura 6.5.3 - Composição da assembléia de peixes no balneário deSanta Helena, reservatório de Itaipu, no ano de 1987 (semremoção das macrófitas submersas) e 1988 (após a remoção).
ambientes estruturados, como, por exemplo,os emboscadores. No reservatório de Itaipu,embora com alta densidade de espéciesforrageiras, a participação da traíra H.malabaricus em algumas regiões passou a serrelevante nos desembarques pesqueirossomente após a proliferação de macrófitasflutuantes, que promoveram estruturação aoshábitats.
As razões pelas quais os peixes buscam oshábitats são, portanto, variadas. Abrigo,alimentação, reprodução parecem os maisrelevantes. Entretanto, a busca de um localpara repouso (menor luminosidade) ou de umreferencial para a orientação tem tambémsido relatado (RYDER, 1977).
As remoções de macrófitasaquáticas constituem-seem oportunidades paraavaliar o efeito daestruturação de hábitatsobre a composição dasassembléias de peixes,visto que são raras asespécies que as incluemdiretamente em sua dieta(AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO
JÚNIOR, 2003).
Em um balneário doreservatório de Itaipu(município de SantaHelena), foi realizado umestudo para subsidiar ocontrole da população dapiranha S. marginatus, emrazão dos freqüentesataques a banhistas. Nos
levantamentos iniciais, realizados no verãode 1987, foi identificada, entre asprofundidades de 1,5 a 6,0 m, uma camada deplantas submersas, composta essencialmentepor Chara, ao longo de todo o balneário.Associadas a essa vegetação foram registradas25 espécies de peixes, entre as quais S.marginatus, que, embora em baixa abundância(2,4%), cuidavam de seus jovens (muitosalevinos da espécie foram capturados), o queexplicava sua agressividade (AGOSTINHO;
GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2003). A recomendação deremoções periódicas e manuais das macrófitasfoi adotada e em amostragem no verãosubseqüente constatou-se notável alteração naestrutura da assembléia de peixes na área(Figura 6.5.3).
336 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Após a remoção da faixa de macrófitas,além de uma drástica redução naabundância da piranha, constatou-se apresença de apenas 10 espécies. Alteraçõesrelevantes foram também registradas nadominância, visto que a equitabilidade nadistribuição, numa escala de 0 a 1, elevou-sede 0,38 para 0,81 entre os períodos.
Pesca
A vegetação terrestre submersa pode criardificuldades para a pesca, especialmentepara o uso de redes de arrasto. Isso, emboraofereça restrições ao pleno uso dos recursospesqueiros, é positivo sob a perspectivaconservacionista, visto que as áreasalagadas com vegetação arbórea atuariamcomo refúgio das espécies à pesca não-seletiva.
A literatura menciona exemplos de áreasem que a vegetação foi removida parafacilitação da pesca, procedimento que não émuito adotado (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR;
BORGHETTI, 1992), visto que os pescadorespreferem correr o risco de danificar seusaparelhos de pesca utilizando-os entre asárvores submersas, local onde os peixes seconcentram (PETR, 2000). No reservatório deItaipu, a pesca artesanal é praticadaprincipalmente nos braços dos antigosleitos de rios contribuintes, ou na margemdireita (Paraguai), onde os paliteiros sãomais abundantes (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR;
PETRERE JUNIOR, 1994). A atratividade dapesca nos paliteiros do lado paraguaio dessereservatório é tal, que os pescadorespreferem correr o risco de uma pesca ilegal
(a pesca é proibida na margem direita),prisão e perda do material de trabalho, afazê-la nas áreas com menor densidade depeixes.
Áreas com vegetação arbórea alagada, peloimpacto positivo que têm sobre o sucessoreprodutivo, crescimento, sobrevivência dejuvenis e recrutamento de novos indivíduosaos estoques pesqueiros, são, em geral, maisprodutivas e as pescarias nelas realizadastêm um rendimento maior (ver Box 6.5.4).
Levantamentos da pesca esportivarealizados no reservatório de Bussy Brake,na Louisiana, revelam que cerca de 90% dapesca ocorre em áreas de “paliteiro” (DAVIS;
HUGHES, c1971). Tendência similar éverificada em outros reservatóriosamericanos, mesmo em alguns onde essasáreas localizam-se distantes das marinas ecujo acesso é difícil e perigoso (PLOSKEY,1985).
Considerações Finais
A maioria das recomendações em relaçãoà limpeza da vegetação em áreas a sereminundadas relaciona-se mais à necessidadedas pessoas que aquelas da biota aquática(PLOSKEY, 1985). Ou seja, os usos múltiplosde reservatórios certamente acarretarãoconflitos quanto a execução dessa prática.
É evidente que o desenvolvimento decamadas anóxicas no reservatório é umfenômeno adverso aos usos múltiplos daágua e à biota aquática. Entretanto, essesproblemas costumam ser efêmeros em
Remoção Prévia da Vegetação: a qualidade da água x disponibilidade de abrigo 337337337337337
BoBoBoBoBox 6.5.4x 6.5.4x 6.5.4x 6.5.4x 6.5.4
Influência dos troncos submersos na abundância de peixes do reservatório de Mourão (baciado Ivaí-Paraná) após 40 anos do enchimento.
ANTÔNIO, R. R.; LATINI, A. O.; AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L.C. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA, 16., João Pessoa,PB, 2005. Resumos... João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba,2005. p. 100-101.
“O reservatório de Mourão, destinado prioritariamente à produção hidrelétrica (Companhia Paranaense deEnergia), com uma área de 1.050ha e tempo de residência de 70 dias, foi fechado em 1964. Sua vegetaçãoarbórea foi parcialmente removida, sendo que, decorridos 40 anos, nas áreas não submetidas à limpeza, ostroncos parcialmente emersos ainda dominam a paisagem. Com o objetivo de demonstrar a influência dostroncos submersos (paliteiros) sobre a abundância e biomassa das espécies, os dados obtidos em dois pontosdeste reservatório (com e sem paliteiro), com o uso de redes de espera, foram analisados. As capturas totais,tanto em número de indivíduos quanto em peso, foram significativamente maiores nas áreas de paliteiros.A tendência de maiores densidades em zonas mais estruturadas, envolvendo a biota aquática e osinvertebrados, é amplamente registrada na literatura especializada, particularmente em zonas temperadas.As diferenças mais acentuadas na abundância que no peso total indicam que estes hábitats são ocupadospredominantemente por indivíduos menores. Tendências similares foram registradas para as principaisespécies. Assim, em relação às diferenças na abundância para as oito principais espécies (97% do númerototal de indivíduos capturados; Oligosarcus paranensis, Astyanax altiparanae, Astyanax sp L,Geophagus brasiliensis, Hypostomus commersonni, Hoplias malabaricus, Rhamdia quelen,Prochilodus lineatus), a única exceção a esta tendência foi a do cascudo H. commersonni, igualmenteabundante em ambos os locais de amostragem. Das espécies analisadas, as duas do gênero Astyanaxmostraram diferenças mais acentuadas na distribuição. Em relação à biomassa, uma das oito espéciesdominantes na assembléia mostrou maiores valores de capturas nas áreas desprovidas de paliteiro (ocascudo H. commersonni) e outra ocorreu indistintamente em ambas as áreas (o curimba P. lineatus).Neste último caso, entretanto, o fato de serem numericamente mais abundantes nas áreas com paliteirorevela que pelo menos os indivíduos menores se concentraram em áreas estruturadas. Embora ambas asespécies sejam detritívoras, a última tem adaptações para tomar seu alimento no perifiton que se desenvolvesobre os troncos. As demais espécies apresentaram maior biomassa capturada nas áreas com troncossubmersos (paliteiros). Dada a escassez de estudos sobre o papel da vegetação inundada sobre a ictiofaunaneotropical, os resultados preliminares obtidos para o reservatório de Mourão fornecem fortes indicações deque a estruturação fornecida pelos troncos submersos é altamente relevante para várias espécies de nossafauna aquática.”
reservatórios com baixo tempo de residênciada água. Espera-se que o período mais críticoseja o do enchimento e a área mais afetadaseja a lacustre.
A modelagem matemática e as simulações daqualidade da água apresentadas nodocumento produzido por Bianchini Junior e
Cunha-Santino (2004) predizemadequadamente o que deverá ocorrer e aspequenas chances de minimizar o problemacom o desmatamento. As recomendaçõesfeitas em relação à época e forma deenchimento do futuro reservatório devemser as alternativas mais eficientes deminimização desse impacto.
338 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Os eventos descritos no presente documentopara o reservatório de Corumbá dãoindicações sobre a correção das prediçõesdesses autores. Durante o período de maiordepleção de oxigênio e nos locais em que acamada anóxica foi mais espessa, os peixesocuparam as camadas superficiais,especialmente nas margens e desembocadurade rios, evitando assim as condiçõesadversas.
É importante considerar também que amanutenção da vegetação na zona dealagamento tem efeitos positivos nacapacidade biogênica do sistema e nabiodiversidade, em especial de peixes. Alémde aumentar a produtividade biológica,proporciona estrutura física adequada àinstalação e proteção de diversos organismos.O efeito positivo mais evidente pode seraferido na produção pesqueira, que tende aser superior nos hábitats de “paliteiro”.
Capítulo 6.6Introdução de Espécies
Introdução
Os capítulos e seções precedentes jávieram, de certa forma, denotando aexistência de um longo histórico deintrodução de organismos aquáticos nasbacias hidrográficas brasileiras. Dentre asespécies liberadas, o maior número foi depeixes, provenientes de outras bacias sul-americanas ou até mesmo de outroscontinentes. Muitas das espéciesintroduzidas se misturaram à faunaoriginal nativa, sendo raros os ambientesem território brasileiro nos quais elas nãoestejam presentes. Na verdade, podemosdescrever as comunidades de peixes quehoje observamos em ambientes naturaiscomo um misto de espécies nativas eintroduzidas. Algumas espécies obtiveramtamanho sucesso no seu estabelecimentoque atualmente já fazem parte do cotidianode ribeirinhos e de outras pessoasdependentes dos recursos aquáticos(AGOSTINHO; PELICICE; JÚLIO JÚNIOR, 2005).
Em reservatórios, a presença de espéciesnão-nativas é ainda mais evidente. As
alterações ambientais promovidas pelosrepresamentos durante a formação e asoscilações decorrentes dos procedimentosoperacionais na barragem nos períodossubseqüentes desestabilizam ascomunidades presentes, diminuindo apopulação de algumas e extinguindooutras, o que cria oportunidades para quenovas espécies se estabeleçam (AGOSTINHO;
MIRANDA; BINI; GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999;SHEA; CHESSON, 2002). Outro fator quecontribuiu na colonização de reservatóriosbrasileiros por espécies não-nativas foi umconstante aporte de indivíduos e espéciesao longo dos anos, a partir de programasde estocagem e escapes de sistemas decultivo, como discutido nos Capítulos 6.2 e6.3. Assim, a ictiofauna presente emreservatórios é o resultado da seleçãoinicial promovida pelos impactos dorepresamento sobre a ictiofauna original,mais as espécies que foram introduzidas econseguiram se estabelecer.
Dessa forma, além das introduçõesdeliberadas através de programas deestocagem, destaca-se também aconsiderável contribuição de escapes a
340 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
partir de áreas adjacentes, especialmente detanques de piscicultura, que se constituiatualmente na principal fonte de introduçõesde espécies. É possível afirmar que, com asatuais práticas de manejo na piscicultura,basta a presença de um sistema de cultivo depeixes não-nativos em alguma área da baciapara que toda ela esteja sob risco potencial.Isso se explica pelo fato de que, apesar denaturalmente fragmentados (geologicamentee ecologicamente, em diferentes graus), ossistemas hídricos estão virtualmenteconectados com todas as suas partes esubsistemas, o que facilita a dispersão deorganismos invasores. Por isso, a introduçãode uma espécie em um determinado localcria a oportunidade de livre dispersão pararegiões a montante e, especialmente, ajusante, tornando difícil o controle apenascom ações isoladas, em pequenas escalasespaciais. Um exemplo emblemático disso édado pela corvina (P. squamosissimus), que,por escapes em um pequeno afluente de umtributário do rio Paraná (rio Pardo, bacia dorio Grande), dispersou-se e estabeleceu-seem toda a bacia.
É comum, então, que ações antropogênicasnas áreas adjacentes sejam responsáveis peloaparecimento de espécies indesejadas nosreservatórios, mesmo queinvoluntariamente. A única forma de seevitar tal acontecimento é a elaboração depolíticas que demandem avaliaçõesminuciosas de segurança no confinamentoantes da implementação de qualquer projetocom risco potencial de introdução. É óbvio,então, que tal tarefa é de complexa execução,necessitando um enorme esforço conjunto,vontade política e sacrifício de interesses
particulares. A exigência nessas avaliaçõesdeveria pautar-se não apenas na dimensãodo empreendimento, mas também na espéciea ser cultivada.
Apesar de estar demasiadamente entrelaçadacom o assunto abordado em tópicosanteriores, entendemos que a presente seçãoé fundamental para esclarecer aspectosespecíficos relacionados à problemática daintrodução de espécies não-nativas. A ênfasepretendida nesta discussão é justificada pelolongo histórico de introduções emreservatórios brasileiros e pela banalizaçãodessas ações, em geral endossada porpolíticas públicas, e que se tornou problemaem praticamente todos os corpos d’água doterritório nacional. Além da óbviaimportância ecológica do tema, soma-se ofato de o Brasil ser signatário da Convençãoda Biodiversidade, promulgada como leipela Presidência da República, e pela qualtemos a obrigação de desenvolver esforços,não apenas para evitar essas ações, mas parao controle e erradicação daquelas jápresentes nos corpos d’águas públicos.
Por fim, ao longo de sua história geológica,o planeta Terra já testemunhou diversosepisódios em que praticamente toda a vidada biosfera foi extirpada. Segundo Eldredge(c2001), essas extinções de espécies tiveramcomo principal causa as mudanças naturaisque ocorreram na dinâmica do planeta,sendo predominantemente de origem física(ex.: mudanças climáticas). Com base nosinúmeros impactos negativos que a espéciehumana vem causando na dinâmica efuncionamento dos ecossistemas naturais,alguns pesquisadores anunciam o prelúdio
Introdução de Espécies 341341341341341
de uma época em que assistiremos a maisum grandioso evento de extinção em massa(WARD, 1997; ELDREDGE, c2001). Porém essaextinção contemporânea, a qual seria a sextagrande extinção na história do planeta, estásendo provocada por uma trama causaldiferente das que ocorreram milhões de anosatrás, visto que tem origem biótica (ex.:impactos causados pela ação humana). A essepropósito, a problemática da introdução deespécies tem posição de destaque: os váriosefeitos negativos decorrentes dasintroduções, associados à dificuldade de suapredição, fizeram com que a introdução deespécies fosse considerada, atualmente, comoa segunda maior causa promotora da perdade biodiversidade (COURTENAY, Jr.; WILLIAMS,c1992; FULLER; NICO; WILLIAMS, 1999; MACK;
SIMBERLOFF; LONSDALE; EVANS; CLOUT; BAZZAZ,2000), ficando atrás somente da destruição dehábitats naturais. Assim, essas informaçõesreforçam ainda mais a relevância, e opresente capítulo se restringirá àapresentação de aspectos conceituais eteóricos, além de esboçar um panorama dostatus das espécies introduzidas nosreservatórios brasileiros.
Aspectos Conceituais,Teóricos e Operacionais
Embora a introdução de espécies realizadade maneira deliberada, como no caso dasestocagens em reservatórios, sejaflagrantemente ilegal, ela ainda ocorre deforma esporádica, clandestina ouequivocada. Além disso, atividadeseconômicas desenvolvidas no entorno ou no
próprio corpo do reservatório ganharamrelevância nos últimos anos, com acomplacência e, eventualmente, apoio dosetor público. Para isso contribueminterpretações propositadamente enganosasde terminologias e conceituações presentesnos dispositivos legais. O uso de espéciesnão-nativas em projetos de piscicultura emtanques localizados em áreas de preservaçãopermanente, em pesque-pagues ou emtanques-rede são atividades fomentadas peloEstado e que têm promovido massivasintroduções, em geral classificadas como“acidentais” (ORSI; AGOSTINHO, 1999).Igualmente, diversos aspectos teóricos dotema, como processos e conseqüências dasintroduções – que explicitamente delatam osriscos e a complexidade da prática – não têmsido atentamente apreciados pelasautoridades na elaboração de planos demanejo que incluem o uso de espécies não-nativas.
Termos e Conceitos
Embora a preocupação com a introdução deespécies tenha sido expressa na legislaçãobrasileira há bastante tempo (Lei N.º 5.197,de 3 de Janeiro de 1967, Artigo 4o: “Nenhumaespécie poderá ser introduzida no País, semparecer técnico oficial favorável e licença expedidana forma de lei”), sua efetiva consideraçãocomo ação impactante surgiu apenas depoisque a conservação da biodiversidade foicolocada em pauta. A Convenção daDiversidade Biológica, assinada em 05 dejunho de 1992 e incorporada à legislaçãobrasileira pelo Decreto Federal N.º 2.519, de16 de março de 1998, prescreve, em seu
342 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Artigo 8º, que o Estado brasileiro deve“impedir que se introduzam, controlar ouerradicar espécies exóticas que ameacem osecossistemas, hábitats ou espécies”.
Mais recentemente, o Decreto N.º 4.339 (22 deagosto de 2002), que instituiu princípios ediretrizes para a implantação da PolíticaNacional da Biodiversidade, estabeleceu queo Estado deve “promover a prevenção, aerradicação e o controle de espécies exóticasinvasoras que possam afetar a biodiversidade.”
Acima de toda essa legislação, encontra-seobviamente a Constituição Federal, queprescreve:
“Artigo 225: Todos têm direito ao meio ambienteecologicamente equilibrado, bem de uso comumdo povo e essencial à sadia qualidade de vida,impondo-se ao Poder Público e à coletividade odever de defendê-lo e preservá-lo para aspresentes e futuras gerações.”
§ 1º.Para assegurar a efetividade destedireito incumbe ao Poder Público:
VII – Proteger a fauna e a flora, vedadas, naforma da lei, as práticas que coloquem em riscosua função ecológica, provoquem a extinção daespécie (...)”
Portarias e Instruções Normativasproduzidas a partir desses documentos legaispermitem, no entanto, que interpretaçõesequivocadas e pareceres controversos sejamelaborados, onde o princípio da precaução énegligenciado. Nesse sentido, a profusão determinologias tem criado subterfúgios queamparam decisões equivocadas delicenciamento. Assim, o termo “espécie
introduzida” tem recebido as mais variadasdenominações, como exótica, alóctone,alienígena, não-nativa, importada,transferida, translocada, transportada,estabelecida, naturalizada, invasora,detectada, etc., que na verdade deveriamrefletir uma conceituação precisa.
A confusão nessa terminologia, derivada douso de critérios distintos (geográfico,taxonômico, operacional ou emocional), nãoé uma questão de semântica, visto quepermite oportunismos econômicos eeleitoreiros na escolha de termos a seremincluídos nos regulamentos da atividadepelos órgãos de fomento ou na elaboração depareceres técnicos específicos, optando poraquele mais conveniente, conforme acircunstância e o interesse. Um exemplodessa confusão foi verificado recentementena permissão do cultivo de espécies não-nativas em águas públicas brasileiras. Nessecaso, considerou-se propositadamente quehavia diferenças marcantes entre espéciesexóticas e alóctones, mas nenhuma entreespécies estabelecidas e detectadas.
Utilizando-se critérios ecológicos egeográficos, associados aos operacionais,essas diferentes interpretações podem serevitadas. Algumas definições já existentes naliteratura, e transcritas a seguir, contemplamesses critérios.
a. Espécie Introduzida: qualquer espécie ouraça, intencional ou acidentalmentetransportada e liberada pelo homem em umambiente fora de sua área de distribuiçãooriginal (VERMEIJ, 1996; WILLIAMSON; FITTER,1996).
Introdução de Espécies 343343343343343
Nessa definição não há distinção entreespécies exóticas e alóctones, eliminando afalsa impressão de que espécies oriundas deoutros continentes ou zonas zoogeográficas(exóticas) sejam mais impactantes queaquelas provenientes de outras bacias ousub-bacias de um mesmo continente(alóctones). Por exemplo, diversas espéciesde carpas foram introduzidas em águasbrasileiras, mas não existe documentação deimpactos relevantes, nem de que tenhamformado grandes contingentes populacionaisem reservatórios brasileiros. Por outro lado,a proliferação da corvina e do tucunaré nabacia do rio Paraná, a partir de bacias doNorte do país, tem-se mostradoextremamente deletéria para espécies nativasde pequeno porte (SANTOS; MAIA-BARBOSA;
VIEIRA; LÓPEZ, 1994).
b. Espécie Transplantada: qualquer espécieou raça, intencional ou acidentalmentetransportada e liberada pelo homem em umambiente onde não ocorria naturalmente,porém dentro de sua bacia geográfica.
Da mesma forma, é conveniente considerarque as espécies transplantadas (transferidas)também podem gerar impactos similares aosdas introduzidas, caso sejam liberadas emcomunidades historicamente isoladas dorestante de uma bacia. Esse foi o caso dasubstituição, quase que completa, de umaespécie nativa de piranha (S. maculatus) doalto rio Paraná (Parque Estadual doIvinheima, MS), por outra (S. marginatus) queocorria no médio Paraná, e que dispersoupara o trecho a montante após a eliminaçãoda barreira representada pelos Saltos dasSete Quedas, com a formação do reservatório
de Itaipu (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 2002;AGOSTINHO; HAHN; MARQUES, 2003). Da mesmaforma, as introduções de várias espécies depeixes do rio Paraná na bacia do rio Iguaçusão, presumivelmente, fontes importantes deimpacto, dado o elevado endemismo nestaúltima (> 70% das espécies). Um fatorpreocupante é que as transferências deespécies podem, com maior probabilidade,gerar hibridizações deletérias às populaçõesnativas.
c. Espécie Estabelecida: espécie introduzidacom uma ou mais populações auto-sustentáveis, aptas a completar o seu ciclo devida no novo ambiente (reprodução erecrutamento).
Essa definição, obtida de Williamson e Fitter(1996) e Vermeij (1996), é extremamenteoportuna pelas suas implicaçõesoperacionais nos processos relacionados àliberação de espécies para a estocagem eaqüicultura. Nela está implícito que oregistro de indivíduos em atividade dedesova (atestado em lâminas histológicascom folículos vazios nas gônadas) não ésuficiente para que uma espécie introduzidaseja considerada estabelecida. Da mesmaforma, a presença de ninhos ou alevinos nãoimplica nas suas viabilidades. Serianecessário discernir entre alevinos e juvenisoriundos de escapes continuados de cultivosartificiais existentes no entorno, daquelesproduzidos pelo estoque preexistente.Assim, é necessária uma constatação séria emeticulosa do ingresso de novos indivíduosao contingente populacional, a partirdaqueles presentes no corpo d’água(recrutamento).
344 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
d. Espécie Localmente Estabelecida: espécieintroduzida com uma ou mais populaçõesreproduzindo naturalmente, porém comdistribuição muito restrita e sem evidênciade expansão natural.
Essa definição, fornecida por Fuller, Nico eWilliams (1999), tem também umaimportante implicação operacional, dadoque faz distinção entre populaçõesamplamente disseminadas na bacia.Espera-se que bacias hidrográficascomportem espacialmente distintaspopulações ou comunidades, e que uma dasespécies estabelecidas esteja interagindoapenas com uma ou algumas delas.Barreiras naturais ou artificiais devem serconsideradas antes de classificar uma dadaespécie como estabelecida na bacia.
Nesse contexto, a lista de espécies detectadaspublicadas pelo IBAMA (Portaria 145-anexos) deve ser considerada estritamentecomo tal, ou seja, espécies registradas emambientes fora de sua área de distribuiçãonatural, que podem ou não se estabelecer ese integrar à biota local. Embora essaslistas sejam importantes do ponto de vistaacadêmico, elas têm importânciaoperacional extremamente limitada.Assim, é crucial que se esclareça que asimples presença de uma espécie não-nativa em um sistema é uma informaçãoinsuficiente para que futuras introduções sejustifiquem ou que medidas menosprudentes sejam tomadas, como aliberação dessas espécies para aaqüicultura (especialmente emtanques-rede, de onde os escapes sãoinevitáveis).
Aliás, mesmo a constatação de umestabelecimento local ou mais amplo emuma bacia, não significa que solturasadicionais, deliberadas ou acidentais, possamocorrer sem maiores preocupações. Aintrodução de espécies é uma modalidade depoluição – poluição biológica – e como taldeve ser considerada. Liberações para ocultivo de tilápias em tanques-rede, que vêmse propagando em diferentes pontos da baciado rio Paraná, enquadram-se nesse contexto.O fato de que o grau de impacto de uma dadaespécie introduzida sobre a fauna local estáintimamente relacionado a aspectos de suademografia é sistematicamentedesconsiderado nessas instâncias.
Antes de consumar uma introdução, devemser avaliados os possíveis impactos,buscando alternativas para o intento. Noscasos em que informações de impacto sejamescassas ou inconsistentes, é mais prudentedecidir pela não-introdução, em vista daimpossibilidade de erradicação posterior(vide bagre africano). Como discuteSimberloff (2003), a filosofia de “inocente,até que provem a culpa”, que norteia aspolíticas públicas a respeito do tema, precisaser urgentemente substituída pela de“culpada, até que provem a inocência”, dadoo caráter irreversível das introduções.
Processos Envolvidos nasIntroduções
O conhecimento dos processos e etapasque acompanham cada introdução, desde olocal de origem do peixe até a suaintegração na comunidade receptora, é a
Introdução de Espécies 345345345345345
chave para o melhor entendimento dasdefinições conceituais relacionadas ao tema.Dessa forma, a liberação da espécie ou seuescape é apenas uma das etapas docomplexo mecanismo pelo qual passaramtodas as espécies já integradas numa novacomunidade. Pelo menos quatro etapasfundamentais estão envolvidas, ou seja, (i)transporte, (ii) chegada, (iii)estabelecimento e (iv) integração (MOYLE;
LIGHT, 1996; VERMEIJ, 1996). O sucesso noprocesso de colonização depende dasuperação progressiva de cada um dessesestágios.
A partir de um pool de espécies de uma dadaregião, uma ou mais espécies sãoselecionadas, capturadas e transportadaspara uma bacia hidrográfica diferente, masraramente liberadas diretamente nos cursosnaturais. Os programas oficiais geralmentecontemplam a passagem dos indivíduos porum estágio em tanques, onde sãosubmetidos à reprodução artificial. A proleé posteriormente distribuída pela bacia paraintroduções diretas nos cursos d’água(estocagem), para ser utilizada napiscicultura, ou para fins ornamentais emaquários, de onde alcançam os mananciaispor escape ou solturas deliberadas.
Uma vez em águas abertas, a espécie deverásuperar as resistências ambientais locaispara que tenha sucesso no estabelecimentocomo população auto-sustentável. Essasresistências são de natureza abiótica, bióticae demográfica (SHEA; CHESSON, 2002). Comorestrições abióticas, destacam-se ascaracterísticas físicas e químicas da água (ex:temperatura, oxigênio, transparência e
velocidade), a estrutura dos hábitats (ex:abrigos, natureza do substrato) e adisponibilidade de recursos (para desova edesenvolvimento inicial). Já as restriçõesbióticas estão relacionadas às pressões depredação, competição, doenças, parasitas edisponibilidade de presas. As restriçõesdemográficas ao estabelecimento são, poroutro lado, representadas pelo número deindivíduos que chegam ao novo ambiente, ea habilidade da espécie em aumentar apopulação a partir de um reduzido tamanhopopulacional. A forma como a espécieresponderá a todas essas restriçõesdeterminará seu sucesso na invasão eestabelecimento (SHEA; CHESSON, 2002).
Introduções envolvendo espéciesimportadas de outros continentes têm,então, grande probabilidade de insucesso,pois cada espécie tem uma históriaevolutiva particular, geralmente com forteassociação às condições ambientais de seulocal de origem, podendo ser insuperáveisas restrições ambientais exercidas pelohábitat receptor.
Nas ocasiões em que as espéciesintroduzidas superam todas as barreiras econseguem estabelecimento efetivo, asconseqüências sobre a fauna nativa sãodiversas, de difícil mensuração e, namaioria das vezes, imprevisíveis (MACK;
SIMBERLOFF; LONSDALE; EVANS; CLOUT; BAZZAZ,2000; RODRÍGUEZ, 2001). O resultado varia dosimples estabelecimento da populaçãointroduzida à completa dominância dacomunidade, podendo incluir, entre osdiversos efeitos, a redução populacional deespécies nativas e mesmo extinções nas
346 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ESTÁGIO
0
I
II
III
IV a IV b
V
A+
A+B±
A+B±C±
A+
B±C±
B±C±
B±C±
A+
CAPTURA
TRANSPORTE E LIBERAÇÃO
SOBREVIVÊNCIA NO AMBIENTEE REPRODUÇÃO
SOBREVIVÊNCIA NO AMBIENTEE REPRODUÇÃO
ADEQUACIDADE DO AMBIENTE
E DA COMUNIDADE
ADEQUACIDADE DO AMBIENTEE DA COMUNIDADE
DISPERSÃO
ESTÁGIO
ESTÁGIO
ESTÁGIO
ESTÁGIO ESTÁGIO
ESTÁGIO
Figura 6.6.1 - Modelo conceitual do processo envolvido na introdução de espécies. A, B e Crepresentam os efeitos da pressão de propágulos, requerimentos físicos e químicos do invasore interações com as comunidades, respectivamente, sendo a natureza do efeito simbolizadapor sinal positivo ou negativo (Fonte: , 2004).COLAUTTI; M ISAACAC
comunidades receptoras. Contudo, mesmoque uma dada espécie ultrapasse essesobstáculos, ela deverá vencer também odesafio de se integrar à comunidade nativa.Nessa etapa, a espécie deve interagir com acomunidade local através de mudançascomportamentais e de seu nicho, demaneira a assegurar sua existência a longoprazo – em escala evolutiva, o que tambémpode promover mais alterações nacomunidade e no ambiente.
Um modelo conceitual mais detalhado doprocesso pelo qual uma espécie introduzidase integra a um novo ambiente é dado porColautti e MacIsaac (2004) e representado naFigura 6.6.1. No estágio 0, a espécieencontra-se no hábitat doador; no estágio I,a espécie está sendo transportada; no II, elaestá presente no hábitat receptor; no III, elaé considerada estabelecida; no IVa, ela estáespacialmente disseminada; no IVb, élocalmente dominante; e no V, disseminada
Introdução de Espécies 347347347347347
e abundante em diferentes pontos da bacia.De acordo com esse modelo, termos comoespécie alienígena, alóctone, exótica, importada,introduzida, não-indígena, não-nativa,transferida, translocada, transplantada etransportada referem-se, indistintamente, aqualquer das fases de I a V. Já os termosespécie estabelecida ou naturalizada referem-se às fases de III a V. O termo espécieinvasora deve ser atribuído àquelas das fasesIVa, IVb e V. Com isso, fica claro que atomada de decisões, quanto à utilização emanejo de recursos aquáticos envolvendoespécies introduzidas, poderia ser menosdeletéria com a utilização apropriada dainformação contida nesses conceitos.
Razões para Introduções
A chegada de uma espécie nova em umcurso d’água, por meio da atividadehumana, decorre de solturas deliberadasou escapes de ambientes confinados,devido à ineficiência do confinamento ouacidentes.
Dentre as introduções intencionais, asrazões mais freqüentes são (i) programasde estocagem, realizados com o objetivo demelhorias na pesca comercial ou esportiva;(ii) programas de controle biológico depragas, e (iii) motivações sentimentais. Osprogramas de estocagem de peixes e osprogramas de controle biológico, que sãofundamentados nos princípios debiomanipulação, já foram discutidos noCapítulo 6.2. Diferentemente, a motivaçãosentimental, que leva as pessoas à soltura deespécies não-nativas em ambientes
naturais, decorre de fatores distintos, nãotendo um objetivo ou meta a ser alcançado.Esta envolve principalmente adeptos daaquariofilia, que por motivos diversos,querem se desfazer de seus peixesornamentais e, para não sacrificar essesanimais, se dirigirem ao curso d’água maispróximo e os liberam.
A aquariofilia tem sido responsabilizadapor intensa introdução de espécies, sendoinquietante a facilidade de se conseguirespécies de qualquer parte do mundo naslojas especializadas em aquarismo(PELICICE, 2003). Além dessa facilidade, valedestacar que em muitas feiras de exposiçãoe eventos comerciais realizados no Brasil, écomum a distribuição de peixesornamentais como brindes, principalmentede espécies não-nativas, como o peixe-de-briga Betta splendes, platis Xiphophorus eLebistes, além do peixe-dourado Carassiusauratus. Programas de educação paraconsumidores de peixes ornamentais sãoraros, o nível de esclarecimento decriadores e comerciantes é precário e avenda de juvenis de espécies de grandeporte, que sabidamente terão de ser soltosou sacrificados após o seudesenvolvimento, é permitida. A solturadesses peixes é vista, muitas vezes, comouma atitude de compaixão e umprocedimento francamente “aliado àpreservação da natureza”, mas foipossivelmente a responsável pelaintrodução do apaiari Astronotus ocelatus,de diversas espécies de poecilídeos daAmérica Central, de acarás (como Laetacara)e do peixe-dourado C. auratus em águas doSul, Sudeste e Nordeste do país.
348 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Outra via de introduções com caráteremocional é a liberação de iscas vivas aofinal das pescarias. Essa prática égeneralizada na pesca amadora ouesportiva e provavelmente foi omecanismo de introdução de algumasespécies na bacia do rio Iguaçu (ex.:caborja, tuvira e muçum), em outras baciasnas regiões Sul-Sudeste, e constitui-se emperigo iminente para as pescariasrealizadas no Pantanal. Por exemplo, existea hipótese de que espécies de jejuHoplerythinus unitaeniatus e Erythrinuserythrinus alcançaram a região do alto rioParaná após serem liberadas como restosde isca, e que atualmente estejamcompetindo com a traíra nativa H.malabaricus. Ainda, é comum a venda deespécies de tuvira Gymnotus (na verdadeum complexo de espécies, muitas ainda nãoclassificadas pela ciência) em diversaspartes do país, as quais são transportadaspara pescarias em regiões distantes dolocal de origem, incluindo o Pantanal e aAmazônia. Igualmente, motivo de grandepreocupação tem sido o crescente uso detilápias vivas nas pescarias conduzidas noreservatório de Itaipu (Edson K. Okada,informação verbal), favorecido pelarusticidade da espécie e seu baixo custo.
Ainda com relação à pesca esportiva,presentemente existe uma intensa pressãoexercida por associações de pesca amadorapara a realização de importações etransferências de espécies carnívoras episcívoras para reservatórios do Sul-Sudeste. Esse fato, indubitavelmente, seconfigura como uma das maiores ameaçasà conservação da fauna nativa. Tentativas
de introdução estão sendo conduzidas deforma ilegal, sem o aval dos órgãosambientais, já que em diversas ocasiõesespécies não-nativas têm sido capturadassem que existam registros oficiaisautorizando as solturas. O aparecimentorecente de tucunaré em reservatórios dobaixo rio Paranapanema é emblemático,dada a inexistência de cultivos nasimediações.
Outro aspecto que em nada contribui com opaís para o cumprimento do que prescrevea Política Nacional de Biodiversidade(Decreto 4.339; 22/08/2002) em relação àerradicação e controle de espécies exóticasé a negativa manifestada por algumasassociações de pesca esportiva emcolaborar com a redução dos estoques denão-nativas, como tucunaré e black bass nosreservatórios em que estas figuram comointroduzidas. Negam-se, essas associações,a reter os indivíduos capturados dessasespécies, insistindo na prática do “pesque esolte”, o que poderia se configurar em re-introdução e, por conseguinte, crimeambiental. Ver, por exemplo, o manifestoda Liga Paranaense de Pesca Esportiva(MANIFESTO..., 2004).
Atualmente, entretanto, a principal via deliberação de espécies não-nativas noambiente natural é a dos escapesacidentais, visto que a prática dasintroduções deliberadas está dificultadapela legislação. Assim, o cultivo deespécies não-nativas na aqüicultura episcicultura é considerado o principal vetordas introduções, no Brasil e no mundo,como já discutido no Capítulo 6.3.
Introdução de Espécies 349349349349349
Impactos das Introduções
Como mencionado anteriormente, apóschegar a um novo ambiente, a espécie podeser eliminada, se estabelecer, impactar asresidentes e até eliminá-las, se tornando, aolongo do tempo, elemento constituinte dafauna. Em tese, não há possibilidade de umaespécie se integrar a uma comunidade semque promova modificações sobre algum dosseus elementos originais. A gradação desseimpacto é, entretanto, variável, dependendoem muito da história de vida da espécieinvasora e da forma com que ela utiliza osrecursos. Vale destacar, contudo, que aintegração pode ser um evento dramático,resultando em profundas alterações naestrutura e organização das comunidades(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR; TORLONI, 2000;
SANDERS; GOTELLI; HELLER; GORDON, 2003;AGOSTINHO; PELICICE; JÚLIO JÚNIOR, 2005).
Ao longo da história geológica do planeta, asintroduções de espécies sempre aconteceram,porém numa escala de tempo muito distintae de caráter natural, num fenômenoconhecido como dispersão (KREBS, c1994). Osorganismos invadiram, por inúmeras vezes,ambientes alheios à distribuição original daespécie, fatos que contribuíramsobremaneira para os padrões dedistribuição e diversidade da flora e faunaque testemunhamos hoje (DIAMOND; CASE,c1986; VERMEIJ, 1991). Entretanto, asintroduções promovidas pelo homem sãoartificiais, no sentido de que apresentam duascaracterísticas elementares que podemosdistinguir das introduções naturais: aintensidade e a freqüência com que ocorrem.
Atualmente, uma elevada quantidade deorganismos é liberada fora de sua área dedistribuição natural, num processo queenvolve vários grupos taxonômicos, muitostipos de ambientes e em diferentes partes domundo. Dadas as atuais facilidades detransporte, inúmeras introduções podem serrealizadas em um curto espaço de tempo.Quanto maior o volume e a constância dasintroduções, maior é a probabilidade que uminvasor tem em se estabelecer (KOLAR; LODGE,2001; SHEA; CHESSON, 2002). Então, é possívelque, mesmo em locais onde uma dada espécienão-nativa tenha falhado em se instalar, acontinuidade no processo de estocagem ouescape, com incrementos no número depropágulos que alcançam o ambiente, podemlevar ao seu estabelecimento (RUESINK, 2005).Uma importante agravante é que outrosdistúrbios ambientais geralmente ocorremconcomitantemente às introduções(represamentos, pesca, poluição, alterações dehábitat), aumentando as chances decolonização da invasora e potencializandoseus efeitos negativos, inclusive com apromoção de extinções (GUREVITCH; PADILLA,2004).
Entre as modificações que as espéciesintroduzidas podem impor sobre a faunanativa, destacam-se (i) a competição porrecursos, (ii) a predação exacerbada, (iii) amodificação do hábitat e do funcionamentodo sistema, (iv) a introdução de patógenos eparasitas e (v) as alterações genéticas. Essesimpactos serão detalhados a seguir.
Competição: a competição por recursos,apesar de difícil mensuração e com múltiplasconseqüências, parece ser uma das formas
350 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
mais conspícuas de como as espécies não-nativas conseguem deslocar as nativas. Acompetição ocorre em diferentes níveis,podendo ser por recursos alimentares ou deespaço, como locais para a desova econstrução de ninhos. O resultado maisimediato da competição é uma diminuição norecrutamento das espécies nativas,diminuindo o contingente populacional aolongo do tempo. A elevada freqüência desseimpacto é um fenômeno esperado, dado queespécies com alta capacidade competitiva são
atrativas ao cultivo e à estocagem.Geralmente são espécies com hábitoalimentar onívoro, alto potencial reprodutivo(cuidado parental e múltiplas desovas aolongo do ano) e de elevada rusticidade ante ascondições ambientais. Diversas espéciesafricanas de tilápia se enquadramperfeitamente nessas características, emespecial as do gênero Oreochromis, muitoapreciadas pelo setor aqüicola nacional emundial e já introduzidas em muitosecossistemas ao redor do mundo. O Box 6.6.1
BoBoBoBoBox 6.6.1x 6.6.1x 6.6.1x 6.6.1x 6.6.1
A tilápia africana no lago Nicarágua: ecossistema em transição.
McKAYE, K. R.; RYAN, J. D.; STAUFFER, Jr., J. R.; LOPEZ PEREZ,L. J.; VEGA, G. I.; BERGHE, E. P. van den. African tilapia in LakeNicaragua: ecosystem in transition. BioScience, Washington, DC,v. 45, no. 6, p. 406-411, June 1995.
O lago Nicarágua, localizado no país homônimo, América Central, é o maior lago natural tropical fora docontinente africano, somando mais de 8.200 km2 de área. A região é famosa por disputas ocorridas nos séculosXIX e XX, que pleiteavam a hegemonia comercial da área e a construção de um canal interoceânico, o qualnunca foi concretizado. Além de diversas espécies de peixes marinhas, este lago contém mais de 40 espécies deágua doce, sendo que 16 são ciclídeos nativos, os quais têm mantido historicamente a atividade pesqueira local(os ciclídeos representam 58% da biomassa do lago). Na tentativa de elevar o rendimento pesqueiro do lago eassim atingir o mercado exterior, entre 1983 e 1984 iniciou-se um extensivo programa de estocagem de tilápiasnão-nativas (gênero Oreochromis), incluindo seu cultivo em tanques-rede. Entre 1987 e 1988 pescadoreslocais começaram a relatar a captura de tilápias nas pescarias, correlacionando, inclusive, o aparecimentodestes peixes com o declínio nas capturas de ciclídeos nativos. Inicialmente, os pescadores locais evitaram apesca da tilápia, em razão do gosto de lodo presente na carne. A fim de atestar tais relatos, pescarias experimentaisforam então realizadas no lago. De fato, nas localidades do lago onde a tilápia se encontra ausente ou ainda iniciasua colonização, a captura de ciclídeos nativos nas pescas experimentais se equiparou aos períodos queantecederam as introduções. Além disso, estes locais apresentaram capturas 1,8 vezes maiores do que locaisonde a tilápia se estabeleceu (onde a tilápia soma mais de 50% da biomassa total), e as capturas de diversasespécies de ciclídeos nativos correlacionaram-se negativamente com as capturas de tilápias. Assim, estasinformações corroboram com as queixas e observações feitas pelos pescadores locais. É muito provável que atilápia esteja deslocando competitivamente as espécies de ciclídeos nativas, visto que as espécies de tilápiacapturadas apresentam diversas características que lhes favorecem a colonização de novos ambientes, comoplasticidade morfológica, variabilidade genética, tolerância a stress, rápida taxa de crescimento, rápidamaturação, ampla dieta, comportamento de agregação e cuidado à prole, além de serem maiores que as espéciesnativas, fato importante na determinação de disputas territoriais. Assim, existe um grande potencial para queocorra um desastre ambiental no lago Nicarágua, principalmente devido à possibilidade de ocorrerem alteraçõesna dinâmica do ecossistema. Como a tilápia está em expansão e ainda não atingiu todas as regiões do lago,medidas urgentes são necessárias para conter seu avanço e erradicá-la das regiões em que já se estabeleceu.
Introdução de Espécies 351351351351351
1982 1986-87 1987-88 1992-93 1993-94
Período
0
20
40
60
80
100
Pro
porç
ão
(%)
S.maculatus
S.marginatus
Eliminação da barreira
Figura 6.6.2 - Variações na proporção entre as espécies de piranhas(nativa) e (invasora) na
planície de inundação do alto rio Paraná, após o afogamento deSete Quedas pelo reservatório de Itaipu (modificado de
, 2003).
Serrasalmus maculatus S.marginatus
AGOSTINHO; HAHN; MARQUES
ilustra as mudançasocorridas no lagoNicarágua, AméricaCentral, após aintrodução da tilápia, umepisódio que se tornoufamoso e obteverepercussão mundial.
Um bom exemplo dosefeitos da competiçãovem da formação doreservatório de Itaipu,que alagou Sete Quedas,uma barreira natural àdispersão dos peixesentre os trechos do alto emédio rio Paraná. Com oalagamento, cerca de 17espécies de peixessubiram o rio einvadiram a planície de inundação existentea montante desse reservatório (AGOSTINHO;
VAZZOLER; THOMAZ, 1995). Hoje, quatro delas(a piranha S. marginatus, o cascudo-chineloLoricariichthys platymetopon, o cangatiParauchenipterus galeatus e o armado P.granulosus) estão entre as mais abundantesnas comunidades de peixes nos diversosambientes da planície (GASPAR DA LUZ;
OLIVEIRA; PETRY; JÚLIO JÚNIOR; PAVANELLI; GOMES,2004). Existem hipóteses de que essasespécies não-nativas têm atributos que lhesconfiram alguma vantagem competitivasobre as nativas. De fato, com relação àpiranha, Agostinho, Hahn e Marques (2003)verificaram que a abundância da nativa S.maculatus vem diminuindoprogressivamente (Figura 6.6.2), fato que osautores atribuem à competição exercida pela
piranha invasora S. marginatus. Esta, então,aparenta ser competitivamente superior,devido à sua elevada agressividade e umaeficiente ocupação de territórios paraalimentação e reprodução.
Predação: a liberação de espécies piscívorastem produzido alterações ainda maisdrásticas aos ecossistemas. Quandopredadores vorazes são introduzidos em umnovo ambiente, estes são capazes de dizimarpopulações inteiras de presas.Mundialmente, dois casos clássicos ilustramesse acontecimento, a introdução do tucunaréCichla ocellaris no lago Gatún, canal doPanamá (ZARET; PAINE, 1973) e a introdução daperca do Nilo Lates niloticus no lago Vitória,África (OGUTO-OHWAYO, 1990; KAUFMAN, 1992).Em ambos os casos houve perda de
352 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
biodiversidade e alterações severas noecossistema e no sistema de pesca (ver Box6.6.2 e Box 6.6.3 respectivamente).
No Brasil, muitas espécies piscívoras foramtransferidas entre bacias, como o apaiari A.ocelatus, o tucunaré Cichla spp. e a corvina P.squamosissimus. Entretanto, as duas últimasdespertam maior preocupação, pela grandedisseminação em reservatórios do Sudeste eNordeste. Em reservatórios do rio Grande,por exemplo, o tucunaré e a corvina parecemter promovido grande pressão de predação
sobre as espécies de pequeno porte (SANTOS;
MAIA-BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ, 1994), que, apósterem suas populações deplecionadas,levaram esses invasores a se alimentar dosseus próprios jovens (canibalismo). Damesma forma, existe a suspeita de que nabacia do rio Paraná a corvina tenha exercidointensa predação sobre os estoques domapará H. edentatus, especialmente noreservatório de Itaipu (HAHN; AGOSTINHO;
GOITEIN, 1997), onde o mapará tem grandeimportância para a pesca artesanal(AMBRÓSIO; AGOSTINHO; GOMES; OKADA, 2001).
BoBoBoBoBox 6.6.2x 6.6.2x 6.6.2x 6.6.2x 6.6.2
Introdução de espécie em um lago tropical.
ZARET, T. M.; PAINE, R. T. Species introduction in a tropicallake. Science, New Series, Washington, DC, v. 182, no. 4111, p.449-455, Nov. 1973.
Provavelmente no começo de 1967, um peixe piscívoro da América do Sul, o tucunaré Cichla ocellaris, foiintroduzido no lago Gatún, que apresenta 423,15 km2 de área superficial e está localizado na zona do Canaldo Panamá. A primeira introdução foi acidental, a partir de escapes de um pequeno reservatório quecontinha espécimes trazidos da Colômbia, importados por um empresário com o apoio do governo local. Aespécie foi casualmente introduzida em momentos posteriores, visto que possui atratividade para a pesca,especialmente a esportiva. Apesar de ter sido estimado pelos pescadores, em virtude do entretenimentoproporcionado e pelo valor de sua carne, profundas alterações na comunidade do lago têm sido documentadas,com sérias repercussões no funcionamento e dinâmica de todo o ecossistema. Assim que a população dopredador se disseminou pelo lago (que ocorreu como uma onda devastadora), o efeito inicial foi a dramáticaredução das populações de quase todos os consumidores secundários do lago, incluindo o desaparecimentode seis das oito espécies de peixes antes muito comuns. Esta redução de espécies produziu, conseqüentemente,mudanças de segunda e terceira ordem em outros níveis tróficos do ecossistema, as quais são mais bemapreciadas quando examinamos a teia trófica do ambiente. A diminuição em número de um importante peixeplanctívoro (Melaniris) resultou em mudanças dentro da comunidade de zooplâncton, com o possíveldesaparecimento de um morfotipo de Ceriodaphnia. As populações de consumidores terciários, comoalgumas espécies de peixes e aves piscívoros, antes dependentes de pequenos peixes para sua alimentação,aparecem menos freqüentemente nas áreas do lago onde o tucunaré está presente. Tem ocorrido também,possivelmente, uma explosão de população de mosquitos (vetores de malária), causada pela redução napopulação de peixes insetívoros. Mesmo os produtores primários podem ser afetados por esta introdução, emrazão de alterações na comunidade zooplanctônica. Embora atualmente o ecossistema do lago Gatun estejapassando por rápidas mudanças, os autores antecipam um eventual retorno para alguma forma de equilíbrio.Contudo, isto ocorrerá somente após algum tempo, antes que seja possível avaliar a permanência das muitasmudanças provocadas nos níveis tróficos do ecossistema, ocasionadas pela introdução de um único predadorde topo.
Introdução de Espécies 353353353353353
BoBoBoBoBox 6.6.3x 6.6.3x 6.6.3x 6.6.3x 6.6.3
Alteração catastrófica em ecossistemas ricos em espécies: as lições do lago Vitória.
KAUFMAN, L. Catastrophic change in species-rich freshwaterecosystems: the lessons of Lake Victoria. BioScience, Washington,DC, v. 42, no. 11, p. 846-858, Dec. 1992.
O lago Vitória é um dos grandes lagos naturais africanos, localizado entre a Uganda, Quênia e Tanzânia.Assim como nos outros grandes lagos, o Vitória apresenta uma fauna de peixes notavelmente endêmica,fruto de uma rápida especiação. Em destaque estão espécies da família Cichlidae, as quais 90% são endêmicasao lago, em especial o grupo dos haplocromíneos. A história recente do lago Vitória é marcada por dramáticasalterações nas condições limnológicas e nos estoques de peixes nativos, como resultado de diversos impactosantrópicos. Em especial, a introdução de espécies não-nativas desempenhou papel determinante para ocolapso do ecossistema original. Durante a primeira metade do século XX, a intensa sobrepesca deplecionouos estoques de espécies nativas (devido à mecanização dos sistemas de pesca), estimulando a decisão de seintroduzir espécies não-nativas e melhorar o rendimento pesqueiro. Assim, em 1950 diversas espécies detilápia foram introduzidas, e em 1954 foi liberada a perca do Nilo Lates niloticus, um voraz predador degrande porte. Por volta de 1980 começaram a ocorrer explosões demográficas da perca, o que coincidiu como desaparecimento de muitas espécies nativas, especialmente haplocromíneos, que anteriormente contribuíamcom 80% da biomassa de peixes do lago. Este desaparecimento foi rápido e ocorreu entre 1975 e 1982. Naprimeira metade da década de 1980 a comunidade de peixes do lago estava virtualmente destruída, e o queantes era formado por mais de 400 espécies de peixes foi reduzido a uma comunidade de 3 espécies co-dominantes: a perca somava 80% das capturas nos desembarques pesqueiros, sendo o restante quase todocomposto pela tilápia do Nilo e a espécie nativa omena. Inicialmente, os pescadores locais reclamavamamargamente a presença da perca, que destruía seus apetrechos de pesca, era muito gordurosa e rapidamentedeteriorava na ausência de refrigeração. Como forma de preservação do pescado, os pescadores comumentedefumavam seus produtos expondo-os ao sol, procedimento muito difícil com a perca, que por possuir carnemuito oleosa, necessitava de madeira para completar o processo. Como os estoques de madeira na região jáestavam baixos, acredita-se que o processo de defumação da perca tenha contribuído ainda mais em aceleraro consumo e exaurir os suprimentos de madeira natural. Posteriormente, com a ajuda do capital internacional,a pesca da perca foi desenvolvida com a compra de caminhões e refrigeradores, o que popularizou sua carnena região e permitiu sua exportação, resultando, inclusive, num alto rendimento pesqueiro e grande lucropara as corporações envolvidas. Contudo, os pescadores locais, que nunca antes haviam passado fome emuito bem viviam com a grande diversidade na pesca, agora estão desaparecendo. Continuam a reclamar aausência da rica pesca de tempos passados, principalmente porque estão excluídos deste novo tipo de pesca,sofisticada, em larga escala, tecnológica e mais custosa. Ironicamente, em um lugar que exporta 200.000 tde peixes anualmente, a má nutrição tornou-se um problema presente nas comunidades tradicionais.Igualmente graves têm sido as alterações ecossistêmicas que coincidiram com a irrupção da perca, comodiversas modificações em outras comunidades de plantas e animais, a ocorrência de floração de algas, odesenvolvimento de extensas camadas anóxicas e alterações no padrão de circulação de água. Estas alteraçõeslimnológicas e de produtividade primária estão ligadas ao antigo histórico de eutrofização do lago, antesatenuado pelas grandes populações de haplocromíneos detritívoros, que transformavam poluição orgânicaem biomassa de peixes. Na verdade, a perca rompeu o sistema de reciclagem do lago: com o desaparecimentodos peixes detritívoros, uma grande carga de detritos começou a se acumular, alterando os padrões decirculação de água e promovendo a eutrofização do sistema. A pesca da perca mostra sinais de exaustão, equestões importantes se referem à manutenção das populações de perca, que estão ameaçadas pelo seupróprio efeito de transformar toda biomassa do ecossistema em biomassa de perca. Como o canibalismo seintensificou dramaticamente, não é possível saber se as populações de camarão serão capazes de processaros detritos acumulados e assim, serem assimilados pela perca. Apesar da irreversibilidade das extinções deespécies ocorridas no passado, ações de manejo mostram-se urgentes ao lago Vitória, seja para a restauraçãodo ecossistema, seja para a manutenção da pesca da perca em longo prazo.
354 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Assim, apesar de muito apreciados pelosegmento da pesca esportiva, o controle depiscívoros introduzidos é uma medida quedeveria ser objeto de grande esforço, já quepode produzir depleções populacionaisdrásticas, em curto período de tempo, e dedifícil reversibilidade no ecossistema.
Modificação de hábitats: a introdução decertas espécies pode também promoveralterações físico-químicas e estruturais noshábitats, com reflexos inclusive na dinâmicado ambiente. Por exemplo, espéciesherbívoras, como a carpa-capimCtenopharyngodon idella, têm sidohistoricamente utilizadas no controle deinfestações de plantas aquáticas em lagos ereservatórios. Entretanto, a eliminação davegetação pode ser bastante impactante paraespécies de peixes de pequeno porte, jovensdaquelas de grande porte e invertebrados,que utilizam esse substrato como refúgio esítio de alimentação (CASATTI; MENDES;
FERREIRA, 2003; PELICICE; AGOSTINHO; THOMAZ,2005).
Além disso, a eliminação exagerada davegetação submersa pode levar a umaprofunda alteração na dinâmica de umsistema, passando de um estado de águasclaras, dominadas por macrófitas, para umestado de maior turbidez, dominado porfitoplâncton (DONK; BUND, 2002). De maneirasemelhante, a tilápia do Nilo é conhecida porse alimentar do zooplâncton herbívoro e,assim, promover a proliferação massiva dealgas, com impactos negativos sobre aqualidade da água, tornando-a imprópria oude difícil tratamento para o consumohumano. Algumas espécies de carpa (ex.:
Cyprinus carpio) podem participardiretamente do processo de turbação, aorevirarem o sedimento de ambientes rasos.Por exemplo, em canais de irrigação naArgentina, um estudo verificou uma fortecorrelação positiva entre a turbidez da águae a biomassa de C. carpio, atestando ainda aausência de plantas aquáticas submersasnessas condições (FERNANDÉZ; MURPHY; LÓPEZ
CAZORLA; SABBATINI; LAZZARI; DOMANIEWSKI;
IRIGOYEN, 1998). A turbação da água pelorevolvimento do fundo é um importantemecanismo que pode alterar a dinâmica dosistema, devido à liberação de nutrientes nacoluna d’água, que estimula a proliferação dealgas (eutrofização; JANA; SAHU, 1993).
No Brasil, carpas provenientes da Ásia foramliberadas em muitos reservatórios, mas nãoexiste registro de que tenham eliminadograndes quantidades de vegetação aquáticaou que tenham diminuído a transparência daágua. Aliás, essas carpas estabelecerampopulações, mas nunca atingiram elevadasdensidades, talvez pelas elevadas dimensõesdos reservatórios brasileiros. Vale ressaltarque as carpas foram as primeiras espéciesnão-nativas trazidas para territóriobrasileiro, ainda no século XIX, para autilização na aqüicultura.
Introdução de patógenos: a transmissão depatógenos e a introdução de novos parasitassão fenômenos que acompanham asintroduções de peixes, sendo detectadasapenas tardiamente, devido à invisibilidadedo patógeno. Os peixes são normalmentehospedeiros de uma gama de organismos,como vírus, bactérias, fungos e diversosinvertebrados, que adquirem caráter
Introdução de Espécies 355355355355355
patogênico, principalmente quando aimunidade do animal diminui. O ataque letalde patógenos é bem exemplificado quando aliberação de um único peixe doente numtanque de cultivo ou aquário leva àinfestação massiva de todos os peixes.
Os peixes introduzidos em ambientesnaturais geralmente não passam porquarentena nem por processos dedesinfestação, e, mesmo se passassem, aexistência de patógenos desconhecidosdificultaria o processo de esterilização. Parapiorar, os estoques de peixes a seremintroduzidos costumam ser criados emtanques de cultivo monoespecíficos,usualmente com elevada densidadepopulacional, o que facilita a proliferação depatógenos e epidemias. Não por acaso, doiscrustáceos parasitas (Lernaea cyprinacea eArgulus foliaceus) tornaram-se cosmopolitas,graças às introduções promovidas pelaaqüicultura (AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1996;para mais informações ver Capítulo 6.3).
Degradação genética: com relação àdegradação genética, tal fenômeno temrecebido menos atenção, a despeito de seruma das conseqüências mais agressivas àconservação da biodiversidade (DELARIVA;
AGOSTINHO, 1999). A degradação pode sucedertanto pela (i) introdução de espécies não-nativas ao sistema, quanto pelo (ii)repovoamento de espécies nativas, com asoltura inadvertida de indivíduosprovenientes de criadouros artificiais.
Com a introdução de espécies, os impactoscitados anteriormente podem reduzir ocontingente populacional de certas espécies
nativas. Apesar de raramente avaliada, essaredução no tamanho da população devecontribuir na diminuição da variabilidadegenética inicial, o que pode culminar emdegeneração e, por fim, na inviabilidadepopulacional. Outra possibilidade, mais rara,porém de caráter inquietante, é ahibridização com espécies nativasaparentadas (EPIFANIO; NIELSEN, 2001). Nocruzamento entre espécies existe apossibilidade da produção de proles estéreis,contribuindo para a diminuição, ao longodas gerações, da parcela reprodutora dapopulação. No caso da geração de indivíduosreprodutivamente viáveis, a manutenção dopatrimônio genético da espécie pode sercomprometida.
Como discutido no Capítulo 6.2, orepovoamento com plantéis empobrecidosgeneticamente pode promover a degradaçãogenética dos estoques selvagens. Em um dosraros exemplos, embora envolva umaespécie não-nativa para a região,Calcagnotto e Toledo-Filho (2000)registraram a perda de variabilidadegenética (perda de alelos) nos tambaquiscultivados em uma das mais antigas estaçõesde piscicultura nordestinas. Esses tambaquissão utilizados no repovoamento de açudesda região, e os autores discutem comoconseqüências da perda de alelos adiminuição da resistência a doenças e atémesmo, a longo prazo, a inviabilidadepopulacional desses estoques. Esse exemplosugere que, sem o cuidado com amanutenção da variabilidade genéticanatural da espécie em cultivo, a degradaçãopode, igualmente, suceder em estoquesnativos cultivados para fins de re-povoamento.
356 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Espécies Nome Comum
África
América do Norte
Ásia
Tilápia do NiloTilápia de ZanzibarTilápia mossambicaTilápia-comumBagre-africano
Black bassspp. Bluegill
Bagre-de-canalSalmãoTruta-arco-íris
Carpa-comumCarpa-capimCarpa-cabeçudaCarpa-prateada
Oreochromis niloticusOreochromis (Sarotherodon) hornorumOreochromis (Sarotherodon) mossambicusTilapia rendalliClarias gariepinus
Micropterus salmoidesLepomisIctalurus punctatusSalmo salarSalmo irideus
Cyprinus carpioCtenopharyngodon idellaHypophthalmichthys nobilisHypophthalmichthys molitrix
Tabela 6.6.1 - Algumas espécies de peixes não-nativasintroduzidas em reservatórios brasileiros, importadasde outros continentes
Espécies Não-Nativas emReservatórios
A banalização das introduções de espéciesde peixes em reservatórios brasileiros,aliada às condições favoráveis decolonização para algumas dessas após orepresamento, contribuiu sobremaneira nadeterminação da composição e estrutura dascomunidades ícticas que habitam essesambientes.
É oportuno repetir que os programas desoltura conduzidos durante décadas emvárias bacias hidrográficas brasileiras,como a maioria das ações de manejorealizadas no país, careceram demonitoramento das alterações induzidasnas comunidades ou mesmo da sua eficáciaconforme os objetivos originais. Espéciesnão-nativas foram estocadas em váriosreservatórios brasileiros sem que se tenhaaprendido nada com esseprocesso. Atualmente,sabemos que o investimentorealizado foi um equívoco ehá indicações claras deprejuízos à diversidadebiológica e à pesca (SANTOS;
MAIA-BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ,1994; AGOSTINHO; GOMES;
LATINI, 2004; AGOSTINHO;
PELICICE; JÚLIO JÚNIOR, 2005).Da mesma forma, osresponsáveis pelasintroduções acidentaisjamais foram penalizadospelos crimes quecometeram.
A distribuição das espécies não-nativasoriundas de outros continentes e de outrasbacias sul-americanas é analisada nestetópico, considerando, dentre outrasinformações, os 77 reservatórios brasileirosanalisados no Capítulo 3.2.
Espécies Oriundas de OutrosContinentes
Dentre as introduções realizadas comespécies de outros continentes (Tabela6.6.1), as mais bem-sucedidas emreservatórios foram as tilápias Oreochromisniloticus e Tilapia rendalli, ciclídeosprovenientes da África. Essas espécies foramtrazidas para o Brasil após 1950, poragências oficiais ligadas ao governo, sendodestinadas ao cultivo em instalações deaqüicultura. Posteriormente, foramliberadas em muitos corpos d’água, a partir
Introdução de Espécies 357357357357357
Espécies
0
10
20
30
40
50
60
T. rendalli
O. niloticus
C. carpio
M. salmoides
I. punctatus
C. gariepinus
C. idella
H. nobilis
Re
serv
ató
rio
s(%
)
Figura 6.6.3 - Ocorrência de espécies de peixes não-nativasoriundas de outros continentes nos 77 reservatórios analisados(detalhes do inventário estão discriminados no Capítulo 3.2).
de programas de estocagens, com o objetivode aumentar o rendimento pesqueiro. Osprogramas de estocagem, amplamentedifundidos até a década de 1990 eatualmente restritos ao Nordeste brasileiro,promoveram a proliferação dessas espéciesem um grande número de pequenasrepresas, açudes e reservatórios (verCapítulo 5.2).
Entre as características intrínsecas quepermitiram o sucesso das tilápias naocupação de reservatórios, destacam-se suaflexibilidade alimentar e alta aptidão deencontrar alimento sob condições de baixadisponibilidade, suas desovas múltiplas ecuidado parental, além da elevadarusticidade e tolerância a condiçõesambientais adversas a outras espécies(OGUTU-OHWAYO, 1990; MCKAYE; RYAN;
STAUFFER, Jr.; LOPEZ PEREZ; VEGA; BERGHE, 1995;PÉREZ; ALFONSI; NIRCHIO; MUÑOZ; GÓMEZ, 2003;PÉREZ; MUÑOZ; HUAQUÍN; NIRCHIO, 2004).Adicionalmente, astilápias formam extensoscardumes quandojuvenis, comportamentoque pode diminuir apressão de predação e,por conseguinte, a taxade mortalidade nas fasesiniciais dedesenvolvimento (UIEDA,
V.S.; UIEDA, W.; FROEHLICH;
AMARAL, 1989).
O elevado potencial decolonização dereservatórios foiconstatado nessa revisão.
Dessa forma, T. rendalli foi registrada emmais de 40% dos 77 reservatóriosanalisados, enquanto que O. niloticus estevepresente em mais de 20% (Figura 6.6.3). Osregistros ocorreram principalmente emreservatórios localizados na região Sudestedo país.
Apesar da elevada ocorrência, pouco se sabea respeito do real estabelecimento depopulações viáveis em alguns dessesreservatórios, visto que os exemplarescapturados podem ser provenientes deescapes de tanques de cultivo. Destaquepara alguns reservatórios localizados no rioTietê, os quais vêm apresentando, emperíodos recentes, elevado rendimentopesqueiro de tilápias. Mesmo assim, valedestacar que, considerando os 77reservatórios investigados, T. rendalli esteveentre as espécies dominantes em apenas um, enquanto que O. niloticus esteve nessacondição somente na região Nordeste.
358 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Outras espécies introduzidas, comconsiderável esforço de estocagem, incluemas carpas asiáticas Cyprinus carpio (carpa-comum), Ctenopharingodon idella (carpa-capim) e Hypophthalmichthys nobilis (carpa-cabeçuda). Com exceção da carpa-capim,introduzida com o objetivo de controlar aexpansão de macrófitas aquáticas emreservatórios, as outras duas o foram com ointuito de aumentar o rendimentopesqueiro, todas idealizadas por órgãosoficiais do governo.
Entretanto, o alcance dos objetivos dasestocagens com essas espécies não parece terocorrido, a despeito do grande esforço erecursos empregados. Em geral, essasespécies ocorrem em baixas densidades nosreservatórios em que foram liberadas,quase todos de área reduzida e em latitudesmaiores (LUIZ, 2000). Como exemplo, nos 77reservatórios avaliados, as carpas nãoestiveram entre as espécies quecompuseram mais de 80% das capturas.Diferentemente das tilápias, as carpas têmciclo de vida mais longo e maior exigênciade substrato para a reprodução, dificultandoa formação de grandes contingentespopulacionais. Embora a carpa-comumtenha sido registrada em quase 20% dosreservatórios analisados, acredita-se quetenha estabelecido populações apenas emalguns, como indicam, por um lado, o fatode sua estocagem deliberada ter-seinterrompido há mais de 10 anos e, poroutro, o elevado número de sistemas decultivo onde ainda está presente. Contudo,somente estudos específicos poderão atestara existência de populações auto-sustentáveis. Diferentemente, a carpa-capim
e a carpa-cabeçuda tiveram ocorrência maisrestrita, presentes em menos de 2% dessesreservatórios.
Introduzido no Brasil no ano de 1986, obagre-africano Clarias gariepinus éatualmente encontrado em quase todas asbacias hidrográficas brasileiras (ALVES; VONO;
VIEIRA, 1999; AGOSTINHO; THOMAZ; GOMES,2005), sendo, entretanto, esporádico emreservatórios. Sua presença foi registradanos reservatórios de Passaúna, Caxias eItaipu. Essa espécie apresenta grandetolerância a baixos teores de oxigênio naágua, com adaptações respiratórias que lhegarante longa sobrevida fora d’água. Graçasa essa habilidade, pode se deslocar por terraentre lagoas remanescentes das várzeas (outanques), o que lhe valeu o nome de “bagre-andador”. Tem hábito alimentar onívoro,com tendência à piscivoria, sendo seucultivo ou manutenção proibidos em váriospaíses, onde é considerada espécie-peste. NoBrasil, a Portaria 142-IBAMA, de 22/12/1994, proíbe sua introdução, transferência,cultivo e comercialização na forma viva nasáreas de abrangência das bacias do Paraguaie Amazonas (ver http://www.institutohorus.org.br). Seu cultivo foimuito difundido na década de 1990, sendosua produção ainda elevada no ano 2000(Tabela 6.6.2) e sua comercializaçãorealizada principalmente nos pesque-pagues. Como não há notícia depeixamentos com essa espécie, acredita-seque a sua presença em ambientes naturaisdecorra de escapes de tanques de cultivo,pesque-pagues ou mesmo de alagamento detanques de piscicultura durante oenchimento de reservatórios.
Introdução de Espécies 359359359359359
Estados Produção (t) % do Total
Espírito Santo 90 6,00
Rio de Janeiro 11 0,66
Santa Catarina 377,5 2,21
Tabela 6.6.2 - Cultivo do bagre-africano pelapiscicultura em alguns estados brasileiros, no ano de 2000(Fonte: , 2002)
Clarias gariepinus
IBAMA
Algumas espécies norte-americanas tambémfazem parte da fauna de peixes dereservatórios brasileiros, mas, no geral,apresentam baixas abundâncias emreservatórios. Destaque para os piscívorosblack bass Micropterus salmoides e o bagre-de-canal (ou americano) Ictalurus punctatus,presentes em reservatórios localizados emdiferentes bacias dos Estados do Paraná e SãoPaulo. Considerando os reservatóriosanalisados, o black bass foi observado emapenas 5%, enquanto que o bagre-de-canalem cerca de 3% (Figura 6.6.3).
É importante destacar que, recentemente, ocultivo do bagre-de-canal, que tambémfigura entre as proibidas na bacia do rioParaguai e Amazonas, assim como detilápias, foi autorizado pela SecretariaEstadual do Meio Ambiente do Rio Grandedo Sul para instalações de aqüiculturalocalizadas na bacia do rio Uruguai (BECKER;
GROSSER, 2003; RAMOS; ROSÁRIO; MARCHESAN,2004). Novamente, a pressão do setoraqüícola tem preponderado e guiado atomada de decisões na gestão de recursosnaturais, aparentemente motivadas porpretensões unilaterais, visto quedesconsideram os possíveis custosambientais e sociais decorrentes dasintroduções. Para umaidéia da difusão docultivo do bagre-de-canal, destaca-se que essaespécie representou, noano de 2000, cerca de 4%(859,5 t) da produção dapiscicultura no Paraná e6% (1.008 t) em SantaCatarina.
Ocorreram, ainda, algumas introduçõeslocalizadas, como é o caso de algumasespécies de bluegill, gênero Lepomis, oriundasda América do Norte, que foram liberadasno reservatório Paranoá, DF (RIBEIRO;
STARLING; WALTER; FARAH, 2001). Uma série deoutras espécies foi importada da América doNorte e África, como o salmão Salmo salar, atruta-arco-íris Salmo irideus e outras espéciesde tilápia Oreochromis (Tabela 6.6.1), sendoliberadas em reservatórios e outros corposd’água, porém com grande incerteza acercade seu estabelecimento.
Do exposto, fica evidente que a maioria dasintroduções de espécies não-nativas nosreservatórios brasileiros foi direta ouindiretamente realizada com o apoio ouomissão de órgãos públicos. Preocupaçãoespecial a esse respeito tem sido com aexpansão dos programas de governo para ocultivo em tanques-rede, onde os indivíduosem cultivo estão mais vulneráveis a escapes.O fato de todas as espécies mencionadas nãoestarem entre as dominantes nosreservatórios analisados (excetuando-sealguns casos isolados com tilápias) levantasérias dúvidas quanto ao estabelecimento depopulações auto-sustentáveis, e deve sermotivo suficiente para o uso da prudência no
360 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
manuseio dessas espécies. Vale destacar que,além de todos os impactos potenciais, umaeventual introdução, nessas condições,caracterizaria crime ambiental.
Espécies Transferidas
Um número bem maior de introduçõesaconteceu com espécies transferidas entrebacias e sub-bacias sul-americanas. Porémmuitas delas não tiveram caráter oficial, oque dificulta o mapeamento adequado desuas ocorrências e espécies envolvidas. Alémdisso, a virtual ausência de inventáriosictiofaunísticos antes da construção dosreservatórios mais antigos dificulta muito atarefa de construir um quadro biogeográficopreciso. Sabe-se, entretanto, que, nesse caso,a maioria das introduções decorreu, diretaou indiretamente, de programas deestocagem, em especial pelo setor elétrico,até o início da década de 1990.
Das introduções oficiais, muitas nãoobtiveram os resultados esperados,possivelmente devido aos procedimentosutilizados e ao baixo esforço de estocagemempregado (ver Capítulo 6.2).
Muitas espécies foram trazidas da baciaAmazônica e introduzidas em reservatórioslocalizados por todo o país, em especial nasregiões Nordeste e Sudeste. Programas deestocagem realizaram as transferências,alocando os peixes em estações depiscicultura antes das solturas. Taisprogramas garantiram a introdução dotrairão Hoplias lacerdae, do tambaquiColossoma macropomum e da sardinha
Triportheus angulatus em muitosreservatórios. Essas transferências, seguidasde estocagem, apesar de oficiais, nãosurtiram efeitos significativos na pescaextrativista. Elas conseguiram elevar orendimento do pescado, de fato, em locaisonde são mantidas em situação próxima aode cultivo artificial, com intensa estocagem ecerta alimentação, como é o caso de algunsaçudes nordestinos (GURGEL; FERNANDO, 1994).
As principais espécies amazônicastransferidas, cujo sucesso na colonização dereservatórios foi relevante, foram o tucunaréCichla spp. e a corvina P. squamosissimus.Essas espécies foram levadas para diversasbacias do país, em especial a dos rios Paraná,Paraíba do Sul, São Francisco, além dediversas outras localizadas no Nordeste.Mais de uma espécie de tucunaré foiintroduzida, mas a posição taxonômica e aorigem precisa dos indivíduos são incertas.Essas espécies de tucunaré estabeleceram-semuito bem na região litorânea dosrepresamentos em que foram introduzidas,estando presentes entre as dominantes em10% dos 71 reservatórios inventariados forada região amazônica. Vale ressaltar ainda agrande probabilidade de esse percentualestar subestimado, visto que tal espécie écapaz de evitar redes de espera e, assim, nãoser amostrada de forma adequada. Hoje,como visto anteriormente, o tucunaré seconstitui em real ameaça à fauna original dediversas bacias, devido ao seu hábitopredatório intenso.
A corvina, como já mencionado, é uma dasprincipais espécies introduzidas e bem-sucedidas em muitos reservatórios
Introdução de Espécies 361361361361361
brasileiros. Assim como o tucunaré,também se tornou espécie desejada empescarias comerciais e recreativas. Contudo,essa espécie tem grande potencial paraafetar a fauna de peixes nativa, visto que étambém um voraz predador (SANTOS; MAIA-
BARBOSA; VIEIRA; LÓPEZ, 1994; SANTOS;
FORMAGIO, 2000). O desaparecimento daictiofauna de pequeno porte emreservatórios das bacias dos rios Grande,Tietê e, mais recentemente noParanapanema, tem sido atribuído àpredação exercida pela corvina, em conjuntocom o tucunaré e o apaiari A. ocellatus.Aliás, o apaiari também é uma espécietransferida da bacia Amazônica que, apesar
de não ter obtido o mesmo sucesso que otucunaré e a corvina, mantém populações emdiversos reservatórios. Um importanteexemplo do impacto exercido pela predaçãode espécies não-nativas vem de lagoaslocalizadas na bacia do rio Doce, onde otucunaré foi introduzido, em associação como apaiari e uma espécie de piranha (GODINHO;
FONSECA; ARAÚJO, 1994; LATINI; PETRERE JUNIOR,2004). Essas espécies exóticas reduziramdramaticamente a riqueza da fauna de peixesnativos e esse exemplo, registrado em águasbrasileiras, deveria servir de alerta sobre ogrande risco de danos ambientais queacompanha a introdução de espéciescarnívoras (ver Box 6.6.4).
BoBoBoBoBox 6.6.4x 6.6.4x 6.6.4x 6.6.4x 6.6.4
A redução da fauna de peixes nativa por espécies exóticas: um exemplo de lagos tropicais deágua doce brasileiros.
LATINI, A. O.; PETRERE JUNIOR, M. Reduction of a native fishfauna by alien species: an example from Brazilian freshwatertropical lakes. Fisheries Management and Ecology, Oxford, v. 11,no. 2, p. 71-79, Apr. 2004.
“Foram investigadas as conseqüências da introdução do tucunaré Cichla cf. monoculus, do apaiariAstronotus ocellatus e da piranha Pygocentrus nattereri em lagos da bacia do rio Doce, Brasil, sobre ariqueza e diversidade de peixes nativos, além de testar a eficiência de refúgio promovido por macrófitasaquáticas. Para isso, amostras foram coletadas em lagos com e sem a presença das espécies exóticas, em áreascom macrófitas aquáticas e áreas sem estas plantas. A presença dos exóticos reduziu a riqueza e diversidadeda comunidade de peixes nativos, visto que as três espécies exóticas são vorazes predadoras, com grandepropensão à piscivoria. Nas lagoas onde os exóticos estiveram presentes a riqueza nativa foi sempre menor,e o maior valor de riqueza nativa observado nestes lagos não ultrapassou três espécies. Aproximadamente,a riqueza média estimada (Jacknife) em lagoas sem os exóticos variou de 8 a 10 espécies nativas, enquantoque nas lagoas com a presença dos exóticos esta riqueza ficou entre 1 e 5 espécies nativas. A única espécienativa propensa a permanecer nos hábitats invadidos é a traíra Hoplias malabaricus, espécie carnívorae territorial. A função de refúgio, a qual poderia ter sido atribuída ao adensamento de macrófitas aquáticas,não existe nestes lagos provavelmente porque os peixes exóticos exploram estes hábitats para reprodução.Assim, após a ocorrência de introduções, características bionômicas e comportamentais das espécies nativase exóticas possuem relevante papel determinando as modificações na dinâmica da comunidade. Devido àsintroduções ameaçarem a diversidade de peixes nativos da região, são necessários estudos sobre a dispersãoregional das espécies exóticas e os fatores que minimizam sua propagação.”
362 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 6.6.4 - Ocorrência de apaiari, tucunaré, corvina e outrasespécies não-nativas em 71 reservatórios brasileiros,excetuando-se aqueles localizados na região amazônica eNordeste (ver Capítulo 3.2 para detalhes). A categoria“ausente” representa os reservatórios que não possuemregistro de espécies não-nativas.
Espécies não-nativas
0
10
20
30
40
50
Ausente Apaiari Tucunaré Corvina Tucunaré ouCorvina Outras
Re
serv
ató
rio
s(%
)
0
20
40
60
80
100
BaciasMenores Grande Tietê Paranapanema Paraná Iguaçu
Sub-Bacias
TucunaréCorvina
Rese
rvató
rios
(%)
Figura 6.6.5 - Ocorrência de tucunaré e corvina em reservatóriosde sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Paraná. Sub-bacias menores (n=21), rios Grande (n=8), Tietê (n=6),Paranapanema (n=8), Paraná (n=4) e Iguaçu (n=13).
Para ilustrar o grau de disseminação detucunaré e corvina nos reservatóriosbrasileiros, a Figura 6.6.4 apresenta aocorrência dessas espécies nos reservatóriosinventariados no Capítulo 3.2, excluindoaqueles onde elas são nativas (região Norte).O tucunaré é registrado em pelo menos 35%dos 71 reservatóriosanalisados, enquanto acorvina o é em 32%. Cerca de44% desses reservatórios têmpelo menos uma das duasespécies. É importantedestacar que essas espéciesestão presentes nessesreservatórios por décadas, eali estabeleceram populaçõesviáveis e, em alguns,dominam as assembléias,tanto em número quanto embiomassa. A Figura 6.6.4revela ainda que o apaiaritem registro em 18% dosreservatórios, e que apenas10% deles não contêmregistro de espécies não-nativas. Por fim, cerca de 45%dos reservatórios têm outrasespécies não-nativas,excetuando o tucunaré, acorvina e o apaiari.
Considerando a distribuiçãodo tucunaré e da corvina emreservatórios da bacia do rioParaná, região onde elasforam mais intensamenteliberadas, sua elevadadisseminação fica aindamais evidente (Figura 6.6.5).
O tucunaré está presente em praticamentetodos os reservatórios localizados na calhados rios Grande, Tietê e Paraná. Nosrepresamentos do rio Paranapanema, opercentual de ocorrência foi menor (25%),embora amostragens realizadas em 2005revelem que sua distribuição nessa bacia
Introdução de Espécies 363363363363363
América doNorte
TucunaréCorvinaApaiariPirarucuTambaqui
Ásia
Carpas
África
TucunaréCorvinaApaiariTambaquiSardinha
Tucunaré
DouradoPintadoCurimbaMandiPeixe-rei
TilápiasBagre-africano
Black bassBagre-de-canal
12
3
4
56
7
Figura 6.6.6 - Principais introduções e transferências de espéciesde peixes em reservatórios nas bacias hidrográficas brasileiras.Códigos das bacias: 1 - Amazônica; 2 - Araguaia/Tocantins; 3 -Nordeste; 4 - São Francisco e Doce; 5 - Paraíba do Sul; 6 -Paraná; 7 - Uruguai.
Corvina
vem se ampliando rapidamente(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ.NUPELIA,dados não publicados). Nas sub-baciasmenores, geralmente com pequenosreservatórios, a ocorrência dessa espécie émais restrita.
A corvina, mais antiga na bacia, está tambémpresente em quase toda a série dereservatórios dos rios Tietê, Paranapanema eParaná, e em cerca da metade daqueles do rioGrande. Nos reservatórios localizados emsub-bacias menores, sua ocorrência é maisesporádica.
Os dados obtidos na pesca experimentalmostram que essas duas espécies não estãopresentes em reservatórios da bacia do rioIguaçu (Figura 6.6.5), fatoque é positivo em face doalto grau de endemismoda ictiofauna dessa bacia.Uma extinção local nessabacia poderia se configurarem extinção global.Entretanto, espécies comoo black bass, também umcarnívoro voraz, foi objetode estocagem em algunsde seus reservatórios,sendo registrado na pescaexperimental. Contudo, aresistência à forte pressãode associações de pesca portodo o Brasil, que desejamintroduzir essas e outrasespécies em diversasbacias, deve serespecialmente concentradana bacia do rio Iguaçu.
O pacu do Pantanal Piaractus mesopotamicus éconsiderado também uma importanteespécie que foi levada para outras bacias. Arelevância da introdução desse pacu resideno fato de que, em conjunto com tambaquis eseus híbridos (paqui e tambacu), estão entreas espécies neotropicais mais cultivadas emtanques de piscicultura e pesque-pagues.Conseqüentemente, o aporte para ambientesnaturais através de escapes deve ser grande,mas não se tem registro de que tenhamformado grandes contingentes populacionaisem reservatórios, e seus possíveis impactosainda não são conhecidos.
Importantes introduções ocorreram a partirde transferências de espécies da bacia do altorio Paraná para a bacia do rio Paraíba do Sul.
364 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Embora existam dúvidas sobre as espéciesenvolvidas, é provável que as introduçõesincluíram espécies de curimba Prochilodus,pintado P. corruscans, dourado S. brasiliensis,mandi P. maculatus, dentre outras. A maioriafoi introduzida por programas de estocagem,na tentativa de melhorar o rendimento e asopções de pesca no Paraíba do Sul, uma baciatambém com fauna endêmica e naturalmentecarente de espécies de maior porte (HILSDORF;
PETRERE JUNIOR, 2002). Contudo, essas espéciesnão têm sido registradas em númeroconsiderável (ARAÚJO, 1996). O tucunarétambém foi introduzido na bacia, há mais de50 anos, com intuito de aumentar orendimento pesqueiro e controlarpopulações de tilápias. Hoje o tucunarésustenta uma intensa pesca recreativa noreservatório de Lajes.
O peixe-rei Odonthestes bonariensis, umaterinídeo originário do rio da Prata, dobaixo rio Uruguai e de outras bacias daArgentina, foi introduzido com sucesso emreservatórios da bacia do rio Paraná, emespecial aqueles localizados no rio Iguaçu.Essa espécie foi bem-sucedida na colonizaçãode diversos reservatórios, tornando-seabundante em alguns. Cassemiro, Hahn eRangel (2003) atribuíram tal fato ao hábitopredominantemente zooplanctívoro daespécie, que tem adaptações ao consumodesse recurso, um hábito pouco comum naictiofauna neotropical.
Como salientado inicialmente, a composiçãoda ictiofauna dos reservatórios brasileirosencontra-se modificada pela presença e, emalguns casos, dominância de espécies não-nativas. Um grande número de
transferências foi realizado, porém sem quetenha havido qualquer documentação ouregistro. Assim, excetuando-se osrepresamentos amazônicos, mais de 90% dosreservatórios analisados tiveram registro de,pelo menos, uma espécie não-nativa em suaictiofauna. Essas espécies incluemrepresentantes exóticos ou transferidos,destacando-se as tilápias, carpas, black bass,tambaqui, tucunaré, corvina, apaiari e peixe-rei. A Figura 6.6.6 sintetiza as principaismovimentações de peixes realizadas poratividades humanas nas bacias hidrográficasbrasileiras.
Predição da Colonização e deImpactos
A dificuldade em se predizer o sucesso dasintroduções e seus impactos sobre as espécieslocais ainda é um dos aspectos maispreocupantes (MACK; SIMBERLOFF; LONSDALE;
EVANS; CLOUT; BAZZAZ, 2000). Em águasbrasileiras, esse quadro é ainda pior. Nãohouve, até agora, nenhum estudo com oobjetivo de identificar as características quepermitem uma espécie obter sucesso nacolonização de áreas que não sejam aquelasde sua distribuição natural ou de promovermaior ou menor grau de impacto. Essasinformações, se disponíveis, permitiriam oentendimento dos processos, o embasamentode instrumentos legais e a conscientizaçãopopular.
Mesmo as rotas que conduziram a maioriadas espécies a chegar em diferentesreservatórios, que permitiriam medidas deprevenção de novos ingressos, são
Introdução de Espécies 365365365365365
desconhecidas. Para a maioria dosreservatórios, desconhece-se, inclusive, háquanto tempo as espécies introduzidas estãopresentes. Por exemplo, suspeita-se que obivalve Corbicula fluminea precedeu em pelomenos uma década a dispersão do mexilhãodourado Limnoperna fortunae nas águas doalto rio Paraná, a partir da foz do rio daPrata. Caso os mecanismos de dispersão daprimeira tivessem sido elucidados antes, ocontrole da disseminação da segunda seriamais provável.
A Tabela 6.6.3 apresenta, de formapreliminar, informações biológicas,comportamentais e de estratégia de vida dealgumas espécies não-nativas encontradasnos reservatórios brasileiros. As informaçõesforam reunidas de Araújo-Lima, Agostinho eFabré (1995), Vazzoler (1996), Fuller, Nico eWilliams (1999), Nakatani, Agostinho,Baumgartner; Bialetzki, Sanches, Makrakis ePavanelli (2001) e da página eletrônica FishBase (FROESE; PAULY, 2006). As espéciesapresentadas são aquelas que se destacaramem freqüência de ocorrência nosreservatórios avaliados no Capítulo 3.2.
Analisando tais informações, é possívelobservar alguns padrões interessantes. Dasseis espécies mais disseminadas nosreservatórios brasileiros (tilápia comum,tucunaré, corvina, tilápia do Nilo, carpacomum e apaiari), cinco delas pertencem àordem Perciformes, um grupo filogenéticode origem marinha e considerado maisrecente na escala evolutiva, quandocomparado com os Otophysi (LOWE-
McCONNELL, 1999). Estudos futuros poderãoverificar se as espécies desse grupo têm
particularidades que lhes conferemvantagens na colonização de diferentesambientes. Por enquanto, como se verá, asinformações reunidas aqui podem revelaralguns indícios.
Por exemplo, dessas seis espécies, quatro sãociclídeos, têm o comportamento de formarcardumes e dispensam algum cuidadoparental à prole, incluindo a construção deninhos. A formação de cardumes é umaestratégia capaz de diminuir a pressão depredação, além de facilitar a ocorrência deeventos reprodutivos pela agregação deindivíduos. Já o cuidado parental eleva asobrevivência dos jovens. Além disso, essasespécies têm dieta predominantementeonívora e carnívora (incluindo a piscívora),atingem a maturidade sexual num curtoperíodo de tempo (até 1 ano) e desovampreferencialmente em hábitats protegidos daregião litorânea.
Outras características reprodutivas parecemdesempenhar relevante papel, determinandoo sucesso do invasor. Assim, as espécies maisdisseminadas tenderam a apresentar diversasdesovas durante o ano, com um períodoreprodutivo bem extenso (algumas o anotodo) e foram classificadas na categoria deEquilíbrio, de acordo com a classificação deWinemiller (1989) – para detalhes dessaclassificação, ver Capítulo 2. Essaspeculiaridades denotam que tais espécies sãoprolíficas, produzem diversas proles numano e, o mais importante, tendem aapresentar pouca dependência entre osucesso reprodutivo e as dinâmicas sazonaisdo ciclo hidrológico. Isso quer dizer que aausência de pulsos hidrométricos sazonais,
366 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
T. rendalli
Cichla
P. squamosissimus
O. niloticus
C. carpio
A. ocelatus
M. salmoides
H. lacerdae
T. angulatus
H. nobilis
C. idella
H. molitrix
C. gariepinus
I. punctatus
H. unitaeniatus
L. macrocephalus
C. macropomum
O. bonariensis
A Oni 44 1,4 + + 0,5-1 + Veg > 4 12 E Dem
spp. A Pis 35 11 + + 1-2 + Sub 3 a 4 12 E Dem/Ad
A Car/Pis 32 30 + - 1 - Ab/Sub 1 5 E Pel
A Oni/Alg 23 3 + + 0,5-1 + Sub > 4 12 E Dem
B Oni 19,5 0 - - 0,5-1 - Veg > 1 12 E Ad
A Car/Pis 18 1,4 - + + Veg/Sub > 1 5 E Dem/Ad
A Car/Pis 5,2 0 - + 3-4 + Sub 1 4 a 5 E Dem
D Pis < 5 1,4 - + + Sub > 4 12 E
D Oni < 5 1,4 + - - Ab/Sub 1 5 S Pel/Dem
B Zoo < 5 0 - - 3-5 - Ab/Sub 1 3 E
B Her < 5 0 - 1-2 - Rio 1 4 E Dem
B Plan < 5 0 - - 2-4 - Ab/Sub 1 3 E
C Car/Pis < 5 0 - + 2 - Sub 1 4 E Ad
C Car/Pis < 5 0 + - Sub 1 E Dem
D Car/Pis < 5 0 - + - Sub E
D Oni < 5 0 + - - Ab/Sub 1 S Pel
D Fru < 5 0 - - - Ab/Sub 1 5 S Pel
E Zoo < 5 0 + - - Ab/Sub 2 E
Espécies Ordem Dieta % T % D Cardume CP IdadePM
Ninho HabitatDesova
Desovas/ano
Período Seleção Ovos
Ordem:A= Perciformes; B = Cypriniformes; C = Siluriformes; D = Characiformes; E =AtheriniformesDieta: Oni = onívora; Car = carnívora; Pis = piscívora;Alg = algívora; Her = herbívora; Zoo = zooplanctívora; Fru = frugívoraCP: cuidado parentalPM: primeira maturação, em anosPeríodo: reprodutivo, em mesesSeleção: E = equilíbrio; S = sazonal (baseado em , 1989)Habitat Desova: Veg = vegetação; Sub = substrato;Ab = águas abertas; Rio = leito do rioOvos: Dem = demersal;Ad = adesivo; Pel = pelágico
WINEMILLER
Tabela 6.6.3 - Caracterização das principais espécies não-nativas presentes emreservatórios brasileiros. A tabela apresenta a ordem taxonômica das espécies, a dieta,o percentual de reservatórios com registro da espécie (%T; com base na avaliação doCapítulo 3.2, excluindo os reservatórios onde elas são nativas), o percentual dereservatórios em que a espécie esteve entre as dominantes (%D), além de informações arespeito do comportamento e estratégia de vida
condição característica de ambientes dereservatório, não se configura em fatorlimitante para que o ciclo de vida dessasespécies se complete. Adicionalmente, o fatode a maioria desovar em locais espacialmenteestruturados (região litorânea), com ovosadesivos ou demersais, pode diminuir amortalidade de jovens, além de essas espéciescolocarem os ovos diretamente em hábitats
propícios para o desenvolvimento dos jovens.Apesar dessas espécies serem prejudicadas emreservatórios com freqüente variação de nívelhidrométrico, devido a exposição dasmargens em momentos de seca, no geral,todas as características mencionadas devemcontribuir para elevar o fitness dos indivíduos(capacidade de deixar descendentesreprodutivamente viáveis).
Introdução de Espécies 367367367367367
Com essas informações, a princípio,levantamos a hipótese de que a presença decertos atributos reprodutivos facilita osucesso da invasão, como o cuidado parental,a construção de ninhos (importante nacolonização de reservatórios antigos), adesova em ambientes abrigados, múltiplasdesovas no ano e extensos períodosreprodutivos. É provável que taiscaracterísticas aumentem a probabilidade dea espécie não-nativa em estabelecerpopulações auto-sustentáveis,principalmente em reservatórios maisantigos. Além disso, com base nessasevidências, parece que tais espécies nãoenfrentam dificuldades na localização dehábitats adequados para o cumprimento dasetapas da dinâmica populacional, aspectoque, segundo Williamson e Fitter (1996), éfundamental e garante vantagens ao invasor.
Contudo, é importante salientar que, apesarda elevada freqüencia de registros nosreservatórios, essas espécies nãodesenvolveram grandes contingentespopulacionais e raramente estiveram entreas espécies dominantes, com exceção dotucunaré e das tilápias (em poucos casos;Tabela 6.6.3). Por isso, independentementedos padrões bio-ecológicos observados, éfundamental a realizaçãode estudos quedeterminem se a elevada ocorrênciaconstatada resulta de recrutamento a partirde populações estabelecidas, ou se taisindivíduos são provenientes de escapesacidentais ou introduções clandestinas.
A necessidade de refinar e reunir outrasinformações sobre essas espécies tambémreside no fato de que, curiosamente, a
espécie não-nativa mais bem-sucedida nacolonização de reservatórios, a corvina,apresentou exceções com relação a algumasdas características citadas anteriormente. Porexemplo, essa espécie não apresenta cuidadoparental nem constrói ninhos, desovandogeralmente na coluna d’água. Além disso,reproduz uma única vez a cada ano, emboraa desova seja parcelada e o períodoreprodutivo seja relativamente longo. Essesaspectos são intrigantes, visto que, namaioria dos reservatórios em que a corvinaesteve presente, ela pertenceu ao grupo dasespécies numericamente dominantes (~ 30%).Outras características devem contribuir parao espetacular sucesso dessa espécie nacolonização de reservatórios, destacando-se aprodução de ovos pelágicos (raros entre asespécies presentes em águas interioresbrasileiras), muito pequenos (<0,5 mm;SUZUKI, 1992) e de rápido desenvolvimento, aformação de grandes cardumes de indivíduosjovens, o amplo espectro alimentar(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1996) e a exploraçãode hábitats subexplorados em reservatórios(zonas abertas; AGOSTINHO; MIRANDA; BINI;
GOMES; THOMAZ; SUZUKI, 1999).
É preciso enfatizar que consideramossomente características da biologia dosinvasores, mas existem muitas situações emque os atributos da comunidade, do hábitat edo ecossistema receptor podem influenciar,impedindo ou facilitando, o sucesso dasespécies não-nativas (MOYLE; LIGHT, 1996;VERMEIJ, 1996; DAVIS; THOMPSON; GRIME, 2005;RUESINK, 2005). Como exemplo, podemoscitar a riqueza de espécies da comunidade, aausência de certos grupos tróficos, a presençade parasitas, oportunidades de nicho, a
368 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
presença de distúrbios, as condiçõesabióticas, a produtividade do sistema easpectos comportamentais do invasor(MOYLE; CECH, Jr., 1996; HOLWAY; SUAREZ, 1999;LEVINE, 2000; SHEA; CHESSON, 2002; DAVIS;
THOMPSON; GRIME, 2005). Assim, a inclusão deoutras perspectivas também auxiliará noentendimento do processo de invasão eestabelecimento. Contudo, vale destacarque a história de vida da espécieintroduzida, por si só, parece desempenharum importante papel (RUESINK, 2005).
Com relação à predição de impactosambientais decorrentes das introduções,tema muito discutido, porém sem soluçõesconvincentes (MOYLE; CECH, Jr., 1996; MACK;
SIMBERLOFF; LONSDALE; EVANS; CLOUT; BAZZAZ,2000), a Tabela 6.6.4 foi elaborada natentativa de expor as conseqüências geraisesperadas após a introdução de algumas dasespécies não-nativas presentes nosreservatórios brasileiros. Apesar de algunsdos impactos serem postulações, a maiorparte provém de observações empíricas detrabalhos realizados ao redor do mundo,citados anteriormente ao longo de toda estaseção.
É interessante observar que, de todas asintroduções citadas, algum tipo de impactoé teoricamente esperado. Alterações naestrutura da comunidade de peixes são umdos resultados mais prováveis, com reflexosdiretos nos processos do ecossistema e, porfim, no sistema de pesca. Em algumassituações é provável um aumento norendimento pesqueiro a curto prazo, como éo caso da corvina, do tucunaré e da tilápia,mas que em escala temporal maior, a
tendência se reverte. Nesse caso, adiminuição da diversidade de espécies paraa pesca, em conjunto com a dominância dasinvasoras, diminuirá o rendimento e aqualidade do pescado, ou seja, algunsserviços prestados pela biodiversidadedeixarão de existir (ex.: maiores opções paraa pesca e mercado, ou a compensação deestoques deplecionados pela possibilidadede se pescar outras espécies-alvo). Comoresultado final, espera-se então umasimplificação do sistema de pesca e piora naqualidade e quantidade do pescado.
Os impactos de introduções têm maiorprobabilidade de serem deletérios quando aespécie introduzida é carnívora ou piscívora(MOYLE; CECH, Jr., 1996). Pela sua elevadaagressividade, essas espécies são deinstalação mais provável, e seus efeitos sãoreconhecidos como um dos mecanismosbiológicos de maior poder detransformação nas comunidades nativas.Assim, além da virtual impossibilidade dese eliminar seletivamente um peixeintroduzido no sistema, seus efeitos sãoextremos no ambiente e, na eventualidadede um processo de extinção de espécies, esteé irreversível (KAUFMAN, 1992; SIMBERLOFF,2003).
Em geral, as espécies carnívoras têm apredileção nos programas de estocagem sobo argumento de sua adequação à pescaesportiva e no aproveitamento de biomassaem ambientes dominados por espécies demenor porte. Porém, a longo prazo, asinúmeras conseqüências negativas sobre acomunidade residente terminam porempobrecer o sistema de pesca, já que
Introdução de Espécies 369369369369369
proporcionam a perda de recursos aquáticosnativos e, portanto, os serviços prestadospelos ecossistemas. Esse grupo de espéciesé, portanto, merecedor de maiores cuidados,tanto na prevenção de sua introduçãoquanto nos programas de erradicação.
A introdução de parasitas associados àespécie introduzida ou ao meio no qual elaé transportada constitui-se fenômenorecorrente, porém passível de sercontrolado com um maior rigor nafiscalização sanitária junto às estações deprodução de alevinos, pisciculturas epesque-pagues. É importante ter em menteque, dependendo da natureza eagressividade do parasita, a longo prazo elepode promover a diminuição norecrutamento das espécies nativas,determinando a inviabilidade populacionalde algumas espécies e alterando a estruturadas comunidades nativas.
A modificação de hábitats imposta poralgumas espécies não-nativas é, também,possível. Como comentado anteriormente,algumas espécies de carpas têm essacapacidade, removendo bancos de macrófitasaquáticas ou elevando diretamente aturbidez do corpo d’água. Felizmente algumfator ainda a ser elucidado impede aproliferação dessas espécies nos grandesreservatórios. Mesmo assim, a preocupaçãocom essa possibilidade é legitima, pois aturbação da água deteriora sua qualidadepara o consumo humano, contribui na perdade outros recursos naturais, inclusive osrelacionados à pesca, conflitando com aspossibilidades de usos múltiplos doreservatório.
A ocorrência de competição com espéciesnativas talvez seja o mecanismo de maiordificuldade na predição, visto que suaocorrência é de difícil mensuração, oresultado depende de diversas outrasvariáveis (disponibilidade de recursos,eficiência do competidor, partição dehábitats) e sua intensidade variaconsideravelmente no tempo e no espaço(REYNOLDS, 1998; HARRIS, 1999). Contudo, seconstatada a ocorrência de competiçãoenvolvendo espécies não-nativas, sua gamade impactos pode resultar em alteraçõesprofundas nas comunidades receptoras e, alongo prazo, modificar a dinâmica doecossistema e as pressões evolutivas locais.
Da mesma forma, a predição de quaisespécies intercruzarão com espécies nativas émuito difícil. A ocorrência desse fenômenodependerá de predisposições filogenéticas,comportamentais, fisiológicas e genéticas, deambas as espécies, para que seu cruzamentose torne viável. Contudo, diversos efeitosdeletérios seguidos da hibridização podemser preditos, com a preocupantepossibilidade de degeneração genética,inviabilidade populacional e, por fim, perdade patrimônio genético.
Os mecanismos pelos quais varias espéciesintroduzidas oriundas de outras bacias dopaís podem afetar elementos dascomunidades receptoras, bem como os seusimpactos, são ainda desconhecidos(assinalados como “incertos” na Tabela6.6.4). Mesmo para aquelas espécies em quemecanismos e impactos são conhecidos, háainda a necessidade de mais estudos paraelucidá-los e quantificá-los ou mesmo
370 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
P.squamosissimus
Cichla .
M. salmoides
I. punctatus
A. ocelatus
H. lacerdae
C. gariepinus
H. unitaeniatus
C. idella
C. carpio
T. rendalli
O. niloticus
T. angulatus
C. macropomum
L. macrocephalus
O. bonariensis
sp
Todas
Incertas
Incertas
Predação
Parasitismo
Herbivoria
Bio-Turbação
Competição
Hibridização
Incerto
Alterações na demografia depeixes nativos
Recrutamento das espécies depeixes nativas
Estrutura das populações depeixes nativos
Rendimento da pesca
Introdução de parasitasRecrutamento das espécies depeixes nativas
Alteração na estruturapopulacional (peixes nativos)
Remoção de habitatsSubstituição dos produtores
primáriosTurbaçãoEutrofizaçãoRecrutamento de invertebradosRecrutamento de peixes depequeno porte
Rendimento da pesca
TurbaçãoAlteração de habitatsEutrofizaçãoRendimento da pesca
Recrutamento das espécies depeixes nativas
Estrutura das populações depeixes nativos
Rendimento da pesca
Alteração da freqüência gênica
Incertos
Alteração na estrutura das comunidadesExtinção de espéciesDiversidade regional
Alteração na estrutura tróficaPesca menos diversificadaRendimento da pesca
Alteração na estrutura das comunidadesExtinção de espéciesAlteração na estrutura tróficaQualidade do recurso pesqueiro
Modificação nas pressões evolutivas
Alteração na estrutura das comunidadesExtinção de espéciesDiversidade regional
Alteração na estrutura tróficaDiversidade na pescaRendimento da pescaQualidade da águaUsos múltiplos do reservatório
Alteração na estrutura das comunidadesExtinção de espéciesDiversidade regional
Alteração na estrutura tróficaDiversidade na pescaRendimento da pescaQualidade da águaUsos múltiplos do reservatório
Alteração na estrutura das comunidadesExtinção de espéciesDiversidade regional
Alteração na estrutura tróficaDiversidade na pescaRendimento da pesca
Modificação nas pressões evolutivas
Diversidade genéticaDegeneraçãoInviabilidade populacionalExtinção de espécies
Incertos
Mecanismo ExemplosImpactos Prováveis
Curto Prazo Longo Prazo
Tabela 6.6.4 - Impactos prováveis derivados da introdução, estabelecimento e integraçãode algumas espécies não-nativas presentes em reservatórios brasileiros, baseando-seem aspectos da história de vida. A tabela também apresenta exemplos das espéciesmais propensas a causar tais impactos
= Tendências de decréscimo; Tendências de acréscimo=
Introdução de Espécies 371371371371371
avaliar interações e concomitâncias comoutros impactos. A ausência de estudosespecíficos ou de monitoramentossistemáticos da ictiofauna de reservatórios éa razão básica desse quadro. Entretanto, éoportuno ressaltar que, para a maioria dasespécies citadas na Tabela 6.6.4, para asquais foi possível construir o quadro depredições de seus impactos, pouco se sabia arespeito das conseqüências econômicas,ambientais e sociais de suas introduções naépoca em que estas foram realizadas. Odesconhecimento e as incertezas queacompanham a introdução de determinadaespécie devem motivar, entretanto, o uso do“princípio da precaução”, manifesto nocódigo de ética de quase todas as profissõesrelacionadas ao tema.
Considerações Finais
Como amplamente discutida em diversoscapítulos anteriores, a introdução deespécies não-nativas constitui-se em graveameaça à integridade ambiental dosecossistemas naturais. Em reservatórios,essas espécies adquirem grande relevância,visto que programas de estocagemliberaram várias espécies ao longo dedécadas nesses ambientes, e a atividade deaqüicultura tem favorecido escapesacidentais, em especial a modalidade detanques-rede. Além disso, as modificaçõesambientais decorrentes dos represamentospodem facilitar a colonização dessasespécies, maximizando os impactos, comimplicações diretas na conservação dabiodiversidade aquática e dos recursos
pesqueiros. Dessa forma, é muito provávelque a homogeneização da fauna, fenômenocaracterizado em outras regiões do planeta(RADOMSKI; GOEMAN, 1995; McKINNEY;
LOCKWOOD, 1999; RAHEL, 2002), tambémesteja acontecendo com a ictiofauna deáguas interiores da América do Sul, seconsiderarmos as graves alterações dehábitats e as inúmeras introduções deespécies não-nativas.
Atualmente, em muitos reservatórios doSul, Sudeste e Nordeste do país, espéciesnão-nativas dominam as assembléias depeixes e os desembarques pesqueiros. Asituação é muito grave, e é ilustrada pelofato de que quase todos os reservatóriosanalisados neste capítulo contêm algumaespécie não-nativa, oriunda de baciasadjacentes ou de outros continentes. Emespecial, a corvina e o tucunaré já foramintroduzidas em quase todos os principaisreservatórios da bacia do Paraná,excetuando os do rio Iguaçu.
Apesar da carência de estudos detalhados, écerto que as espécies com hábitosalimentares carnívoros e piscívoros, queincluem o tucunaré e a corvina, têm umenorme potencial em desestruturar a faunanativa, como tem sido documentado emalguns trabalhos. Esse quadro é agravadopelo fato de essas espécies continuaremsendo introduzidas clandestinamente porpescadores, especialmente os esportivos, oumesmo por agências oficiais. O próprioempenho de órgãos de fomento àaqüicultura em legitimar o cultivo deespécies não-nativas em tanques-rede naságuas públicas contribui para isso.
372 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Então, enquanto não ocorrer um engajamentoconjunto entre a mídia, órgãos do governo e acomunidade científica, dificilmente osproblemas com as espécies introduzidasalcançarão fóruns de discussão populares,suscitando movimentos organizados eposturas adequadas em relação ao tema,impedindo engodos eleitoreiros e
dificultando essas ações. Não parece suficienteo fato de o Brasil ser signatário da Convençãoda Biodiversidade, tendo-a promulgado nopaís, e, portanto, com compromissos decombater novas introduções e as espécies jáintroduzidas, visto que alguns órgãos oficiaisestão envolvidos nas introduções ou nafacilitação desse processo.
Capítulo 6.7O Controle da Pesca
Introdução
Estudos recentes têm demonstrado que amaioria das pescarias conduzidas em águadoce sobre estoques naturais está sob efeitode sobrepesca ou próximo de seu limitebiológico (FAO, 1999; ALLAN; ABELL; HOGAN;
REVENGA; TAYLOR; WELCOMME; WINEMILLER,2005). Essa intensificação no uso dosrecursos naturais de água doce colocanovos desafios para sua perpetuação alongo prazo, fazendo-se necessária acriação de regulamentações e formas decontrole que imponham regras noaproveitamento, como aquelas feitas parao ambiente marinho (HILBORN; BRANCH;
ERNST; MAGNUSSON; MINTE-VERA; SCHEUERELL;
VALERO, 2003; KURA; REVENGA; HOSHINO;
MOCK, c2004). Esta demanda exagerada éfruto do abusivo crescimento populacionalhumano registrado nos últimos séculos,aliado ao desenvolvimento de tecnologiasque maximizam o aproveitamento dessesrecursos. Essa união incompatibilizarelações entre oferta e demanda, visto queos recursos naturais são, por excelência,finitos (FRICKER, 2002).
Porém essa restrição de consumo é dedifícil aceitação por parte de políticos,administradores, técnicos, cientistas e dopúblico em geral, pois no mundotecnológico em que vivemos existe umaforte crença de que tecnologias futuras,cedo ou tarde, serão capazes de solucionaresse problema. Contudo, aparentemente,não existe solução técnica para o problemada superpopulação humana e o consumodo planeta. A essa sombria perspectiva,Hardin (1968) denominou a “Tragédia dosComuns”, em alusão à exaustão de bens erecursos até então de uso irrestrito (comuma todos). O quadro final vislumbrado seriaa perda irreversível dos recursos e ainstalação de severos conflitos, que sópoderiam ser revertidos com uma radicalmudança ética/moral entre os usuários dos“comuns”, ou com a criação de forçascoercivas, como regulamentos, leis epenalidades.
A criação de regulamentações de uso deveter como objetivo primordial amanutenção do recurso explorado,principalmente a longo prazo, e promovermelhor distribuição dos recursos entre
374 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
todos os usuários (NOBLE; JONES, 1999). Emreservatórios brasileiros, com a constanterarefação dos recursos pesqueiros, overtiginoso aumento na demanda e adiversificação de usuários (ver Capítulo 5), acriação de formas de controle assume aspectoimprescindível, devendo anteceder ou serconcomitante a programas educativos. Acriação de sistemas que controlem oaproveitamento desses recursos é umimportante instrumento de manejo, queprocura impedir que estoques sejamexauridos e garante a divisão do recurso(AGOSTINHO; GOMES, 2005).
A iniciativa do controle pode ter naturezadiversa. Quem deve determinar a finalidadedo controle é, fundamentalmente, o usuáriointeressado no recurso, o que reflete, dessaforma, os anseios das classes envolvidas.Nesse caso, a comunidade científica tempapel central, por prover os usuários cominformações confiáveis a respeito do estadode conservação dos recursos explorados,orientando, assim, as medidas necessárias. Éimportante enfatizar que o controle da pescaé um instrumento de manejo, e, como tal,por natureza tem elevada complexidade,requer uma clara definição dos problemasem questão e, para seu sucesso, necessita deinformações provindas de uma robusta basecientífica (NOBLE; JONES, 1999). Isso é validoespecialmente em sistemas nos quais aspescarias são multiespecificas (com variaçõesespaciais e temporais na abundância dasespécies) e diversos equipamentos sãoutilizados, cujas características e uso tambémvariam em escala espacial e temporal (ALLAN;
ABELL; HOGAN; REVENGA; TAYLOR; WELCOMME;
WINEMILLER, 2005). Com isso, os anseios dos
usuários devem ser confrontados ebalanceados com os problemas noaproveitamento do recurso e as reaispossibilidades existentes. Por exemplo, seestudos constatarem desestruturação etáriaem populações de peixes, fato comumdevido à intensa pressão de pesca sobre osmaiores espécimes, algum tipo de controlemostra-se urgente e a preferência dospescadores deverá ser postergada.
Agostinho e Gomes (2005) lembram que ocontrole da pesca é considerado uma opçãobarata de manejo, pois é entendida apenascomo regulamentação, e muitas vezes éescolhido em substituição a outros, o querepresenta uma forma equivocada degerenciamento de recursos pesqueiros (deveter caráter complementar). Este, então,requer um grande investimento seconduzido de forma adequada, ou seja,ordenamento da pesca, regulamentação efiscalização baseadas em informações dosistema, com consulta aos atores envolvidos,além de divulgação adequada e o necessáriomonitoramento dos resultados. Assim,historicamente, a efetividade dasregulamentações oficiais é dúbia, em razão,principalmente, da falta de clareza nosobjetivos (o que se pretende fiscalizar), dasdificuldades de fiscalização, do baixocontingente de recursos humanosenvolvidos, e das pressões provenientes desegmentos muito heterogêneos, queconstantemente burlam as regras impostas(AGOSTINHO; GOMES, 1997).
No Brasil, em nível não-governamental enão-institucional, com o aparecimento deconflitos por pescado e espaço, é comum que
O Controle da Pesca 375375375375375
os próprios pescadores desenvolvamsistemas que estabeleçam o direito a locaisde pesca, criando padrões de territorialidade(BEGOSSI, 1998). É comum também que ospescadores criem códigos de conduta ao nãoaceitar o uso de certos tipos de aparelho, combase em informação tradicional familiar,pela mídia, ou orientação técnica. Sobresponsabilidade federal e estadual, existemdiversas formas de controle em andamentonos corpos d’água interiores do país, e serãoapresentadas a seguir.
Formas de Controle da Pesca
A atividade pesqueira pode ser controladade diversas maneiras, diferindo oscomponentes nos quais as ações de controlesão direcionadas. Dessa forma, o controlepode incluir a interdição temporal da pesca,interdição espacial, interdição de aparelhosde pesca, controle do tamanho do pescado econtrole do esforço de pesca. A Tabela 6.7.1sumariza as formas de controle utilizadas emáguas interiores do país, as quais serãodescritas a seguir.
Interdição Temporal
Consiste na proibição da atividadepesqueira em épocas críticas do ciclo de vidadas espécies, geralmente durante o períodode desova (período de defeso). Essa proibiçãoprocura assegurar reprodução suficiente quesustente a população e evitar que os estoquessejam explorados nos períodos em que sãomais vulneráveis à pesca, devido à formaçãode cardumes (Tabela 6.7.1).
Entretanto, o período de desova pode seralgo flexível, com antecipações ou atrasos,dependentes dos fatores ambientais. Tal fatotem prejudicado a eficiência dessas medidas.Na prática, esse período deveria serdeterminado pelo monitoramento contínuodo ciclo gonadal das espécies.
Essas restrições têm, provavelmente, maiorsignificado na redução do esforço de pesca ena conscientização da população sobre aimportância de manter o recurso, quepropriamente na conservação dos estoques.Não há, no entanto, informações sobre aefetividade dessas medidas para o objetivo aque se propõe, a despeito do elevadoinvestimento na sua realização. Dado ogrande dispêndio de recursos comindenizações decorrentes da proibição doexercício profissional da pesca, é oportunoque os reflexos do período de defeso nadinâmica dos estoques sejam avaliados.
Interdição Espacial
Consiste na interdição da pesca em locaisonde a população é vulnerável à sobrepesca(ex.: abaixo de barragens, obstáculosnaturais, mecanismos de transposição), à altacaptura de imaturos (ex.: criadouros naturais,lagoas marginais) ou em áreas dereprodução coletiva (áreas de desova)(Tabela 6.7.1).
Algumas vezes a proibição visa a proteçãodo próprio pescador, como em áreasimediatamente abaixo das barragens, onde aprobabilidade de acidentes, devido àturbulência e às súbitas liberações de água, é
376 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Tipo CaracterísticasSituaçõesapropriadas
Considerações
Tabela 6.7.1 - Modalidades de manejo considerando o controle da pesca que, geralmente,estão associadas à proteção dos estoques desovantes, formas jovens e intensidade daexploração
Prática que deve serimplementada quando omonitoramento da atividadepesqueira e do estoquerecomendar e com clarezaacerca do recurso que sequer proteger.
Conhecimento acerca do cicloreprodutivo das espécies(época de desova) sãoimprescindíveis.
Requer conhecimento precisoda distribuição e ciclo devida do(s) estoque(s) aproteger.
Requer o monitoramento dapesca e do estoque, bemcomo conhecimentos daseletividade dos aparelhos.
Requer informações do ciclo devida das espécies,principalmente da fasejovem a maturidade.
Eficiente para os estoques emque a pesca é intensa e orecrutamento é baixo.
Requer o monitoramento dosestoques e da atividadepesqueira.
Interdiçãotemporal
Interdiçãoespacial
Interdição deaparelhos depesca
Controle dotamanho dopescado
Controle doesforço depesca
Proibição da atividadedurante períodoscríticos (época dedesova, sobrepesca,migração, etc).
Proibição da pesca emlocais onde osestoques sãovulneráveis asobrepesca.
Proibição do uso deaparelhos ou métodosde pesca não seletivos.
Controle do tamanhodo pescadodesembarcado.
Restrições ao númerode pescadores e ouaparelhos de pesca.
Depleção dosestoquesrelacionados aorecrutamento oucrescimento.
A jusante debarragens, obstáculosnaturais, canais demigração, emcriadouros naturais ouáreas de desovacoletiva.
Depleção dosestoques pelapesca.
Prevenir depleçãoda pesca esobrepesca.
Depleção da pesca.
elevada. É comum, também, a proibição dapesca em áreas onde, por questão de sigiloou de segurança física da obra, a circulaçãode pessoas é restrita. Outras vezes, aproibição da pesca envolve áreas de proteçãode espécies ameaçadas, não necessariamenteobjeto da pesca. A pesca pode também serproibida de forma transitória oupermanente, em casos de acidentes oucontaminação crônica da área.
As restrições legais ao exercício da pesca emlocais onde as espécies se concentramdurante uma fase do ciclo de vida ou do cicloreprodutivo têm, em geral, um impactopositivo sobre o uso compartilhado dosestoques, envolvendo um número maior depessoas beneficiadas. Ela pode também sernecessária nos locais em que são realizadasliberações de peixes pelos programas deestocagem, ou nos primeiros anos após a
O Controle da Pesca 377377377377377
formação dos reservatórios, visto que nessassituações os peixes são mais vulneráveis àcaptura.
Embora sem um significado relevante naconservação dos estoques, a proibição deuma determinada modalidade de pesca pode,algumas vezes, evitar conflitos de uso, como,por exemplo, entre a pesca profissional e aamadora.
É necessário, no entanto, que essas restriçõessejam adequadamente justificadas, discutidase tornadas públicas e que haja um trabalhoeficiente de comunicação social. Aparticipação dos usuários dos recursos nadefinição das restrições é fundamental paraque as decisões sejam entendidas e cumpridas.
Interdição de Aparelhos
Consiste na proibição de uso de aparelhosou métodos de pesca que resultem emcapturas massivas ou não-seletivas às formasjovens ou a espécies de interessepredominantemente preservacionista(espécies raras, ameaçadas). Assim, essasrestrições têm, essencialmente, a finalidadede controlar as capturas, tornando-as maisineficientes ou seletivas (Tabela 6.7.1).
No caso de reservatórios, as redes de esperatêm maior eficiência de pesca, e suaproibição, como ocorre em alguns Estadosbrasileiros, inviabiliza a pesca profissionalnesses ambientes. Quando permitidas, ocontrole é geralmente realizado sobre otamanho das malhas, visando a proteção doestrato juvenil dos estoques.
As proibições de aparelhos de pesca emreservatórios, embora contribuam para aredução na mortalidade, servemprioritariamente à compatibilização no usodo recurso, como entre os pescadoresesportivos e profissionais (NOBLE; JONES,1999). Restrições são, entretanto, importantesem relação à conservação de espéciesameaçadas.
A estratégia de pesca, incluindo a forma eposição dos aparelhos no corpo d’água, étambém objeto de controle, e visaigualmente a redução nas capturas.
Em nível nacional, uma série de aparelhos eprocedimentos são proibidos pela InstruçãoNormativa No 43 do IBAMA, de 23 de Julhode 2004. A Tabela 6.7.2 lista os aparelhosproibidos. Contudo, é interessante lembrarque as disposições dessa instrução normativasão validas somente para aqueles Estadosonde não existe legislação específica. Entre osEstados, podem ocorrer variação nostamanhos mínimos de malha de redepermitidos para a pesca, além da proibiçãode certos aparelhos. A existência de normasespecíficas para cada região é um aspectopositivo, pois é uma maneira decompatibilizar a conservação e oaproveitamento dos recursos com asnecessidades da comunidade de pescadores,preservando, inclusive, sua diversidade demétodos de pesca.
Embora não seja praticado em águasinteriores no Brasil, o controle de iscas, coma proibição do uso de espécies não-nativas, édifundido em outros países (NOBLE; JONES,1999), visto que esse é um eficiente meio de
378 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Tabela 6.7.2 - Aparelhos e procedimentos de pesca proibidos em
território nacional, conforme a Instrução Normativa N 43do IBAMA, expedida em 23 de julho de 2004, sendoinvalidas nos Estados com legislação específica
o
Aparelhos e Procedimentos de Pesca Proibidos
1 - Rede de arrasto ou lance
2 - Redes de espera com malha inferior a 70 mm entre nós opostos, colocadasa menos de 200 m de distância da zona de confluência de rios, lagos ecorredeiras
3 - Tarrafas com malha inferior a 50 mm entre nós opostos
4 - Covos com malha inferior a 50 mm entre nós opostos, colocados a distânciainferior a 200 m de cachoeiras, corredeiras, confluências de rios e lagos
5 - Fisga e garatéia pelo processo de lambada
6 - Espinhel, cujo comprimento ultrapasse 1/3 da largura do ambiente aquático
7 - Redes eletrônicas
8 - Explosivos e substâncias semelhantes
9 - Substâncias tóxicas
10 - Aparelho de mergulho com respirador artificial para a pesca subaquática
11 - Aparelho sonoro
12. Aparelho luminoso
realizar introduções,com elevados riscospara o sistema de pescae fauna local (AGOSTINHO;
JÚLIO JÚNIOR, 1996).
O uso de tilápias vivascomo iscas é uma praticaque vem se tornandofreqüente na pescaesportiva do reservatóriode Itaipu (Edson K.Okada, informaçãoverbal). A rusticidadedesse peixe, aliada àfacilidade de obtenção,são os atrativos. Alémdos escapes, é comum opescador liberar as iscasnão utilizadas noambiente ao final dajornada de pesca.
O tipo de isca é também um fator que deveser controlado caso o interesse seja aproteção de juvenis, visto que a isca podemodificar o tamanho virtual do anzol.
Controle do Tamanho do Pescado
Consiste no controle do tamanho do pescadono ponto de desembarque ou nas diferentesetapas da comercialização, visando assegurarque os juvenis alcancem a maturidade antesque sejam capturados. A redução no esforçode pesca, embora não declarada comoobjetivo dessas medidas, é uma de suasdecorrências. Essa medida é recomendadapara os estoques em que a pesca é intensa e o
recrutamento baixo. Pode ser dispensávelnaqueles em que a mortalidade natural nasfases jovens é muito alta (Tabela 6.7.1).
A determinação do comprimento mínimopermitido para a pesca é realizada com oconhecimento de aspectos de crescimento ereprodução da espécie, além da seletividadedos aparelhos de pesca. Geralmente calcula-se o comprimento dos indivíduos em queocorre a primeira maturação sexual. Paraisso, o critério mais utilizado é o L50, ou seja,o comprimento em que 50% dos indivíduosda população já reproduziram pelo menosuma vez. Também pode ser utilizado o L100,no qual 100% dos indivíduos járeproduziram. Após determinar o tamanho,
O Controle da Pesca 379379379379379
proíbe-se a pesca de indivíduos comcomprimento inferior ao estipulado (queainda não reproduziram), o que garante aoportunidade de reprodução, no futuro, daparcela jovem da população. O tamanhomínimo permitido para a pesca varia entreas espécies de peixes e entre regiões do país,regulamentado por portarias expedidaspelo IBAMA.
Apesar de esse tipo de controle proteger aparcela jovem da população, ele permiteque as classes de tamanho adultas sejampescadas sem restrições. Vale destacar que,nas pescarias brasileiras, os maioresindivíduos são os mais cobiçados pela pescae seu desaparecimento pode terconseqüências drásticas, promovendomúltiplos efeitos negativos, tanto nosestoques da própria espécie quanto emoutros aspectos da dinâmica do ecossistema(BIRKELAND; DAYTON, 2005). Conforme foiamplamente discutido no Capítulo 5.1, osresultados dos trabalhos de Conover eMunch (2002) e Berkeley, Chapman eSogard (2004) iluminam a problemática,demonstrando que as estratégias queconsideram somente tamanho mínimo decaptura podem ser muito complexas eproduzir efeitos inesperados. Asimplicações da remoção seletiva dasmaiores classes de comprimento devem-seao fato de que, pelo demonstrado, osmaiores indivíduos são diferentesgeneticamente, sendo capazes de produzirdescendentes com maior probabilidade desobrevivência, como o crescimento maisacelerado. Além do aspecto genético, existeuma correlação positiva entre tamanhocorporal e fecundidade, quer dizer,
indivíduos maiores são biologicamentecapazes de produzir mais descendentes(BIRKELAND; DAYTON, 2005). Resumindo, coma retirada desses indivíduos, a recuperaçãode um estoque exaurido torna-se algo muitodemorado e difícil, como tem sidoconstatado na pesca oceânica, sendo isso jádemonstrado por Walsh, Munch, Chiba eConover (2006). Além disso, a pesca deindivíduos maiores, tanto em água docequanto em ambiente marinho, pode levarao fenômeno “pescando em direção à baseda teia trófica” (Fishing down the food web).Este seria resultado da remoção sucessivados maiores elementos de uma assembléiade peixes, que seriam substituídos poroutros menores, os quais, tipicamente, sãode níveis tróficos inferiores (PAULY;
CHRISTENSEN; DALSGAARD; FROESE; TORRES, Jr.,1998) - ver Capítulo 5.1.
Considerando esses aspectos, é oportunolembrar que a pesca seletiva dos maioresindivíduos foi historicamente praticada noscorpos d’água interiores do país, amparadae constrangida pela legislação. Não existemestudos específicos, mas tal pesca (emconjunto com outros impactos ambientais,como a construção de reservatórios) podeter diminuído progressivamente avariabilidade genética das populações, comefeitos negativos diretos na dinâmica dosrecursos pesqueiros, como vemos hoje naaparente depleção dos estoques das espéciesmigradoras. Dessa forma, o uso detamanhos mínimos como forma de controlena pesca é uma ferramenta importante, masdemonstra não ser capaz de resolver oproblema da sobrepesca, requerendo odesenvolvimento de novas medidas.
380 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Uma estratégia alternativa e mais complexaé a proibição da pesca de indivíduos emintervalos intermediários de comprimento(slot limit; NOBLE; JONES, 1999; BIRKELAND;
DAYTON, 2005). Essa estratégia tem comoobjetivo maximizar o crescimento dosindivíduos com tamanho intermediário e,para isso, permite a retirada do excedentede indivíduos jovens, diminuindo acompetição por recursos. Esse procedimentodisponibiliza energia para as classes decomprimento intermediárias protegidas, oque permite um crescimento mais rápidoaté tamanhos desejáveis pela pesca. Essaestratégia é aplicada em lagos da Américado Norte e, para ser efetiva, a espécie emquestão precisa produzir naturalmente umgrande contingente de jovens, e um grandeesforço precisa ser destinado à remoçãodesse excedente. Assim, apesar de nãoproteger explicitamente as classes de maiorcomprimento, que são permitidas na pesca,essa estratégia cria a oportunidade de quesempre existam indivíduos com tamanhopróximo ao desejável. Ainda, pode sercombinada com outras regulamentações,como, por exemplo, a de impor limites dequantidade para as classes de menor emaior tamanho, protegendo assim os jovense adultos. Contudo, a efetivação dessaestratégia é mais complexa, visto quedepende de instrução aos pescadores, eintensa fiscalização pelos órgãosresponsáveis. Vale destacar também queestudos prévios devem guiar a suaimplementação, como, por exemplo, aconstatação de excedentes na classe dejovens, e verificação da capacidade decrescimento das classes intermediárias.Existe, também, um problema cultural,
como mencionado por Allan, Abell, Hogan,Revenga, Taylor, Welcomme e Winemiller(2005), que em certas regiões do planeta,como a América Latina, uma diminuição notamanho dos peixes capturados parece serinaceitável pelos pescadores.
Controle do Esforço
Essa forma de controle tem como objetivogeral diminuir o esforço de pesca sobre oestoque (Tabela 6.7.1). Abrange diversasopções, que podem ser (i) emissão delicenças para pesca; (ii) emissão de lacrespara controle de equipamentos; (iii) licençaspara embarcações e, (iv) estabelecimento dequota (quantidade de peixe) a ser pescada.
Com relação aos pescadores, o nível maisbásico de controle é exercido pelarequisição de uma licença, que limita econtrola o número de pessoas executando aatividade (esforço). Em território brasileiro,o IBAMA exige a obtenção de licenças parao exercício da atividade pesqueira emcorpos d’água interiores, incluindoreservatórios, tanto para o pescador amadorquanto para o profissional, seguindo asinstruções do Decreto-Lei 221/67. Para opescador amador, com exceção da pesca debarranco utilizando caniço, é requisitadalicença para as categorias “embarcado” e“desembarcado”, que tem validade anualpara todo o território. Essa licença pode edeve ser obtida por qualquer pessoa, com afinalidade de praticar a pesca amadora,mediante pagamento de uma taxa.Diferentemente, a licença para o exercícioda pesca profissional só é emitida mediante
O Controle da Pesca 381381381381381
comprovação da atividade pesqueira comoprofissão, ou que seja comprovada adependência da pessoa pelo recursopesqueiro. Essa licença é emitida pelaSecretaria Especial de Aqüicultura e Pesca(SEAP), e pode ser cancelada quando opescador deixa de ter a pesca como meio devida, ou quando infringe o Decreto-Lei 221/67. Somente a pesca de subsistência nãorequer a emissão de licença.
O controle da quantidade de aparelho depesca pode ser feito via cadastramento ecolocação de lacre identificador, fornecidopor órgão competente. Essa opção facilita,também, a fiscalização, uma vez que redesnão identificadas podem ser recolhidas.
Paralelamente, o controle sobre ospescadores pode ser feito através derestrições direcionadas às embarcaçõesenvolvidas na pesca. Em territóriobrasileiro, o Decreto-Lei 221/67 prescreveque toda embarcação deve estar inscrita noCadastro Nacional de EmbarcaçõesPesqueiras, da SEAP, com pagamento deuma taxa que depende das dimensões daembarcação. As embarcações poderão serinterditadas quando estiverem em situaçãoirregular junto à Marinha do Brasil, quandonão estiverem cadastradas na SEAP, ouquando a taxa de cadastro não for paga.
O estabelecimento de quotas também é umaoutra forma de controle, muito praticada naAmérica do Norte. No Brasil, essa estratégianão tem sido muito adotada, salvo algumasregiões onde foram criadasregulamentações específicas. A pescaamadora executada no Pantanal de Mato
Grosso do Sul é um exemplo típico, vistoque existe uma cota preestabelecida porpescador (kg), com a adição de um exemplarde grande porte (troféu). No reservatório deBalbina (SANTOS; OLIVEIRA JUNIOR, 1999) e emalguns trechos do alto rio Paraná foramimplantadas cotas semelhantes.
Considerações Finais
No Brasil, mesmo com a existência de umelaborado conjunto de leis, que, como visto,abrange diferentes tipos de regulamentação,o controle da pesca em águas interioresmostra-se cheio de lacunas. Todas asmodalidades de controle apresentadas têmsido objeto de regulamentação emdiferentes Estados brasileiros. Os objetivossão, entretanto, difusos e os critériosdesconhecidos, tendo apenas característicasde entraves burocráticos para o exercício daatividade, levando, portanto, a falhas.
Como em outras modalidades de manejo, oconhecimento do problema e a elaboraçãode objetivos claros são cruciais para aefetividade da medida. No caso, existecarência de informações técnicas quedeterminem, de fato, “porque” e “o que” sedeve controlar. Vale destacar também aausência de estudos e monitoramentos apóso emprego das medidas, o que impede aavaliação de sua efetividade ou dosimpactos negativos provocados por ela.
Adicionalmente, as falhas no controle dapesca também se devem, em grande parte, àinsuficiência de recursos humanos efinanceiros para a fiscalização, além da
382 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
desconsideração de pressupostos básicos,como aqueles relacionados àfundamentação, objetivos claros,monitoramento e participação dacomunidade (AGOSTINHO; GOMES; LATINI, 2004;AGOSTINHO; GOMES, 2005). Também devem serconsiderados, tanto na regulamentaçãoquanto na fiscalização, os aspectos físicos,químicos, biológicos, as percepções dospescadores, os impactos sociais eeconômicos e um eficiente sistema decomunicação. As medidas de controle dapesca baseadas apenas em informaçõesbiológicas podem ser inócuas, se, por razõeseconômicas ou políticas, a pesca não forcontrolada (AGOSTINHO; GOMES, 2005).
Nos reservatórios, em particular, algumasportarias e instruções normativas possuemreferências ao ordenamento pesqueiro, quevariam de acordo com a região e a baciahidrográfica. Os tipos de controle maisempregados incluem restrições no tamanhode malhas de rede, limite mínimo detamanho de captura (que, como mostrado,pode causar mais impactos), proibição deaparelhos e locais, sendo que uma dasprincipais observações é a proibição dapesca nas proximidades de barragens, a
jusante e montante. Além disso, adeterminação do período de defeso tambémabrange as regiões de influência dereservatórios. Porém a pesca de espéciesnão-nativas nos reservatórios do Sul eSudeste, como a corvina (P. squamosissimus),o tucunaré (Cichla spp.), o apaiari (A.ocellatus) e a sardinha (Triportheus spp.), temsido liberada mesmo durante os períodos dedefeso, medida considerada como umavanço na área de gestão de recursosaquáticos, visto que esforços de conservaçãonão devem ser direcionados às espécies não-nativas.
Apesar de serem pouco eficientes, asmedidas tomadas para controle da pesca noBrasil são, em parte, efetivas e, portanto,devem ter continuidade. Isso é resultado,aparentemente, do efeito moral que ainterdição da pesca (principalmente) temsobre os pescadores, que apesar da poucafiscalização, promove uma diminuição doesforço de pesca em alguns locais ouperíodos do ano. Com a aquisição de novosconhecimentos ou o surgimento de novosconflitos, adequações regionais e específicasna legislação devem ser alvo de intensodebate.
Capítulo 7Ações Ambientais em Andamento
no Setor Hidrelétrico Brasileiro:levantamento
Visando avaliar o esforço atual do setor hidrelétrico nas ações
ambientais afetas aos recursos pesqueiros (estudos, levantamentos,
manejo e monitoramento) nos reservatórios brasileiros, realizou-se
uma ampla consulta junto às principais concessionárias, buscando
informações acerca de recursos humanos e infra-estrutura
disponível, prioridades nos esforços aplicados nas diferentes
ações, outros usos dos reservatórios, natureza dos monitoramentos
e disponibilidade de dados sobre ações de manejo e
monitoramento.
Embora a consulta tenha sido mais ampla, apenas nove grandes
companhias do setor elétrico, que operam juntas 100 reservatórios
em diferentes bacias brasileiras, forneceram as informações
solicitadas.
384 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Introdução
Até meados da década de 1980, as ações dosetor elétrico na área ambiental forammarcadas pela construção de escadas eestações de piscicultura e pelos programas deestocagem de peixes, nativos e exóticos. Amaioria dessas ações era resultante deconstrangimento legal, imposto pelos órgãosambientais e de fomento. Até então,levantamentos e estudos que embasassemessas ações e o monitoramento que poderiademonstrar sua eficácia foramnegligenciados. Alguns estudos realizadosnesse período foram resultantes da livreiniciativa de algumas concessionárias.
Constituiu-se em marco importante para asações ambientais em reservatórios apromulgação da Lei 6938/81 (PolíticaNacional de Meio Ambiente) e,especialmente, das Resoluções do ConselhoNacional do Meio Ambiente (CONAMA) 001/86 (avaliação de impactos ambientais) e 237/97 (licenciamentos), que tornaramobrigatórios os inventários e estudos visando,além de dimensionar os impactos, subsidiarmedidas atenuadoras (manejo) e monitorar asalterações decorrentes do represamento.Embora ainda com algumas distorções (verCapítulo 8), as ações desenvolvidas pelo setorelétrico nos últimos 20 anos foramresponsáveis pela maior parte doconhecimento de que dispomos atualmentesobre a ictiofauna de águas continentaisbrasileiras. Nesse ínterim, inúmeras espéciesnovas foram descritas, assembléias de peixesdas principais bacias hidrográficas puderamser conhecidas e o ciclo de vida de muitasespécies elucidado, contribuindo para a
avaliação dos impactos de represamentos edas ações de manejo até então tomadas.
No intuito de acessar a capacidade e aspercepções e atividades atuais do setorhidrelétrico brasileiro, em relação ao manejo,pesquisas e monitoramento dos recursosaquáticos, foram colhidas informações juntoaos técnicos responsáveis pela área ambientaldas principais companhias hidrelétricas dopaís. As companhias que forneceram asinformações que fundamentam este capítuloforam CEMIG, CESP, CHESF, COPEL, DUKEENERGY INTERNATIONAL, ELETRONORTE,FURNAS, ITAIPU-BINACIONAL eTRACTEBEL. No conjunto, essas companhiashidrelétricas operam 100 reservatórios(Tabela 7.1). Embora estes constituam apenas15% dos 660 reservatórios levantados, entreeles estão os mais importantes do país.Ressalta-se, por outro lado, que as tendênciasconstatadas aqui não representam o conjuntodos reservatórios brasileiros, dado quealgumas companhias hidrelétricas que nãoresponderam aos questionamentos não ofizeram por não realizar qualquer açãoambiental relacionada a estudos,monitoramento e manejo. Essas tendênciasrefletem apenas a situação naquelas comprogramas consolidados.
Recursos Humanos eInstalações
O número de reservatórios operado porcada uma das companhias hidrelétricas quesubsidiaram este capítulo é mostrado naTabela 7.1. Constata-se que 69 delespertenciam a apenas três concessionárias.
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 385385385385385
Companhias Reservatórios
Total
CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais 41
CESP Companhia Energética de São Paulo 6
CHESF Companhia Hidrelétrica do São Francisco 11
COPEL Companhia Paranaense de Energia 17
DUKE Duke Energy International 8
ELETRONORTE Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 3
FURNAS Furnas Centrais Elétricas S.A. 10
ITAIPU Itaipu Binacional 1
TRACTEBEL Tractebel Energia S.A. 3
100
Tabela 7.1 - Companhias hidrelétricas entrevistadas e númerode reservatórios declarados sob administração
Ressalta-se, no entanto,que as informações dadaspelas companhias nemsempre envolveramtodos os reservatóriospor elas operados. Asanálises realizadas nestecapítulo tiveram comobase cada reservatório,independentemente donome da operadora.
Neste tópico busca-se teruma idéia da grandezados recursos humanos e da infra-estruturadisponível no setor elétrico relacionadas àsações ambientais. A Tabela 7.2 sumarizaesses resultados.
De um universo de 100 reservatórios, 27%têm alguma infra-estrutura relacionada coma prática de pesquisa e monitoramento naárea de ictiologia e limnologia. Apenas 30%dos reservatórios têm equipe própria para odesenvolvimento dessas atividades,envolvendo, no conjunto, cerca de 152pessoas, o que significa uma médiaaproximada de 5 pessoas por reservatórios.Vinte e seis laboratórios relacionados à áreaestão distribuídos em 16 dos 100reservatórios considerados. Muitos desseslaboratórios, entretanto, atendem àsdemandas de mais de um reservatório.
Um grande número de tanques foi declaradono inventário. São utilizados tanto no cultivode espécimes para repovoamento e fomento,quanto em pesquisas básicas. Com relação atanques internos, existe um total de 230,instalados em 10 reservatórios, o que
significa uma média de 23 tanques/reservatório. O número de tanques externosé muito superior, alcançando quase 700unidades em 12 dos 100 reservatórios. Nessecaso, a média é de aproximadamente 58tanques/reservatório. Uma expressivamaioria dessas estruturas localiza-se nasimediações de hidrelétricas sob concessão daCESP, CEMIG, DUKE, FURNAS e CHESF,também atendendo às demandas de mais queum reservatório.
Embarcações e motores disponibilizadospara a área de ictiologia e limnologia foramconstatados em 26 dos 100 reservatórios,totalizando um número de 52 e 54 unidades,respectivamente. Por outro lado, foramcontados 10 veículos adaptados paratransporte de peixes entre as concessionáriasconsultadas, sendo estes utilizadosprincipalmente nas atividades de estocagemde peixes, atendendo vários reservatórios.
Esses resultados demonstram que, embora osrecursos humanos e a infra-estruturadisponível sejam insuficientes para as
386 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Reservatórios com alguma infraestrutura -- 27 27
Pessoal em atividade 152 30 30
Laboratórios 26 16 16
Tanques internos 230 10 10
Tanques externos 698 13 13
Embarcações 52 26 26
Motores 54 26 26
Veículo transporte de peixes 10 12 12
N N reservatórios % reservatórios
Tabela 7.2 - Recursos humanos e infraestrutura disponíveis nas usinas hidrelétricas parapesquisa e monitoramento nas áreas de limnologia e ictiologia. O número dereservatórios analisados foi de 100, sendo apresentados o número de facilidadesexistente (N), o número de reservatórios contendo as facilidades (N reservatórios) e oseu percentual
atividades relacionadas aos estudos,monitoramento e manejo dos recursospesqueiros, há uma base logística razoávelpara execução de projetos dessa natureza. Oproblema mais grave no setor é adistribuição heterogênea desses recursos,com muitos reservatórios sem estruturaalguma.
Ações Ambientais
Tendo como base as declarações dadas portécnicos responsáveis pela área ambientaldas companhias hidrelétricas, foramlevantadas as ações ambientais maisfreqüentes relacionadas aos recursospesqueiros. Adicionalmente, pesquisou-se aintensidade do esforço proporcional alocadoa cada uma dessas ações, de acordo com apercepção dos próprios técnicos, com baseem uma escala que variou de 0 (nenhumesforço) a 5 (esforço máximo). Embora tenhasido constatada uma profusão de objetivosespecíficos, as ações ambientais, em geral,visaram melhorias nas condições ambientais
do empreendimento, aumentando aqualidade dos recursos aquáticos presentes egarantindo a sua conservação e integridade acurto ou longo prazo.
Os sete tipos de ações especificados nosquestionários submetidos às companhias dosetor elétrico são especificados na Figura 7.1.A ação mais empregada relacionou-se àmanutenção da qualidade da água, sendo queem aproximadamente 80% dos reservatóriosfoi declarada a alocação de esforços para essafinalidade. No geral, essas ações consistiramno monitoramento físico e químico da água.Além disso, de acordo com a percepção dostécnicos das companhias, o esforço médioalocado nessa atividade foi relevante,alcançando aproximadamente 4, numa escalaaté 5. Com isso, fica evidente a preocupaçãodas companhias hidrelétricas com adeterioração da qualidade da água nosreservatórios, visto que em vários casos aágua armazenada tem múltiplos usos e ascondições ambientais criadas pelobarramento podem favorecer a perda de suaqualidade (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2003).
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 387387387387387
Ações Ambientais
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7
1 - Conservação de algumas espécies2 - Conservação de todas espécies3 - Rendimento pesca comercial4 - Rendimento pesca amadora5 - Rendimento pesca subsistência6 - Qualidade da água7 - Vegetação ripária
n = 100 a
%R
ese
rvató
rios
Ações Ambientais
0
1
2
3
4
5
b
Esf
orç
oalo
cado
1 2 3 4 5 6 7
Figura 7.1 - Ações ambientais empregadas nas hidrelétricasanalisadas, apresentando o percentual de reservatóriosque realizou cada ação (a) e a magnitude do esforçoempregado (b). A escala de magnitude do esforço alocadovaria de 0 (nenhum esforço) a 5 (esforço máximo). A figuraapresenta o esforço médio aplicado nos reservatórios queempregaram a atividade.
Ações desenvolvidas focando diretamente aictiofauna, envolvendo espécies selecionadase/ou toda a fauna, foram registradas emaproximadamente metade dos reservatórios(Figura 7.1). O esforço alocado nessas açõesfoi também considerado alto pelo setor,atingindo uma média de 4, na escala de 0 a 5.Nesse caso, além do monitoramento,registraram-se também medidas de manejo.Devido aos diversos e múltiplos efeitosadversos promovidos pelos reservatóriossobre a ictiofauna original,as companhias procuramalocar esforçoscompensatórios na tentativade conservar a comunidadeexistente, restabelecerpopulações (espéciesmigradoras) ou até mesmointroduzir novas espécies.
Uma das ações indiretas deconservação dos recursosaquáticos, dirigida àpreservação ouestabelecimento de umavegetação marginal (ripária),embora envolvendo ummenor percentual dereservatórios (38%), foideclarada como de elevadoesforço pelo setor elétrico,com um escore médio de 4(Figura 7.1). Esse fato indicauma grande heterogeneidadeem relação à prioridade dadaao tema pelas diferentescompanhias. De qualquermaneira, é curioso que umaação de elevado significado
para a conservação dos recursos aquáticosseja desenvolvida em tão poucosreservatórios.
Já as ações ligadas à exploração dos recursospesqueiros, seja através da pesca comercial,amadora ou de subsistência, receberammenor atenção do setor (Figura 7.1),alcançando menos de 30% dos reservatórios.Também o esforço dado a essas modalidadesde manejo foi menor (<3). Embora o
388 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ordenamento da atividade pesqueira e seufomento não sejam de responsabilidade dascompanhias hidrelétricas, é importanteressaltar que a pesca tem sido uma atividadeque abriga excluídos do setor produtivoformal e tem importante papel social namanutenção de milhares de famílias (verCapítulo 5). Além disso, os represamentosalteram a composição dos estoques eimpõem a necessidade de novas estratégiasde captura.
Os resultados demonstrados em relação àsações em curso e o esforço nelas aplicadopermitem inferir que a prioridade no setorhidrelétrico tem sido o monitoramento daqualidade da água e a conservação dosrecursos aquáticos (pescado).
Instrumentos de Manejoda Pesca
O questionário elaborado indagou sobre aexistência de atividades relacionadas a 12alternativas de manejo com potencial deinfluenciar a comunidade de peixes, orendimento pesqueiro e outros aspectos daatividade pesqueira. A Figura 7.2a apresentaas opções de manejo indagadas e seuemprego nos reservatórios. Novamente, aintensidade de alocação de esforços foiaferida através de uma escala de 0 (ausência)a 5 (intensa), de acordo com a percepção dostécnicos responsáveis. Adicionalmente, oquestionário procurou avaliar o sucessodessas medidas. Igualmente, de acordo comsua própria percepção, os técnicos indicaramo sucesso do manejo empregado em umaescala de 0 (nenhum êxito) a 5 (pleno êxito).
O instrumento de manejo mais empregadonesses reservatórios foi a estocagem depeixes nativos (peixamento), realizada em56% dos reservatórios analisados (Figura7.2a). Esse percentual comprova a predileçãodas companhias hidrelétricas por essa técnicade manejo ambiental, apesar de sua execuçãorequerer extensa análise, conforme discutidono Capítulo 6.2. Em seguida esteve atransposição de peixes (escadas eelevadores), realizada em 38% dosreservatórios, instrumento de manejo quetambém requer uma série de considerações eestudos antes de sua implementação. Apiscicultura em tanques-rede aparece comoterceiro instrumento de manejo maisempregado, presente em 17% dosreservatórios. É válido destacar que esseinstrumento tem, geralmente, apelo para aprodução em aqüicultura e pode não serelacionar diretamente com a conservaçãodos recursos pesqueiros, apresentando,inclusive, grande potencial para promoverdanos ao meio ambiente (ver Capítulo 6.3).As outras modalidades de manejo tiverammenor prevalência e ocorreram em menosde 13% dos reservatórios.
Algumas modalidades de manejo tiveramocorrências muito baixas, como a estocagemde espécies não-nativas (nesse caso, aindaalta se considerado que há restrições legais aessa atividade) e a manipulação de abrigos edo nível hidrométrico, estas últimas comgrande potencial para a melhoria dosestoques pesqueiros (ver Capítulo 8).Também importantes instrumentos demanejo, que têm relação direta com aconservação da ictiofauna, como a proteçãode áreas de reprodução, ordenação da pesca e
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 389389389389389
Estratégias e Instrumentos de Manejo
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n = 100 a
Esratégias e Instrumentos de Manejo
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Esforço
Resultado
b
Magnitu
de
%R
ese
rvató
rios
1 - Estocagem nativas2 - Estocagem não-nativas3 - Controle da pesca (logística)4 - Controle da pesca (operação)5 - Manipulação de abrigos6 - Controle de peixes invasores7 - Proteção criadouros naturais8 - Manipulação do nível9 - Melhorias no ambiente do peixe
10 - Transposição11 - Piscicultura (tanques-rede)12 - Piscicultura (tanques escavados)
Figura 7.2 - Percentual de reservatórios que utilizam diferentesestratégias e instrumentos de manejo ambiental (a) eesforço médio alocado e o resultado obtido em cadaestratégia (b), na percepção dos responsáveis pelas usinas.A escala de magnitude varia de 0 (nenhum esforçoempregado; nenhum êxito obtido) a 5 (esforço máximo;êxito pleno).
melhorias no ambiente dospeixes, não são atividadesmuito freqüentes emreservatórios brasileiros(Figura 7.2a).
Com relação ao esforçoempregado, apesar da baixadiversidade dosinstrumentos de manejoutilizados nos reservatórios,ele mostrou escores altos emtodas as técnicasempregadas, com médiasuperior a 3 (Figura 7.2b), oque denota também ênfasesdistintas entre ascompanhias. Entretanto, osmaiores escores médiosforam obtidos na estocagemde peixes nativos, natransposição e na pisciculturaconvencional.
A prevalência da atividadesde estocagem de peixes sobreas demais técnicas denota apersistência de umaabordagem menos integradanos programas de manejo em andamento,sendo os esforços direcionados adeterminadas espécies, não considerando oreservatório como um sistema decomunidades com inter-relações dinâmicas.
De acordo com os técnicos responsáveis, osresultados obtidos com essas ações têm sidosatisfatórios, com média geral de 2,5 (Figura7.2b). Em alguns casos, o esforço aplicado é demagnitude semelhante ao resultado obtido.
Os melhores resultados declarados foramobtidos com a transposição de peixes,seguida pela piscicultura convencional.
Resultados insatisfatórios foram obtidos coma manipulação de abrigos, o controle depeixes invasores e com a ordenação da pesca,que, de qualquer maneira, foram técnicas demanejo de emprego esporádico. Ressalta-seque, na percepção dos técnicos do setor, oemprego de espécies não-nativas nos
390 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
%R
ese
rva
tório
s
Utilização
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n = 1001 - Geração de energia2 - Navegação3 - Controle de cheias4 - Pesca esportiva5 - Pesca comercial6 - Pesca subsistência7 - Turismo8 - Tanques-rede9 - Irrigação
10 - Abastecimento
Figura 7.3 - Usos múltiplos destinados aos reservatóriosanalisados, de acordo com os técnicos responsáveis pelasusinas.
peixamentos, também esporádico (5%), foiproporcionalmente mais bem-sucedido quecom espécies nativas.
Nesse ponto é conveniente considerar que aeficiência das diferentes técnicas de manejoestá mais relacionada à percepção dostécnicos da área de meio ambiente do setorelétrico que propriamente a resultados demonitoramento. Isso se deve tanto àsdificuldades de monitorar as alteraçõesinduzidas pela ação de manejo (estocagemcom espécies nativas, por exemplo), quanto àausência do próprio monitoramento ou suaprecariedade metodológica.
Usos Múltiplos
Os técnicos das companhias hidrelétricasconsideradas na análise indicaram os usosvigentes nos seus reservatórios, de acordocom a lista apresentada na Figura 7.3.Como esperado, à exceção deum reservatório operadopela CHESF, os demais têmcomo uso prioritário aprodução de energia elétrica.As pescarias de subsistência eamadora, além dasatividades de turismo, foramdestinações suplementaresmencionadas para,aproximadamente, 35% dosreservatórios. O uso da águaarmazenada para irrigação,cultivo em tanques-rede,pesca comercial eabastecimento urbano foirelatado para 20 a 28% dos
reservatórios. Poucos foram destinados ànavegação e ao controle de cheias (<15%).
Há muito tempo tem-se clamado porestratégias que envolvam o múltiploaproveitamento dos corpos d’água oriundosde grandes represamentos (OLIVEIRA FILHO,1976; TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2003),inclusive com o intuito de compensar osefeitos adversos e a perda de recursosnaturais que inevitavelmente acompanhamos barramentos.
Porém, conforme as informações obtidas nascompanhias hidrelétricas, conclui-se que,além da produção de hidroeletricidade,outros usos têm ocorrência bem modesta.
Contudo, é provável que essas e outrasatividades ocorram em muitos reservatórios,com o desconhecimento das autoridades edos gerentes da área ambiental dascompanhias hidrelétricas, como é o caso da
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 391391391391391
pesca amadora, de subsistência e mesmo oabastecimento de água, que sabidamenteocorre de forma difusa em quase todos osreservatórios do país. Algumas vezes, porexemplo, a pesca comercial é assumida comoinexistente em dado reservatório, tendocomo base a proibição de seu exercício ouuma suposta baixa densidade dos estoques.Uma busca mais profunda revelará dadossurpreendentes. É fato, porém, que a escassezde programas que inventariem, incentivemou apóiem usos diferenciados, como a pescae o turismo, não permite que essasatividades sejam proeminentes ouorganizadas, ou até mesmo conhecidas emtoda a sua extensão.
Monitoramento Ambiental
Como será apresentado no Capítulo 8, omonitoramento é uma ferramentaimprescindível a objetivos tão diversos comoavaliar uma medida de manejo (estocagem,transposição, etc.), identificar situações deuso incorreto dos recursos ou da bacia,detectar alterações resultantes de processoscomplexos ou de natureza estocástica noambiente. Idealmente, ele pressupõe oconhecimento de um modelo ou padrão devariação que se constitui na base para seavaliar as flutuações.
Como visto anteriormente, a maioria dasações ambientais desenvolvidas nosreservatórios brasileiros está maisrelacionada ao monitoramento em seusentido amplo, ou seja, para oacompanhamento das alterações temporaisnas variáveis limnológicas, ictiológicas e
recursos pesqueiros. A natureza dessesmonitoramentos, sua história recente (1999-2003), periodicidade, abrangências espaciaise variáveis monitoradas foram objeto dequestionário para cada um dos 100reservatórios analisados.
Limnologia
A atividade de monitoramento daqualidade da água nos últimos anosenvolveu entre 36% (1999) e 53% (2002) dototal de reservatórios que disponibilizaraminformações (Figura 7.4a). Considerando-seos dois últimos anos para os quais asinformações estão disponíveis (2002-2003), 61reservatórios tiveram algum monitoramentolimnológico. Nestes, a freqüência domonitoramento foi principalmentetrimestral (60%) e, em menor proporção,bimestral (22%) e semestral (13%) (Figura7.4b). Assim, cerca de 73% dos reservatórioscom monitoramento limnológico realizaramessa tarefa de duas a quatro vezes ao ano.Monitoramento mensal esteve restrito aapenas 3% dos reservatórios. Considerando anatureza dos monitoramentos, ou seja,acompanhamento de processos físicos equímicos da água, a tomada de dados comtais intervalos de tempo (e.g. sazonal,semestral) pode prejudicar a qualidade dainformação, visto que dinâmicas queocorrem em curta escala de tempo não sãoavaliadas.
Entre os 61 reservatórios commonitoramento limnológico em 2002 e 2003,a abrangência espacial dessa atividademostrou variações relevantes (Figura 7.5a).
392 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
%R
ese
rvató
rios
Anos
0
20
40
60
80
100
1999 2000 2001 2002 2003
an = 100
% Reservatórios
mensal
bimestral
semestral
trimestral
n = 61 b
Figura 7.4 - Percentual de reservatórios com monitoramentolimnológico entre 1999 e 2003 (a), e periodicidade comque foi realizado naqueles que apresentaram esteacompanhamento em 2002 e 2003 (b), segundoinformações das concessionárias.
Na dimensão vertical, todos osreservatórios tiverammonitoramento na superfície,sendo que grande partetambém teve nas camadasprofundas (77%). No eixoespacial longitudinal, omonitoramento de suas águasmais internas e imediatamenteabaixo da barragem éextensivo a quase todos essesreservatórios (zona lacustre:97% jusante: 98%). Fato similarfoi registrado para suas áreasde remanso (fluvial, 85%) emesmo nos trechosintermediários (transição;69%). Já os trechos a montantee dos tributários lateraisreceberam menos atenção (49%e 40%, respectivamente).
Entre as variáveislimnológicas contempladasnesses monitoramentos,destacam-se a temperatura, ooxigênio dissolvido, atransparência da água e o pH, objeto deacompanhamento nos 61 reservatóriosconsiderados. Além disso, quase todosmonitoram a condutividade elétrica e aconcentração de nutrientes na água (97%).Todas essas informações são de grandeinteresse para as companhias, visto que serelacionam com a qualidade da água,proteção de equipamentos e com a produçãobiológica do sistema.
Com relação aos componentes bióticos, emum grande percentual de reservatórios são
monitoradas as comunidades fito-zooplanctônicas (66%), sendo menor opercentual daqueles que monitorammacrófitas aquáticas (41%).Essa menor atenção conferida às macrófitas éintrigante, em razão de as macrófitas terem-se tornado motivo de grande preocupaçãodas hidrelétricas do país, uma vez quedesenvolvem, ocasionalmente, grandesinfestações em reservatórios e prejudicam ageração de energia elétrica e outros usos(THOMAZ; BINI, 1999; MARCONDES; MUSTAFÁ;
TANAKA, 2003).
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 393393393393393
%R
ese
rvató
rios
Abrangência Espacial
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8
n = 61a
Variáveis
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n = 61b
Reservatório
Adjacência
1 - Superficie2 - Fundo3 - Barragem4 - Intermediário5 - Remanso
6 - Jusante7 - Montante8 - Tributários
1 - TºC2 - Oxigênio3 - Transparência4 - pH5 - Condutividade6 - Nutrientes7 - Fitoplâncton8 - Zooplâncton9 - Bentos10 - Macrófitas
%R
ese
rvató
rios
Figura 7.5 - Abrangência espacial dos monitoramentoslimnológicos realizados em 61 reservatórios brasileiros noperíodo de 2002-2003 (a) e variáveis monitoradas (b),segundo informações das concessionárias.
A comunidade bentônica é amenos monitorada, sendoobjeto de acompanhamentoem apenas 26% dosreservatórios (Figura 7.5b).Esse fato também éparadoxal, já que essacomunidade tem potencialpara ser utilizada comoindicadora da qualidadeambiental (HIGUTI;
ZVIEJKOVSKI; TAKAHASHI; DIAS,2005), além de ser um doscomponentes bióticos deecossistemas aquáticosmenos conhecidos e,possivelmente, maisimpactados pela construçãode reservatórios.
Ictiologia
O monitoramento dasassembléias de peixes ocorrenum númeroproporcionalmente baixo dereservatórios brasileiros. Dos 100reservatórios cujas informações foramdisponibilizadas, o monitoramentoictiofaunístico envolveu entre 22 e 41empreendimentos, no período de 1999 a 2003(Figura 7.6a). De qualquer maneira,constatou-se nesse período um incrementoacentuado no número deles, o que denotauma atenção crescente das companhiashidrelétricas com a obtenção de informação arespeito da comunidade de peixes em seusreservatórios. Seria interessante que essasinformações guiassem as tomadas de decisão
a respeito do uso dos recursos, suaconservação e medidas de manejo,suplantando a antiga e incerta técnica datentativa e erro (AGOSTINHO; GOMES; LATINI,2004).
Dos reservatórios monitorados em 2002 e2003 (42 reservatórios), a maior parte o foi deforma sazonal (66%), seguida pelomonitoramento bimestral (29%) (Figura7.6b). Monitoramentos mensais foramregistrados em apenas 5% deles, ou seja, emapenas 2 reservatórios.
394 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
%R
ese
rva
tório
s
Anos
0
20
40
60
80
100
1999 2000 2001 2002 2003
an = 100
% Reservatórios
mensal
bimestral
trimestral
n = 42 b
Figura 7.6 - Percentual de reservatórios com monitoramentoictiofaunístico no período de 1999-2003 (a), e periodicidadecom que foi realizado naqueles que apresentaram esteacompanhamento em 2002 e 2003 (b), segundoinformações das concessionárias.
Com relação à abrangênciaespacial dos monitoramentosictiofaunísticos nosreservatórios onde essaatividade é realizada, amaior parte temmonitoramento de superfíciee de fundo (> 75%) (Figura7.7a). Igualmente, mais de80% dos reservatórios têmseu eixo longitudinalmonitorado (jusante,barragem, remanso emontante), sendo exceção ostrechos intermediários (~65%). O menor interesse naregião intermediária éinteressante, visto que essaregião costuma ser a maisprodutiva biologicamente eem termos de rendimentopesqueiro (THORNTON;
KIMMEL; PAYNE, c1990; OKADA;
AGOSTINHO; GOMES, 2005). Poroutro lado, os tributários,que em geral têm papelrelevante como hábitat de desova de grandeparte das espécies que vivem nosreservatórios (SUZUKI; AGOSTINHO, 1997), sejammigradoras ou não, têm sido monitoradosem apenas 14 reservatórios (33%).
As informações colhidas nosmonitoramentos são essencialmenterelacionadas à ictiologia básica, como acomposição de espécies e a captura porunidade de esforço (CPUE) (Figura 7.7b).Além disso, informações relativas à estruturaem comprimento, reprodução e alimentaçãosão também freqüentes nos monitoramentos.
É importante destacar a atenção dada, empraticamente todos os reservatóriosmonitorados (97%), aos aspectosreprodutivos dos peixes, informaçãoimportante na determinação da atividadereprodutiva que, por conseguinte, é um dosdeterminantes da estrutura populacional esua abundância. Lamentavelmente, os dadosobtidos em capturas sazonais e sem abrangeros tributários são pouco consistentes paraavaliações reprodutivas. Informações diretasde intensidade de recrutamento, essenciaispor embutir aspectos de demografia(natalidade e mortalidade), são obtidas em
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 395395395395395
Abrangência Espacial
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8
Reservatório
1 - Superficie2 - Fundo3 - Barragem
Adjacência
6 - Jusante7 - Montante8 - Tributários
an = 42 4 - Intermediário5 - Remanso
Variáveis
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - Composição2 - CPUE n3 - CPUE b
4 - Tamanho5 - Alimentação6 - Reprodução7 - Recrutamento8 - Fator de condição
n = 42 b
%R
ese
rvató
rios
%R
ese
rvat ó
rios
Figura 7.7 - Abrangência espacial dos monitoramentosictiológicos realizados em 42 reservatórios brasileiros noperíodo de 2002-2003 (a) e variáveis monitoradas (b),segundo informações das concessionárias.
pouco mais da metade dos 42reservatórios com essaatividade (59%). Já o fator decondição, é uma informaçãocomumente obtida, atéporque pode ser acessada apartir de outras variáveis(peso e comprimento).
Atividade de Pesca
A atividade de pesca foimonitorada em um númeroreduzido de reservatórios noperíodo de 1999 a 2003,envolvendo entre 6 e 19 dos100 que disponibilizaram asinformações (Figura 7.8a).Entretanto, o incrementoobservado durante esseperíodo é um fator altamentepositivo. É importantesalientar que, apesar de aatividade pesqueira ser umacontecimento inevitável emdiferentes ambientes deáguas interiores, nem todos os reservatóriosa têm bem desenvolvida, tanto por melhoresoportunidades de lazer e renda na região,quanto por restrições legais à atividade. Isso,em geral, desestimula o seu inventário emonitoramentos por parte das companhiashidrelétricas. Algumas delas atribuem a não-realização de ações ligadas à pesca àproibição de seu exercício na região.
Dos reservatórios monitorados em 2002 e2003 (19 reservatórios), a maior parteconsistiu de tomadas mensais de dados, que
envolveram 11 reservatórios (58%),enquanto dados diários, geralmente obtidoscom anotações do próprio pescador,estiveram restritos a 7 deles (37%; Figura7.8b). Um pequeno percentual registralevantamentos ocasionais.
Algumas variáveis da pesca são comumentemonitoradas, como peso do pescado e oesforço de pesca empregado, sendo essesdados obtidos em cerca de 70% dos 19reservatórios que acompanham a atividade(Figura 7.9a).
396 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
%R
ese
rvató
rios
Anos
0
20
40
60
80
100
1999 2000 2001 2002 2003
an = 100
% Reservatórios
ocasional
mensais
diários
n = 19 b
Figura 7.8 - Percentual de reservatórios com monitoramento dapesca no período de 1999-2003 (a), e periodicidade com quefoi realizado naqueles que apresentaram esteacompanhamento em 2002 e 2003 (b), segundoinformações das concessionárias.
O tipo do esforço maisfreqüentemente anotado é“dias de pesca”, seguido pelo“número de pescadores”. Aquantidade de equipamentosou o número de embarcaçõessão medidas de esforço depesca menos utilizadas,sendo registradas apenas emsete reservatórios.
O monitoramento dasvariações na estratégia depesca e na infra-estruturaenvolvida com essaatividade foi objeto deregistro em 62% deles. Ofluxo na comercialização éobjeto de acompanhamentoem apenas oito dos 19reservatórios onde omonitoramento da pesca érealizado. Nesse ponto, éimportante ressaltar que acomercialização é um dosprincipais problemas dapesca em reservatórios, visto que ospescadores têm baixa capacidade dearmazenamento do pescado, ficando à mercêde flutuações de preços conforme aumentaou diminui sazonalmente a oferta.
Os aspectos socioeconômicos da pesca e dospescadores não têm recebido a atençãoesperada no monitoramento da atividadepesqueira (Figura 7.9b). Um baixo percentualde reservatórios (10%; 2 reservatórios)apresenta um censo completo sobre aatividade. Entre as informações maisfreqüentemente colhidas nesses
monitoramentos estão a percepção dospescadores quanto à pesca e àsinstituições. As demais informações,relacionadas diretamente com a questãosocial e econômica da atividade, foramavaliadas em menos de 30% dosreservatórios.
Disponibilidade da Informação
Com o objetivo de avaliar a forma e o nívelde controle com que as ações de manejo vêmsendo praticadas pelo setor elétrico, as
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 397397397397397
Variáveis da Pesca
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - Peso2 - Esforço3 - Esforço pescador4 - Esforço equipamento5 - Esforço embarcação6 - Esforço dias de pesca7 - Estratégia de pesca8 - Comercialização9 - Infraestrutura
an = 19
Variáveis de Pescadores
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - Censo total2 - Dedicação3 - Estrutura familiar4 - Instrução5 - Renda média6 - Moradia7 - Saneamento8 - Saúde9 - Educação
10 - Percepções pesca11 - Percepção instituições
bn = 19
%R
ese
rvató
rios
%R
ese
rvató
rios
Figura 7.9 - Natureza e freqüência das informações obtidas nomonitoramento da atividade de pesca (a) e da situaçãosocioeconômica dos pescadores em 19 reservatórios, noperíodo de 2002-2003 (b), conforme informação dasconcessionárias.
concessionárias foramconsultadas sobre adisponibilidade de dados.Partiu-se do pressuposto deque a existência de dadosrelativos às atividades demanejo e de monitoramentoforneceria indicações sobre aforma com que essas açõesvêm sendo conduzidas.Imprescindível para aavaliação das práticas domanejo, a disponibilidadedessas informações permitecorreções e ajustes deprogramas, auxiliando atomada de decisão futura e aescolha dos instrumentosmais adequados. Opercentual de reservatórioscom uma dada categoria deinformação disponível foicalculado para o universo dereservatórios submetido acada estratégia de manejo.
Dos 56 reservatórios queutilizaram a estocagem depeixes nativos como técnicade manejo, nem todos têm informaçõesdisponíveis a respeito da prática realizada(Figura 7.10a). Cerca de 75% dessesreservatórios declaram ter informação arespeito das espécies utilizadas naestocagem, da quantidade liberada, dotamanho dos alevinos e da proveniência dasmatrizes. Tal quadro é inusitado, visto quequase 25% desses reservatórios não dispõemde informação acerca sequer das espéciesliberadas, o que gera dúvidas sobre a
procedência geográfica da espécie e, porconseguinte, de seu status nativo. Alémdisso, a ausência de detalhes sobre aquantidade de peixes liberados, em conjuntocom o grande percentual de reservatóriosque não têm informação sobre data e local desoltura, revela que as estocagens foramrealizadas sem o cuidado e o planejamentoque a atividade requer. Significa igualmenteque, se houve equívocos, estes não poderãoser considerados em futuras decisões.
398 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Estocagem
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6
1 - Espécies2 - Quantidade3 - Tamanho dos peixes4 - Data5 - Local de soltura6 - Origem das matrizes
an = 56
Transposição
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7
1 - Total transposto/tempo2 - Seletividade3 - Quantidade4 - Velocidade5 - Variações diárias6 - Variações sazonais7 - Efetividade para conservação
n = 38 b
%R
ese
rva
tório
s%
Re
serv
ató
rio
s
Figura 7.10 - Percentual de reservatórios com informaçãodisponível a respeito da prática de estocagem (a) etransposição (b), realizadas com o objetivo de conservaçãoda ictiofauna e dos recursos pesqueiros, segundoinformações das concessionárias.
Dos reservatórios quecontam com mecanismos detransposição de peixes (38reservatórios), o percentualdaqueles com informaçãodisponível é muito baixo.Informações básicas efundamentais, como a taxade peixes transpostos(número/tempo), aseletividade específica domecanismo e a quantidade depeixes transpostos porespécie (Figura 7.10b), estãodisponíveis em um baixopercentual de reservatórios(< 10%). Além disso, menosde 15% têm informaçãoacerca da efetividade daatividade como ferramentade manejo.
Com relação à prática decultivo em tanques-rede, dos17 reservatórios quedeclararam empregar aatividade, quase 90% nãotêm planos de gestão ou controle da atividade(Figura 7.11a). O conhecimento a respeito dalocalização dos empreendimentos e de seusproprietários, bem como do número e área detanques, além das espécies utilizadas nocultivo, está disponível para mais de 75% dosreservatórios. O fluxo de comercialização dopescado é conhecido apenas para 41% deles.Por outro lado, informações sobre arentabilidade dos cultivos em tanques-redeforam constatadas em apenas 2 reservatóriosdos 17 em que a atividade é praticada. Aausência dessas informações é um fator que
complica o planejamento da instalação denovos empreendimentos de cultivo e tornatemerário o fomento dessa atividade.Informações sobre os impactos ambientaispromovidos pelos tanques-rede foramdeclaradas existentes em 65% dosreservatórios, o que é considerado um bompercentual, dada a forma desorganizada comque esses cultivos estão se disseminando.
Nenhum reservatório emprega a técnica deadição de abrigos (~4%), porém 15declararam dispor de informação sobre
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 399399399399399
Tanques-Rede
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7
n = 18 a1 - Plano de gestão2 - Localização e proprietário3 - Número e área4 - Espécies5 - Rentabilidade6 - Comercialização7 - Impactos
Manipulação de Abrigos
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5
bn = 151 - Remoção prévia da vegetação2 - Remoção de construções3 - Remoção de paliteiros4 - Adição de abrigos5 - Controle de macrófitas
%R
ese
rva
tório
s%
Re
serv
ató
rio
s
Figura 7.11 - Percentual de reservatórios com informaçãodisponível a respeito das práticas de cultivo em tanque-rede (a) e manipulação de abrigos (b), realizadas com oobjetivo de conservação da ictiofauna e dos recursospesqueiros. O percentual foi calculado sobre o universo dereservatórios que declarou utilizar cada modalidade demanejo.
estruturas remanescentes doperíodo anterior aorepresamento na área doreservatório (Figura 7.11b).Dessa forma, o percentualapresentado aqui se refere aouniverso de declarantesacerca da disponibilidade deinformação (15reservatórios). Informaçõessobre a remoção prévia davegetação estão disponíveispara aproximadamente ametade dos reservatórios,sendo que para cinco deleshá também dados deedificações remanescentessob as águas. Informaçãoacerca da remoção depaliteiros após orepresamento está disponívelapenas para um. Apesar de ainfestação de macrófitas serum problema permanenteem muitos reservatórios, e aexecução de planos decontrole ser igualmentecomum em alguns, poucos têm informaçãodisponível sobre tal controle (20%; 3reservatórios).
O controle das populações de espéciesinvasoras e de introdução de espécies não-nativas, um compromisso brasileiro juntoà Convenção da Biodiversidade, épraticado em 11 dos 100 reservatóriosconsiderados. Esse controle é feitoessencialmente através do estímulo à pescaseletiva, envolvendo sete (73%) dos 11reservatórios em que há preocupação com
essa atividade (Figura 7.12a). Em cincodeles há controle sobre os programasinstitucionais de estocagem e em apenas doishá o controle de cultivo de espécies não-nativas nas áreas de preservaçãopermanente. Informações sobre amanipulação de hábitats visando o controlede exóticas e a vigilância em relação aestocagens não-institucionais são tambémexistentes em dois deles.
Informações sobre hábitats críticos e de açõesapropriadas à proteção da biodiversidade
400 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Controle de Invasoras
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5
n = 111 - Estímulo à pesca2 - Controle do cultivo nas APPs3 - Manipulação de habitats4 - Controle de estocagem institucional5 - Controle de estocagem não-institucional
a
Habitats Críticos
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6
n = 100 b1 - Áreas de desova2 - Áreas de desenvolvimento3 - Unidade de conservação4 - Recuperações5 - Amplificações6 - Adequações
%R
ese
rvató
rios
%R
ese
rvató
rios
Figura 7.12 - Percentual de reservatórios com informaçãodisponível a respeito das práticas de controle de espéciesinvasoras (a) e localização de habitats críticos para aictiofauna (b). Para o controle de invasoras o percentual foicalculado sobre o universo de reservatórios que utilizou oinstrumento de manejo, enquanto que para os habitatscríticos utilizou-se o universo total de reservatórios (100).
são, em tese, dadosimprescindíveis àconservação da ictiofauna emanutenção dos estoquespesqueiros para qualquerreservatório, o que explica,portanto, o uso do universototal de reservatórios para ocálculo dos percentuais dedisponibilidade dasinformações dessa natureza(100; Figura 7.12b). Apesar daenorme relevância desseshábitats para a conservaçãoda fauna e dos recursosaquáticos a médio e longoprazo, poucos reservatóriostêm informação disponívelsobre esses hábitats. Assim,apenas cerca de 10% têminformações disponíveisacerca dos locais de desova edesenvolvimento inicial dasprincipais espécies.Percentual semelhante dereservatórios teminformações que permitemsubsidiar uma eventualcriação de Unidades de Conservação. Jádados necessários à ações de melhoriasnesses hábitats, como recuperação,ampliação ou adequações, restringem-se amenos de 5% deles. Essa carência deinformação é extremamente preocupante,visto que as tendências atuais na ecologia daconservação privilegiam essencialmente aproteção de hábitats críticos, como soluçãomais recomendada para a conservação dabiodiversidade aquática (AGOSTINHO; THOMAZ;
GOMES, 2005).
Informações sobre a manipulação de nívelestão disponíveis para quase todos osreservatórios. Entretanto, informações decomo operá-los com vistas à conservação daictiofauna foram declaradas para apenas 11deles. Destes, 10 dispõem de dados maisdetalhados acerca do efeito da operaçãosobre a ictiofauna, e oito, das conseqüênciasa jusante. A existência de dados sobre amanipulação de nível visando incrementosna disponibilidade de abrigos foi, entretanto,baixa, envolvendo apenas dois reservatórios
Ações Ambientais em Andamento no Setor Hidrelétrico Brasileiro: levantamento 401401401401401
Manipulação do Nível
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6
an = 11 1 - Cotas diárias2 - Capacidadesuporte3 - Disponibilidade de Abrigos4 - Viabilidade de desova5 - Sobrevivência de juvenis6 - Proteção a jusante
Controle da Pesca
0
20
40
60
80
100
1 2 3 4 5 6 7
n = 16 b1 - Número de fiscais2 - Periodicidade deincursões3 - Emissão de licença4 - Restrição de equipamentos5 - Defeso6 - Restrição de locais7 - Restrição de quantidade
%R
ese
rvató
rios
%R
ese
rvató
rios
Figura 7.13 - Percentual de reservatórios com informaçãodisponível a respeito das práticas de manipulação do níveldo reservatório(a) e controle da pesca (b). O percentual foicalculado sobre o universo de reservatórios que declarouutilizar cada modalidade de manejo.
(Figura 7.13a). Por outro lado,apenas em um haviainformações sobre a relaçãoentre a manipulação de nível ea capacidade biogênica doreservatório. Além disso,inexistem informações quantoà influência da variação donível sobre a viabilidade dedesovas e a sobrevivência dejuvenis.
A atuação direta ou indiretadas concessionárias nocontrole da pesca foi declaradapara 16 reservatórios (vertópico Instrumentos deManejo, neste capítulo). Essa éuma das ações mais freqüentesem reservatórios brasileiros,porém executada pelos órgãoestaduais e/ou federais.Entretanto, dados quesubsidiem ou avaliem essecontrole são escassos no setorhidrelétrico (Figura 7.13b). Asinformações para subsidiar oestabelecimento do período de defeso são asmais disseminadas, estando disponíveis para63% desses reservatórios. Já informaçõessobre o esforço de fiscalização (número defiscais, periodicidade das incursões defiscalização) ou mesmo de ações de controleda pesca, como emissão de licenças,restrições de equipamentos, locais de pesca equantidade de pescado, etc., estiveramdisponíveis em apenas dois reservatórios.Nenhuma informação acerca da eficácia dasrestrições à pesca (ex.: defeso, tamanhomínimo) é conhecida.
Essas constatações demonstram a reduzidaatenção que a atividade pesqueira temrecebido, tanto dos órgãos de ordenamentocomo do setor elétrico. Porém é em nomedela que muitas ações de manejo, corretas ouequivocadas, são conduzidas.
Em síntese, este levantamento demonstra aclara predileção do setor hidrelétrico para asações de manejo mais voltadas à estocagemde peixes e transposição, em relação àsmedidas de manipulação de hábitat. Mostratambém que é baixa a disponibilidade deinformações que subsidiem o planejamento
402 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de ações de manejo ou que permitam umaavaliação técnica daquelas já implementadas.
Contudo, é promissor o crescenteinvestimento em estudos e monitoramentoconstatado nos últimos anos. Espera-se queessa tendência se mantenha, visto que onúmero de reservatórios onde estes sãorealizados ainda é baixo. Espera-se,igualmente, que a informação gerada poressas atividades seja empregada naidentificação dos reais problemassocioambientais presentes nos reservatóriosbrasileiros, guiando subseqüentemente aelaboração de melhores estratégias para suamitigação. Somente assim as companhiashidrelétricas poderão se desvencilhar de seusantigos métodos de abordagem dessesproblemas, algumas vezes contribuindo paraagravá-los.
Considerações Finais
Os levantamentos realizados junto àsconcessionárias hidrelétricas revelam que osesforços de manejo dos recursos pesqueirosno setor são direcionados principalmente àestocagem e à transposição de peixes, sendoque, na percepção dos técnicos, os resultadosdesta última são considerados mais bem-sucedidos que os da primeira. É oportunoressaltar, entretanto, que o sucesso dosmecanismos de transposição é geralmenteinferido com base na quantidade de peixesque ultrapassam esses dispositivos, comodiscutido no Capítulo 6.1.
A exploração dos recursos, tanto pela pescaprofissional quanto pela esportiva ou de
subsistência, tem recebido atenção menor.Essa situação é paradoxal, dado que asatividades extrativistas podem afetar osestoques, e que a pesca comercial e a desubsistência têm destacado papel nosustento de segmentos sociais excluídos dosdemais sistemas produtivos ou afetadospela formação dos reservatórios.
Entretanto, é promissora a tendência deintensificação das ações de monitoramentonos últimos anos, tanto da qualidade daágua quanto da ictiofauna. Contudo, umamaior abrangência nesse monitoramento énecessária, tanto nas variáveis consideradas,quanto no espaço e no tempo. Em relaçãoaos temas, estes devem ser intensificadospara a atividade pesqueira e outroscomponentes bióticos do ambiente, além dopeixe. Maior abrangência espacial é tambémrequerida, envolvendo, por exemplo,tributários e segmentos a montante, ondevárias espécies que sustentam a pesca sereproduzem ou têm seu desenvolvimentoinicial. Os trechos intermediários doreservatório, algumas vezes os maisprodutivos por não terem limitaçõesrelevantes de luminosidade, como ostrechos superiores, nem de nutrientes, comoos mais internos, merecem maior atençãodo monitoramento. Em relação ao tempo, énecessário considerar que as condiçõeslimnológicas alteram em períodos de 24h eentre as estações do ano.
Finalmente, melhorias substanciais nastécnicas de monitoramento e nas ações demanejo poderiam ser obtidas com a análisee discussão dos dados acumulados no setordurante as últimas décadas.
Capítulo 88888Perspectivas Para a Pesca e os
Recursos Pesqueiros em Reservatórios
Ao longo deste documento, pode ser constatado que as
ações atenuadoras de impactos e de manejo dos recursos
pesqueiros em reservatórios foram, em geral, marcadas por
algum sucesso e muitos insucessos, tanto para os objetivos de
conservação dos recursos ictiofaunísticos quanto para a
sustentabilidade da pesca. Entre os principais fatores que podem
explicar o freqüente insucesso, destacam-se a falta de clareza de
objetivos, a insuficiência de conhecimento dos sistemas
manejados, o uso de protocolos de manejo equivocados, a falta
de monitoramento e a complexidade inerente aos processos
bióticos em sistemas naturais. Neste capítulo são apresentadas
algumas recomendações sobre futuras ações do setor
hidrelétrico, incluindo as diretrizes estabelecidas durante os
seminários do Comitê Coordenador das Atividades de Meio
Ambiente do Setor Elétrico (COMASE), realizados em 1993-94
(SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA..., 1994).
404 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Introdução
A questão ambiental é um tema cada vezmais recorrente nas discussões sobre osrepresamentos, recebendo crescente atençãono Setor Elétrico. No conjunto dessasdiscussões, sobressaem aquelas relacionadasaos recursos aquáticos e, em especial, aospeixes. Embora esse grupo de animais tenha,num sentido amplo, importância ecológicasimilar à de outros grupos bióticos, recebemerecido destaque nas discussões pelapeculiaridade de envolver aspectos sociais,econômicos e culturais, além do puramenteecológico.
A busca de alternativas para atenuar osimpactos dos represamentos sobre aictiofauna tem idade similar à dosreservatórios hidrelétricos, tendo sidoiniciada com a construção da escada de peixesdo reservatório de Itaipava, no rio Pardo(bacia do alto Paraná), concluída em 1911.
Nos anos de 1993 e 1994, por iniciativa daEletrobrás, através do Comitê Coordenadordas Atividades de Meio Ambiente do SetorElétrico (COMASE), foram realizadas sériesde Reuniões Temáticas Preparatórias e umSeminário Nacional que congregou, nasdiferentes etapas, técnicos do setor elétrico,pesquisadores, comunidade acadêmica erepresentantes das comunidades depescadores, visando fornecer ao Setorelementos para subsidiar diretrizes nacionaispara a conservação da fauna aquática emreservatórios.
Os documentos gerados durante esses eventosrepresentaram avanços consideráveis no trato
da questão dos recursos aquáticos emreservatórios, diagnosticando a situaçãovigente, sistematizando o conhecimento epropondo soluções.
Decorridos mais de 10 anos desde a realizaçãodo “Seminário Sobre Fauna Aquática e o SetorElétrico Brasileiro”, verificaram-se avançosrelevantes na atuação das concessionárias dehidroeletricidade na área ambiental, como asensível redução nas estocagens com espéciesexóticas, nos protocolos de estocagem, nomonitoramento e no esforço de entendimentodo sistema a ser manejado (ver Capítulo 7).Entretanto, muitas recomendações ainda sãoignoradas e erros continuam a ser cometidos.
As contradições que cercam esses temas nãomudaram muito nos últimos 50 anos, edecorrem essencialmente das diferentespercepções que diferentes profissionais eusuários têm do ambiente e dos recursos.Essas contradições são de naturezas diversas ealgumas vezes irreconciliáveis, destacando-se(i) a demanda crescente de energia, de umlado, e os impactos ambientais inevitáveispara o seu atendimento, de outro; (ii) aescassez de informações sobre os ecossistemasalvo das ações e o tempo demandado paraobtê-las, em contraposição à urgênciarequerida nas intervenções; (iii) os anseiosilimitados de rendimento, inerentes àexploração de qualquer recurso natural, emoposição às limitações bióticas impostas peloambiente; (iv) a natureza eminentementetécnica que deve caracterizar os processosdecisórios e a implementação das ações deconservação, conflitantes com o interesseeleitoreiro de alguns tomadores de decisão ea influência menor dos técnicos do setor em
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 405405405405405
tais decisões; (v) a elevada demanda derecursos para implementação das açõesambientais e o monitoramento dosresultados, e o orçamento pífio que muitasvezes é reservado à área de meio ambiente;(vi) o caráter imperativo do monitoramentopara o processo de aprendizagem com asações de manejo, e a baixa relevância dada aessa complementação; (vii) a exigência deações espacial e temporalmente amplas earticuladas de manejo, e o caráter restrito comque geralmente é executado; (viii) anecessidade de estratégias de manejoespecíficas para cada bacia ouempreendimento, e a generalização dosprotocolos para um país de dimensãocontinental.
Além disso, o uso das águas represadas para ocultivo de peixes, que na época das reuniõesdo COMASE ocorria de forma incipiente, éuma realidade nova nos usos múltiplos dosreservatórios e que tem sido objeto deembates entre os órgãos de fomento dosgovernos federal e estaduais, de um lado, e osde controle ambiental e ambientalistas, dooutro.
Neste capítulo, além de reapresentar asrecomendações feitas durante os debates no
âmbito do COMASE (SEMINÁRIO SOBRE FAUNA
AQUÁTICA..., 1994) que se referem aos temasaqui abordados, são feitas algumasproposições acerca de ações ambientais emreservatórios e sugeridos protocolos deinvestigações, monitoramento e manejo,tendo como base a leitura das experiênciasanteriores e discussões com técnicos do SetorElétrico, ao longo de mais de 20 anos.
Pressupostos Para AçõesBem Sucedidas
O primeiro aspecto a ser considerado é queem reservatórios hidrelétricos, onde impactosnegativos sobre a diversidade biológica sãoresultados inevitáveis de sua formação, asações, por uma questão ética, não devem sercalcadas apenas no incremento da produçãopesqueira. Sua administração deve tercompromissos com a recomposição emanutenção da biodiversidade e dofuncionamento do ecossistema (AADLAND,
1993; ver Box 8.1). Vale destacar que, nasreuniões do COMASE, algumasrecomendações foram elaboradas, naorientação especifica de direcionar esforçospara a conservação ambiental e dabiodiversidade (ver Box 8.2).
BoBoBoBoBox 8.1x 8.1x 8.1x 8.1x 8.1Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
“Diretrizes para as ações de mitigação de impactos e manejo dos recursos:
I. as diretrizes, definidas de maneira concisa e conforme as peculiaridades de cada bacia, devem tercompromisso permanente com a manutenção da biodiversidade, mesmo quando as peculiaridades dabacia permitirem que ações voltadas aos interesses da produção pesqueira sejam implementadas.”
406 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
BoBoBoBoBox 8.2x 8.2x 8.2x 8.2x 8.2Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Responsabilidade na utilização dos recursos hídricos
I. reforçar as iniciativas para o estabelecimento de órgãos colegiados deliberativos por bacia hidrográficapara efetuar seu gerenciamento;
II. estimular o estabelecimento de normas para a utilização dos recursos hídricos definindo, na medidado possível, critérios, competências e responsabilidades dos diversos usuários.
Conservação ambiental
I. incluir a fauna aquática como uma das variáveis a ser considerada na definição das áreas indicadaspara conservação ambiental;
II. na definição dessas áreas, considerar a presença de:. sítios de alimentação;. área de desova;. criadouro natural das formas jovens;
Responsabilidades do Setor Elétrico
I. que seja estabelecido como responsabilidade do Setor Elétrico:
- realizar atividades que visem a mitigação dos impactos ocasionados à fauna aquática e aos pescadorespela implantação e operação dos empreendimentos;
- gerar os dados adequados à tomada de decisão, à implantação e à operacionalização das atividades,quando existentes;
- realizar o monitoramento do ambiente e das atividades implantadas, de modo a avaliar a efetividadedas ações e a necessidade de retificá-las;
- divulgar os resultados do monitoramento e das demais ações realizadas;
II. que as atividades garantam a implantação da política setorial proposta: “As empresas do SetorElétrico, ao planejar, construir e operar seus empreendimentos devem priorizar ações que visem amanutenção e recomposição da diversidade da fauna aquática e da produção pesqueira sustentávelnas bacias hidrográficas, bem como procurar equacionar a situação dos pescadores afetados pelaimplantação e operação dos seus empreendimentos”.
Estímulos para a conservação da fauna aquática
I. sugerir ao DNAEE:
- o estudo de viabilidade da adoção de medidas de compensação aos municípios que reservem trechosdas principais bacias hidrográficas que os atravessem;
- a avaliação da experiência obtida no Estado do Paraná com a Lei de “Royalties Ecológicos” comosubsídio ao estabelecimento de instrumentos para compensação aos municípios que preservamtrechos de bacias hidrográficas.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 407407407407407
Outro aspecto digno de destaque inicial é agama de conhecimento que deve subsidiar asações, especialmente as de manejo. Assim, omanejo de recursos pesqueiros deve serbaseado em um amplo conhecimento de todosos componentes do sistema, que nesse casocompreende os peixes, outros organismos, oambiente e as pessoas envolvidas na pesca. Aforte interação entre esses componentes e suasoscilações no tempo confere complexidade aosistema e aumenta os riscos de frustração nasações isoladas. As decisões acerca das medidasa serem tomadas serão tão mais apropriadasquanto mais profundas e abrangentes forem asinformações dos componentes do sistema queas embasem (ver Box 8.3). Assim, o manejo derecursos pesqueiros, além de seuscomponentes biológicos, físicos e químicos,tem também uma dimensão socioeconômicaque deve ser considerada.
As medidas de manejo baseadas apenas nainformação biológica podem, por exemplo, serinócuas se, por razões políticas ou econômicas,a pesca não for controlada. Por outro lado,programas de manejo dirigidos conformeinteresses econômicos ou políticos podem
resultar em fracasso, caso limitações biológicassejam ignoradas.
Para a eficiência das ações, são necessários oestabelecimento de metas claras e objetivosprecisos e quantificáveis. De outra forma, aavaliação é impossível e os esforços, dispersos.Por exemplo, metas como “fornecer o máximobenefício à sociedade”, “racionalizar o uso econservação”, “melhorar a pesca” ou“incrementar o rendimento pesqueiro” sãogeneralizações inerentes à própria definição domanejo que, embora úteis na comunicaçãopública e na divulgação política, têm poucautilidade operacional (BARBER; TAYLOR, 1990).
Metas são proposições de longo prazo e maisamplas, onde são antevistos estados demelhoria do estoque, população ou daatividade pesqueira, para cuja consecução osmanejadores planejam e desenvolvemestratégias e que, em contrapartida, regem suasatividades de organização. Seu enunciado deveser, no entanto, amplo e apresentar forte apelosocioeconômico e/ou conservacionista, paraque sirva também às finalidades políticas e decomunicação social.
BoBoBoBoBox 8.3x 8.3x 8.3x 8.3x 8.3Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
(continua)
Suficiência do conhecimento sobre a fauna aquática para subsidiar a política nacional
I. propor aos órgãos competentes a realização de estudos para aprofundar o conhecimento sobre a faunaaquática nas regiões que apresentam maior carência de informações;
II. participar, juntamente com outros usuários dos recursos hídricos, da definição e realização dosestudos complementares sobre a fauna aquática, através de um processo coordenado. Sugere-se queestes estudos sejam precedidos por um programa que estabeleça metas, prioridades e prazos;
408 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
BoBoBoBoBox 8.3x 8.3x 8.3x 8.3x 8.3(conclusão)
III. propor a implantação de um sistema de informações sobre fauna aquática centralizando os dadosque se encontram dispersos;
Estudos e levantamentos básicos
I. que sejam desenvolvidos estudos coordenados que considerem as experiências das diversasconcessionárias. Para o desenvolvimento destes estudos deve-se procurar envolver, além do SetorElétrico, instituições de pesquisa, o IBAMA e outros usuários responsáveis pelos recursos hídricos.Prioritariamente, propõe-se o desenvolvimento dos seguintes estudos:
- elaboração de manuais de identificação de larvas e de peixes, com vistas a subsidiar, respectivamente,os levantamentos larvais e ictiofaunísticos;
- determinação, nas bacias hidrográficas, do trecho livre mínimo necessário para o desenvolvimentode uma população viável de peixes;
- reflexos das ações de desmatamento da vegetação da área do reservatório sobre a fauna aquática;
- interferências do desvio do rio para construção da barragem nos processos migratórios da faunaaquática;
- reflexos da redução da vazão de jusante sobre a fauna aquática, em função do início do enchimentodos reservatórios ou de desvios de rio nos casos onde a casa de força é distante do barramento.
Estudos e levantamentos prévios sobre fauna aquática realizados pelo Setor Elétrico
I. deve ser priorizada a utilização de equipes com experiência e credibilidade reconhecidas no tratamentodas questões associadas à fauna aquática e investimentos devem ser realizados no sentido de formarnovas equipes;
II. deve ser garantida a inclusão no orçamento dos empreendimentos do montante de recursosnecessários ao pleno desenvolvimento dos estudos de fauna aquática das etapas iniciais do ciclo deplanejamento (Inventário e Viabilidade). Nessas etapas são realizados os levantamentos básicospara as etapas seguintes, os quais devem contemplar um número adequado de campanhas de campoevitando assim, a necessidade da sua complementação e o conseqüente dispêndio de recursosadicionais;
III. os prazos estabelecidos para o desenvolvimento dos estudos e levantamentos de fauna aquática nãodevem ser inferiores aos requeridos pelas áreas de engenharia, nas etapas do ciclo de planejamento,contemplando, no mínimo, um ciclo hidrológico completo;
IV. devem ser desenvolvidos métodos, técnicas e modelos apropriados para os estudos sobre faunaaquática para cada uma das etapas do ciclo de planejamento dos empreendimentos hidrelétricos;
V. os estudos e levantamentos devem ser associados a parâmetros limnológicos e climatológicos básicostomados durante as amostragens da fauna aquática;
VI. os estudos e levantamentos devem ser compatíveis com o grau de profundidade, detalhamento eabrangência requeridos na etapa em que se encontre o planejamento;
VII. os estudos e levantamentos devem ser precedidos por um plano de trabalho que expliciteminimamente os objetivos; a metodologia; cronograma; produtos esperados e equipe técnicaresponsável. Essas informações devem ser incluídas no Relatório Final, com os resultados e conclusões;
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 409409409409409
Os objetivos, por outro lado, são proposiçõesespecíficas e mensuráveis que compõem astarefas intermediárias na consecução dasmetas: eles dão sustentação às metas (BARBER;
TAYLOR, 1990) e fornecem uma definiçãomensurável do sucesso do manejo. Espera-seque nos objetivos sejam contempladasmensurações como (i) captura por unidadede esforço; (ii) número de peixes capturados;(iii) grau de satisfação dos pescadores; (iv)rendimento da pesca profissional; (v)rendimento máximo sustentável; (vi) índicede abundância do estoque desovante; (vii)índice de recrutamento; (viii) índice deheterogeneidade genética, etc.
A articulação das ações de manejo da pescacom outras ações desenvolvidas, comodecorrência de outros usos da bacia, étambém fundamental ao sucesso dessasações. Essa articulação ganha relevância nosreservatórios hidrelétricos, onde o principal
uso é o da produção de energia. As normasoperacionais das barragens são, geralmente,conflitantes com os objetivos do manejo dosrecursos biológicos e devem serconsideradas no seu planejamento. Nessecaso, o responsável pelo manejo da pescadeverá conhecer em profundidade essesprocedimentos operacionais, identificar ograu de flexibilidade na operação e esforçar-se para participar nas decisões de operação,compatibilizando seus objetivos de manejoàs restrições impostas por esse usocompetitivo. O COMASE indicou algumasrecomendaçõe Box 8.4).
A articulação deve, obviamente, abranger asdemais ações ambientais desenvolvidas nabacia (reflorestamento, fiscalização, controlede poluição, programas de microbacias, etc.),sendo ideal que os objetivos do manejo dapesca estejam contidos em um plano dedesenvolvimento regional (ver Box 8.5).
BoBoBoBoBox 8.4x 8.4x 8.4x 8.4x 8.4Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Incorporação da variável fauna aquática nos projetos e regras operativas das usinas
I. avaliar a interferência das regras operativas das usinas sobre a fauna aquática e a possibilidade dealterá-las, visando a atenuação dos impactos e a melhoria das condições ambientais, quanto a:
- mortalidade de peixes por ocasião da parada das turbinas para manutenção;
- condições dos locais de desova e criadouros naturais;
- qualidade de água do reservatório e do rio a jusante;
II. realizar estudos para avaliar a interferência das variáveis de projeto (altura da tomada d’água,arranjo da barragem, tipo de vertedouro, tipo de equipamentos etc.) sobre a fauna aquática;
III. analisar a viabilidade de introduzir alterações nos projetos e nas regras operativas das usinashidrelétricas, sob a ótica energética.
410 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
BoBoBoBoBox 8.5x 8.5x 8.5x 8.5x 8.5Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
(continua)
Abrangência geográfica das ações para mitigação dos impactos e manejo dos recursos
I. A bacia hidrográfica deve ser considerada como unidade de estudo, planejamento e ação, gerenciadapor uma comissão formada pelos usuários e representantes da comunidade científica e órgãos dogoverno, nos diversos níveis, responsáveis pela questão ambiental, que definiria seu uso vocacionale promoveria a partilha de responsabilidade na mitigação de impactos e nas ações de monitoramentoe manejo;
II. Sugere-se maior integração dos agentes que atuam na mesma bacia, no sentido de iniciar esteprocesso;
III. A delimitação espacial das responsabilidades na mitigação de impactos deve ser definida a partir delevantamentos da abrangência geográfica destes e, as ações, coordenadas pela comissão.
Gerenciamento de bacias hidrográficas
I. apoiar a implantação das conclusões do Seminário Internacional sobre Gestão de Recursos Hídricos,realizado em 1983, que estão resumidas a seguir:
- o aumento da eficácia e a eficiência das entidades e normas jurídicas existentes, antes de secriarem novos órgãos ou encargos;
- a desregulamentação e descentralização dos procedimentos relacionados com a gestão das águaspúblicas;
- a administração das águas por bacia ou regiões hidrográficas;
- a criação de um colegiado nacional, a nível ministerial, para coordenar a política de gestão daságuas;
- a presença de órgão central e normativo do sistema nacional de planejamento e controle derecursos hídricos;
- a cobrança pela utilização da água, quer na derivação, quer no lançamento de afluentes.
II. apoiar a realização da administração dos recursos hídricos regionalmente, tomando-se a baciahidrográfica como unidade de planejamento e a existência de um único colegiado para o gerenciamentode cada bacia que, forçosamente, terá como “poder tutelar” (ou poder de recorrência) o órgão gestorestadual ou federal, conforme o domínio sobre as águas;
III. apoiar a participação da sociedade na administração dos recursos hídricos, através dos diversosníveis de usuários;
IV. ampliar a interação entre o Setor Elétrico e os órgãos gestores das bacias hidrográficas;
V. participar das discussões com o Congresso Nacional para o estabelecimento dos instrumentosnormativos para o gerenciamento de bacias hidrográficas.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 411411411411411
O fato de os reservatórios constituírempontos de convergência das ações dohomem em seu entorno, principalmente nosegmento da bacia a montante, faz com queos conhecimentos necessários para um bommanejo extrapolem os limites do ambienterepresado. As ações de manejo são, muitasvezes, mais eficientes se dirigidas a áreascríticas situadas em pontos externos aoreservatório.
O manejo dos recursos naturais deve serdotado de flexibilidade suficiente para
incorporar os novos conhecimentosgerados pela ciência, as mudanças naestratégia de pesca, as alterações naestrutura das populações ou nacomunidade de peixes, resultantes tantodos distúrbios naturais quanto de novasdiretrizes políticas e sociais ligadas aomodelo de desenvolvimento. Deve,sobretudo, ser flexível a ponto de podersofrer correções de rumo, recomendadaspela avaliação constante da efetividadedas ações implementadas(monitoramento).
BoBoBoBoBox 8.5x 8.5x 8.5x 8.5x 8.5(conclusão)
A fauna aquática e o gerenciamento de bacias hidrográficas
I. apoiar o IBAMA na implementação de seu Programa de Administração Pesqueira para ÁguasContinentais (Ordenamento Pesqueiro) que apresenta as seguintes linhas de ação:
- adequação da regulamentação vigente em cada bacia hidrográfica, de modo a se obter medidascompatíveis com as necessidades técnicas de ordenamento e coerentes com as diferentes realidadesregionais;
- apoio a linhas de pesquisa prioritárias para subsidiar o processo de ordenamento;
- desenvolvimento de instrumentos de administração que possibilitem estabelecer o zoneamentoda atividade pesqueira;
- participação nos vários fóruns, visando integrar a atividade pesqueira às outras atividadesrealizadas na bacia hidrográfica, notadamente a florestal, a agropecuária e a mineração.
I. sugerir ao Ministério do Meio Ambiente/IBAMA o estabelecimento de um programa de conservaçãoda ictiofauna, de âmbito nacional e com enfoque por bacia hidrográfica;
II. estabelecer uma política ampla de conservação da fauna aquática para o Setor Elétrico;
III. apoiar programas de levantamentos de dados e pesquisa científica sobre fauna aquática e pesca nasdiversas bacias hidrográficas;
IV. estabelecer programas de cooperação entre as empresas de energia elétrica que atuam em umamesma bacia hidrográfica e entre o Setor Elétrico e o IBAMA, visando o monitoramento e aconservação da fauna aquática e da pesca;
V. ampliar a interação entre o Setor Elétrico, órgãos gestores das bacias hidrográficas (DNAEE,órgãos estaduais e comitês), órgãos estaduais e federais do meio ambiente e instituições de pesquisa,visando a efetiva incorporação dos aspectos relacionados à conservação da fauna aquática e da pescano gerenciamento de bacias hidrográficas.
412 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
A avaliação é etapa indissociável do manejo.Sua eficácia é aumentada se for realizadacomo parte de um programa demonitoramento abrangente e duradouro dosestoques e do ambiente, uma vez que poderãoser obtidas informações não apenas do graude sucesso do empreendimento, mas tambémdos fatores intervenientes no processo. Oprocesso de avaliação deve contemplar etapasdiscretas (KRUEGER; DECKER, 1999) como (i)medição da resposta conforme previsto nosobjetivos; (ii) comparações com os valoresestabelecidos nos objetivos; (iii) avaliação dosresultados; (iv) revisão, continuidade ouconclusão do programa de manejo.
O COMASE propôs algumas recomendaçõespara este tópico (ver Box 8.6)
A avaliação do programa de manejo é,portanto, decisiva para as ações futuras. Falhana consecução dos objetivos, emboraencarada, geralmente, como motivo dedesalento, é, provavelmente, o resultado maisinformativo para as diretrizes futuras domanejo (KRUEGER; DECKER, 1999). Em geral,aprende-se mais com os erros do que com osucesso. Deve-se, entretanto, aprofundar naanálise das causas das falhas, desenvolvendo-se estudos específicos, caso necessário (verFigura 8.1).
BoBoBoBoBox 8.6x 8.6x 8.6x 8.6x 8.6Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Efetividade das ações implantadas
I. tendo em vista a efetividade das ações já implantadas ou projetadas, propõe-se que cada empresa do SetorElétrico adote os seguintes procedimentos:
- desenvolver estudos voltados para identificação dos impactos que serão causados pelosempreendimentos;
- avaliar a necessidade e a viabilidade de implantar ações, visando reduzir os impactos identificados;realizar um planejamento para implementação das ações;
- realizar programas de monitoramento do ambiente e de ações implantadas, de modo a avaliar aefetividade das ações e a necessidade de retificá-las;
- divulgar os resultados do monitoramento e da avaliação das ações realizadas, visando subsidiar asdecisões para outros empreendimentos;
II. propõe-se também que as empresas do Setor Elétrico em conjunto, através do COMASE, adotem osseguintes procedimentos:
- realizar, periodicamente, reuniões para análise das ações já implantadas e das planejadas pelasempresas. Elas deverão contar com a participação de pescadores, órgãos ambientais e especialistasexternos ao Setor Elétrico;
- realizar estudos que permitam avaliar a eficiência de cada tipo de ação implantada pelo Setor Elétrico;
- instituir mecanismos de captação de recursos financeiros extra-setoriais e estabelecer parceriaspara o desenvolvimento de estudos e ações;
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 413413413413413
Figura 8.1 - Organização das ações ambientais delevantamentos, estudos, manejo e monitoramento (Fonte:
, 1997).AGOSTINHO; GOMES
LevantamentoQuais os componentes do sistema ?Quais as interrelações entre eles ?
Quais as mudanças induzidas pelo empreendimento ?
Definição dos ObjetivosO que fazer ?
Planejamento do Manejo
Medidas de Manejo
Monitoramento
Como fazer?Que respostas são esperadas?
Como avaliá-las?
Interferências no sistema?
Avaliação do manejo efatores intervenientes?
EstudosEspecíficos
Finalmente, cabe destacar que aoportunidade da medida de manejo, acapacidade técnico-científica da equipe que aexecuta, e a sensibilidade da administraçãodo reservatório na alocação dos recursosnecessários para a implementação das açõessão fatores determinantes do sucesso dasações ambientais, tanto para a conservaçãoda ictiofauna quanto na produção pesqueira.
Natureza das AçõesAmbientais
As ações ambientais podem sercategorizadas em levantamentos, estudos,manejo e monitoramento. O significado decada um desses termos temsido confuso nos documentosemanados do setor elétrico,sendo eles, algumas vezes,utilizados indistintamente.Dado o caráter seqüencialdessas ações e as relações depré-requisitos existentesentre algumas delas (Figura8.1), a confusão existentedeixa de ser mera questão desemântica e assumeimportância fundamental noplanejamento e nasestratégias empregadas paraa atenuação de impactos econservação dos recursospesqueiros.
Neste tópico buscamosconceituar cada uma dessasações e estabelecer asrelações de pré-requisitos.
Levantamentos
Os levantamentos são atividades maisrelacionadas ao diagnóstico e aos inventáriosdos componentes do sistema de pesca.Consistem na coleta de informações quali-quantitativas, através de procedimentospadronizados de observação e/ouamostragem, durante um período definido esem qualquer pré-concepção do que serádescoberto. O entendimento preliminar doscomponentes do sistema, as relações entreeles e as mudanças induzidas pela eventualintervenção no ambiente são as principaismetas dessa abordagem. É uma fase que deveanteceder a elaboração do plano de manejo edeve ir muito além de uma simples listagem
414 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de espécies, como é, geralmente, entendidonos estudos e relatórios de impactosambientais.
Numa situação ideal, o levantamento devecontemplar informações do ambiente, dosrecursos, das pessoas que deles se utilizame/ou os afetam, e dos processos envolvidosna pesca e seu estado. Nas reuniões do
COMASE, algumas recomendações foramapontadas (ver Box 8.7 e Box 8.3).
Em relação ao ambiente as buscas deinformações devem ter como alvo suascaracterísticas hidrológicas, morfométricas,limnológicas e inserção na baciahidrográfica. Já os levantamentosrelacionados aos recursos, devem ter como
BoBoBoBoBox 8.7x 8.7x 8.7x 8.7x 8.7Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Estudos prévios à implantação de empreendimentos
I. devem ser desenvolvidos métodos, técnicas e modelos apropriados à investigação de fatoresrelevantes para a avaliação de impactos e sua mitigação (ex.: indicadores de áreas de desova, criadourosnaturais, espécies indicadoras)
II. os estudos prévios devem contemplar, em relação aos peixes, pelo menos, (1) informações quantitativas(captura por unidade de esforço) além das qualitativas, (2) dados dos aparelhos de pesca e esforço, (3)localização e, se possível, delimitação das áreas de desova e criadouros naturais, (4) gradiente dedistribuição das espécies e (5) estudos das redes tróficas.
Estudos sobre fauna aquática na etapa de inventário
I. os estudos e levantamentos desenvolvidos nesta etapa devem objetivar a apresentação de resultadosqualitativos que propiciem a avaliação do impacto das alternativas de partição de queda e contribuampara a escolha da alternativa que minimize os impactos sobre a diversidade da fauna aquática e sobrea pesca;
II. estes estudos e levantamentos devem considerar, principalmente:
- as políticas de utilização múltipla da bacia hidrográfica emanadas pelos órgão competentes;
- a composição específica da ictiofauna e sua distribuição na bacia, obtida a partir de amostragensem diferentes biótopos, utilizando-se distintos equipamentos de pesca;
- a necessidade de classificação dos cursos d´água que compõem a bacia em estudo por sua importânciacomo áreas de desova de espécies migratórias. Essa classificação deve ser baseada na distribuição deovos e larvas;
- o levantamento das áreas relevantes como criadouros naturais de espécies migradoras, atravésdos dados de distribuição de juvenis obtidos em amostragens realizadas em canais e lagoas marginais;
- o levantamento preliminar da atividade pesqueira, baseado em entrevistas, contemplando alistagem das espécies capturadas em ordem de grandeza e os aspectos socioeconômicos da pesca.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 415415415415415
metas o conhecimento de aspectos comodistribuição, abundância, ciclo de vida(incluindo alimentação, reprodução ecrescimento), requerimentos de espaço vital(home range), movimentos migratórios,relações interespecíficas (teia alimentar),limiares de tolerância a fatores ambientaise, especialmente, localização e delimitaçãode áreas críticas ao ciclo de vida.
Das pessoas que exploram os recursosaquáticos é necessário um bomentendimento do grau de dependência e deaspectos socioeconômicos e culturaisligados a essa exploração, além de suaspercepções em relação à atividade e aoambiente. Com base nos primeiros, podem-se avaliar a importância da exploração e osriscos e potenciais das medidas. Já oentendimento das percepções, permitirácompreender as diferentes visões sobre osmesmos objetos/ações e facilitar acomunicação na busca da sustentabilidadena exploração.
Outros usos da bacia que possam interferir naatividade ou na conservação dos recursosdevem ser também adequadamentedimensionados. O reconhecimento dessasintervenções é fundamental na gestão deconflitos e no correto dimensionamento deresponsabilidades.
Já os levantamentos do estado e processosenvolvidos na exploração, visam identificaro estado do recurso, determinar os níveis deexploração e sua sustentabilidade, bemcomo as estratégias de pesca empregadas eestruturas disponíveis. Incluem-se nestetópico a estimativa do estoque e avaliações
de aspectos econômicos, sociais e políticos(KING, 1995), sendo conveniente um corretoentendimento das percepções dos usuáriossobre as instituições envolvidas, os recursosexplorados, sua conservação e problemas nosistema de pesca.
Para um estoque que já vem sendoexplorado, o levantamento deveriacontemplar o estado atual da exploração edo recurso. Caso haja dados históricos deacompanhamento de desembarques(monitoramento da pesca) e informaçõessobre os parâmetros de crescimento oupopulacionais, os níveis de sustentabilidadeda explotação podem ser inferidos a partirde vários métodos disponíveis na literatura(KING, 1995; RICKER, 1975; HILBORN; WALTERS,1992; PAULY, 1998).
Os procedimentos para avaliação dosrecursos e da pesca, para situações em que aatividade seja incipiente ou ausente, devembasear-se em dados de pesca exploratória eexperimental, preferencialmente delineadase executadas de forma complementar porcientista da pesca e pescador profissional.Este é o caso da exploração pesqueira emreservatórios onde a pesca proibida passa aser liberada.
Esse levantamento deve contemplar pelomenos cinco fases, sendo a viabilidade dapesca avaliada após cada uma delas. Na faseI, o levantamento deve contemplar odiagnóstico do potencial dos recursos e dasformas de exploração; na fase II, os custoscom a atividade devem ser estimados,considerando-se os investimentosnecessários (aparelhos de pesca,
416 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Fase IPotencial do recurso e formas de exploração
Fase II
Custos
Fase IIIMercado
Fase IV
Lucratividade e atratividade
Fase VSustentabilidade
Quais as espécies disponíveis?Qual é a captura por unidade de esforço?
Qual a variação sazonal na CPUE?Que estratégia de pesca é mais adequada?
Qual o impacto dos aparelhos de pesca sobre a fauna acompanhante ?
Quais os custos com a operação de pesca?Quais os custos com o processamento ou a conservação do pescado?
Quais os custos com o transporte?
Qual a aceitação do pescado?Qual o valor do pescado no mercado?
Quais as facilidades de escoamento do pescado?
Qual a rentabilidade da pesca?Quais os riscos com a atividade?
Qual o potencial de sustentabilidade do rendimento?Qual é o nível adequado de esforço de pesca para assegurar a sustentabilidade?
Quais são as estratégias de manejo adequadas?
+
+
+
+
Pesca Viável
-Pesca inviável
Pesca inviável
Pesca inviável
Pesca inviável
-
-
-
Figura 8.2 - Protocolo mínimo de avaliação da viabilidade da pescaem reservatórios (Modificado de , 1995).KING
embarcações, motores), oconsumo (combustível,energia elétrica, gelo,água, iscas) e adepreciação dosequipamentos; na fase III,as facilidades de mercadosão avaliadas, sobcondições dedisponibilidade variável;na fase IV, em posse dasinformações anteriores,avaliam-se a lucratividadeda pesca e suaatratividade para ospescadores. Finalmente,definida a viabilidade dapesca, avalia-se, com baseem informaçõesadicionais de naturezasocial, econômica ecultural, a probabilidadede que esta sejasustentável (Fase V).Nesse ponto é importantejá ter sido consideradoque o rendimentosustentável implicarámenos da metade dorendimento de umaexploração inicial, dadoque este se situa em tornoda metade da capacidade de suporte doambiente sem pescarias (Figura 8.2).
Embora a inexistência de todas essasinformações não seja fator impeditivo paraa implementação de outras ações, ressalta-seque a qualidade delas é determinante dosacertos nas ações de manejo.
Estudos
Os estudos compreendem investigações eexperimentações delineadas com o objetivode gerar informações específicas que ajudemna solução de problemas concretos. Aocontrário dos levantamentos, os estudos
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 417417417417417
pressupõem a formulação prévia dehipóteses e a obtenção de dadosestatisticamente testáveis.
Para que produzam os resultados esperados,é importante que esses estudos sejam objetode um delineamento adequado, sendo suanecessidade indicada nas fases deelaboração do plano de manejo ou de suaexecução (Figura 8.1). Entretanto, no manejoexperimental ou adaptativo proposto porWalters e Hilborn (1976), os estudosconstituem a essência do método.
Monitoramento
O monitoramento consiste emlevantamentos conduzidos para avaliar ograu de variabilidade de fatores bióticos ouabióticos em relação a um modelo oupadrão conhecido ou esperado. Serve aobjetivos tão diversos como o de avaliar aeficácia de uma medida de manejo,identificar situações incorretas de uso dabacia ou dos recursos naturais, detectar
alterações incipientes resultantes deinterações complexas ou de naturezaestocástica no ecossistema (ver Box 8.8).
O monitoramento é uma atividade quenecessariamente deve seguir-se às ações demanejo, pela sua importância ecológica(toda ação de manejo, inclusive suaausência, tem impacto sobre ofuncionamento de sistemas regulados),econômica (avaliação de custo-benefício) emesmo ética, quando de iniciativa do poderpúblico (critério na aplicação de recursospúblicos). Durante a elaboração de umprograma de monitoramento é essencialque se tenham claros o seu propósito (qualo objetivo do monitoramento?),procedimentos (como pode ser alcançado oobjetivo?) e método de análise (como serãoanalisadas as informações?).
No caso de reservatórios, onde as condiçõesambientais são extremamente variáveis,como decorrência de sua operação e dosusos da bacia, o monitoramento deve serperiódico e permanente.
BoBoBoBoBox 8.8x 8.8x 8.8x 8.8x 8.8Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉ-TRICO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARA-TÓRIAS, 1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE,1994. 4 cadernos.
Monitoramento dos recursos aquáticos
I. o monitoramento deve ser realizado em toda a área de influência do empreendimento, de modocontínuo, com objetivos bem definidos e precedido de levantamentos detalhados;
II. o monitoramento dos recursos deve ser entendido como uma atividade destinada a avaliar o grau devariabilidade apresentado pelo recurso, em relação a um modelo ou padrão conhecido, através delevantamentos detalhados.
418 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Em relação à pesca, o monitoramento devetambém ser continuado, visto que osestoques apresentam grandes flutuações,naturais ou não, e as estratégias e esforçosaplicados são também variáveis. Nesse caso,o monitoramento seria uma ferramentaindispensável para acompanhar a condiçãodos estoques e de sua exploração, bem comoavaliar as ações de manejo e subsidiarmudanças de estratégia. O COMASEapresentou recomendações para omonitoramento da ictiofauna e pesca(ver Box 8.9)
As informações mínimas necessárias a umprograma de monitoramento da pesca são asde captura por unidade de esforço (CPUE),que fornecerão indicações sobre aabundância, e a freqüência de comprimentodos peixes desembarcados, cuja mudança no
tempo permitirá inferências sobre o estado deexploração. A CPUE é o melhor índice paraavaliar alterações na abundância dos estoques(padroniza o esforço) e a composição emtamanho do pescado pode indicar sobrepesca.
O monitoramento realizado através depescarias experimentais é, em geral, caro,produzindo amostras pequenas e, muitasvezes, insuficientes para inferir sobre apesca. Esse monitoramento, entretanto, deveser realizado de maneira espaçada paradetectar alterações na bionomia das espéciesexploradas, tais como, dieta, cicloreprodutivo, crescimento, etc. Além disso, omonitoramento baseado na pescaexperimental é a única forma de avaliar aabundância de espécies forrageiras que nãoaparecem nos desembarques, mas quemuitas vezes sustentam o rendimento.
BoBoBoBoBox 8.9x 8.9x 8.9x 8.9x 8.9Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Monitoramento da ictiofauna e da pesca
I. realizar o monitoramento em toda a área de influência do empreendimento (montante, corpo doreservatório, jusante e tributários), de modo contínuo e com objetivos bem definidos;
II. ajustar a periodicidade do monitoramento de acordo com seu objetivo e com as fases do cicloestacional. Antes do enchimento do reservatório, o programa deve ser iniciado no rio principal etributários. Nas fases de enchimento e pós-enchimento, o programa deve ser contínuo;
III. realizar um programa de acompanhamento das condições limnológicas e da qualidade da água,compreendendo a coleta de dados físicos, químicos e biológicos em diferentes locais (montante ejusante) e profundidades, associado ao monitoramento da ictiofauna;
IV. realizar o monitoramento da pesca, por meio da pesca experimental e do controle do desembarque depescado nos postos de comercialização. A metodologia para o monitoramento deve ser padronizadade forma a permitir comparações entre diversos empreendimentos. Essa atividade deve ser realizadaem parceria com o IBAMA e pescadores.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 419419419419419
Por outro lado, o monitoramento dosdesembarques, por produzir grandesamostras das espécies de interesse, mereceespecial atenção. Um bom sistema demonitoramento depende ainda de um contatoregular e pessoal com o pescador (KING, 1995),quando os problemas da pesca e dacomunidade com ela envolvida podem sersentidos, suas reivindicações registradas esuas percepções melhor aferidas.
Dados de rendimento, se não acompanhadospelos do esforço, não têm como seremcomparados, perdendo o significado para osefeitos do monitoramento. Pescariasmultiespecíficas, como é o caso daquelas dereservatórios neotropicais, onde odesembarque é geralmente composto pormais de 20 espécies capturadas comestratégias e equipamentos diversos (verCapitulo 5.2), tornam a quantificação doesforço uma tarefa mais complicada, porémpossível de ser realizada (pescador/dia, horasde pesca, quantidade de aparelhos de pesca,etc.).
Adicionalmente, alterações de natureza sociale econômica, considerando-se aqui asmodificações na qualidade de vida e nalucratividade da pesca, devem também serobjeto de monitoramento, dado que variamespacial e temporalmente. Esses dados sãoimprescindíveis à eficácia do manejo, que éregulada pelas restrições biológicas,econômicas, sociais, políticas e culturais.
Exemplos bem-sucedidos de monitoramentodo sistema de pesca vêm sendo conduzidos nosreservatórios de Itaipu e Manso, sendo que noprimeiro ele vem sendo realizado há 20 anos.
Nesses monitoramentos, além dodesembarque da pesca, monitoram-setambém os tamanhos e os estádios dereprodução do pescado capturado, asestratégias de pesca e a estrutura físicaenvolvida na atividade, além dosinvestimentos realizados no sistema.
Em relação aos aspectos sociais e econômicos,acompanham-se as flutuações nos preços dopescado, nos custos envolvidos com a pesca,na lucratividade, na estrutura familiar, naqualidade de vida, nas atividades associativase nas percepções em relação aos recursosexplorados e às instituições envolvidas.
Os resultados desse monitoramento vêmsendo utilizados na tomada de decisões demanejo e aferição de resultados, noestabelecimento de políticas públicas, naorganização das entidades associativas, naordenação da pesca, na comprovação deexercício da atividade para fins derequerimento de direitos e resolução deconflitos, nas decisões judiciais, naidentificação de atividades com impactospositivos e negativos sobre o rendimento,entre outros.
Manejo
Finalmente, o manejo consiste naimplementação de medidas sobre um sistemavisando otimizá-lo conforme um dadoobjetivo. Sua interpretação, no que concerneaos recursos pesqueiros, tem sido motivo dediscussões na literatura especializada. Asreuniões do COMASE adotaram umadefinição para essa atividade (ver Box 8.10).
420 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Entendido, inicialmente, no contexto docontrole da pesca, e originado comocontraposição à crença difundida no final doséculo XIX de que os recursos pesqueiroseram inexauríveis (HUXLEY, 1883, apud KING,1995), o termo teve seu significadoampliado nas últimas décadas. Carlander(1969) definiu manejo como tudo que é feitopara manter ou melhorar os recursos e suautilização, e Lackey (1978), como análises dedecisões alternativas e implementaçãodessas decisões, em consonância com asaspirações da sociedade em relação àutilização de recursos aquáticos. Krueger eDecker (1999), por outro lado, definemmanejo pesqueiro como a integração deinformações ecológicas, econômicas,políticas e socioculturais em decisões queresultem na implementação de ações paraalcançar metas estabelecidas para o recursopesqueiro.
O manejo dos recursos pesqueiros realizadoconforme a abordagem do rendimentomáximo sustentável (RMS) tem sido criticadopor contemplar apenas os aspectos físicos daatividade pesqueira, com reflexos restritos
aos temas sociais e econômicos (BARBER;
TAYLOR, 1990). Além disso, a fiscalização temsido incapaz de controlar o montante, adistribuição e técnica de esforço da pesca,embora esse controle seja requisito dorendimento sustentável (LARKIN, 1977).
Para Ludwig (1993), o manejo de um recursoque preconiza o máximo rendimentosustentável, na prática, coloca em segundoplano a conservação do estoque. Assim,estimativas realizadas em períodosaltamente favoráveis ao estoque podemgerar expectativas de excedentes que elevamseus valores, e as tentativas de aumentar orendimento podem implicar um riscoadicional, muitas vezes irreversível. Umrecurso natural deveria, portanto, ter suaexploração reduzida a níveis suficientementeabaixo do rendimento máximo, paracontemplar as variações que ocorrem naabundância. Outro aspecto relevante naabordagem do rendimento máximosustentável, ou rendimento econômicomáximo, é o fato de as ações de controle dapesca incidirem sobre uma ou algumasespécies de interesse econômico.
BoBoBoBoBox 8.10x 8.10x 8.10x 8.10x 8.10Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Manejo dos recursos aquáticos
I. o manejo deve ser precedido pelo planejamento e embasado no conhecimento dos componentesecológicos e socioeconômicos e culturais do sistema;
II. deve-se entender como manejo a implementação de ações sobre o sistema visando otimizá-lo conformeum dado objetivo.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 421421421421421
Pescarias multiespecíficas ou métodos menosseletivos de pesca podem capturar espéciessuscetíveis aos equipamentos, deimportância econômica secundária ou nula ecom menor estoque inicial, fato que podelevar os estoques destas últimas à extinção.Assim, a busca de aparelhos mais seletivos,que excluam as espécies secundárias dascapturas, é um objetivo de muitas políticasde manejo (KING, 1995).
O rendimento ótimo sustentável (ROS) foi osucedâneo natural do RMS no manejo dapesca em países do hemisfério Norte, a partirdos anos 1970. Esse rendimento tem comovantagem a inclusão explicita dos aspectossociais, políticos, econômicos, biológicos eecológicos.
Isso, como é óbvio, tornou a atividade demanejo consideravelmente mais complexa ede definição mais difícil, porém maisrealista, à medida que reconhece adiversidade dos ecossistemas aquáticos e asdemandas do homem em relação a eles(NIELSEN, 1993). Para essa abordagem,considerada mais como objetivo que modelode manejo, é necessária uma organização dossegmentos sociais envolvidos direta ouindiretamente com os recursos, além de umaforte base de conhecimentos específicos dosistema.
Esta última abordagem de manejo visatambém, em geral, a conservação dos recursospara a exploração sustentada. Regulam-se,essencialmente, as saídas (mortalidade porpesca) conforme os anseios socioeconômicos eculturais das pessoas envolvidas, respeitando-se as restrições bióticas e abióticas vigentes.
Embora mais racional que a primeira, cujaformulação e controle baseiam-se apenas norendimento aferido nos desembarquespesqueiros, a abordagem do rendimentoótimo sustentável deve ser ampliada nassituações em que o interesseconservacionista predomina sobre o daprodução.
Numa perspectiva ecológica, todas as formasde pesca, incluindo as altamente seletivas(monoespecífica), promovem alterações noecossistema (KING, 1995). A redução naabundância de uma espécie particular podeelevar o estoque das espécies presas oureduzir a dos predadores, em graus quevariam com o nível de interação trófica entreelas.
Nesses casos, o manejo da pesca deve serrealizado no contexto do desenvolvimentoecologicamente sustentável, que inclui o usosustentável da(s) espécie(s) e do ecossistema,com a manutenção dos processos ecológicosessenciais e preservação da diversidadebiológica, desde o nível de ecossistema até ogenético (KING, 1995).
Assim, nos grandes corpos d’água a práticado manejo pode ser direcionada no sentidode preservar a diversidade biológica e/ousustentar a explotação pesqueira, comercialou esportiva. É uma atividade que lidaessencialmente com os processos de escasseze abundância de indivíduos nos diferentesníveis de organização do sistema ecológico.
O manejo exercido com finalidadesconservacionistas tem suas atividadesdirigidas para manter as populações acima
422 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de limiares demográficos e genéticos que sãocríticos à reprodução e aos processosevolutivos necessários à sua existência alongo prazo. Nesse contexto, a destruição,contaminação ou fragmentação do hábitat, aexplotação excessiva, o endocruzamento e ahibridação são aspectos de maior relevância.
A despeito de o manejo conservacionistaenfocar população ou populações de uma oumais espécies em vias de extinção, a visão deuma comunidade integrada é essencial,particularmente em seus aspectosrelacionados às interações entre as espécies eà perda de outros elementos faunísticos. Osmodelos de viabilidade de populações nãodevem considerar meramente o tamanhopopulacional e a variabilidade genética, mastambém as interações específicas e asrespostas da comunidade ante asperturbações ambientais.
O manejo para a explotação, por outro lado,visa permitir um alto rendimentosustentável da atividade exploratória. Podeser efetivado por medidas que incrementema taxa de recrutamento (melhoria dascondições de reprodução e de sobrevivênciadas formas jovens), elevação na capacidadebiogênica do ambiente, redução namortalidade natural e controle da pesca.
No caso dos recursos pesqueiros dereservatórios, entretanto, ambas asabordagens devem ser compatibilizadas,como mencionado anteriormente.
Como também já mencionado, as ações demanejo ambiental e dos recursos pesqueirosem reservatórios têm seu sucesso regulado
pelo nível de conhecimento de que sedisponha do sistema a ser manejado, pelaclareza de objetivos e pela formação eexperiência do manejador. Assim, para suaefetividade, essas ações devem serprecedidas pelas ações de levantamento eestudos propostas e complementadas pelomonitoramento. A modalidade de manejo aser aplicada depende, portanto, de um amploe detalhado conhecimento prévio do sistema.
O manejo da pesca em reservatórios exigedos gerentes a solução de problemasdiversos, incluindo, além da pesca,limnologia, economia, sociologia,hidrologia e engenharia, visto que o sistemade pesca envolve os peixes, o ambiente e aspessoas que usam os recursos. Assim, anecessidade e a oportunidade das ações demanejo podem estar manifestas em umagrande variedade de situações relacionadasao recurso, ao ambiente ou aos pescadores,sendo algumas delas listadas na Tabela 8.1.
As técnicas de manejo para a solução dessesproblemas, que são complexas e devem serestabelecidas conforme o conhecimentodisponível sobre o sistema particular (cadareservatório), podem ser agrupadas em trêscategorias principais: (i) manejo de população,(ii) manipulação do hábitats e (iii) controle dapesca.
O manejo de populações consiste num grupo detécnicas de natureza demográfica que visam aalteração diretamente da abundância (reduçãoou aumento populacional) e/ou genética, quebusca incrementos na heterogeneidadegenética das populações, ambas comimplicações na estrutura das comunidades.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 423423423423423
O Ambiente
� Qualidade e disponibilidade
dos locais de desova
�
�
�
�
�
�
Qualidade e disponibilidade
dos locais de desenvolvimentoinicial
Poluição
Anoxia do hipolimnio
Macrófitas aquáticas
Sedimentação e siltação
Ausência de abrigos
O Recurso
�
�
Perda de classe etária
Recrutamento insuficiente
�
�
�
�
�
�
Crescimento inadequado
Exploração excessiva
Espécies indesejáveis
Estrutura em tamanho
Mortandades de peixes
Predação excessiva
A Pesca
��������
Baixo esforço de pesca
Conflitos de usos dos recursos
Declínio nas taxas de capturas
Baixa qualidade nas capturas
Redução no valor socioeconômico
Insatisfação com a pesca
Escoamento inadequado
Distorções na composição dopreço do pescado
��
Dificuldades de acesso ao recurso
Problemas na conservação e/ouprocessamento do pescado
Tabela 8.1 - Algumas situações constatadas no sistema de pesca que requerem ações demanejo (modificada de , 1993)SUMMERFELT
Em bacias com reservatórios artificiais,destacam-se as técnicas de transposição depeixes pelas barragens (melhoria genéticados estoques), estocagem ou peixamentos eredução de espécies indesejáveis.
A manipulação de hábitats, por sua vez, consisteem intervenções em hábitats críticos ao ciclode vida de determinadas espécies ou nacapacidade biogênica do ambiente, com oobjetivo de proteger ou controlar suaspopulações. Para o primeiro objetivo, essastécnicas envolvem a proteção, implantação,ampliação ou restauração desses hábitatscríticos. No caso de se pretender controlar aabundância de populações indesejáveis,geralmente invasoras, seus hábitats críticossão alterados deliberadamente paraprejudicar a reprodução ou odesenvolvimento.
O controle da pesca é uma modalidade demanejo realizada com o objetivo de protegeras populações de peixes da sobrepesca e
promover uma melhor distribuição dosrecursos entre os usuários (NOBLE; JONES,1999). É efetivado, em geral, através delicenças ou restrições à atividade (apetrechos,época, local e quantidade e tamanhocapturado).
Essas modalidades de manejo dos recursospesqueiros são detalhadas nos tópicosseguintes, onde se discutem suas adequaçõesao manejo em reservatórios.
Manejo de Populações
O manejo de populações de peixes, aocontrário das demais modalidades, atuadiretamente nos recursos pesqueirosvisando seu incremento, redução oumelhoria genética. Nesse grupo estão asduas principais técnicas de manejopraticadas no Brasil, ou seja, a transposiçãode peixes (ver Capítulo 6.1) e a estocagem(Capítulo 6.2). As iniciativas brasileiras de
424 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
redução no estoque de espécies indesejáveisforam esporádicas e escassamentedocumentadas.
Transposição de Peixes
Embora a maioria dos mecanismos detransposição tenha sido concebida com ointento de restabelecer o livre trânsito dasespécies migradoras entre os trechos amontante dos reservatórios e a jusante dabarragem, interrompido com sua construção,os resultados até agora publicados nãodemonstram ser isso possível (ver Capítulo6.1). Esses mecanismos são altamenteseletivos no sentido jusante-montante emuito mais no sentido oposto, sendo osdeslocamentos essencialmenteunidirecionais. O COMASE apresentourecomendações especificas a esse tema (verBox 8.11).
Assim, nos reservatórios com grandestrechos livres a montante e dotados deamplas áreas naturais de várzeas, atransposição pode ser um instrumento útilpara a manutenção da heterogeneidadegenética, desde que o número de exemplarestranspostos não comprometa os estoques dotrecho abaixo. Essas limitações, ligadas àestratégia dos peixes migradores, tornam asfacilidades de transposição, da maneira comosão atualmente concebidas, um instrumentoinadequado para o manejo com finspreservacionistas.
Na maioria dos casos, os mecanismos detransposição não se constituem eminstrumentos válidos para a preservação dosestoques, pelas seguintes razões:
1 − 1 − 1 − 1 − 1 − Os mecanismos de transposição sãojustificáveis apenas como maneira depermitir o fluxo gênico de populaçõesde espécies com amplo home range(migradoras);
2 − 2 − 2 − 2 − 2 − Transposições são recomendadasapenas sob condições controladas equando o trecho a montantecomportar áreas de desova, dedesenvolvimento inicial e dealimentação, visto que astransposições são essencialmenteunidirecionais;
3 − 3 − 3 − 3 − 3 − Transposições com escada são dedifícil controle e podem se constituirem importante fonte de impactonegativo quando as possibilidades desucesso reprodutivo no trecho amontante são baixas, e as do trecho derio ou tributários a jusante sãofavoráveis. Nesses casos, oselevadores devem ser consideradoscomo fonte de impacto negativo;
4 − 4 − 4 − 4 − 4 − Mecanismos alternativos detransposição de peixes devem ter seusestudos incrementados, especialmenteaqueles que permitam o controle einterrupção das transposições, como osistema de transposição do tipocaptura e transporte por caminhões(trapping and hauling). Esses sistemasdevem ser priorizados,particularmente naquelas unidadescuja casa de força esteja distante dabarragem, com grandes extensões detrechos de rio com vazão reduzida ecom água de baixa qualidade.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 425425425425425
BoBoBoBoBox 8.11x 8.11x 8.11x 8.11x 8.11Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Obras de transposição, estações de piscicultura, tanques-rede e canais de desova.
I. embora obras de transposição, estações de piscicultura, tanques-rede e canais de desova sejamações potencialmente válidas, estas devem ser implantadas quando o planejamento assim exigir;
II. estudos quanto à eficiência das obras de transposição já implantadas devem ser realizados, visandosubsidiar decisões em futuros empreendimentos;
III. a implantação das obras de transposição deve considerar as condições vigentes nos segmentos amontante, quanto à efetividade da reprodução e desenvolvimento inicial de formas jovens. Quandoas condições não as recomendarem, a viabilidade de canal de desova e outros procedimentos deveser considerada;
IV. a difusão da técnica de tanques-rede, também realizada como parte de um planejamento global, devecontemplar o monitoramento da qualidade da água, controle parasitológico e restrições a espéciesalóctones e exóticas;
V. Outras modalidades de manejo, especialmente as ligadas à manipulação de hábitats de reproduçãoe desenvolvimento inicial dos peixes (recomposição da vegetação, recuperação e ampliação dosambientes de desova e criadouros naturais) ou abrigo, devem ser consideradas.
Mecanismos para transposição de barragem
I. as empresas que operam mecanismos de transposição de barragem devem promover estudos paraavaliar sua eficiência;
II. o Setor Elétrico deve realizar estudos mais abrangentes que permitam avaliar a eficiência doconjunto de mecanismos de transposição de barragem existentes no país;
III. na definição de mecanismos de transposição de barragem, considerar as condições vigentes nossegmentos a montante e a jusante, principalmente quanto a:
- necessidade de preservar espécies autóctones do rio;
- presença de locais para reprodução e desenvolvimento de formas jovens (tributários, lagoasmarginais etc.);
- características biológicas das espécies (ciclo reprodutivo, tipo de migração, hábito na locomoçãoetc.);
- aspectos de engenharia (localização do mecanismo, vazão do rio, características dos degraus,altura a ser transposta etc.);
- relação custo/benefício do mecanismo recomendado;
IV. o mecanismo somente deverá ser implantado se os estudos específicos assim o indicarem e após aaprovação do órgão ambiental competente.
426 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Estocagem
É a prática de manejo mais antiga e maisutilizada nos reservatórios brasileiros. É,também, uma das mais controversas devidoa inúmeros casos de insucessos e, quandobem-sucedida, às possibilidades concretas delevar a rupturas nas comunidades de peixeslocais e promover reduções marcantes nadiversidade genética (SCHRAMM, Jr.; PIPER, 1995;MIRANDA, 2001; ver Capítulo 6.2).
A estocagem consiste na adição de peixes naárea objeto do manejo, e, nos reservatóriosbrasileiros, tem sido realizada com espéciesnativas da região (repovoamento) ou comespécies oriundas de outras bacias(introdução).
A primeira recomendação para orepovoamento de reservatórios seria, semdúvida, a de se verificar a necessidadeinconteste de estocagem, para que depoisesta seja planejada e implementada (COWX,1994). Isso depende, entretanto, de umconhecimento suficientemente profundo dostatus dos estoques naturais, suas limitações,formas de exploração e autoecologia dasespécies. Sem tais informações, essa técnicade manejo deve ser evitada.
Dentre as razões específicas que poderiamjustificar investimentos em estocagem,destacam-se: (i) a depleção dos estoquespesqueiros, decorrente de sobrepesca; (ii)falhas no recrutamento por fatoresextraordinários; (iii) a degradação genéticade populações naturais; (iv) a perda dehábitats de reprodução e desenvolvimentoinicial; e (v) o aumento na capacidade de
suporte do sistema. Todas essas razõespressupõem a disponibilidade deinformações locais sobre as espécies deinteresse e dos dados da estrutura efuncionamento das assembléias de peixespresentes na área. Entretanto, apenas asquantro primeiras fazem sentido no contextoda sustentabilidade. Eventualmente, outrosmotivos poderiam justificar consideraçõessobre a adoção da estocagem, mas éimportante que eles sejam sempreclaramente explicitados. Sem uma definiçãoclara do problema, não é possível umenunciado válido de metas e objetivos, e, emdecorrência, definir resultados esperados e aavaliação da eficácia da ação.
Outro ponto extremamente relevante nasestocagens com espécies nativas é a origemdos alevinos. Deve-se considerar queestações produtoras de alevinos destinadosao cultivo são fundamentalmente diferentesde sistemas destinados à produção dealevinos para o repovoamento. O cultivopara consumo requer um plantel dereprodutores selecionados para algumascaracterísticas zootécnicas (crescimentorápido; boa taxa de conversão, etc.), o queimplica uma seleção artificial desses peixes,com prejuízo na sua variabilidade genética.Já na produção de alevinos para orepovoamento, a preocupação deve serprioritáriamente com a heterogeneidadegenética, que contemple característicasfenotípicas distintas para o enfrentamentodas adversidades do ambiente natural.Assim, alevinos de produtores convencionaisnão são apropriados para a estocagem emambientes naturais. Se o manejo utilizando atécnica de estocagem for necessário, os
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 427427427427427
responsáveis também deverão destinarinvestimentos para a construção de estaçõesde piscicultura que se dediquemexclusivamente à produção de alevinos comelevada diversidade genética, devendo oplantel ser avaliado por especialistas. Éimportante que o plantel seja constituído pormatrizes obtidas aleatoriamente dediferentes populações da região ou sub-baciaem questão, com substituições periódicas dereprodutores. O COMASE referiu-se a esseponto (ver Box 8.12).
Ressalta-se ainda a necessidade de umcontrole absoluto da qualidade sanitária dosalevinos (SIROL; BRITTO, 2005), da água erecipientes utilizados para o transporte.Deve-se considerar que raramente umaespécie ocorre sozinha e que, dado o caráteruniversal desse fato, certificar-se de que afauna e flora acompanhantes não comportempatógenos ou parasitas.
No planejamento das ações derepovoamento, alguns aspectos-chave devemser considerados, com destaque para otamanho do indivíduo, o local e período desoltura (SIROL; BRITTO, 2005). Em relação aotamanho, indivíduos de maior porte podemassegurar maior sucesso na empreitada.Entretanto, a soltura de indivíduos adultos,sem que suas fases de desenvolvimentoinicial tenham passado pelo filtro da seleçãoimposta pelo ambiente receptor, podeimplicar a transmissão de característicasfenotípicas inadequadas à sobrevivência dosjuvenis à população receptora, colocando emrisco sua existência. Além do mais, éesperado que indivíduos mantidos emcativeiro durante um tempo prolongadoapresentem problemas no ambiente natural,tanto com a predação quanto com a obtençãode alimento. Por outro lado, indivíduosestocados precocemente apresentam taxaselevadas de mortalidade. Espera-se que fases
BoBoBoBoBox 8.12x 8.12x 8.12x 8.12x 8.12Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Estações de hidrobiologia e pisciculturaI. quando houver a necessidade, comprovada pelos estudos, de implantar estações de piscultura devem
ser considerados os seguintes aspectos:- priorizar a utilização de espécies autóctones da própria bacia hidrográfica;
- desenvolver estudos que possibilitem o conhecimento da biologia das espécies utilizadas;- desenvolver técnicas para reprodução em cativeiro das espécies autóctones;- privilegiar a aqüicultura experimental ao invés de atividades de produção de pescado;- produzir alevinos em apoio aos programas de manejo idealizados para a área de influência doempreendimento, especialmente, os voltados para a conservação da biodiversidade ou manutençãoda pesca;- fornecer apoio aos programas de ictiofauna, limnologia, acompanhamento da pesca etc.
428 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ontogenéticas transitórias em relação à dietasejam mais apropriadas. Isso, entretanto,varia com a espécie e exige estudos maisaprofundados.
O local de soltura não pode ser condicionado afacilidades de acesso e muito menos deexposição massiva ao público como forma depropaganda, mas, logicamente, deveconsiderar as exigências da espécie,conforme o tamanho ou a idade do peixe. Nocaso de alevinos, para minimizar amortalidade, a liberação deverá ocorrer emhábitats utilizados como criadouros naturaisda espécie. Nas fases subseqüentes, a escolhado local deve considerar eventuaisestratificações por tamanho entre os hábitatsocupados pela espécie. Quanto ao período desoltura, o ideal é que a soltura ocorra emfases de menores restrições ambientais,quando o suprimento alimentar é maisabundante e as condições físico-químicas daágua menos estressantes. A constatação dosmelhores períodos dependerá da espécie e daregião, sendo que um levantamento prévio éde grande valia.
A quantidade de indivíduos a ser liberada éamplamente dependente da capacidade desuporte do reservatório, fato completamentenegligenciado até hoje (COWX, 1994). Quandoa população estiver próxima da capacidademáxima, a liberação de mais indivíduosdificilmente surtirá efeitos, devido aoaumento na taxa de mortalidade, sendonecessário o incremento dessa capacidade. Oaumento na capacidade de suporte, com afertilização ou alimentos fornecidos, além deimpraticável em grandes reservatórios, podeter severas restrições de outros usos. A
capacidade de suporte do ambiente e otamanho do estoque de peixes que se quermelhorar são valores de difícil mensuração,além de ambas variarem amplamente noespaço e no tempo. Uma boa aproximação danecessidade de estocagem é a constatação desobrepesca, visto que, se ela existe, aprobabilidade do corpo d’água suportar umamaior biomassa de peixes será tambémmaior.
Após a realização da estocagem éfundamental que projetos deacompanhamento sejam iniciados. Oresultado pode ser avaliado tanto em termosde pesca experimental quanto a partir domonitoramento dos desembarques da pescaartesanal e comercial. A ausência demonitoramento foi um dos pilares dafalência da estocagem no Brasil, pois nuncase soube, com certa margem de segurança, oque estava acontecendo com os peixes e nadase aprendeu com a atividade. Qualquerinvestimento de grande monta, como o dosrepovoamentos, sem a respectiva avaliaçãodos resultados, se configura comoincompetência administrativa no setorprivado e como irresponsabilidade naadministração pública. O COMASE redigiualgumas recomendações especificas àestocagem (ver Box 8.13).
As estocagens realizadas com espécies não-nativas (introduções e reintroduções), poroutro lado, são medidas que além de ilegais,têm maior complexidade que osrepovoamentos e que, em razão dasimplicações que podem ter sobre a faunalocal, não admitem empirismos ouexperimentações não controladas.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 429429429429429
A despeito do número de introduções járealizadas em reservatórios brasileiros, asinformações disponíveis acerca dos impactoscausados são reduzidas. Situações nas quais oestudo do impacto da introdução é iniciadoapós sua efetivação ou aquelas em que outrosimpactos estão agindo concomitantemente(represamento, poluição, destruição decriadouros naturais e áreas de desova, etc.)obscurecem o efeito real dessas introduções(AGOSTINHO; JÚLIO JÚNIOR, 1996) (ver Box 8.14).
É sabido, no entanto, que os mecanismospelos quais uma espécie introduzida setornará bem-sucedida implicam geralmenteimpactos sobre espécies locais e são exercidospela competição, predação, inibição dareprodução, modificação do ambiente,transferência de parasitas ou doenças,hibridação, entre outros. A aparente ausênciade impactos negativos de introduções pareceser, portanto, fruto da falta de estudos.
A alegação de disponibilidade de nicho emreservatórios foi, algumas vezes, utilizadapara justificar a introdução, porém
extremamente discutível. Além de essaconclusão ser obtida, geralmente, de maneiraempírica, existem problemas de conceituação.O nicho é uma característica que depende deinterações entre o organismo e o ambiente, einclui uma vasta gama de interações bióticas eabióticas. Diferentemente do que muitosentendem, em ecologia o conceito de nichonão se refere às características do ambiente,mas, sim, à maneira como as espécies serelacionam com o ambiente.
O nicho potencial, que depende dascaracterísticas fisiológicas e comportamentaisdo indivíduo, tem sua dimensão real limitadapelas pressões da comunidade biótica eambiente (KREBS, c1994). Assim, a dimensãodo nicho a ser ocupado pela espécieintroduzida num dado sistema é de difícilobtenção. Introduções de espécies tidas comopelágicas e essencialmente planctívoras noambiente de origem e realizadas na bacia dorio Paraná (Ex.: Triportheus angulatus, daAmazônia) falharam, com a espécie mudandoo hábito alimentar após a estocagem(insetívora).
BoBoBoBoBox 8.13x 8.13x 8.13x 8.13x 8.13Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Repovoamento ictiofaunístico
I. avaliar em profundidade a eficiência dos repovoamentos ictiofaunísticos realizados pelo Setor Elétrico;
II. embasar a decisão de realizar repovoamentos no conhecimento das condições ambientais, dacapacidade de suporte do meio; da estrutura trófica, da biologia e do comportamento das espécies aserem utilizadas;
III. monitorar todas as ações implementadas, de forma a avaliar as medidas adotadas e fornecer subsídiose programas futuros.
430 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Entre as espécies mais bem-sucedidas nasintroduções realizadas a nível mundial,destacam-se as tilápias. Elas têm sidoresponsáveis por parte relevante nascapturas mundiais de pescado, especialmenteem cultivos confinados. Seu sucesso naocupação de reservatórios tem sido relatadoem zonas tropicais de todos os continentes(MIRANDA, 2001). Entretanto, os reservatóriosem que elas foram bem-sucedidas têm,tipicamente, elevado tempo de residência daágua e pequenas dimensões, geralmentelocalizados em pontos altos da bacia. Alémdisso, os impactos do estabelecimento dastilápias sobre a fauna local têm sidoregistrados em diferentes pontos do planeta(MOYLE, 1976; McKAYE; RYAN; STAUFFER, Jr.; LOPEZ
PEREZ; VEGA; BERGHE, 1995; MIRANDA, 2001;PÉREZ; MUÑOZ; HUAQUÍN; NIRCHIO, 2004). Estetema é ainda objeto de discussões no tópicoAqüicultura, apresentado adiante.
Finalmente, recomenda-se fortemente que seconsiderem outras modalidades de manejocom maior probabilidade de sucesso emenor risco à biodiversidade e à pesca. Entreestas se destacam aquelas expostas nopróximo tópico, relacionadas à manipulação
de hábitats (recomposição, ampliação oumesmo implantação de hábitats críticos,como os de desova e criadouros naturais,manipulação de nível do reservatório e daárea de depleção, bem como a restauração davegetação ciliar). A melhoria nos hábitatscríticos certamente contribuirá para orecrutamento, ajustando-os à capacidadebiogênica do reservatório. Esses doisaspectos são críticos aos problemas que aestocagem pretende solucionar, e, secomplementados com um eficienteordenamento da pesca, tais problemasestariam resolvidos.
Reduções de PopulaçõesIndesejáveis
Proliferações massivas de algumasespécies podem promover desequilíbriosnos sistemas ecológicos e/ou interferirnegativamente no funcionamento dossistemas de pesca e de outros usos dosrecursos aquáticos, sendo estasconsideradas indesejáveis, invasoras ou“pragas”. Embora esse fenômeno seja maisfreqüente entre espécies introduzidas, ele
BoBoBoBoBox 8.14x 8.14x 8.14x 8.14x 8.14Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Introdução de espécies de peixes nas bacias hidrográficas
I. as ações de estocagem não devem envolver espécies alóctones ou exóticas;
II. na estocagem com espécies autóctones, devem ser consideradas as possibilidades de problemas comendocruzamento, hibridação e disseminação de doenças e parasitas;
III. a estocagem, quando realizada, deve ser monitorada.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 431431431431431
pode ser decorrente também de erupçõespopulacionais de espécies nativas. Emreservatórios, tais ocorrências são maiscomuns pelas alterações ambientaisinerentes a esses empreendimentos.
Os critérios para considerar uma espécie oupopulação indesejável são, em geral,altamente subjetivos e dependemestritamente das metas em questão. Wydoskie Wiley (1999) enumeram alguns dessescritérios, entre eles (i) espécies prejudiciaisao balanço de um ecossistema aquático; (ii)espécies que interferem com outras práticasde manejo da vida silvestre; (iii) espécies queafetam peixes ameaçados ou em perigo deextinção; (iv) espécies que não contribuemou prejudicam aquelas de interesse na pescacomercial ou esportiva.
Os problemas relacionados a uma espécieindesejável são muito variados (MIRANDA,2001), destacando-se aqueles relacionados àpredação, competição, balneabilidade,nanismo, veiculação de doenças,interferência na qualidade do ambiente ounas operações de pesca.
Um exemplo típico de espécie indesejável nosistema de pesca de reservatóriosneotropicais é o das piranhas, que, noreservatório de Itaipu, têm sido responsáveispor danos nas iscas, nos aparelhos de pesca eno pescado neles retido (AGOSTINHO, C.S.;
AGOSTINHO, A.A.; MARQUES; BINI, 1997). Alémdisso, esses peixes têm, em algumas ocasiões,interferido negativamente na prática deesportes aquáticos em alguns balneáriosimplantados nas margens deste reservatório(AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2003). Nesse
caso, é curiosa a constatação de que a espécieganhou as páginas dos jornais apenas a partirdo momento em que, utilizando os bancosde macrófitas submersas nas proximidadesdos balneários para reprodução, passou aatacar os banhistas que se aproximavam doabrigo. Outro exemplo axiomático é o dasraias Potamotrygon spp., que se dispersarampara o trecho acima dos Saltos de SeteQuedas, após a formação do reservatório deItaipu, e que dificultam a pesca de praia e arecreação nesses ambientes (AGOSTINHO; JÚLIO
JÚNIOR, 1999).
Entre as estratégias já utilizadas com opropósito de controlar diretamente aspopulações de espécies indesejáveis,destacam-se as de natureza química (ex.:ictiocidas específicos), biológica (ex: estímuloa predadores, inibição à reprodução,fomento à pesca seletiva) e físicas (ex.:dessecamento do ambiente, explosivos, pescacom redes, armadilhas, eletricidade), além dealterações de hábitat, objeto do próximotópico.
Todas as técnicas de redução direta têm,entretanto, aplicação complexa e, em geral,eficiência transitória, visto que as forças quedeterminam a proliferação destas são poucoconhecidas e de difícil atenuação. Astentativas para erradicar as piranhas dereservatórios do Nordeste, Sudeste e Sul doBrasil ilustram bem as dificuldades em seobter resultados satisfatórios e de longoprazo. No reservatório de Itaipu, asestratégias para o controle das piranhas nosbalneários envolveram remoções periódicasde macrófitas submersas, hábitat que elasocupam na fase mais agressiva do ciclo de
432 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
vida (cuidado com a prole). Isso não controlaa população, mas as afasta de áreas de usocrítico (AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2003).
A decisão acerca da conveniência e do tipo detécnica a ser aplicada nesses casos deve, noentanto, considerar os “efeitos colaterais”.Assim, embora o controle deva considerar aépoca e o local em que a espécie é maisvulnerável, a estratégia utilizada para aredução das espécies indesejáveis deve serimplementada quando e nos locais em queos riscos de impactos negativos sobre outrosorganismos sejam mínimos.
Dados os riscos e incertezas que envolvem asações visando o controle (redução ouremoção) de espécies indesejáveis, algunscuidados devem ser tomados antes dadecisão sobre sua execução (WYDOSKI; WILEY,1999). Destacam-se, entre eles, (i) o empregode uma abordagem ecossistêmica noplanejamento e na implementação dasmedidas de controle; (ii) o foco dasprioridades sobre as causas e não nos
sintomas; (iii) a busca primeiro daestabilidade do ecossistema e, depois, daimplementação das ações; (iv) a integraçãodas ações de controle e de outras medidas demanejo; (v) a utilização dessas medidas demanejo apenas quando os riscos de impactosnegativos sobre as espécies nativas,ameaçadas ou em perigo de extinções, foremseguramente mínimos; (vi) a discussãoampla com a sociedade acerca das alternativasde manejo, incluindo o nada fazer.
Manipulação de Hábitats
As ações de manejo realizadas através deinterferências no hábitat dos peixes, adespeito de seu grande potencial, não têmrecebido atenção no Brasil. Isso ésurpreendente, visto que os impactosoriundos dos represamentos são efetivados,principalmente, através da alteração na suaqualidade e quantidade. O COMASEapresentou algumas recomendações, emâmbito geral (ver Box 8.15).
BoBoBoBoBox 8.15x 8.15x 8.15x 8.15x 8.15Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Manejo de ambientes nos locais de desova e criadouro naturais
I. desenvolver as seguintes atividades em parceira com o IBAMA e prefeituras, quando for caso:
- estudos nas diversas bacias hidrográficas que permitam a identificação dos locais onde ocorremimportantes processos relacionados à fauna aquática, como sítios de reprodução, de alimentaçãoe criadouros de formas jovens;
- medidas de manejo dos locais de reprodução, de alimentação e criadouros de formas jovens, comoa proteção integral, a ampliação das áreas, a recuperação da vegetação marginal, o controle doassoreamento e do uso do solo, a restrição à pesca etc.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 433433433433433
Figura 8.3 - Relação entre a riqueza de espécies demacrófitas e de peixes em nove reservatórios da bacia dorio Paranapanema (Modificado de
, 2003).AGOSTINHO; GOMES;
JÚLIO JÚNIOR
0
4
8
12
16
20
24
28
0 2 4 6 8 10 12 14
Riqueza de macrófitas
Riq
ue
za
de
pe
ixe
s
Alagados
Apucaraninha
Canoas 1 Canoas 2
Chavantes
Harmonia
Rosana
Salto Grande
Taquaruçu
(R=0,66; p<0,05)
A manipulação de hábitats pode resultar embenefício pelas implicações que tem no (i)balanço das relações competitivas, (ii)aumento na capacidade biogênica do corpod’água, (iii) incremento do potencialreprodutivo e (iv) elevação da taxa desobrevivência (SUMMERFELT, 1993).
Algumas alternativas de manipulação dehábitat, visando ao manejo da fauna aquáticaem reservatórios, são apresentadas a seguir(NOBLE, 1980; SUMMERFELT, 1993).
Controle de Macrófitas
Esse tipo de controle baseia-se no fato deque as macrófitas têm papel destacado namanutenção de muitas espécies, quer porfornecer abrigo às forrageiras e às formasjovens, quer por servir de substrato aorganismos utilizados em sua alimentação(ESTEVES, 1988; ARAÚJO-LIMA;
AGOSTINHO; FABRÉ, 1995;AGOSTINHO; VAZZOLER; THOMAZ,1995; ALVES, 1995; AGOSTINHO;
GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2003). Suaabundância relaciona-se,portanto, à razão predador-presa, à pressão de competição,à capacidade biogênica doambiente e à taxa desobrevivência inicial de diversasespécies de peixes (SAVINO; STEIN,1982; BETTOLI; MACEINA; NOBLE;
BETSILL, 1992; DIBBLE; KILLGORE;
HARREL, 1996). Alia-se a isso ofato de que algumas espéciestropicais fazem posturas de ovosem suas partes submersas.
Dessa forma, além do papel que asmacrófitas desempenham na ciclagem denutrientes, elas contribuem para o aumentona heterogeneidade estrutural dos hábitats,afetando a diversidade biológica, as relaçõesinterespecíficas e a produtividade do sistema(AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2003; PELICICE;
AGOSTINHO; THOMAZ, 2005; PELICICE; AGOSTINHO,2006; AGOSTINHO; THOMAZ; GOMES; BALTAR, noprelo). A manipulação em sua densidade temreflexos diretos sobre a abundância degrande número de espécies no reservatório,tanto afetando o ciclo de vida de cada umaquanto influenciando as relaçõesinterespecíficas.
Um exemplo da relação positiva entre adiversidade de macrófitas e a de peixes édada por Agostinho, Gomes e Júlio Júnior(2003), com base em amostragens nas áreaslitorâneas de nove reservatórios da bacia dorio Paranapanema (Figura 8.3).
434 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Embora a participação de macrófitas na dietade peixes tropicais esteja restrita a poucasespécies (HAHN; FUGI; ANDRIAN, 2004), suaabundância parece ser relevante, mesmo queindiretamente, no aumento da densidade ena biomassa de peixes. Resultadospreliminares de estudos desenvolvidos emquatro braços do reservatório de Itaipudemonstram que a abundância e o peso dospeixes nas amostras, expressos em capturapor unidade de esforço, são maioresnaqueles com alta densidade de macrófitas(Figura 8.4).
Quando em excesso, entretanto, as macrófitasinterferem na produtividade planctônica, naqualidade da água (CANFIELD, Jr.; SHIREMAN;
COLLE; HALLER; WATKINS; MACEINA, 1984), naatividade de pesca e outros usos, sendo,portanto, necessária alguma forma decontrole.
O controle pode ser efetivado através demétodos mecânicos, químicos e biológicos(NOBLE, 1980; BETTOLI;
MACEINA; NOBLE; BETSILL, 1993;SUMMERFELT, 1993). Todos osmétodos têm eficiêncialimitada, visto que atuamsobre resultantes e não sobrea origem do problema(eutrofização, transparênciada água), ocorrendo, emgeral, um retorno à situaçãode início quando a ação decontrole é interrompida.
O controle mecânico envolveo corte e a remoção dasmacrófitas. Embora os
modernos equipamentos tenham tornadoesse método mais eficiente, ele continua caroe trabalhoso. Por outro lado, não apresenta oinconveniente do uso de agentes químicos ebiológicos, além do fato de a remoção davegetação se constituir em ferramenta útilpara a remoção de nutrientes e melhoria naqualidade da água em ambienteshipereutróficos (AGOSTINHO; GOMES; JÚLIO
JÚNIOR, 2003).
O controle químico envolve o uso deherbicidas em meio aquático e tem comoinconveniente o elevado custo para grandescorpos d’água e, obviamente, as restriçõesambientais e de outros usos da água(abastecimento, recreação, irrigação, pesca).Experimentos com herbicidas têm sidorealizados pela Companhia Energética deSão Paulo (CESP), no reservatório de Jupiá,onde a proliferação de espécies submersas demacrófitas tem gerado problemasoperacionais na usina (MARCONDES; MUSTAFÁ;
TANAKA, 2003).
Alta Moderada Baixa Baixa
Densidade de macrófitas
0
100
200
300
400
500
600
Den
sida
de(I
nd./1
000
m2
rede
/24h
)
0
20
40
60
80
100
Bio
mas
sa(k
g/10
00m
2re
de/2
4h)
Densidade Biomassa
Figura 8.4. Abundância relativa (densidade) e biomassa depeixes nas zonas de remanso do reservatório de Itaipu comdiferentes densidades relativas de macrófitas, no ano de1995 (Alta=rio São Francisco Verdadeiro; Moderada=ArroioGuaçu; Baixa=rios São Francisco Falso e Ocoi).
Alta Moderada Baixa Baixa
Densidade de macrófitas
0
100
200
300
400
500
600
Ab
un
dâ
ncia
0
20
40
60
80
100
Bio
massa
Abundância Biomassa
Figura 8.4 - Abundância (i ) e biomassa depeixes nas zonas de remanso doreservatório de Itaipu com diferentes densidades relativas demacrófitas, no ano de 1995 (Alta=rio São FranciscoVerdadeiro; Moderada=Arroio Guaçu; Baixa=rios SãoFrancisco Falso e Ocoi).
ndivíduos/1000 m rede/24h
/1000 m rede/24h
2
2(kg )
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 435435435435435
Já o controle biológico, geralmente usandoespécies herbívoras, tem sido efetivo emalguns pequenos cursos d’água e canais deirrigação. Mesmo nesses ambientes, oemprego de controle biológico tem sidocontroverso, visto que, em geral, envolveespécies exóticas. O emprego de híbridos,especialmente da carpa-capimCtenopharingodon idella, tem sido tentado,visando reduzir a probabilidade deestabelecimento da espécie no ambiente.Por outro lado, a eficácia desse controle emgrandes corpos d’água tem sido baixa, tantopela intensidade de estocagem necessáriaquanto pela mudança de dieta ante umaespécie disponível e mais palatável. Nessecaso, a espécie “controladora” pode reduzira pressão de competição e favorecer umaproliferação ainda maior da espécie que sequer controlar. Experimentos com insetos,fungos e peixes têm sido realizados pelaCESP, porém ainda sem resultadosconclusivos (MARCONDES; MUSTAFÁ; TANAKA,2003).
Embora não alcançando os níveis deproblemas de operação de turbinas comoos verificados em Jupiá, algunsreservatórios brasileiros têm apresentadointensa proliferação de macrófitassubmersas, especialmente Egeria densa(Jupiá, Rosana, Paulo Afonso). Essesreservatórios se caracterizam pelaslocalizações inferiores na cadeia dereservatórios do rio, onde a transparênciada água e, portanto, a penetração da luz,são maiores (THOMAZ; BINI, 1999).
Com base no exposto, os mesmos cuidadosrecomendados para o controle de espécies
de peixes indesejáveis devem serobservados nas ações de controle demacrófitas. Nesse caso, entretanto,considerações devem ser feitas em relaçãoao papel das macrófitas como substrato deorganismos-alimento, como abrigo para asformas jovens e de pequeno porte e,eventualmente, como substrato para osovos de peixes. Vale destacar que asmacrófitas podem representar, para diversasespécies, o hábitat mais importante emreservatórios, em razão de sua elevadacomplexidade estrutural e da perda degradientes ambientais e outros tipos dehábitats que existiam antes do represamento.
Controle do Nível da Água
Embora possa ser consideradopotencialmente a melhor técnica (NOBLE,1981), o controle de nível do reservatóriopara finalidades de manejo da faunaaquática é muitas vezes conflitante com osdemais usos que dele se fazem. Assim, cabeao administrador do recurso aproveitar asoportunidades de manipulação do nível doreservatório e reivindicar procedimentosoperacionais adequados ao seu programa,procurando compatibilizar seus usos.
O controle do nível de água nosreservatórios, por afetar as condições dazona litorânea, interfere nas condições deabrigo, alimentação e desova das espécies.Diferenças temporais e espaciais nacolocação dos ovos, exibidas por diferentesespécies, permitem, por exemplo, que essasáreas sejam ampliadas ou reduzidas,favorecendo ou prejudicando seletivamente
436 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
as espécies, conforme um dado objetivo.Entretanto, flutuações amplas e aleatórias denível são relacionadas ao caráter menosestável das comunidades de muitosreservatórios, podendo levar adesequilíbrios que permitem a proliferaçãode espécies oportunistas, algumas vezesindesejáveis, ou mesmo à extinção local deespécies.
Níveis elevados durante o períodoreprodutivo e nos meses que se seguem têmsido relacionados a aumentos significativosno recrutamento de várias espécies (BENNETT,c1971; NOBLE, 1980; MARTIN; MENGEL; NOVOTNY;
WALBURG, 1981; MITZNER, 1981; RAINWATER;
HOUSER, 1982; BEAM, 1983; MIRANDA; SHELTON;
BRYCE, 1984; PLOSKEY, 1985; SUMMERFELT, 1993;HAYES; TAYLOR; MILLS, 1993).
Para a ação efetiva dessa técnica, hánecessidade do conhecimento da quadrareprodutiva das espécies e da época commaior abundância das larvas de peixes.Obviamente, a manipulação de nível emreservatórios hidrelétricos, visando aosinteresses da pesca e conservação, encontraforte restrição ao seu uso para o atendimentodas demandas energéticas e controle decheias. Entretanto, dentro do grau deflexibilidade permitido pela operação dabarragem, existe espaço para a busca dessepadrão de flutuações de nível que beneficieas assembléias de peixes.
A tendência de depleção trófica, quecaracteriza a maioria dos reservatórios apósos primeiros anos da formação (RIBEIRO;
PETRERE JUNIOR; JURAS, 1995; ver Capítulo 4),pode ser revertida por manipulações
controladas realizadas a intervalos de 3 a 4anos (SUMMERFELT, 1993). Assim, alguns anosde baixos níveis, que permitam odesenvolvimento da vegetação na zona dedepleção, seguidos de um período de águasem níveis normais, resultam em elevação naprodutividade e no surgimento de classesetárias vigorosas. Agostinho (1998) sugereque a reversão constatada no rendimentopesqueiro do reservatório de Sobradinho noano de 1998/99 possa ser decorrente de umperíodo prolongado de deplecionamento doreservatório, durante 40 meses, composterior elevação de nível.
Semeaduras de vegetação na zona dedepleção, realizadas nos meses de cotasmínimas, e a posterior elevação do níveld’água, podem elevar a capacidade biogênicade reservatórios oligotróficos.
Entretanto, nas variações de nível, aabordagem sistêmica é tambémimprescindível, dados os riscos querepresenta para espécies nativas,especialmente as endêmicas ou ameaçadas deextinção, que tenham como estratégiareprodutiva o cuidado da prole em ninhos dazona litorânea, ou ovos fitófilos (quedesenvolvem aderidos à vegetação). Comisso, fica evidente que o conhecimento dacomposição e biologia das espécies torna-seelementar para o sucesso da prática.
Manipulação de Abrigos
Consiste em aumentar ou reduzir adisponibilidade de abrigos às espécies-presae formas jovens daquelas de maior porte.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 437437437437437
BoBoBoBoBox 8.16x 8.16x 8.16x 8.16x 8.16Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Remoção da vegetação da área do reservatório
I. a extensão do desmatamento deve ser compatível com níveis adequados dos parâmetros de qualidadeda água, recomendando-se a manutenção de segmentos de floresta, edificações e outras estruturasque possam atuar como abrigo para as formas jovens e forrageiras de peixes.
Essa ação pode ser requerida emreservatórios onde ocorram desvios naproporção entre presas e predadores, comreflexos no rendimento. Esse tipo deproblema é mais freqüente em reservatóriosque alagam áreas desprovidas de vegetaçãoarbórea ou onde esta tenha sido previamenteremovida antes do represamento. A ausênciade macrófitas aquáticas, também relacionadaà disponibilidade de abrigo, é determinantedesses desequilíbrios. Situações opostas, comelevada disponibilidade de abrigo, podem,também, levar a desequilíbrios na relaçãopredador-presa e demandar essa modalidadede manejo.
A instalação de recifes e medidas quecontribuam para o desenvolvimento demacrófitas aquáticas são alguns dosprocedimentos recomendados para ampliar adisponibilidade de abrigos.
A necessidade de abrigos deve, entretanto,ser considerada na fase do planejamento doreservatório, quando a manutenção davegetação arbórea e das edificaçõesexistentes é decidida. Decisões de remoçãototal da vegetação e eventuais estruturas que
poderiam fornecer abrigos aos peixes nãofazem sentido numa perspectivaconservacionista e devem ser evitadas.
A localização e o excesso de vegetação ouestruturas submersas podem, por outro lado,promover desequilíbrios relacionados àabundância de espécies forrageiras e reduçãodaqueles posicionados mais próximos aotopo da cadeia, geralmente com maiorinteresse à pesca. Além disso, esse excessopode ter implicações negativas sobre outrosusos que se façam do corpo d’água, como aprática de esportes náuticos, a manutençãode turbinas e mesmo a operação de algunsaparelhos de pesca (ver Box 8.16).
Assim, nos casos em que haja probabilidadede problemas sérios na qualidade da água(cor, odor, gosto), a remoção da vegetação édesejável. Entretanto, é conveniente nãoperder de vista que os maiores problemasdessa natureza guardam relação com adecomposição da serapilheira, do carbonoorgânico presente no solo e de plantasherbáceas ou gramíneas. Nos casos em queapenas a vegetação arbórea e arbustiva éretirada, os problemas com a qualidade da
438 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
água persistem, pois o tempo dedecomposição desse material é muito maiorque o das herbáceas que inevitavelmenteocuparão a área, dado o tempo demandadopara a remoção (ver Capítulo 6.5).
Ainda no contexto das atividades recreativas,a remoção da vegetação arbórea é necessáriaem áreas destinadas a balneários e esportesnáuticos, visto que os chamados paliteirosafetam a qualidade cênica e odesenvolvimento de atividades, comonatação, acampamento, navegação, etc. Alémdisso, a elevação da diversidade eprodutividade biológica envolve algumasespécies que incomodam as atividadesrecreativas, como os mosquitos. Embora aproliferação de mosquitos não sejadecorrente apenas da vegetação arbóreaalagada, esta reduz a circulação de águafornecendo condições ambientais lênticasmais propícias ao seu desenvolvimento.
Em relação à pesca, amadora ou profissional,a eventual dificuldade de deslocamentos éamplamente compensada pelo maior sucessona atividade. Embora alguns pescadoresjulguem que os paliteiros sejam obstáculospara uma boa navegação, em geral elesbuscam as áreas com altas densidades detroncos submersos para a pesca. Os anseiosde boas pescarias e conforto na atividade sãoconflitantes, devido às limitações impostaspelo ambiente. A manutenção de algumasárvores maiores pode ajudar o pescador areconhecer os limites do canal. Naeventualidade de uma atividade pesqueiramais intensa, a instalação de bóiassinalizadoras em algumas áreas doreservatório pode ser requerida.
Diversos estudos têm demonstrado que aeficiência de predação pelos piscívorosdepende da estratégia de captura destes,podendo ser mais elevada para algumas emníveis intermediários de complexidade dehábitat, enquanto, para outras, na ausênciade abrigos (WILEY; GORDEN; WAITE; POWLESS,1984; DUROCHER; PROVINE; KRAAI, 1984; DIBBLE;
KILLGORE; HARREL, 1996). Assim, oconhecimento das proporções das diferentesestratégias apresentadas pelos predadorespresentes na bacia e a relação de abundânciaentre predadores e suas presas sãoimportantes para a constatação do problemae na implementação do manejo.
Manipulação de Locais de Desova eCriadouros Naturais
Essa prática apresenta-se promissora nomanejo de reservatórios, visto que uma dasprincipais razões da depleção de muitaspopulações após o represamento decorre daredução, eliminação ou degradação de seuslocais de desova e criadouros naturais(SUMMERFELT, 1993). Ela consiste em proteger,recompor ou ampliar os ambientes dedesova e criadouros, com reflexos diretos noaumento da taxa reprodutiva e redução damortalidade de formas jovens, promovendoincrementos no recrutamento de novosindivíduos à população (ver Box 8.15).
A implantação de áreas artificiais de desovapode ser necessária também como medidacomplementar à estocagem com espécienativa, cuja população foi reduzida em razãoda eliminação desses hábitats. É oportunosalientar, entretanto, que parte considerável
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 439439439439439
das espécies dos reservatórios, sul-americanos, particularmente as de maiorporte e migradoras, têm suas áreas dereprodução e desenvolvimento inicial forado ambiente represado, e algumas vezesdistantes deste (AGOSTINHO; GOMES; SUZUKI;
JÚLIO JÚNIOR, c2003).
Então, a identificação desses locais e suamanipulação adequada podem serimprescindíveis para a manutenção dosestoques pesqueiros nos reservatórios,mesmo estando distantes.
Para as espécies que têm suas áreas dedesova e de desenvolvimento inicial nocorpo do reservatório, os hábitats críticospara sua viabilidade localizam-se nas zonaslitorâneas. Infelizmente, essas zonas,dependendo do grau de flutuação de nível eda intensidade das ondas, podem se tornarimpróprias para a desova ou à sobrevivênciadas formas jovens. Nesse caso, a presença depaliteiros ou vegetação aquática pode ter umimpacto positivo na atenuação dos efeitos deondas, na disponibilidade de alimento eabrigo, além de poder se constituir emsubstrato para a desova e reduzir os efeitosda erosão (siltação dos ovos).
Entre os diversos tipos de manipulação dehábitats, destacam-se (i) a recomposição davegetação ciliar; (ii) o controle adequado donível da água; (iii) a redução das cargas depoluição e seu controle permanente; (iii) aparticipação nos programas de conservaçãodo solo (siltação); (iv) a adequação dosubstrato de desova; (v) a implantação delagoas marginais artificiais; (vi)represamentos de braços como criadouros
naturais; (vii) recifes artificiais. Medidas demanejo dessa natureza devem, entretanto,ser planejadas conforme o conhecimento quese disponha das espécies-alvo e das restriçõesimpostas pelo ambiente.
Controle da pesca
O controle da pesca é realizado com oobjetivo de proteger as populações de peixesda sobrepesca e promover uma melhordistribuição dos recursos entre os usuários(NOBLE; JONES, 1999). É uma modalidade demanejo que deve ser realizada emconcomitância com outras formas de manejo(hábitat, populações), não as substituindo.
Essa modalidade de manejo é muitas vezesconsiderada uma opção fácil e barata, comforte apelo ao senso comum. Entretanto, oque é pouco oneroso nesse controle é aregulamentação. Os demais custos, comoconsultas, publicidade, fiscalização e omonitoramento dos resultados devem, noentanto, ser também orçados, visto que sãofases indispensáveis.
É freqüente no senso comum, alimentadopor regulamentação no esforço de pesca e nouso de aparelhos, responsabilizar ospescadores pela depleção dos estoques depeixes, atribuindo à pesca uma importânciaexagerada, mesmo na ausência de estudosespecíficos. Embora o controle racional dapesca (baseado em informações do sistema)seja necessário, a fiscalização deve seestender à outras atividades antropogênicas,como a manipulação do nível do rio pelosreservatórios a montante, a deterioração doslocais de desova e criadouros naturais por
440 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
práticas agrícolas inadequadas, acontaminação dos cursos d’água, etc. (NOBLE;
JONES, 1999). Assim, regulamentações queenvolvam os usos da água e os efluentes deusinas, indústrias, atividades agropastoris ecentros urbanos, além da proteção dehábitats, são, muitas vezes, mais apropriadasque a regulamentação da pesca.
Para uma correta aplicação do controle dapesca é necessário que se considerem, alémdos aspectos bio-ecológicos, a opinião dospescadores, a capacidade de fiscalização, osistema judicial e os impactos econômicos esociais envolvidos nessa modalidade demanejo (NOBLE; JONES, 1999). Os aspectos bio-ecológicos e socioeconômicos do controlereferem-se à percepção de que a elevação no
esforço ou na eficiência da pesca pode levaros estoques, incluindo reprodutores, a níveispopulacionais tão baixos que inviabilizem aatividade como opção de renda. Proibiçõesde época ou locais de desova, por outro lado,visam proteger o estoque quando ele é maisvulnerável. O COMASE apresentourecomendações ao tema (ver Box 8.17).
Além disso, algumas das principaisregulamentações da pesca no Brasil, como oslimites de tamanho mínimo para as espéciesnos desembarques e o uso de equipamentoscom especificações que assegurem a capturade indivíduos de tamanhos maiores, parecempromover impactos irreversíveis aosestoques pesqueiros e, portanto, deveriamser reconsideradas (ver Capítulos 5.1 e 6.7).
BoBoBoBoBox 8.17x 8.17x 8.17x 8.17x 8.17Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Controle da pesca
I. Sugerir ao órgão ambiental competente a adoção dos seguintes procedimentos:
- definição clara do que se pretende proteger na bacia hidrográfica;
- uniformização dos instrumentos legais por bacia hidrográfica, regulamentando os petrechos decaptura e definindo áreas de proteção próximas às barragens;
- intensificação de um programa de fiscalização e restrição da pesca, priorizando os locais decomercialização do pescado;
- intensificação da divulgação da restrição da pesca na área estabelecida pelo órgão competente;
II. desenvolver, juntamente com o órgão ambiental competente, estudos para definição da época e daextensão das áreas a ser recomendadas para proibição da pesca e onde deverá ser intensificada afiscalização;
III. notificar ao órgão competente, para as providências cabíveis, a ocorrência de pesca predatória eoutros atos lesivos à fauna aquática;
IV. informar aos pescadores da área do reservatório e do rio a jusante sobre o andamento dos programasde conservação da fauna aquática.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 441441441441441
Por outro lado, a proteção dos maiorestamanhos é considerada útil em situações emque o estoque adulto é pequeno ou onde onúmero de peixes menores é grande e aintenção é aumentar a taxa de crescimento(NOBLE; JONES, 1999). A proteção de séries detamanhos intermediários, uma alternativa decontrole mais complexo na pesca comercial,visa favorecer uma faixa de comprimento naqual a mortalidade natural é mais baixa e ataxa de crescimento mais elevada (NOBLE;
JONES, 1999). Nesse caso, busca-se protegeruma classe de tamanho em que as taxas decrescimento são maiores e, portanto, resultamem maiores taxas de rendimento no estoquede indivíduos maiores (slot limit).
No Brasil, o controle da pesca incideessencialmente sobre o pescador profissionale envolve apenas as restrições aos tamanhosmínimos, geralmente associados àmaturidade sexual. Estudos recentes têmdemonstrado que esse tipo de controle temeficiência dúbia, podendo inclusive seconstituir em fonte de impactos negativossobre os estoques explorados, pelos seusreflexos na heterogeneidade genética (verCapítulos 5.1 e 6.7). Além disso, para que essamedida resulte em controle efetivo nascapturas, a fiscalização deveria atuar sobre oprocesso de comercialização, evitandopunições com conseqüências socioeconômicasdrásticas sobre o pescador e sua família (perdados equipamentos de trabalho, por exemplo).Restrições na comercialização regulam demodo mais eficiente as características dopescado desembarcado.
Problema adicional são os tipos deequipamentos de pesca utilizados. As redes de
espera e os espinhéis, por exemplo, nãopermitem determinar a seleção antes de tiraros peixes e, então, o pescado solto émachucado e, muitas vezes, fatalmente.Considerando isso, Berkeley, Hixon, Larson eLove (2004) concluem que a preservação dospeixes maiores (mais velhos e fundamentaispara a sustentabilidade de um estoque) deespécies com ciclo de vida longo, só poderáser feita com o estabelecimento de reservasaquáticas. As reservas pesqueiras e zonas denão-captura, estratégias com potencial detrazer benefícios além da pesca, têm sidousadas no manejo em ambientes marinhos(HILBORN; STOKES; MAGUIRE; SMITH; BOTSFORD;
MANGEL; ORENSANZ; PARMA; RICE; BELL; COCHRANE;
GARCIA; HALL; KIRKWOOD; SAINSBURY; STEFANSSON;
WALTERS, 2004) e deveriam ser consideradasno manejo de águas interiores, incluindoáreas adjacentes a reservatórios.
Por outro lado, mais recentemente, ascomunidades tradicionais de países emdesenvolvimento estão começando a observara necessidade de capturas sustentáveis, aoinvés do progressivo aumento na produçãopesqueira (WORLD BANK, c2003). Porém, emalguns países desse grupo, entre os quais oBrasil, essas percepções ainda não têm sidovislumbradas, possivelmente comodecorrência da falta de discussão públicasobre a sustentabilidade da pesca ou mesmopela relação de desconfiança que predominanas relações entre os órgãos que fiscalizam apesca e os pescadores.
Muitas propostas de sistemas de manejoconjunto (co-management) têm sido feitas parapesca em rios e reservatórios, que deverãosubstituir as abordagens atuais mais
442 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
centralizadas (CHRISTENSEN; SOARES; SILVA;
BARROS, 1995; AMARASINGHE; DE SILVA, 1999;NATHANAEL; EDIRISINGHE, 2002; HARTMANN;
DUGAN; FUNGE-SMITH; HORTLE; KUEMLANGAN;
LORENZEN; MARMULLA; MATTSON; WELCOMME,2004). No Brasil, experiências promissorastêm sido relatadas, destacando-se aquelas dapesca na bacia do rio São Francisco (Projeto:Peixes, Pessoas e Água, liderado pelaUniversidade Federal de São Carlos eFederação de Pesca Artesanal de MinasGerais, em conjunto com CanadianInternational Development Agency (CIDA) eWorld Fisheries Trust, ambos do Canadá) e nado Amazonas (RUFFINO, 1997). Esses sistemasmais descentralizados irão, por definição,permitir que o processo decisório sejapartilhado com segmentos sociais locais,assegurando mais flexibilidade, menosatrito, melhor legitimidade e facilidades nafiscalização. Vale destacar que a efetividadedesses sistemas é complexa, visto que édependente do nível de responsabilidadeindividual de cada participante.
Todas essas modalidades de controle têmsido objeto de regulamentação em diferentesestados brasileiros. Os objetivos são,entretanto, difusos e os critériosdesconhecidos, sendo apenas característicasde entraves burocráticos para o exercício daatividade.
Outras AçõesAqüicultura e Espécies Introduzidas
Embora a aqüicultura não possa serconsiderada, em seu sentido estrito, comouma atividade atrelada aos recursos
pesqueiros de reservatórios, ela vem sendopreconizada nas políticas governamentaiscomo uma alternativa para reduzir a pressãode pesca sobre os estoques naturais e,portanto, com uma ação ligada à conservaçãodesses recursos.
Entretanto, apesar de o sistema deaqüicultura adotado no Brasil ter seapresentado como alternativa econômicapromissora (KUBITZA; ONO; LOPES, 2001;CASEIRO; KUBTIZA, 2003), seu papel naconservação dos recursos pesqueiros precisaser ainda demonstrado. Além das demandasde insumos da pesca para a produção deração (ver Capítulo 6.3), a aqüicultura,especialmente aquela praticada em águaspúblicas, tem notável conflito com aqualidade da água, introdução de espécies edoenças nos ambientes naturais.
Num momento em que tanto se discute acompatibilização dos usos múltiplos dosrecursos disponíveis em reservatórios(TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2003), épertinente que essas políticas de governosejam questionadas, em especial a maneirapela qual vêm sendo conduzidas. Um aspectoprioritário nessas discussões é o da clarezados objetivos da aqüicultura emreservatórios. É necessário que se estabeleça,por exemplo, se o fomento da atividadealmeja o desenvolvimento econômico dopaís, através da produção em larga escala,por grandes corporações e destinada àexportação, ou se prioriza a atenuação deproblemas sociais que afligem o Brasil, comoa fome e a desigualdade na distribuição derenda. Não parece adequado utilizar algunsresultados obtidos em cultivos em grande
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 443443443443443
escala para estimular ou disseminar a práticaem escalas reduzidas, ou fazer apologia degrandes empreendimentos de cultivo, cujaprodução é exportada, utilizando comomote o combate à fome. As experiências jáobtidas com os cultivos em tanques-rede emreservatórios demonstram que a atividadepode ser economicamente viável emgrandes fazendas aqüícolas, enquanto queem escala reduzida a rentabilidade tem sidopífia, com alguns fracassos retumbantes (verCapítulo 6.3).
O ordenamento das atividades de cultivoem reservatórios é também necessário.Atualmente, a maioria dos pequenosempreendimentos de cultivos emreservatórios situa-se fora das áreasrecomendadas (parques aqüícolas),tornando o planejamento da ocupação doambiente mera figura de retórica. Orespeito aos demais usos deve serpriorizado e fiscalizado, não podendo seralvo da complacência dos órgãos defomento (ver Box 8.18).
A carência de pesquisas acerca daviabilidade econômica e ambiental dessesempreendimentos em diferentes escalas,considerando diferentes práticas, é tambémurgente. Pesquisas sobre alternativas àsespécies exóticas para o cultivo em águaspúblicas estão nesse contexto. Seriaesperado, por exemplo, que o esforçodestinado ao desenvolvimento deprotocolos de cultivo de espécies nativasfosse maior que o empregado por algumasagências oficiais nas movimentações epressões sobre os órgãos de controle paraflexibilizar as restrições ao cultivo deespécies exóticas. Embora os problemascom o cultivo de peixes em águas públicasnão sejam resolvidos com odesenvolvimento de pacotes tecnológicosque permitam o uso de espécies nativas,parte relevante deles o seria.
Entretanto, enquanto não surge uma opçãonativa para esses cultivos, a preocupaçãocom a introdução de espécies não-nativasdeve ser manifesta e imperativa. Uma das
BoBoBoBoBox 8.18x 8.18x 8.18x 8.18x 8.18Recomendações do COMASE
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRI-CO BRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICAS PREPARATÓRIAS,1993. Rio de Janeiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4 cadernos.
Utilização de tanques-rede para a criação de peixes
I. a contribuição do Setor Elétrico deve se restringir à implantação de tanques-rede em caráterexperimental, visando o desenvolvimento da tecnologia;
II. sugere-se aos órgão competentes que a difusão da técnica de tanques-rede somente ocorra após acomprovação de sua eficiência e a avaliação de suas conseqüência ambientais;
III. a eventual adoção da técnica de tanques-rede deve contemplar, através de um planejamento global,o zoneamento do reservatório, o monitoramento da qualidade da água, o controle parasitológico e arestrição ao emprego de espécies alóctones ou exóticas.
444 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
questões proeminentes é a das “espécies não-nativas estabelecidas”. Para a identificaçãodesse status, não basta o registro deindivíduos maduros (a desova pode falhar),larvas e juvenis (podem ser frutos de escapeou não completarem o desenvolvimento) emuito menos a simples presença. Espécieestabelecida pressupõe uma população auto-sustentável. Além disso, em tese, mesmo acomprovação do estabelecimento de umaespécie não justificaria a negligência naentrada de novos indivíduos, dado que aintrodução de espécies pode ser consideradacomo uma forma de poluição biológica,portanto com gravidade proporcional à suaabundância no ambiente. A esse respeito érelevante lembrar que o Brasil é signatárioda Convenção da Biodiversidade,promulgada como lei pela Presidência daRepública, portanto com compromissos denão apenas coibir e fiscalizar as introduçõesde espécies, mas também buscar meios deremovê-las dos ecossistemas aquáticos.
Uma política que efetivamente controle oritmo das implantações dos cultivos ou osdisciplinem também é extremamentenecessária, visto que muito do caossocioambiental promovido pela atividadedeve-se ao estabelecimento indiscriminadode estações de aqüicultura. Assim, osproblemas com escapes de peixes e liberaçãode efluentes poluidores serão, sem sombrade dúvidas, os maiores desafios aoprosseguimento da aqüicultura nacional alongo prazo. Sem o reconhecimento de que aatividade de aqüicultura dependenecessariamente dos ecossistemas naturaisem que ela se insere, é improvável que aaqüicultura se desenvolva de forma
adequada e que possa, de fato, suplementar apesca extrativista a longo prazo (NAYLOR;
GOLDBURG; PRIMAVERA; KAUTSKY; BEVERIDGE;
CLAY; FOLKE; LUBCHENCO; MOONEY; TROELL,2000).
Em relação à aqüicultura em geral, incluindoaquela tradicionalmente realizada emtanques escavados, os desafios são tambémconsideráveis. Tanto no controle dosefluentes quanto nas ações destinadas àredução dos riscos de novas introduções deespécies em ambientes aquáticoscontinentais, deve-se considerar umcomplexo cenário, visto que é necessário oenvolvimento de diferentes segmentos dasociedade e de uma intensa vontade políticapara sua efetividade. É tambémindispensável uma efetiva integração entreos órgãos públicos de fomento à produção eos de controle ambiental, tanto nos níveisfederais e estaduais quanto nos municipais.
Para os reservatórios, corpos receptores dasações que se desenrolam na região deentorno, é natural que o controle dasintroduções seja consideravelmente difícil.Em especial porque a construção dessesempreendimentos estimula odesenvolvimento econômico da área e aocupação de suas encostas por atividades decultivo. Introduções deliberadas de peixesem reservatórios e áreas contíguas sãoatualmente esporádicas e, na maioria dasvezes, praticadas de forma clandestina. Dessamaneira, o ingresso de espécies não-nativas éfeito, principalmente, a partir de escapes detanques ou açudes onde se pratica aaqüicultura, ou pelo alagamento destesdurante a formação de novos reservatórios.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 445445445445445
A eliminação ou controle populacional depeixes invasores – assim como em qualqueroutro grupo de organismos – é, como vistoanteriormente, atrefa difícil e consideradalogisticamente impraticável, em vista doselevados custos e esforços necessários, alémde possíveis impactos adicionais.
Tais aspectos devem reforçar, comorecomendação geral, o emprego de ummaior rigor, cautela e bom senso nasdecisões acerca da liberação de espécies não-nativas para o cultivo.
Algumas diretrizes deveriam serconsideradas na liberação de novas espéciesou variedades para o cultivo na aqüicultura.Um protocolo para o processo decisórioacerca de introduções, baseado emRosenfield e Mann (c1992), é apresentadoabaixo. Ressalta-se que ele é apresentado emordem de pré-requisitos, sendo, portanto,necessário que a análise de um novo itemseja considerada se, e apenas se, a avaliaçãodo anterior for positiva.
Etapa 1 - Validade da introdução: para que asdiscussões acerca da introdução outransferência de uma dada espécie sejaminiciadas, o ponto de partida deve ser avalidade da iniciativa. Os objetivos devemser claros e precisos, a viabilidade social eeconômica deve ser indubitável e o grupobeneficiado adequadamente identificado.
Como já extensivamente discutido, a maioriadas introduções de peixes no Brasil foijustificada de forma vaga (ex: alternativaspara o cultivo, produção de proteína, pesca),não sendo possível entender que fator
influenciou na escolha da espécie e ademanda efetiva por ela. Algumas espéciesforam trazidas do exterior ou de outrasbacias pela percepção de leigos em visitas acentros de piscicultura, ou pelos momentosagradáveis de pescarias nos locais de origem.Além disso, dentro do país, as facilidadescriadas pela mídia impressa ou eletrônica nastransferências são ainda mais preocupantes.É comum cadernos semanais de jornais erevistas especializadas com ampla circulaçãooferecerem alevinos de várias espécies comentregas em todo o território nacional, oque, fatidicamente, é o primeiro passo para ocrime ambiental. A indústria da alevinagemvem por décadas estimulando a expansão dapiscicultura, mas com o único intuito degarantir o escoamento de sua própriaprodução.
Etapa 2 - Segurança no confinamento: aquestão da segurança no confinamentodeveria ser condicionante à liberação oficialdo uso de espécies não-nativas. Entretanto,não apenas a localização e a adequação dasinstalações são imprescindíveis, visto queinadequações nas práticas de manejo sãoimportantes fontes de introdução.Treinamentos, educação ambiental,campanhas de esclarecimento na grandemídia, compromissos formais com técnicasadequadas e monitoramento da águaefluente são necessários. Na presença dealternativas, as espécies não-nativas devemser evitadas.
Etapa 3 - Controle sanitário: a disseminaçãode doenças e parasitas para os cursos d’águaé um fenômeno recorrente no Brasil.Quarentenas e controle sanitário rigoroso
446 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
das instalações produtoras de alevinos, bemcomo o monitoramento periódico daqualidade sanitária dos efluentes e dostanques de cultivo, são procedimentosnecessários e devem estar explicitados emprojetos de piscicultura. A ocorrência demoléstias nos peixes dos cursos d’águapróximos ao sistema de cultivo tambémdeve ser eventualmente monitorada.
Etapa 4 - Potencial de aclimatação ereprodução no ambiente natural: apossibilidade da espécie se aclimatar ereproduzir nos corpos d’água naturais dabacia receptora deve ser motivo suficientepara o veto de uma transferência. Essas sãocaracterísticas imprescindíveis para que umaespécie se estabeleça de forma irreversível.Ignorar esse fato se constitui em uma rupturarelevante com o princípio da precaução e daética.
Etapa 5 - Avaliação do custo-benefício: caso aespécie passe pelo crivo das etapasanteriores, passa-se à análise do custo-benefício, ponderando, de forma isenta eimparcial, os riscos e os benefíciosambientais, sociais e econômicos advindosda introdução. Espera-se que nessa etapaocorra o rompimento com os objetivospuramente econômicos e unilaterais.
Etapa 6 - Revisão detalhada da literatura:embora essa etapa esteja subentendida nasetapas anteriores, nesse ponto a literaturadeve ser exaustivamente consultada, visandoobter informações de problemas registradosem outras regiões e a tomada de possíveismedidas preventivas (doenças,comportamento, características especiais).
Tomando o amparo da prudência, qualquerespécie que tenha histórico de impactos emoutras localidades deve ser automaticamentedesconsiderada.
Etapa 7 - Pesquisas complementares emonitoramento: antes que a espécie sejadistribuída na bacia hidrográfica, énecessário que pontos não esclarecidos pelarevisão sejam complementados porinvestigações locais específicas. Omonitoramento ambiental deve ser parteintegrante do projeto, antes e após amanipulação das espécies não-nativas, sendodesenvolvido de forma continuada, pelomenos na sub-bacia onde osempreendimentos de aqüicultura serãoinstalados, ou onde as espécies serãodiretamente introduzidas.
Os custos com o monitoramento e aresponsabilidade dos impactos com amanipulação de espécies não-nativas devem,por uma questão ética, ser imputados, naintegra, ao empreendedor do projeto. Nocaso da aqüicultura, por exemplo, é justo quea opção pelo cultivo de espécies exóticas,buscando maior lucratividade, seja custeadapelo empreendedor, não podendo os custosambientais serem cobertos pela sociedadecomo um todo.
A severidade dos impactos causados por umaespécie estabelecida sobre a fauna aquática ea impossibilidade de sua remoção, devemser motivos suficientes para a aplicação doprincípio da precaução nos processosdecisórios sobre introduções e na elaboraçãode projetos de cultivo confinado deorganismos aquáticos não-nativos. Este
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 447447447447447
princípio deve constar nos códigos de éticade todos os profissionais que lidam com aprodução e com o meio ambiente.
Mortandades de Peixes na Barragem
O conhecimento disponível acerca dosmecanismos que levam à mortalidade depeixes em barragens é precário, o que temdificultado a tomada de medidas preventivaspelos técnicos do setor hidrelétrico. Cadausina hidrelétrica tem um protocolo deoperações, elaborado empiricamente, quebusca reduzir esse problema. Entretanto,surpresas são freqüentes, tornando falhosprotocolos que pareciam infalíveis. Cadamanobra excepcional, programada ou não, émotivo de grande apreensão.
A precariedade do conhecimento sobre essesmecanismos é de tal ordem que sequersabemos a origem dos peixes que morrem(montante, jusante ou ambas), exceto quandoas mortes ocorrem no tubo de sucção duranteas paradas de máquinas. A determinação dacausa das injúrias e mortes de peixes nabarragem é uma tarefa complexa, devido aoelevado número de fatores envolvidos, àsinterações entre eles e à falta deespecificidade na resposta biológica (verCapítulo 6.4). Essa complexidade é, noentanto, motivada pela escassez de estudossistematizados sobre os processos demortandade, a despeito da freqüência comque essas ocorrências são constatadas.
Neste tópico são apresentadas algumasrecomendações de procedimentos e estudosque devem contribuir para a atenuação doproblema e ampliar seu conhecimento.
Ações emergenciais
Algumas ações emergenciais desenvolvidaspelo setor, embora baseadas em dadosempíricos e, portanto, ainda carentes deexplicações, têm-se mostrado promissorasna redução da mortalidade de peixes.
Entre aquelas relacionadas à operação dasunidades geradoras e vertedouro destacam-se,(i) o retardo no tempo de partida dasunidades geradoras; (ii) o retardo no tempode tomada de carga, mesmo aquelasdecorrentes de distúrbios de freqüência; (iii)a abertura gradual e combinada dosvertedouros e vertimento sempre que ascondições de oxigenação da águaalcançarem valores críticos (abaixo de 4mg/l). Esses procedimentos são requeridosespecialmente quando grandes cardumes seconcentrarem nas proximidades dabarragem, o que pressupõe monitoramentopermanente de sua presença e abundância.
Já para a operação de resgate de peixes no tubode sucção e caixa espiral, um procedimento derotina na maioria das usinas, érecomendável (i) treinamento da equipe deresgate; (ii) monitoramento, por técnicotreinado, da quantidade de peixesaprisionados (com ecossonda) e níveis deoxigênio dissolvido durante as atividades;(iii) fechamento dos stop-logs imediatamenteapós a parada da máquina; (iv) articulaçãoprecisa das etapas de drenagem com oprogresso dos trabalhos de resgate; (v)ampliação das facilidades (número depessoas, capturas e transportes) que tornemo tempo de resgate e transporte dos peixes omais curto possível.
448 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Ações complementares de curtoprazo
Na impossibilidade de decidir acerca dasmedidas que evitem o acesso dos peixes aocanal de fuga ou tomada d’água, algumasações de curto prazo são recomendadas:
1 - Criação de uma Comissão Permanente deMonitoramento da Ictiofauna eOperação, composta minimamente peloengenheiro responsável pela operaçãoda usina, o biólogo responsável pelagerência de ictiofauna e pesquisadoresenvolvidos com o tema. O carátermultidisciplinar envolvido noentendimento e na solução do problemarequer interação entre especialistas, e asua complexidade exige uma abordagembaseada em metodologia científica, vistoque o empirismo baseado emobservações pessoais não tem produzidoresultados satisfatórios na maioria doscasos. Essa Comissão teria comoatribuição discutir cenários de operaçãodas usinas e propor procedimentosalternativos acompanhados deavaliações sobre suas implicações nageração e no ambiente. Detalharia asestratégias e táticas de monitoramentode paradas programadas ou não, dastomadas de carga, além de avaliar osdados desse monitoramento.
2 - Monitoramento realizado de formasistematizada, e sob diferentes condiçõesde distúrbios, pode indicar osprocedimentos operacionais e seusefeitos sobre os peixes, permitindo aelaboração de modelos úteis na predição
de eventos de mortalidade. Essemonitoramento deve compreender:
• o monitoramento ictiológico de rotina,realizado em estações fixas atravésde pescarias experimentais, comcronograma pré-definido e duraçãodeterminada pelo completoentendimento do processo.
• o monitoramento por demanda, levado acabo a cada vez que manobrasextraordinárias, previstas ou não,forem realizadas. Implica registrosdetalhados dos procedimentosoperacionais, do número de peixesafetados na unidade de tempo, dosdados detalhados de necropsias dosindivíduos injuriados. Deve ter aduração determinada pela duraçãodo processo.
• o monitoramento do tubo de sucção econduto forçado (caixa espiral) durantea parada das máquinas deve fornecerindicações importantes para aotimização do resgate de peixes.Implica o registro detalhado detodos os procedimentosoperacionais, incluindo o tempodecorrido desde a parada daunidade, fechamento dos stop-logs,início da operação resgate, além donúmero de peixes salvos eremanescentes por espécie, portedos peixes, temperatura e teores deoxigênio, especificações técnicas dosprocedimentos de partida daunidade, registros de mortes antes,durante e após a partida.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 449449449449449
3 - Estudos de deslocamentos locais daictiofauna visam identificar rotas deaproximação dos peixes e locais deconcentração, além de indicações sobre aorigem de eventuais peixes mortos oumachucados. O trabalho deve serrealizado preferencialmente comtécnicas de biotelemetria, além demarcações convencionais, envolvendotrechos a montante, jusante e, se for ocaso, escadas de transposição. Implicatambém o mapeamento da circulação daágua nas imediações da barragem, amontante e a jusante. Esses estudosdevem ser conduzidos antes da decisãoacerca de instalação de dispositivos queimpeçam o acesso dos peixes à tomadad’água ou canal de fuga.
Ações de médio prazo
Os resultados obtidos no monitoramento eestudos devem indicar a melhor opção paraatenuar problemas com mortalidade depeixes na área da barragem. Essas açõespoderão ser de natureza distinta, ou seja, (i)envolver manobras na operacão dabarragem, especialmente em determinadasépocas do ano, e (ii) instalação de barreiras.
1 - Manobras na operação
Os dados do monitoramento e oconhecimento das rotas de aproximaçãodos peixes nas tomadas d’água, no canalde fuga ou no canal de escoamento dosvertedouros devem subsidiar ações demanipulação da vazão. Em tese, essamanipulação das condições hidráulicas ajusante pode atrair os cardumes para
áreas de menor risco durante manobrasde operação excepcionais (paradas,partidas, tomadas de carga) em uma dasunidades geradoras. Esses dados devemtambém permitir a identificação daépoca do ano, do horário do dia e dotipo de manobra operacional de maiorrisco.
Assim, a natureza das manobras naoperação deve ser detalhada pelosestudos e monitoramento, discutidasexaustivamente pela ComissãoPermanente de Monitoramento daIctiofauna e Operação, considerando-sesuas implicações ambientais efinanceiras. Além disso, as propostas deoperação devem ser negociadas com oSistema Interligado Nacional (SIN/ONS), visto que, em geral, implicamrestrições na utilização dos recursos dausina para a estabilidade e atendimentoàs demandas do sistema.
Entre as alternativas operacionais aserem consideradas, destacam-se ocontrole na abertura de vertedouros, otempo de partida das máquinas, o tempode abertura das palhetas do distribuidor(tomada de carga), o estabelecimento devazões máximas e mínimas a seremturbinadas e/ou vertidas, etc.
2 - Instalações de barreiras
A instalação de barreiras no canal defuga ou nas imediações da tomadad’água, dado seu alto custo eprobabilidade de não serem efetivas,requer estudos prévios. Os dados de
450 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 8.5 - Barreira física (tela) instalada, em caráterprovisório, a jusante do canal de fuga da UHE Manso(Fotos: H. São Thiago).
monitoramento e os estudos debiotelemetria fornecem as bases paradecisões. Entretanto, aspectosespecíficos da modalidade de barreirarequererão estudos complementares.
As barreiras são alternativastecnológicas utilizadas para impedir(telas), atrair ou repelir (luz, som,corrente elétrica) os peixes através deestímulos diversos. Podem serclassificadas como (i) barreiras físicas,(ii) guias estruturais, e (iii) guiascomportamentais.
• Barreiras físicas (telas): sãoutilizadas para prevenir a entradade peixes nas tomadas d’água ou asua aproximação em áreas de risco ajusante. Amplamente utilizadas, suaefetividade depende das condiçõeshidráulicas locais, do tamanho dospeixes, do tamanho e tipo da malhautilizada e da presença de detritos etroncos em suspensão.Existe um grande númerode variantes das telas(chapas perfuradas, barrasmetálicas, e telaspropriamente ditas).Resíduos e troncos são osprincipais problemas destesdispositivos, que envolvemum alto custo na limpeza ena manutenção. No Brasil,os resultados preliminaresde uma tela instalada ajusante do canal de fuga deManso (Figura 8.5) forampromissores (Helena São
Thiago, Furnas Centrais Elétricas,informação verbal).
• Guias estruturais: são variantes dasgrades já existentes em váriasusinas, nas quais as barras sãodispostas inclinadas em relação aofluxo (Figura 8.6), criando condiçõeshidráulicas específicas para guiar opeixe até um local de menor riscoou que contenham mecanismosseguros de transposição para otrecho a jusante. Nesse caso, o peixenão é impedido de entrar natomada d’água, mas responde àscondições hidráulicas criadas emfrente das estruturas, movendo-seao longo da turbulência em direçãoao local desejado. O sucesso dessetipo de dispositivo depende daresposta do peixe às condiçõescriadas. Isso significa que condiçõeshidráulicas variáveis podem tornaro dispositivo ineficiente, além do
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 451451451451451
Figura 8.6 - Estruturas-guia para peixes tipo cortina(Modificado de ., c2000-2005).SMITH-ROOT, INC
fato de diferentes espécies teremrespostas distintas. No hemisférioNorte, as guias estruturaisgeralmente apresentam umadistância entre barras de duaspolegadas e a velocidade máxima deaproximação da água é de 60 cm/s,com as barras dispostas em ângulo de45º.
Os principais problemas dessasestruturas são os detritos suspensosna água, que podem obstruir total ouparcialmente, requerendo limpezasfreqüentes e manutenção. O acúmulode detritos pode alterar de modorelevante as condições hidráulicaslocais e produzir injúrias nos peixes.
• Guias comportamentais: nessamodalidade está incluída uma grandevariedade de dispositivos queempregam estímulos sensoriais paraobter respostascomportamentais dos peixesque os desviem de áreas derisco, e/ou sejam conduzidospara uma direção desejada.Os peixes podem detectarestímulos luminosos,sonoros, químicos, térmicose de pressão, em limiares, namaioria das vezes, fora dacapacidade de detecção dohomem (ESTADOS UNIDOS,1995).
Luz: barreiras luminosas têmsido consideradas adequadaspelo fato de muitos peixes
apresentarem boa acuidade visual epor não sofrer influências do ruídoproduzido na barragem. Entretanto,apresentam restrições devido àsvariações diárias na luminosidadesubaquática, turbidez da água,atenuação variável entre os diferen-tes comprimentos de ondas e,principalmente, a variação intra-específica na resposta dos peixes aoestímulo luminoso (alguns sãorepelidos, uns atraídos e outrosindiferentes). Entre os tipos maisutilizados de fontes de luz estão a demercúrio e a estroboscópica(pulsátil), sendo esta última a maisbem- sucedida na mudança demovimento dos peixes.
Som: os estudos realizados combarreiras sonoras têm mostradoresultados muito variáveis e,algumas vezes, contraditórios. Essas
452 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Figura 8.7 - Barreira elétrica utilizada para repelir peixes.Observar que os indivíduos maiores são mais sensíveis(Modificado de ., c2000-2005).SMITH-ROOT, INC
Fluxo
Flu
xo
barreiras não têm sua eficiênciadependente da turbidez e, pelo fatodo som se propagar rapidamente epor longas distâncias na água, podeinduzir respostas à distância. Alémdisso, ela é fortemente direcional.Como aspecto negativo, destaca-se ofato de que o excesso de ruídos nasimediações da barragem(funcionamento das turbinas) podeimpedir que o som da barreira sejaouvido pelos peixes. Elevações emsua intensidade podem afetar ospeixes. De qualquer maneira, muitasespécies de peixes também produzemsom, embora estes tenham, em geral,baixa freqüência (até 500Hz).
Campo elétrico: os testes combarreiras elétricas também têmapresentado resultadoscontraditórios. Estes demonstramque são pouco eficientes para evitar oacesso dos peixes à tomada d’água.Resultados melhores têm sidoregistrados nos esforços deimpedir o acesso dos peixesao canal de fuga ou canaldo vertedouro (Figura 8.7).Entretanto, alguns aspectosnegativos têm sido citadosna literatura, ou seja, (i) operigo para outras espécies(aves, mamíferos) quepassam pelo campoelétrico, especialmente apartir das margens; (ii) ocampo elétrico é restritoentre os dois eletrodos e,portanto, pode ser pouco
efetivo para trechos largos de rios;(iii) a susceptibilidade ao campoelétrico depende da espécie e dotamanho do peixe (peixes maioressão mais sensíveis); (iv) a corrosãodos eletrodos implicamonitoramento contínuo esubstituição freqüente.
Cortina de bolhas: ao contrário dasbarreiras elétricas, essa tecnologia émais aplicada para repelir os peixesda tomada d’água. Não é aplicável ajusante, em razão da movimentaçãoda água. Entretanto, os resultadosobtidos em experimentos revelamque sua efetividade depende daespécie considerada. O mecanismopelo qual barreiras desse tiporepelem os peixes não é bementendido. Alguns pesquisadoresatribuem o fato ao ruído produzidopelas bolhas, outros pelaluminosidade da luz por elasrefletida.
Perspectivas Para a Pesca e os Recursos Pesqueiros em Reservatórios 453453453453453
Barreiras híbridas: a combinação dediferentes tipos de barreiras pareceser mais adequada (ESTADOS UNIDOS,1995).
Embora amplamente utilizadas no hemisférioNorte, as barreiras comportamentais forampouco testadas, e a maioria dos trabalhosforam publicados na literatura não-científicae, portanto, não referendada por outrospesquisadores (grey literature), sendo asconclusões encaradas com sérias reservas. Porser uma alternativa que minimiza gastos eque concorre com os interesses de lucro dasindústrias do setor, pouco recurso tem sidoinvestido para seu desenvolvimentotecnológico e, portanto, os estudos têm sidorealizados em situações metodológicasprecárias.
Ações de longo prazo
Há um consenso entre cientistas e agências decontrole ambiental de que o desenvolvimentoda pesquisa, tanto em relação à manipulaçãohidráulica quanto sobre a eficiência dasbarreiras, requer uma combinação de estudosde laboratório e de campo. Isso decorre daatuação de muitas variáveis em trabalhosenvolvendo organismos vivos em ambientesnão controlados. Por exemplo, vários são oscasos em que respostas claras a estímulos emcondições de laboratório não são constatadasem campo (ESTADOS UNIDOS, 1995). Entretanto,
para que as respostas possam ser entendidas emanipuladas, os dados de campo devem sercorroborados por experimentação controladaem laboratório. De outra forma, os resultadosobtidos ficam no âmbito das especulações.
Recomenda-se, portanto, a implantação delaboratórios especializados,preferencialmente em cada bacia (devido àespecificidade da ictiofauna). Esseslaboratórios devem realizar testes específicosacerca das respostas dadas por espécies depeixes da bacia às diferentes condiçõeshidráulicas e hidrológicas a que sãosubmetidos durante a operação da usina(pressão, cisalhamento, supersaturação,turbulência, etc.), bem como sobre a naturezade suas respostas comportamentais aestímulos variados.
Dado o custo com um laboratório que tenhaessa missão e considerando que os protocolosgerados terão interesse para outrasconcessionárias da bacia, é recomendável queos custos decorrentes de sua implantação emanutenção sejam compartilhados pelascompanhias hidrelétricas que têm interessepelo uso do recurso.
Como resultado desses estudos e domonitoramento proposto, espera-se que aofinal sejam elaborados protocolos deoperação para uso em situações de rotina eemergenciais em cada usina.
Capítulo 9Referências
[A LUFADA], Pantanal-Peixes. Disponívelem: <http://www.pantanalms.tur.br/peixes_pantanal3.htm>. Acesso em: 23maio 2006.
AADLAND, L. P. Stream habitat types: theirfish assemblages and relationship to flow.North American Journal of FisheriesManagement, Lawrence, v. 13, no. 4, p. 790-806, 1993.
ABELHA, M. C. F.; AGOSTINHO, A. A.;GOULART, E. Plasticidade trófica em peixesde água doce. Acta Scientiarum, Maringá,v. 23, no. 2, p. 425-434, Apr. 2001.
ABELHA, M. C. F.; GOULART, E.Oportunismo trófico de Geophagusbrasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)(Osteichthyes, Cichlidae) no reservatório deCapivari, Estado do Paraná, Brasil. ActaScientiarum. Biological Sciences, Maringá,v. 26, no. 1, p. 37-45, Jan./Mar. 2004.
ABELHA, M. C. F.; GOULART, E.; PERETTI,D. Estrutura trófica e variação sazonal doespectro alimentar da assembléia de peixesdo reservatório de Capivari, Paraná, Brasil.In: RODRIGUES, L.; THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Org.).Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa,2005. cap. 16, p. 197-209.
ABERNETHY, C. S.; AMIDAN, B. G.; CADA,G. F. Laboratory studies of the effects ofpressure and dissolved gas supersaturationon turbine-passed fish. Falls, Idaho: U.S.
Department of Energy, Idaho OperationOffice, 2001. 66 f., ill. (some col.).
ABERNETHY, C. S.; AMIDAN, B. G.; CADA,G. F. Simulated passage through a modifiedKaplan turbine pressure regime: asupplement to “Laboratory Studies of theEffects of Pressure and Dissolved GasSupersaturation on Turbine-Passed Fish”.Washington, DC: U.S. Department of Energy,2002. [28 f., ill. (some col.)].
ABES, S. S.; AGOSTINHO, A. A.; OKADA, E.K.; GOMES, L. C. Diet of Iheringichthyslabrosus (Pimelodidae, Siluriformes) in theItaipu Reservoir, Paraná River, Brazil-Paraguay. Brazilian Archives of Biology andTechnology, Curitiba, v. 44, no. 1, p. 101-105,Mar. 2001.
ABILHOA, V. Composição, aspectosbiológicos e conservação da ictiofauna doalto curso do rio Iguaçu, regiãoMetropolitana de Curitiba, Paraná, Brasil.Curitiba, 2004. x, 84 f., il. Tese (Doutorado emZoologia) - Universidade Federal do Paraná,Curitiba, 2004.
ABUJANRA, F.; AGOSTINHO, A. A. Dieta deHypophthalmus edentatus (Spix, 1829)(Osteichthyes, Hypophthalmidae) evariações de seu estoque no reservatório deItaipu. Acta Scientiarum. Biological Science,Maringá, v. 24, no. 2, p. 401-410, Apr. 2002.
ADAMS, P. B. Life history patterns in marinefishes and their consequences for fisheriesmanagement. Fishery Bulletin (Washington,DC), v. 78, no. 1, p. 1-11, 1980.
456 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
AGOSTINHO, A. A. A pesca no reservatóriode Sobradinho: considerações sobre a pescano reservatório de Sobradinho e açõesrecomendadas para sua otimização: relatóriotécnico. Salvador: Bahia Pesca S.A., 1998. 73p., il. (algumas color.).
AGOSTINHO, A. A. Considerações sobre aatuação do setor elétrico na preservação dafauna aquática e dos recursos pesqueiros. In:SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E OSETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: REUNIÕESTEMÁTICAS PREPARATÓRIAS, 1993. Rio deJaneiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. p. 8-19. (Caderno 4: Estudos e levantamentos).
AGOSTINHO, A. A.; BINI, L. M.; GOMES, L.C.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.; PAVANELLI, C. S.;AGOSTINHO, C. S. Fish assemblages. In:THOMAZ, S. M.; AGOSTINHO, A. A.;HAHN, N. S. (Ed.). The Upper Paraná Riverand its floodplain: physical aspects, ecologyand conservation. Leiden: BackhuysPublishers, 2004. ch. 10, p. 223-246. (Biologyof inland waters).
AGOSTINHO, A. A.; BORGHETTI, J. R.;VAZZOLER, A. E. A. de M.; GOMES, L. C.Itaipu Reservoir: impacts on theichthyofauna and biological bases for itsmanagement. In: INTERNATIONALWORKSHOP ON REGIONAL APPROACHESTO RESERVOIR DEVELOPMENT ANDMANAGEMENT IN LA PLATA RIVERBASIN, 1994, São Carlos. Proceedings of theenvironmental and social dimensions ofreservoir development and management inthe La Plata River Basin. Nagoya, Japan:UNCRD, 1994. v. 1, p. 135-148. (UNCRDResearch Report Series, 4).
AGOSTINHO, A. A.; FERRETTI, C. M. L.;GOMES, L. C.; HAHN, N. S.; SUZUKI, H. I.;FUGI, R.; ABUJANRA, F. Ictiofauna de doisreservatórios do rio Iguaçu em diferentesfases de colonização: Segredo e Foz do Areia.In: AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Ed.).Reservatório de Segredo: bases ecológicaspara o manejo. Maringá: EDUEM, 1997. cap.15, p. 275-292.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. Aremoção prévia da vegetação nosrepresamentos. Boletim da SociedadeBrasileira de Ictiologia, Maringá, n. 53, p. 13-15, set. 1998.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. Manejo emonitoramento de recursos pesqueiros:perspectivas para o reservatório de Segredo.In: AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Ed.).Reservatório de Segredo: bases ecológicaspara o manejo. Maringá: EDUEM, 1997. cap.17, p. 319-364.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. O manejoda pesca em reservatórios da bacia do altorio Paraná: avaliação e perspectivas. In:NOGUEIRA, M. G.; HENRY, R.; JORCIN, A.(Org.). Ecologia de reservatórios: impactospotenciais, ações de manejo e sistemas emcascata. São Carlos: RiMa, 2005. cap. 2, p. 23-56.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.;FERNANDEZ, D. R.; SUZUKI, H. I. Efficiencyof fish ladders for neotropical ichthyofauna.River Research and Applications, Chichester,v. 18, no. 3, May-June, p. 299-306, 2002.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; JÚLIOJÚNIOR, H. F. Relações entre macrófitasaquáticas e fauna de peixes. In: THOMAZ, S.M.; BINI, L. M. (Ed.). Ecologia e manejo demacrófitas aquáticas. Maringá: EDUEM, 2003.cap. 13, p. 261-279.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; LATINI, J.D. Fisheries management in Brazilianreservoirs: Lessons from/for South America.Interciencia, Caracas, v. 29, no. 6, p. 334-338,June 2004.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; SUZUKI,H. I.; JÚLIO JÚNIOR, H. F. Migratory fishesof the Upper Paraná River Basin, Brazil. In:CAROLSFELD, J.; HARVEY, B.; ROSS, C.;BAER, A. (Ed.). Migratory fishes of SouthAmerica: biology, fisheries and conservationstatus. Ottawa: World Fisheries Trust:International Development Research Centre;
Referências 457457457457457
Washington, D.C.: International Bank forReconstruction and Development/TheWorld Bank, c2003. ch. 2, p. 19-98.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; SUZUKI,H. I.; JÚLIO JÚNIOR, H. F. Riscos daimplantação de cultivos de espécies exóticasem tanques-redes em reservatórios do RioIguaçu. Cadernos da Biodiversidade,Curitiba, v. 2, n. 2, p. 1-9, dez. 1999.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.;VERÍSSIMO, S.; OKADA, E. K. Flood regime,dam regulation and fish in the Upper ParanáRiver: effects on assemblage attributes,reproduction and recruitment. Reviews inFish Biology and Fisheries, Dordrecht, v.14,no. 1, p.11-19, June 2004.
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.;ZALEWSKI, M. The importance offloodplains for the dynamics of fishcommunities of the Upper River Paraná.International Journal of Ecohydrology &Hydrobiology, Warsaw, v. 1, no. 1-2, p. 209-217, 2001.
AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.Ameaça ecológica: peixes de outras águas.Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 21, n. 124, p.36-44, set./out. 1996.
AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.Peixes da bacia do alto rio Paraná. In: LOWE-MCCONNEL, R. H. Estudos ecológicos decomunidades de peixes tropicais. Tradução:Anna Emília A. de M. Vazzoler, AngeloAntônio Agostinho, Patrícia T. M.Cunningham. São Paulo: EDUSP, 1999. cap.16, p. 374-400. (Coleção Base). Título dooriginal em inglês: Ecological studies intropical fish communities.
AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.;BORGHETTI, J. R. Considerações sobre osimpactos dos represamentos na ictiofauna emedidas para sua atenuação. Um estudo decaso: reservatório de Itaipu. RevistaUNIMAR, Maringá, v. 14(Suplemento), p. 89-107, 1992.
AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.;GOMES, L. C.; BINI, L. M.; AGOSTINHO, C. S.Composição, abundância e distribuiçãoespaço-temporal da ictiofauna. In:VAZZOLER, A. E. A. de M.; AGOSTINHO, A.A.; HAHN, N. S. (Ed.). A planície deinundação do alto rio Paraná: aspectos físicos,biológicos e socioeconômicos. Maringá:EDUEM: Nupélia, 1997. cap. II.4, p. 179-208.
AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.;PETRERE JUNIOR., M. Itaipu reservoir(Brazil): impacts of the impoundment on thefish fauna and fisheries. In: COWX, I. G. (Ed.).Rehabilitation of freshwater fisheries. OsneyMead: Fishing News Books, 1994. ch. 16,p.171-184.
AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.;TORLONI, C. E. Impactos causados pelaintrodução e transferência de espéciesaquáticas: uma síntese. In: SIMPÓSIOBRASILEIRO DE AQÜICULTURA, 8., 1994,Piracicaba. Anais de... Piracicaba: FEALQ,2000. p. 59-75.
AGOSTINHO, A. A.; MENDES, V. P.; SUZUKI,H. I.; CANZI, C. Avaliação da atividadereprodutiva da comunidade de peixes dosprimeiros quilômetros a jusante doreservatório de Itaipu. Revista UNIMAR,Maringá, v. 15(Suplemento), p. 175-189, 1993.
AGOSTINHO, A. A.; MIRANDA, L. E.; BINI,L. M.; GOMES, L. C.; THOMAZ, S. M.;SUZUKI, H. I. Patterns of colonization inneotropical reservoirs, and prognoses onaging. In: TUNDISI, J. G.; STRASKRABA, M.(Ed.). Theoretical reservoir ecology and itsapplications. São Carlos: InternationalInstitute of Ecology; Leiden, TheNetherlands: Backhuys Publishers; Rio deJaneiro: Brazilian Academy of Sciences, 1999.p. 227-265.
AGOSTINHO, A. A.; OKADA, E. K.;GREGORIS, J. A pesca no reservatório deItaipu: aspectos socioeconômicos e impactosdo represamento. In: HENRY, R. (Ed.).Ecologia de reservatórios: estrutura, função e
458 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
aspectos sociais. Botucatu: FAPESP/FUNDIBIO, 1999. cap. 10, p. 279-320.
AGOSTINHO, A. A.; PELICICE, F. M.; JÚLIOJÚNIOR, H. F. Biodiversidade e introduçãode espécies de peixes: unidades deconservação. In: CAMPOS, J. B.; TOSSULINO,M. G. P.; MÜLLER, C. R. C. (Org.). Unidadesde conservação: ações para valorização dabiodiversidade. Curitiba: InstitutoAmbiental do Paraná (IAP), 2006. p. 95-117.
AGOSTINHO, A. A.; PELICICE, F. M.; JÚLIOJÚNIOR, H. F. Introdução de espécies depeixes em águas continentais brasileiras:uma síntese. In: ROCHA, O.; ESPÍNDOLA, E.L. G.; FENERICH-VERANI, N.; VERANI, J.R.; RIETZLER, A. C. (Org.). Espéciesinvasoras em águas doces: estudos de caso epropostas de manejo. São Carlos: Ed. daUniversidade Federal de São Carlos, 2005.cap. 2, p. 13-24.
AGOSTINHO, A. A.; THOMAZ, S. M.;GOMES, L. C. Conservation of thebiodiversity of Brazil´s inland waters.Conservation Biology, Oxford, v. 19, no. 3, p.646-652, June 2005.
AGOSTINHO, A. A.; THOMAZ, S. M.;GOMES, L. C. Threats for biodiversity in thefloodplain of the Upper Paraná River: effectsof hydrological regulation by dams.International Journal of Ecohydrology &Hydrobiology, Warsaw, v. 4, no. 3, p. 267-280, 2004.
AGOSTINHO, A. A.; THOMAZ, S. M.;GOMES, L. C.; BALTAR, S.L.S.M.A. Influenceof the macrophyte Eichhornia azurea on fishassemblage of the Upper Paraná RiverFloodplain (Brazil). Aquatic Ecology. Noprelo.
AGOSTINHO, A. A.; THOMAZ, S. M.;MINTE-VERA, C. V.; WINEMILLER, K. O.Biodiversity in the High Paraná RiverFloodplain. In: GOPAL, B.; JUNK, W. J.;DAVIS, J. A. (Ed.). Biodiversity in wetlands:assessment, function and conservation.
Leiden, The Netherlands: BackhuysPublishers, 2000. v. 1, p. 89-118.
AGOSTINHO, A. A.; THOMAZ, S. M.;NAKATANI, K. A planície de inundação doalto rio Paraná: Site 6. In: SEELIGER, U.;CORDAZZO, C.; BARBOSA, F. (Ed.). Os sitese o programa brasileiro de pesquisasecológicas de longa duração (PELD). BeloHorizonte: MCT/CNPq. Programa PELD,2002. p. 101-124.
AGOSTINHO, A. A.; VAZZOLER, A. E. A. deM.; GOMES, L. C.; OKADA, E. K.Estratificación espacial y comportamiento deProchilodus scrofa en distintas fases del ciclode vida, en la planicie de inundación del altorío Paraná y embalse de Itaipu, Paraná,Brazil. Revue D’ Hydrobiologie Tropicale,Paris, v. 26, n. 1, p. 79-90, 1993.
AGOSTINHO, A. A.; VAZZOLER, A. E. A. deM.; THOMAZ, S. M. The High River Paranábasin: limnological and ichthyologicalaspects. In: TUNDISI, J. G.; BICUDO, C. E. M.;MATSUMURA-TUNDISI, T. (Ed.). Limnologyin Brazil. Rio de Janeiro: ABC/SBL, 1995. p.59-103.
AGOSTINHO, A. A.; ZALEWSKI, M. APlanície alagável do alto rio Parana:importância e preservação = (Upper ParanáRiver floodplain: importance andpreservation). Maringá: EDUEM, 1996. 100 p.,il.
AGOSTINHO, A. A.; ZALEWSKI, M. Thedependence of fish community structure anddynamics on floodplain and riparian ecotonezone in Paraná River, Brazil. Hydrobiologia,Dordrecht, v. 303, no. 1-3, p.141-148, Apr.1995.
AGOSTINHO, C. S.; AGOSTINHO, A. A.;MARQUES, E. E.; BINI, L. M. Abiotic factorsinfluencing piranha attacks on netted fish inthe Upper Paraná River, Brazil. NorthAmerican Journal of Fisheries Management,Bethesda, Maryland, v. 17, no. 3, p. 712-718,Aug. 1997.
Referências 459459459459459
AGOSTINHO, C. S.; FREITAS, I. S.; PEREIRA,C. R.; OLIVEIRA, R. J.; MARQUES, E. E.Levantamento das espécies que ascendem aescada de peixe da UHE Luís EduardoMagalhães, Lajeado - TO. In: CONGRESSOBRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 25., Brasília,DF, 2004. Resumos... Brasilia, DF: SociedadeBrasileira de Zoologia, 2004. p. 348.
AGOSTINHO, C. S.; HAHN, N. S.;MARQUES, E. E. Patterns of food resourceuse by two congeneric species of piranhas(Serrassalmus) on the Upper Paraná Riverfloodplain. Brazilian Journal of Biology,São Carlos, v. 63, no. 2, p. 177-182, May2003.
AGOSTINHO, C. S.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.Observation of an invasion of the piranhaSerrasalmus marginatus Valenciennes, 1847(Osteichthyes, Serrasalmidae) into theUpper Paraná River, Brazil. ActaScientiarum. Biological Science, Maringá, v.24, no. 2, p. 391-395, Apr. 2002.
ALLAN, J. D.; ABELL, R.; HOGAN, Z.;REVENGA, C.; TAYLOR, B. W.;WELCOMME, R. L.; WINEMILLER, K.Overfishing in inland waters. BioScience,Washington DC, v. 55, no. 12, p. 1041-1051,Dez. 2005.
ALVES, C. B. M. Influência da manipulaçãoartificial da época de enchimento naprodutividade ictiofaunística em umreservatório de médio porte - UHE-Cajuru,rio Pará (MG): uma proposta de manejo.Belo Horizonte, 1995. 64 f., il. Dissertação(Mestrado em Ecologia, Conservação eManejo da Vida Silvestre) - Instituto deCiências Biológicas, Universidade Federalde Minas Gerais, Belo Horizonte, 1995.
ALVES, C. B. M.; GODINHO, A. L.;GODINHO, H. P.; TORQUATO, V. C. Aictiofauna da represa de Itutinga, RioGrande (Minas Gerais - Brasil). RevistaBrasileira de Biologia, Rio de Janeiro, v. 58,n. 1, p. 121-129, fev. 1998.
ALVES, C. B. M.; VONO, V.; VIEIRA, F.Presence of the walking catfish Clariasgariepinus (Burchell) (Siluriformes,Clariidae) in Minas Gerais Statehydrographic basins, Brazil. RevistaBrasileira de Zoologia, Curitiba, v. 16, n. 1,p. 259-263, mar. 1999.
ALVES, R. C. P.; BACCARIN, A. E. Efeito daprodução de peixes em tanques-rede sobresedimentação de material em suspensão ede nutrientes no córrego da Arribada (UHENova Avanhandava, baixo rio Tietê, SP). In:NOGUEIRA, M. G.; HENRY, R.; JORCIN, A.(Org.). Ecologia de reservatórios: impactospotenciais, ações de manejo e sistemas emcascata. São Carlos: RiMa, 2005. cap. 14, p.329-348.
ALVIM, M. C. C. Composição e alimentaçãoda ictiofauna em um trecho do alto rio SãoFrancisco, município de Três Marias - MG.São Carlos, 1999. 98 f., il. Dissertação(Mestrado em Ecologia e RecursosNaturais). – Centro de Ciências Biológicas eda Saúde, Universidade Federal de SãoCarlos, São Carlos, 1999.
ALVIM, M. C. C.; PERET, A. C. Foodresources sustaining the fish fauna in asection of the Upper São Francisco River inTrês Marias, MG, Brazil. Brazilian Journalof Biology, São Carlos, v. 64, no. 2, p. 195-202, May 2004.
ALZUGUIR, F. Histórico da legislaçãoreferente à proteção dos recursos ícticos deágua doce. In: SEMINÁRIO SOBRE FAUNAAQUÁTICA E O SETOR ELÉTRICOBRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICASPREPARATÓRIAS, 1994. Rio de Janeiro:ELETROBRÁS: COMASE, 1994. p. 19-32.(Caderno 2: Legislação).
AMARAL, B. D.; PETRERE JUNIOR, M. Alfaand beta diversities in the fish communityof the Promissão Reservoir (SP-Brazil):scales, complexities and ecotoneheterogeneity. In: ZALEWISK, M.; THORPE,J. E. (Ed.). Fish and land/island water
460 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ecotones. [S.l.]: Unesco, 1993. ch. 13, p. 1-15(Unesco/Mab Series).
AMARASINGHE, U. S.; DE SILVA, S. S. SriLankan reservoir fishery: a case forintroduction of a co-management strategy.Fisheries Management and Ecology, Oxford,v. 6, no. 5, p. 387-399, Oct. 1999.
AMBRÓSIO, A. M.; AGOSTINHO, A. A.;GOMES, L. C.; OKADA, E. K. The fishery andfishery yield of Hypophthalmus edentatus (Spix,1829), (Siluriformes, Hypophthalmidae), inthe Itaipu reservoir, Paraná State, Brazil. ActaLimnologica Brasiliensia, Botucatu, v. 13, n. 1,p. 93-105, 2001.
ANTONIO, R. R. Movimentos ascendentes edescendentes de grandes peixes migradores apartir de uma barragem hidrelétrica semmecanismos de transposição. Maringá, 2006.20 f., il. Monografia (Especialização emBiologia Aquática) – Departamento deBiologia, Universidade Estadual de Maringá,Maringá, 2006.
ANTÔNIO, R. R.; LATINI, A. O.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. Influênciados troncos submersos na abundância depeixes do reservatório de Mourão (bacia doIvaí-Paraná) após 40 anos do enchimento. In:ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA,16., João Pessoa, PB, 2005. Resumos... JoãoPessoa: Universidade Federal da Paraíba,2005. p. 100-101.
ANTONIO, R. R.; OKADA, E. K.; DIAS, J. H. P.;AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JÚNIOR, H. F.Movimentos de peixes migradores na baciado rio Paraná, a partir da barragem de PortoPrimavera - SP. In: ENCONTRO BRASILEIRODE ICTIOLOGIA, 13., São Carlos, SP, 1999.Resumos... São Carlos: Universidade Federalde São Carlos, 1999. p. 562.
ARAUJO, F. G. Composição e estrutura dacomunidade de peixes do médio e baixo rioParaíba do Sul, RJ. Revista Brasileira deBiologia, Rio de Janeiro, v. 56, n. 1, p. 111-126,fev. 1996.
ARAUJO, F. G.; SANTOS, L. N. Distribution offish assemblages in Lajes Reservoir, Rio deJaneiro, Brazil. Brazilian Journal of Biology,São Carlos, v. 61, no. 4, p. 563-576, Nov. 2001.
ARAÚJO-LIMA, C. A. R. M.; AGOSTINHO, A.A.; FABRÉ, N. N. Trophic aspects of fishcommunities in brazilian rivers andreservoirs. In: TUNDISI, J. G.; BICUDO, C. E.M.; MATSUMURA-TUNDISI, T. (Ed.).Limnology in Brazil. São Paulo: ABC/SBL,1995. p. 105-136.
ARAÚJO-LIMA, C. A. R. M.; RUFFINO, M. L.Migratory fishes of the brazilian Amazon. In:CAROLSFELD, J.; HARVEY, B.; ROSS, C.;BAER, A. (Ed.). Migratory fishes of SouthAmerica: biology, fisheries and conservationstatus. Ottawa: World Fisheries Trust:International Development Research Centre;Washington, D.C.: International Bank forReconstruction and Development/TheWorld Bank, c2003. ch. 6, p. 233-301.
ARCIFA, M. S.; FROEHLICH, O.;NORTHCOTE, T. G. Distribution and feedingecology of fishes in a tropical Brazilianreservoir. Memoria de la Sociedad deCiencias Naturales La Salle, Caracas, v. 48,Supl., p. 301-326, 1988.
ARCIFA, M. S.; MESCHIATTI, A. J.Distribution and feeding ecology of fishes ina brazilian reservoir: Lake Monte Alegre.Interciencia, Caracas, v. 18, no. 6, p. 302-313,Nov.-Dec. 1993.
ARGENTINA. Secretaría de Ciencia,Tecnología e Innovación Productiva (SECYT).Pautas de manejo para la operación delsistema de transferência para peces deYacyretá. Santa Fé, 1996. 65 p. ConvenioSECYT-CONICET-EBY, Grupo GBIO INTEC-CERIDE, Setiembre 1996, Actacomplementaria nº 5 del convenio marcoSECYT-CONICET-EBY, Informe final(Anexo).
ASSAD, L. T.; BURSZTYN, M. Aqüiculturasustentável. In: VALENTI, W. C.; POLI, C. R.;
Referências 461461461461461
PEREIRA, J. A.; BORGHETTI, J. R. (Ed.).Aqüicultura no Brasil: bases para umdesenvolvimento sustentável. Brasília, DF:CNPq: Ministério da Ciência e Tecnologia,2000. cap. 1, p. 33-72.
AVAKYAN, A. B.; IAKOVLEVA, V. B. Statusof global reservoirs: the position in the latetwentieth century. Lake and Reservoirs:Research and Management, Carlton South,v. 3, no. 1, p. 45-52, Mar. 1998.
AZEVEDO, P.; GOMES, A. L. Contribuiçãoao estudo da biologia da traíra Hopliasmalabarica (Bloch, 1794). Boletim deIndustria Animal: publicação doDepartamento da Produção Animal daSecretaria da Agricultura, Indústria eComércio, São Paulo, v. 5, n. 4, p. 15-55, out.1942.
BALL, J.; WELDON, C.; CROCKER, B.Effects of original vegetation on reservoirwater quality: research project completionreport, project no. A-025-Texas (July 1, 1973– January 1, 1975). Texas: Texas WaterResources Institute. Texas A&M University,1975. 120 p. ill. (Technical report, no. 64).
BALON, E. K. Fish production of a tropicalecosystem. In: BALON, E. K.; COCHE, A. G.(Ed.). Lake Kariba: a man-made tropicalecosystem in Central Africa. Hague, TheNetherlands: Dr. W. Junk Publishers, 1974.pt. 2, p. 249-676. (Monographiae biologicae,v. 24).
BALON, E. K. Results of fish population sizeassessments in Lake Kariba coves (Zambia),a decade after their creation. In:ACKERMANN, W.C.; WHITE, G.F.;WORTHINGTON, E.B.; IVENS, J.L. (Ed.).Man-made lakes: their problems andenvironmental effects. Washington, DC:American Geophysical Union, 1973. p. 149-158. (Geophysical monograph, v. 17).
BARBER, W. E.; TAYLOR, J. N. Theimportance of goals, objectives, and valuesin the fisheries management process and
organization: a review. North AmericanJournal of Fisheries Management, Bethesda,Maryland, v. 10, no. 4, p. 365-373, 1990.
BARBIERI, G. Biologia de Astyanaxscabripinnis paranae (Characiformes,Characidae) do ribeirão do Fazzari. SãoCarlos. Estado de São Paulo. II. Aspectosquantitativos da reprodução. RevistaBrasileira de Biologia, Rio de Janeiro, v. 52,n. 4, p. 589-596, nov. 1992.
BARBIERI, G. Dinâmica da reprodução docascudo, Rineloricaria latirostris Boulenger(Siluriformes, Loricariidae) do rio PassaCinco, Ipeúna, São Paulo. Revista Brasileirade Zoologia, Curitiba, v. 11, n. 4, p. 605-615,dez. 1994.
BARBIERI, G. Dinâmica da reprodução ecrescimento de Hoplias malabaricus (Bloch,1794) (Osteichthyes, Erythrinidae) darepresa do Monjolinho, São Carlos/SP.Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, v.6, n. 2, p. 225-233, ago. 1989.
BARBIERI, G.; SALLES, F. A.; CESTAROLLI,M. A. Influência de fatores abióticos nareprodução do dourado, Salminus maxillosuse do curimbatá, Prochilodus lineatus do RioMogi Guaçu (Cachoeira de Emas,Pirassununga/SP). Acta LimnologicaBrasiliensia, Botucatu, v. 12, n. 2, p. 85-91,2000.
BARBOSA, F. A. R.; PADISÁK, J.;ESPÍNDOLA, E. L. G.; BORICS, G.; ROCHA,O. The cascading reservoir continuumconcept (CRCC) and its application to theriver Tietê-basin, São Paulo State, Brazil. In:TUNDISI, J. G.; STRASKRABA, M. (Ed.).Theoretical reservoir ecology and itsapplications. São Carlos: InternationalInstitute of Ecology; Leiden, TheNetherlands: Backhuys Publishers; Rio deJaneiro: Brazilian Academy of Sciences,1999. p. 425-437.
BARROS, M. T. L. As obras hidráulicas doDepartamento de Águas e Energia Elétrica -
462 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
DAEE na bacia do alto rio Tietê. In:WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, São Paulo.São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 31-48.
BARTHEM, R.; GOULDING, M. Os bagresbalizadores: ecologia, migração econservação de peixes amazônicos. Tefé, AM:Sociedade Civil Mamirauá; Brasilia, DF:CNPq, 1997. 130 p., il.
BARTHEM, R. B.; RIBEIRO, M. C. L. de B.;PETRERE JUNIOR, M. Life strategies of somelong-distance migratory catfish in relation tohydroelectric dams in the Amazon Basin.Biological Conservation, London, v. 55, p.339-345, 1991.
BAXTER, R. M. Environmental effects ofdams and impoundments. Annual Review inEcology and Systematics, no. 8, p. 255-283,1977.
BAYLEY, P. B.; PETRERE JUNIOR, M.Amazon fisheries: assessment methods,current status and management options. In:Dodge, D.P. (Ed.). Proceedings of theInternational Large River Symposium(LARS) (Honey Harbour, Ontario, Canada,September 14-21, 1986). Ottawa: Departmentof Fisheries and Oceans, 1989. p. 385-398.(Canadian special publication of Fisheriesand Aquatic Sciences, v. 106).
BEAM, J. H. The effect of annual water levelmanagement on population trends of whitecrappie in Elk City Reservoir, Kansas. NorthAmerican Journal of Fisheries Management,Bethesda, Maryland, v. 3, no. 1, p. 34-40, 1983.
BECHARA, J. A.; DOMITROVIC, H. A.;FLORES QUINTANA, C.; ROUX, J. P.;JACOBO, W. R.; GAVILÁN, G. The effect ofgas supersaturation on fish health belowYacyretá Dam (Paraná River, Argentina). In:ECOHYDRAULICS = ÉCOHYDRAULIQUE2000: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
HABITAT HYDRAULICS = SYMPOSIUMINTERNATIONAL SUR L’HYDRAULIQUE ETLES HABITATS, 2nd, Québec, June/juin 1996.Proceedings=Comptes-rendus... Québec :INRS-Eau: FQSA, IAHR/AIRH, 1996. v. A, p.3-12.
BECKER, F. G.; GROSSER, K. M. Pisciculturae a introdução de espécies de peixes não-nativas no RS: riscos ambientais. PortoAlegre: Museu de Ciências Naturais:Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul,2003. 29 p., il.
BEGOSSI, A. Property rights for fisheries atdifferent scales: applications for conservationin Brazil. Fisheries Research, Amsterdam, v.34, no. 3, p. 269-278, Apr. 1998.
BELL, M. C.; DELACY, A. C. A compendiumon the survival of fish passing throughspillways and conduits. Portland, Oregon:U.S. Army Corps of Engineers, North PacificDivision, 1972. 121p., ill. Report on FisheryEngineers Research Program.
BENEDITO-CECILIO, E.; AGOSTINHO, A. A.;JÚLIO JÚNIOR, H. F.; PAVANELLI, C. S.Colonização ictiofaunística do reservatóriode Itaipu e áreas adjacentes. RevistaBrasileira de Zoologia, Curitiba, v. 14, n. 1,p. 1-14, jan. 1997.
BENITES, C. Situação atual da aqüicultura naregião Centro-Oeste. In: VALENTI, W. C.;POLI, C. R.; PEREIRA, J. A.; BORGHETTI, J. R.(Ed.). Aquicultura no Brasil: bases para umdesenvolvimento sustentável. Brasília, DF:CNPq: Ministério da Ciência e Tecnologia,2000. cap. 9, p. 289-302.
BENNETT, G. W. Management of lakes andponds. 2nd ed. New York: Van NostrandReinhold, c1970. 375 p., ill.
BERKELEY, S. A.; CHAPMAN, C.; SOGARD,S. M. Maternal age as a determinant of larvalgrowth and survival in a marine fish,Sebastes melanops. Ecology (Washington, DC),v. 85, no. 5, p. 1258-1264, 2004.
Referências 463463463463463
BERKELEY, S. A.; HIXON, M. A.; LARSON, R.J.; LOVE, M. S. Fisheries sustainability viaprotection of age structure and spatialdistribution of fish populations. Fisheries,Washington, DC, v. 29, no. 8, p. 23-32, Aug. 2004.
BERNACSEK, G. M.; LOPES, S. Cahora Bassa(Mozambique). In: KAPETSKY, J. M.; PETR, T.(Ed.). Status of African reservoir fisheries=Etatdes pêcheries dans les réservoirs d’Afrique.CIFA Technical Paper, Rome, no. 10, 1984.Disponível em: <http:www.fao.org>. Acessoem: 12 jun. 2006.
BETTOLI, P. W.; MACEINA, M. J.; NOBLE, R.L.; BETSILL, R. K. Piscivory in largemouthbass as a function of aquatic vegetationabundance. North American Journal ofFisheries Management, Bethesda, Maryland,v. 12, no. 3, p. 509-516, 1992.
BETTOLI, P. W.; MACEINA, M. J.; NOBLE, R.L.; BETSILL, R. K. Response of a reservoir fishcommunity to aquatic vegetation removal.North American Journal of FisheriesManagement, Bethesda, Maryland, v. 13, no.1, p. 110-124, 1993.
BEVERIDGE, M. C. M. Cage and pen fishfarming: carrying capacity models andenvironmental impact. FAO FisheriesTechnical Papers, Rome, no. 255, 1984. 131 p.,ill.
BEVERIDGE, M. C. M. Cage aquaculture.Oxford: Fishing News Books, 1987. 351 p., ill.
BEVERIDGE, M. C. M. Cage aquaculture. 3rd
ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 368 p.,ill.
BIANCHINI JUNIOR, I. Modelos decrescimento e decomposição de macrófitasaquáticas. In: THOMAZ, S. M.; BINI, L. M. (Ed.).Ecologia e manejo de macrófitas aquáticas.Maringá: EDUEM, 2003. cap. 4, p. 85-126.
BIANCHINI JUNIOR, I.; CUNHA-SANTINO,M. B. Projeto básico ambientalaproveitamento hidrelétrico Peixe Angical:
modelagem matemática da qualidade daágua do reservatório. São Carlos: [S. N.],2004. 98 p. Relatório técnico.
BIANCHINI JUNIOR, I.; TOLEDO, A. P. P.Estudo da mineralização de Nymphoides indica(L.) O. Kuntze. In: SEMINÁRIO REGIONALDE ECOLOGIA, 8., São Carlos, 1998. Anaisdo... São Carlos: Universidade Federal de SãoCarlos, 1998. v. 3, p. 1315-1329.
BINI, L. M.; AGOSTINHO, A. A. Dinâmicaespacial e temporal da assembléia de peixesno reservatório de Corumbá. In:UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Furnas. Estudosictiológicos na área de influência do AHECorumbá: biologia e ecologia de peixes doreservatório de Corumbá: bases para omanejo. Elaborado por A. A. Agostinho... [etal.]. Maringá 2001. cap. 5, p. 101-157.Relatório técnico.
BIRKELAND, C.; DAYTON, P. K. Theimportance in fishery management ofleaving the big ones. Trends in Ecology andEvolution, Cambridge, v. 20, no. 7, p. 356-358, July 2005.
BISWAS, A. K. Sustainable waterdevelopment for developing countries.Water Resources Development, Hantz, UK,v. 4, no. 4, p. 232-242, 1988.
BITTENCOURT, M. M. Exploração dosrecursos pesqueiros na Amazônia Central:situação do conhecimento atual. In: VAL, A.L.; FIGLIUOLO, R.; FELDBERG, E. (Org.).Bases científicas para estratégias depreservação e desenvolvimento daAmazônia: fatos e perspectivas. Manaus:Universidade Federal da Amazônia,Imprensa Universitária: INPA, 1991. v. 1, p.321-325.
BONETTO, A. A. Investigaciones sobremigraciones de peces en los ríos de la cuencadel Plata. Ciencia e Investigación, Santa Fé,Ar., v. 19, n. 1-2, p. 12-26, ene.-feb.1963.
464 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
BONETTO, A. A. The Paraná River systems.In: DAVIES, B. R.; WALKER, K. F. (Ed.). Theecology of river systems. Dordrecht, TheNetherlands: Dr. W. Junk Publisher, 1986. ch.11, p. 541-556. (Monographiae biologicae, v.60).
BONETTO, A. A.; CASTELLO, H. P. Pesca ypiscicultura en aguas continentales deAmerica Latina. Washington, D.C.: SecretariaGeneral de la Organización de los EstadosAmericanos. Programa Regional deDesarrolo Científico y Tecnológico, 1985. 118p.
BORGHETTI, J. R. Estimativa da pesca eaqüicultura de água doce e marinha. In:CARNEIRO, M. H. (Ed.). A sustentabilidadedas atividades de aqüicultura e pesca(Conferências selecionadas da VI ReuniãoAnual do Instituto de Pesca). São Paulo:Instituto de Pesca/APTA/SAA, 2000. p. 8-14.(Série de Relatórios técnicos, n. 3).
BORGHETTI, J. R.; CANZI, C. The effect ofwater temperature and feeding rate on thegrowth rate of pacu (Piaractus mesopotamicus)raised in cages. Aquaculture, Amsterdam, v.114, p. 93-101, 1993.
BORGHETTI, J. R.; NOGUEIRA, V. S. G.;BORGHETTI, N. R. B.; CANZI, C. The fishladder at the Itaipu BinationalHydroelectric complex on the Paraná River,Brazil. Regulated Rivers: Research &Management, Chichester, v. 9, no. 2, p. 127-130, June 1994.
BORGHETTI, J. R.; PÉREZ CHENA, D.;NOGUEIRA, S. V. G. Installation of a fishmigration channel for spawning at Itaipu.International Water Power & DamConstruction, London, v. 45, no. 5, p. 24-25,1993.
BOUCK, G. R. Etiology of gas bubbledisease. Transactions of the AmericanFisheries Society, Bethesda, Maryland, v.109, no. 6, p. 703-707, Nov. 1980.
BOWEN, S. H. Detritivory in neotropicalfish communities. Environmental Biologyof Fishes, Dordrecht, v. 9, no. 2, p. 137-144,Sept. 1983.
BOYD, C. E. The limnological role ofaquatic macrophytes and their relationshipto reservoir management. In: HALL, G. E.(Ed.). Reservoir fisheries and limnology.Washington, DC: American FisheriesSociety, c1971. p. 153-166. (Specialpublications, no. 8).
BRAGA, F. M. S. Biologia e pesca dePimelodus maculatus (Siluriformes,Pimelodidae), no reservatório de VoltaGrande, Rio Grande (MG-SP). ActaLimnologica Brasiliensia, Botucatu, v. 12, n.2, p. 1-14, 2000.
BRAGA, F. M. S.; GOMIERO, L. M. Análise dapesca experimental realizada no reservatóriode Volta Grande, rio Grande (MG-SP).Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, v.24, p. 131-138, 1997.
BRANDIMARTE, A. L.; ANAYA, M.;SHIMIZU, G. Y. Comunidades deinvertebrados bentônicos nas fases pré e pós-enchimento em reservatórios: um estudo decaso no reservatório de aproveitamentomúltiplo do rio Mogi-Guaçu (SP). In:HENRY, R. (Ed.). Ecologia de reservatórios:estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu:FAPESP/FUNDIBIO, 1999. cap. 13, p. 375-408.
BRITSKI, H. A. Conhecimento atual dasrelações filogenéticas de peixes neotropicais.In: AGOSTINHO, A. A.; BENEDITO-CECÍLIO,E. (Ed.). Situação atual e perspectivas daIctiologia no Brasil (Documentos do IXEncontro Brasileiro de Ictiologia). Maringá:Ed. da UEM, 1992. cap. 6, p. 42-57.
BRITTO, S. G.; SIROL, R. N. Transposição depeixes como forma de manejo: as escadas docomplexo Canoas, médio rio Paranapanema,bacia do alto Paraná. In: NOGUEIRA, M. G.;HENRY, R.; JORCIN, A. (Org.). Ecologia dereservatórios: impactos potenciais, ações de
Referências 465465465465465
manejo e sistemas em cascata. São Carlos:RiMa, 2005. cap. 12, p. 285-304.
BRUSCHI JUNIOR, W.; PERET, A. C.;VERANI, J. R.; FIALHO, C. B. Reprodução deLoricariichthys anus (Valenciennes, 1840) dalagoa Emboaba, Osório, RS, Brasil. RevistaBrasileira de Biologia, Rio de Janeiro, v. 57,n. 4, p. 677-685, nov. 1997.
CADA, G. F. Fish passage mitigation athydroelectric power projects in the UnitedStates. In: JUNGWIRTH, M.; SCHMUTZ, S.;WEISS, S. (Ed.). Fish migration and fishbypasses. Oxford: Fishing News Books,1998. ch. 16, p. 208-219.
CADA, G. F.; COUTANT, C. C.; WHITNEY,R. R. Development of biological criteria forthe design of advanced hydropowerturbines. Idaho Falls, Idaho: U.S.Department of Energy, Idaho OperationsOffice, 1997. 85 p. (DOE/ID-10578).
CALAINHO, J. A. L.; HORTA, C. A.;GONÇALVES, C.; LOMÔNACO, F. G.Cavitação em turbinas hidráulicas do tipoFrancis e Kaplan no Brasil. In: SEMINÁRIONACIONAL DE PRODUÇÃO ETRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA(SNPTEE), 15., Foz do Iguaçu, 1999. Anais…Foz do Iguaçu: [S. n.], 1999. Anexo I (6 p.,il.): Grupo de Estudo de Geração Hidráulica.
CALCAGNOTTO, D.; TOLEDO-FILHO, S. A.Loss of genetic variability at the transferrinlocus in five hatchery stocks of tambaqui(Colossoma macropomum). Genetics andMolecular Biology, Ribeirão Preto, v. 23,no. 1, p. 127-130, 2000.
CÂMARA, L. F.; HAHN, L. The fish fauna oftwo tributaries of the Passo Fundo River,Uruguay River basin, Rio Grande do Sul,Brazil. Comunicações do Museu de Ciênciase Tecnologia da PUCRS, Série Zoologia,Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 163-174, dez.2002.
CAMARGO, S. A. F.; PETRERE JUNIOR, M.Análise de risco aplicada ao manejoprecaucionário das pescarias artesanais naregião do reservatório da UHE-Tucuruí(Pará, Brasil). Acta Amazonica, Manaus, v.34, n. 3, p. 473-485, jul./set. 2004.
CAMARGO, S. A. F.; PETRERE JUNIOR, M.Social and financial aspects of the artisanalfisheries of Middle São Francisco River,Minas Gerais, Brazil. Fisheries Managementand Ecology, Oxford, v. 8, no. 2, p. 163-171,Apr. 2001.
CAMPBELL, P. G.; BOBEE, B.; CAILLE, A.;DEMALSY, M. J.; DEMALSY, P.; SASSEVILLE,J. L.; VISSER, S. A. Pre-impoundment sitepreparation: a study of the effects of topsoilstripping on reservoir water quality.Verhandlungen, Internationale VereinigungFur Theoretische Und AngewandteLimnologie, Stuttgart, v. 19, pt. 3, p. 1768-1777, Nov. 1975.
CANFIELD, Jr., D. E.; SHIREMAN, J. V.;COLLE, D. E.; HALLER, W. T.; WATKINS, II,C. E.; MACEINA, M. J. Prediction ofchlorophyll a concentrations in FloridaLakes: importance of aquatic macrophytes.Canadian Journal of Fisheries and AquaticSciences, Ottawa, v. 41, no. 1, p. 497-501, Jan.1984.
CANZI, C.; BORGHETTI, J. R.; FERNANDEZ,D. R. The effects of different treatments onthe survival and development of pacu larvae(Piaractus mesopotamicus). Arquivos deBiologia e Tecnologia, Curitiba, v. 35, n. 1, p.117-127, mar. 1992.
CARLANDER, K. D. An operational-functional classification of fisherymanagement tecniques. Verhandlungen,Internationale Vereinigung Fur TheoretischeUnd Angewandte Limnologie, Stuttgart,v.17, pt. 2, p. 636-640, Nov. 1969.
CARNEIRO, P. C. F.; CYRINO, J. E. P.;CASTAGNOLLI, N. Produção da tilápia
466 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
vermelha da Flórida em tanques-rede.Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, no. 3, p.673-679, July 1999.
CAROLSFELD, J.; HARVEY, B.; ROSS, C.;BAER, A. (Ed.). Migratory fishes of SouthAmerica: biology, fisheries and conservationstatus. Ottawa: World Fisheries Trust:International Development Research Centre;Washington, D.C.: International Bank forReconstruction and Development/TheWorld Bank, c2003. 372 p., ill.
CARVALHO, A. R. Social and structuralaspects of artisanal fishing in the UpperParaná River Floodplain (Brazil). Boletim doInstituto de Pesca, São Paulo, v. 30, n. 1, p.35-42, 2004.
CARVALHO, E. D.; SILVA, V. F. B. Aspectosecológicos da ictiofauna e da produçãopesqueira do reservatório de Jurumirim (altodo rio Paranapanema, São Paulo). In:HENRY, R. (Ed.). Ecologia de reservatórios:estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu:FUNDIBIO/FAPESP, 1999. cap. 26, p. 769-800.
CARVALHO, J. L.; MÉRONA, B. Estudossobre dois peixes migratórios do baixoTocantins, antes do fechamento da barragemde Tucuruí. Amazoniana, Kiel, v. 9, no. 4, p.595-607, Juni 1986.
CASATTI, L.; MENDES, H. F.; FERREIRA, K.M. Aquatic macrophytes as feeding site forsmall fishes in the Rosana Reservoir,Paranapanema River, southeastern Brazil.Brazilian Journal of Biology, São Carlos, v.63, no. 2, p. 213-222, May 2003.
CASEIRO, A.; KUBITZA, F. Viabilidadeeconômica da produção comercial de tilápiasem tanques de terra. Panorama daAqüicultura, Rio de Janeiro, v. 13, n. 75, p.61-65, jan./fev. 2003.
CASSEMIRO, F. A. S.; HAHN, N. S.;RANGEL, T. F. L. V. B. Diet and trophicecomorphology of the silverside, Odontesthes
bonariensis, of the Salto Caxias reservoir, rioIguaçu, Paraná, Brazil. NeotropicalIchthyology, São Paulo, v. 1, no. 2, p. 127-131,Oct./Dec. 2003.
CASTRO, A. C. L. Aspectos ecológicos dacomunidade ictiofaunística do reservatóriode Barra Bonita, SP. Revista Brasileira deBiologia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 4, p. 665-676,nov. 1997.
CASTRO, F.; BEGOSSI, A. Ecology of fishingon the Grande River (Brazil): technology andterritorial rights. Fisheries Research,Amsterdam, v. 23, no. 3/4, p. 361-373, June1995.
CASTRO, R. M. C.; ARCIFA, M. S.Comunidades de peixes de reservatórios nosul do Brasil. Revista Brasileira de Biologia,Rio de Janeiro, v. 47, n. 4, p. 493-500, nov.1987.
CASTRO, R. M. C.; CASATTI, L. The fish faunafrom a small forest stream of the UpperParaná River basin, southeastern Brazil.Ichthyological Explorations of Freshwaters,München, v. 7, no. 4, p. 337-352, Mar. 1997.
CATELLA, A. C.; PETRERE JUNIOR, M.Feeding patterns in a fish community of baiada Onça, a floodplain lake of the AquidauanaRiver, Pantanal, Brazil. FisheriesManagement and Ecology, Osney Mead, v. 3,no. 3, p. 229-237, Sept. 1996.
CEREGATO, S. A.; PETRERE JUNIOR, M.Financial comparisons of the artisanalfisheries in Urubupungá complex in theMiddle Paraná River (Brazil). BrazilianJournal of Biology, São Carlos, v. 63, no. 4, p.673-682, Nov. 2003.
CESP. Aspectos limnológicos, ictiológicos epesqueiros de reservatórios da CESP noperíodo de 1986 a 1994. São Paulo, 1996. 78 p.,il. (Série Pesquisa e desenvolvimento, 136).
CESP. Conservação e manejo nosreservatórios: limnologia, ictiologia e pesca.
Referências 467467467467467
São Paulo, 1998. 166 p., il. (algumas color.).(Série Divulgação e informação, 220).
CESP. Engenheiro Sérgio Motta, Programa deconservação da ictiofauna: relatório deoperação do elevador para peixes - período1999/2000. São Paulo, 2000b. 12 p., il.(algumas color.).
CESP. Programa de manejo pesqueiro:atividades desenvolvidas 2000-2004, plano detrabalho 2004-2005. São Paulo, 2005. p. 242-312(algumas color.).
CESP. Programa de manejo pesqueiro: planode trabalho 2000-2001. São Paulo, 2000a. 74 f.,il. (algumas color.).
CESP. UHE Engenheiro Sérgio Motta,Programa de monitoramento da ictiofauna erecursos pesqueiros: período 1999-2001. SãoPaulo, 2001. [39 p.]., il. (algumas color.).
CESP. Usina Hidrelétrica Porto Primavera:estudo de impacto ambiental. São Paulo:Consórcio THEMAG/ENGEA/UMAH, 1994.v. 2a: Diagnóstico do meio biótico.
CETRA, M.; PETRERE JUNIOR, M. Small-scale fisheries in the middle River Tocantins,Imperatriz (MA), Brazil. FisheriesManagement and Ecology, Oxford, v. 8, no.2, p. 153-162, Apr. 2001.
CHARLIER, F. Proteção à fauna aquática nosrios brasileiros. 2.ed. São Paulo: Secretaria daAgricultura, Departamento da ProduçãoAnimal, Divisão de Proteção e Produção dePeixes e Animais Silvestres, 1957. Paginaçãoirregular. (Publicação, n. 5).
CHRISTENSEN, M. S.; SOARES, W. J. M.;SILVA, F. C. B.; BARROS, G. M. L.Participatory management of a reservoirfishery in Northeastern Brazil. NAGA, TheICLARM Quarterly, Makati City, v. 18, no.2, p. 7-9, Apr. 1995.
CLAY, C. H. Design of fishways and otherfish facilities. 2nd ed. Boca Raton: LewisPublishers, c1995. 248 p., ill.
COLAUTTI, R. I.; MACISAAC, H. J. A neutralterminology to define ‘invasive’ species.Diversity and Distributions, Oxford, v. 10,no. 2, p. 135-141, 2004.
Companhia Energética de São Paulo (CESP)ver CESP.
CONOVER, D. O.; MUNCH, S. B. Sustainingfisheries yields over evolutionary timescales. Science, Washington, DC, v. 297, p.94-96, July 2002.
CORRÊA, A. R. A.; SANTOS, J. J.; FERREIRA,A. S.; TORLONI, C. E. C. Produção pesqueirae composição das capturas no reservatório daUHE José Ermírio de Moraes (ÁguaVermelha), CESP, São Paulo. In: ENCONTROBRASILEIRO DE ICTIOLOGIA, 10., São Paulo,1993. Resumos... São Paulo: SBI: USP, 1993. p.109.
COSTELLO, M. J.; GRANT, A.; DAVIES, I. M.;CECHINI, S.; PAPOUTSOGLOU, S.;QUIGLEY, D.; SAROGLIA, M. The control ofchemicals used in aquaculture in Europe.Journal of Applied Ichthyology, Berlin, v.17, p. 173-180, 2001.
COURTENAY, Jr., W. R.; WILLIAMS, J. D.Dispersal of exotic species from aquaculturesources, with emphasis on freshwater fishes.In: ROSENFIELD, A.; MANN, R. (Ed.).Dispersal of living organisms into aquaticecosystems. College Park, Maryland:Maryland Sea Grant Publication, c1992. ch. 1,p. 49-81.
COWX, I. G. An appraisal of stockingstrategies in the light of developing countryconstraints. Fisheries Management andEcology, Oxford, v. 6, no. 1, p. 21-34, Feb. 1999.
COWX, I. G. Fish passage facilities in theUK: issues and options for futuredevelopment. In: JUNGWIRTH, M.;
468 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
SCHMUTZ, S.; WEISS, S. (Ed.). Fishmigration and fish bypasses. Osney Mead:Fishing News Books, 1998. ch. 17, p. 220-235.
COWX, I. G. Stocking strategies. FisheriesManagement and Ecology, Oxford, v. 1, no.1, p. 15-30, Apr. 1994.
CRAWFORD, P. J.; ROSENBERG, D. M.Breakdown of conifer needle debris in anew northern reservoir, Southern IndianLake, Manitoba. Canadian Journal ofFisheries and Aquatic Sciences, Ottawa, v.41, no. 4, p. 649-658, Apr. 1984.
CROWDER, L. B.; COOPER, W. E. Habitatstructural complexity and the interactionbetween bluegills and their prey. Ecology(Washington, DC), v. 63, no. 6, p. 1802-1813,Dec. 1982.
CUNHA-SANTINO, M. B.; BIANCHINIJUNIOR, I.; SERRANO, L. E. F. Aerobic andanaerobic degradation of tannic acid onwater samples from Monjolinho Reservoir(São Paulo, SP, Brazil). Brazilian Journal ofBiology, São Carlos, v. 62, no. 4A, p. 585-590, Nov. 2002.
DARRIGRAN, G.; DAMBORENEA, C.;PENCHASZADEH, P.; TARABORELLI, C.Reproductive stabilization of Limnopernafortunei (Bivalvia Mytilidae) after ten yearsof invasion in the Americas. Journal ofShellfish Research, Southampton, NY, v. 22,no.1, p. 1-6, 2003.
DAVIS, J. T.; HUGHES, J. S. Effects ofstanding timber on fish populations andfisherman success in Bussey Lake,Louisiana. In: HALL, G. E. (Ed.). Reservoirfisheries and limnology. Washington, DC:American Fisheries Society, c1971. p. 255-264. (Special publication, no. 8)
DAVIS, M. A.; THOMPSON, K.; GRIME, J. P.Invasibility: the local mechanism drivingcommunity assembly and species diversity.
Ecography, Copenhagen, v. 28, no. 5, p. 696-704, Oct. 2005.
DE FILIPPO, R.; SOARES, C. B. P.; THOMAZ,S. M.; ROBERTO, M. C.; PAES DA SILVA, L.Dinâmica de fatores limnológicos abióticosdurante a fase de enchimento doreservatório de Corumbá, GO. In:CONGRESSO BRASILEIRO DELIMNOLOGIA, 6., São Carlos, 1997.Programação geral e caderno de resumos...São Carlos: Universidade Federal de SãoCarlos, 1997. p. 177.
DE SILVA, S. S. Reservoir fisheries: broadstrategies for enhancing yields. In: DESILVA, S.S. (Ed.). Reservoir and cultured-based fisheries: biology and management.Proceedings of an International Workshopheld in Bangkok, Thailand, 15-18 Feb. 2000.Canberra: ACIAR, 2001. p. 7-15. (ACIARProceedings, no. 98).
DE SILVA, S. S. The Asian inland fisherywith special reference to reservoir fisheries:a reappraisal. In: SCHIEMER, F.; BOLAND,K. T. (Ed.). Perspectives in tropicallimnology. Amsterdam, The Netherlands:SPB Academic Publishing, c1996. p. 321-332.
DE SILVA, S. S. The reservoir fishery ofAsia. In: DE SILVA, S. S. (Ed.). Reservoirfishery management and development inAsia: proceedings of a workshop held inKathmandu, Nepal, 23-28 Nov. 1987.Ottawa: International DevelopmentResearch Centre (IDRC), 1988. p.19-28.(Proceedings series/IDRC-264e).
DEI TOS, C.; BARBIERI, G.; AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L. C.; SUZUKI, H. I. Ecology ofPimelodus maculatus (Siluriformes) in theCorumbá, Brazil. CYBIUM: RevueInternationale d’Ichtyologie, Paris, v. 26,n.4, p. 275-282, déc. 2002.
DELARIVA, R. L.; AGOSTINHO, A. A.Introdução de espécies: uma síntesecomentada. Acta Scientiarum, Maringá, v.21, no. 2, p. 255-262, June 1999.
Referências 469469469469469
DEMPSTER, T. D.; SANCHEZ-JEREZ, P.;BAYLE-SEMPERE, J.; KINGSFORD, M.Extensive aggregations of wild fish atcoastal sea-cage fish farms. Hydrobiologia,Dordrecht, v. 525, no. 1-3, p. 245-248, 2004.
DEWDNEY, A. K. The stochastic communityand the logistic-J distribution. ActaOecologica, Paris, v. 24, no. 5-6, p. 221-229,Dec. 2003.
DIAMOND, J.; CASE, T. J. Overview:introductions, extinctions, exterminations,and invasions. In: DIAMOND, J.; CASE, T. J.(Ed.). Community ecology. New York:Harper & Row Publishers, c1986. ch. 4, p. 65-79.
DIAS, J. F. Padrões reprodutivos emteleósteos da costa brasileira: uma síntese.São Paulo, 1989. 105 f. Dissertação(Mestrado em Oceanografia Biológica) -Instituto Oceanográfico, USP, São Paulo,1989.
DIAZ, M. M.; TEMPORETTI, P. F.;PEDROZO, F. L. Response of phytoplanktonto enrichment from cage fish waste inAlicura Reservoir (Patagonia, Argentina).Lake & Reservoirs: Research andManagement, Carlton South, v. 6, no. 2, p.151-158, June 2001.
DIBBLE, E. D.; KILLGORE, K. J.; HARREL, S.L. Assessment of fish-plant interactions. In:MIRANDA, L. E.; DeVRIES, D. R. (Ed.).Multidimensional approaches to reservoirfisheries management. Bethesda, Maryland:American Fisheries Society, 1996. p. 357-372.(American Fisheries Society Symposium,16).
DIONNE, M.; FOLT, C. L. An experimentalanalysis of macrophyte growth forms asfish foraging habitat. Canadian Journal ofFisheries and Aquatic Sciences, Ottawa, v.48, no. 1, p. 123-131, Jan. 1991.
DOMITROVIC, H. A.; BECHARA, J. A.;FLORES QUINTANA, C.; ROUX, J. P.;
GAVILÁN, G. A survey study of gassupersaturation and fish gas bubble diseasein the Paraná River below Yacyreta Dam,Argentina. Revista de Ictiología,Corrientes, v. 8, n. 1/2, p. 29-40, 2000.
DOMITROVIC, H. A.; BECHARA, J. A.;JACOBO, W. R.; FLORES QUINTANA, C.;ROUX, J. P. Mortandad de peces en el ríoParaná provocada por sobresaturación degases: causas y lesiones. Revista deIctiología, Corrientes, v. 2/3, n. 1/2, p. 49-54, 1993/94.
DONK, E. van; BUND, W. J. van de. Impactof submerged macrophytes includingcharophytes on phyto- and zooplanktoncommunities: allelopathy versus othermechanisms. Aquatic Botany, Amsterdam,v. 72, no. 3-4, p. 261-274, Apr. 2002.
DUKE ENERGY INTERNATIONAL.Relatório de monitoramento datransposição de peixes pelas escadasinstaladas nas UHEs Canoas 1 e Canoas 2 -Médio Paranapanema. Chavantes, SP, 2001.33 f., il. (algumas color.). (Relatório técnico).
DUKE ENERGY INTERNATIONAL.Relatório de monitoramento datransposição de peixes pelas escadasinstaladas nas UHEs Canoas I e Canoas II -Médio Paranapanema. Chavantes, SP, 2002.36 f., il. (algumas color.). (Relatório técnico).
DUROCHER, P. P.; PROVINE, W. C.;KRAAI, J. E. Relationship betweenabundance of largemouth bass andsubmerged vegetation in Texas reservoirs.North American Journal of FisheriesManagement, Bethesda, Maryland, v. 4, no.1, p. 84-88, 1984.
ECO CONSULTORIA AMBIENTAL ECOMÉRCIO/AES TIETÊ. Programas deconservação ambiental da AES Tietê S/A:limnologia, ictiologia e recursospesqueiros: período junho de 2000 a junhode 2001. Promissão, SP, 2001. 81 f., il.(algumas color.) + anexos.
470 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ECO CONSULTORIA AMBIENTAL ECOMÉRCIO/AES TIETÊ. Programas degestão ambiental AES Tietê S.A.: manejopesqueiro, monitoramento da qualidade daágua e manejo da flora. Promissão, SP, 2002.273 p., il. (algumas color.) + anexos.
ELDREDGE, N. The sixth extinction. [S. l.]:American Institute of Biological Sciences,c2001. Disponível em: <http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/eldredge2.html> Acesso em 11/01/2006.(New Frontiers: evolution and the future).
ELETROBRÁS. Recursos pesqueiros,Pescadores, Tucuruí-Hidrelétrica e Furnas:condições de vida dos pescadores locais.Brasília, DF, c2003-2005. Disponível em:<http://www.eletrobras.com.br>. Acessoem: jun. 2005.
ELETROBRÁS; ELETRONORTE. UHETucuruí, programa de controle do estoquepesqueiro: determinação da capacidade desuporte da aqüicultura em tanques-redespara o reservatório da UHE Tucuruí-PA –minuta. Brasília, DF, 2000. 35 p.
ELVIRA, B.; NICOLA, G. G.; ALMODÓVAR,A. A catalogue of fish passes at dams inSpain. In: JUNGWIRTH, M.; SCHMUTZ, S.;WEISS, S. (Ed.). Fish migration and fishbypasses. Osney Mead: Fishing News Books,1998. ch. 15, p. 203-207.
EMBRAPA. A aqüicultura e a atividadepesqueira. Jaguariúna, SP, c1997-2006.Disponível em: <http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=aquic:::27>. Acesso em: 01jun. 2005.
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISAPESQUEIRA (ENAPP), 1., Brasília, DF, 1978.Anais do ... Brasília, DF: SUDEPE, 1980. 321p., il.
ENCONTRO NACIONAL SOBRELIMNOLOGIA, PISCICULTURA E PESCACONTINENTAL, 1., Belo Horizonte, 1975.
Anais do... Belo Horizonte: Fundação JoãoPinheiro, Diretoria de Tecnologia e MeioAmbiente, Centro de Recursos Naturais,1976. 601 p.
EPIFANIO, J.; NIELSEN, J. The role ofhybridization in the distribution,conservation and management of aquaticspecies. Reviews in Fish Biology andFisheries, Dordrecht, v. 10, no. 3, p. 245-251,Sept. 2001.
ESTADOS UNIDOS. Congress. Office ofTechnology Assessment (OTA). Fish passagetechnologies: protection at hydropowerfacilities, OTA-ENV-641. Washington, DC:U.S. Government Printing Office, 1995. 167p., ill.
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia.Rio de Janeiro: Interciência: FINEP, 1988.575p., il.
ESTEVES, F. A.; CAMARGO, A. F. M. Sobre opapel das macrófitas aquáticas na estocageme ciclagem de nutrientes. Acta LimnologicaBrasiliensia, Botucatu, v. 1, p. 273-298, 1986.
ESTEVES, K. E.; LÓBON-CERVIÁ, J.Composition and trophic structure of a fishcommunity of a clear water Atlanticrainforest stream in Southeastern Brazil.Environmental Biology of Fishes, Dordrecht,v. 62, no. 4, p. 429-440, Dec. 2001.
FAO. Review of the state of world fisheryresources: inland fisheries. FAO FisheriesCircular, Rome, no. 942, 1999. 53 p., ill.
FAO. The state of world fisheries andaquaculture: -2002. Rome, 2002. 150 p., ill.[Technical report].
FARREL, A. P.; RANDALL, D. J. Air-breathing mechanisms in two Amazonianteleosts, Arapaima gigas and Hoplerythrinusunitaeniatus. Canadian Journal of Zoology,Ottawa, v. 56, p. 939-945, 1978.
Referências 471471471471471
FEARNSIDE, P. M. Brazil’s Balbina Dam:environment versus the legacy of thepharaohs in Amazonia. EnvironmentalManagement, New York, v. 13, no. 4, p. 401-423, 1989.
FEARNSIDE, P. M. Impactos sociais dabarragem de Tucuruí. In: HENRY, R. (Ed.).Ecologia de reservatórios: estrutura, função easpectos sociais. Botucatu, SP: FAPESP/FUNDIBIO, 1999. cap. 8, p. 219-244.
FERNANDES, R.; GOMES, L. C.;AGOSTINHO, A. A. Pesque-pague: negócioou fonte de dispersão de espécies exóticas?Acta Scientiarum. Biological Sciences,Maringá, v. 25, no. 1, p. 115-120, Jan./June2003.
FERNANDEZ, D. R. Grau de seletividade daescada de peixes do projeto experimental[do] canal de migração da Itaipu Binacional.Curitiba, 2000. 57 f., il. Tese (Doutorado emCiências na Área de Zoologia - Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas,Universidade Federal do Paraná, Curitiba,2000.
FERNANDEZ, D. R.; AGOSTINHO, A. A.;BINI, L. M. Selection of an experimental fishladder located at the dam of the ItaipuBinacional, Paraná River, Brazil. BrazilianArchives of Biology and Technology,Curitiba, v. 47, no. 4, p. 579-586, Aug. 2004.
FERNANDÉZ, O. A.; MURPHY, K. J.; LÓPEZCAZORLA, A.; SABBATINI, M. R.; LAZZARI,M. A.; DOMANIEWSKI, J. C. J.; IRIGOYEN, J.H. Interrelationships of fish and channelenvironmental conditions with aquaticmacrophytes in an Argentine irrigationsystem. Hydrobiologia, Dordrecht, v. 380, p.15-25, 1998.
FERNANDO, C. H.; HOLCIK, J. Fish inreservoirs. Internationale Revue derGesamten Hydrobiologie, Berlin, v. 76, no. 2,p. 149-167, 1991.
FERNANDO, C. H.; HOLCIK, J. The nature offish communities: a factor influencing thefishery potential and yields of tropical lakesand reservoirs. Hydrobiologia, Dordrecht, v.97, p. 127-140, 1982.
FERRAZ DE LIMA, J. A. A pesca no pantanalde Mato Grosso (rio Cuiabá: biologia eecologia pesqueira). In: CONGRESSOBRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA,2., Recife, 1981. Anais do... Recife: Associaçãodos Engenheiros de Pesca de Pernambuco,1981. p. 503-529.
FERREIRA, E.; SANTOS, G. M.; JEGÚ, M.Aspectos ecológicos da ictiofauna do rioMucajaí, na área da ilha Paredão, Roraima,Brasil. Amazoniana, Kiel, v. 10, no. 3, p. 339-352, Okt. 1988.
FERREIRA, E. J. G. A ictiofauna da represahidrelétrica de Curuá-Una, Santarém, Pará. I- Lista e distribuição das espécies.Amazoniana, Kiel, v. 8, no. 3, p. 351-363, Juni1984a.
FERREIRA, E. J. G. A ictiofauna da represahidrelétrica de Curuá-Una, Santarém, Pará. II- Alimentação e hábitos alimentares dasprincipais espécies. Amazoniana, Kiel v. 9,no. 1, p. 1-16, Dez. 1984b.
FERREIRA, E. J. G. Composição, distribuiçãoe aspectos ecológicos da ictiofauna de umtrecho do rio Trombetas, na área deinfluência da futura UHE Cachoeira Porteira,Estado do Pará, Brasil. Acta Amazonica,Manaus, v. 23, n. 1/4(Suplemento), p. 1-89,1993.
FERREIRA, L. I.; HOFLING, J. C.; RIBEIRONETO, F. B.; SOARES, A. S.; TOMAZINI, A.Distribuição, reprodução e alimentação deSerrasalmus spilopleura no reservatório deSalto Grande-Americana, SP, Brasil. RevistaBIOIKOS, Campinas, v. 12, n. 1, p. 19-28,1998.
FIDLER, L. E.; MILLER, S. B. Britsh Columbiawater quality guidelines for dissolved gas
472 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
supersaturation. [Ottawa]: BC Ministry ofEnvironment Canada, Department ofFisheries and Oceans Environment Canada,1994. Report. Disponível em: <http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/bcguidelines/tgp/index.html>. Acesso em: abr. 2005.
FONTENELE, O.; PEIXOTO, J. T. Análise dosresultados da introdução da pescada do piauí,Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840), nosaçudes do Nordeste. Boletim Técnico doDNOCS, Fortaleza, v. 36, n. 1, p. 85-112, jan./jun. 1978.
FONTENELE, O.; PEIXOTO, J. T. Apreciaçãosobre os resultados da introdução dotucunaré comum, Cichla ocellaris (Bloch &Schneider, 1801), nos açudes do nordestebrasileiro, através da pesca comercial.Boletim Técnico do DNOCS, Fortaleza, v.37, n. 2, p. 109-134, jul./dez. 1979.
FONTELES-FILHO, A. A.; ALVES, A. L.Produção pesqueira e produtividadebiológica em açudes públicos do nordestedo Brasil. Boletim do Instituto de Pesca,São Paulo, v. 22, n. 2, p. 1-14, jul./dez.1995.
FREIRE, A. G.; AGOSTINHO, A. A.Distribuição espaço temporal de 8 espéciesdominantes da ictiofauna da bacia do altorio Paraná. Acta Limnologica Brasiliensia,Botucatu, v. 12, n. 2, p. 105-120, 2000.
FREITAS, C. E. C.; PETRERE JUNIOR, M.Influence of artificial reefs on fishassemblage of the Barra Bonita Reservoir(São Paulo, Brazil). Lakes & Reservoirs:Research and Management, Carlton South,v. 6, no. 4, p. 273-278, Dec. 2001.
FRICKER, A. The conscious purpose ofscience is control of nature; its unconsciouseffect is disruption and chaos. Futures,Kidlington, Oxon, v. 34, p. 535-546, 2002.
FROESE, R.; PAULY, D. (Ed.). FishBase -World Wide Web electronic publication.Version (05/2006). Taipei, Taiwan, 2006.
Disponível em: <http://www.fishbase.org>. Acesso em: mar. 2006.
FUGI, R.; HAHN, N. S.; AGOSTINHO, A. A.Feeding styles of five species of bottom-feeding fishes of the high Paraná River.Environmental Biology of Fishes,Dordrecht, v. 46, no. 3, p. 297-307, July1996.
FULLER, P. L.; NICO, L. G.; WILLIAMS, J.D. Nonindigenous fishes introduced intoinland waters of the United States.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1999. 613 p., ill. (AmericanFisheries Society special publication, 27).
FUNDAÇÃO BIORIO; UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Estudosbásicos sobre a ictiofauna doaproveitamento hidrelétrico Serra daMesa, GO. Elaborado por E. M. P.Caramaschi ...[et al.]. Rio de Janeiro, 1998.193 p. Relatório técnico. ConvênioContrato Nacional-Furnas/Biorio/UFRJ.
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estaçãode Hidrobiologia e Piscicultura. Programade estudo da ictiofauna do reservatório daUHE Funil (2000-2002): relatório anual. SãoJosé da Barra, MG, 2002a. 25 f., il. (algumascolor.).
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estaçãode Hidrobiologia e Piscicultura. Programade estudo da ictiofauna do reservatório daUHE Furnas (1996 a 2002): relatório anual.São José da Barra, MG, 2002b. 45 f., il.(algumas color.).
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estaçãode Hidrobiologia e Piscicultura. Programade estudo da ictiofauna no reservatório daUHE Itumbiara (1996-2003): relatórioanual. São José da Barra, MG, 2003b. 46 f.,il. (algumas color.).
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estaçãode Hidrobiologia e Piscicultura. Programade estudo da ictiofauna no reservatório da
Referências 473473473473473
UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho(1998-2003): relatório anual. São José daBarra, MG, 2003a. 32 f., il. (algumas color.).
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estaçãode Hidrobiologia e Piscicultura. Programade estudo da ictiofauna do reservatório daUHE Mal. Mascarenhas de Moraes (1998-2002): relatório anual. São José da Barra,MG, 2002d. 33 f., il. (algumas color.).
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estaçãode Hidrobiologia e Piscicultura. Programade estudo da ictiofauna do reservatório daUHE Marimbondo (1996 a 2002): relatórioanual. São José da Barra, MG, 2002e. 34 f.,il. (algumas color.).
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. Estação deHidrobiologia e Piscicultura. Programa deestudo da ictiofauna no reservatório da UHEPorto Colômbia (1998-2002): relatório anual.São José da Barra, MG, 2002c. 35 f., il.(algumas color.).
GABRIELLI, M. A.; ORSI, M. L. Dispersão deLernaea cyprinacea (Linnaeus) (Crustacea,Copepoda) na região norte do estado doParaná, Brasil. Revista Brasileira deZoologia, Curitiba, v. 17, n. 2, p. 395-399, jun.2000.
GALINKIN, M.; SWITKES, G. Infra-estruturade transporte e energia no Brasil Central:sistema hidroviário, ferroviário ehidrelétrico da bacia Araguaia-Tocantins. In:ORTIZ, L. S. (Coord.). Dossier sobre os riscossocioambientais dos projetos de energia einfra-estrutura no Brasil apresentados comooportunidades de negócio a investidoresinternacionais. [S.l.]: Programa Energia daCoalizão Rios vivos: Fundação HeinrichBoll, [2003]. p. 20-37.
GARAVELLO, J. C. Sistemática dos peixes deágua doce e sua importância nos projetos dosetor elétrico. In: SEMINÁRIO SOBREFAUNA AQUÁTICA E O SETOR ELÉTRICOBRASILEIRO: REUNIÕES TEMÁTICASPREPARATÓRIAS, 1993. Rio de Janeiro:
ELETROBRÁS: COMASE, 1994. p. 31-37.(Caderno 1: Fundamentos).
GARRIDO, R. A sustentabilidade dasintervenções no ambiente aquático. In:WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, São Paulo.São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 7-16.
GARUTTI, V. Contribuição ao conhecimentoreprodutivo de Astyanax bimaculatus(Ostariophysi, Characidae), em cursos deágua da bacia do rio Paraná. RevistaBrasileira de Biologia, Rio de janeiro, v. 49,n. 2, p. 489-495, maio 1989.
GARUTTI, V. Distribuição longitudinal daictiofauna em um córrego da região noroestedo Estado de São Paulo, bacia do rio Paraná.Revista Brasileira de Biologia, Rio deJaneiro, v. 48, n. 4, p. 747-759, 1988.
GASPAR DA LUZ, K. D.; OLIVEIRA, E. F.;PETRY, A. C.; JÚLIO JUNIOR, H. F.;PAVANELLI, C. S.; GOMES, L. C. Fishassemblages in the Upper Paraná Riverfloodplain. In: AGOSTINHO, A. A.;RODRIGUES, L.; GOMES, L. C.; THOMAZ, S.M.; MIRANDA, L. E. (Ed.). Structure andfunctioning of the Paraná River and itsfloodplain: LTER - site 6 (Peld - sítio 6).Maringá: EDUEM, 2004. p. 107-115.
GAUCH, Jr., H. G. Multivariate analysis incommunity ecology. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1982. 298 p., ill.(Cambridge studies in ecology, 1).
GEBLER, R.-J. Examples of near-natural fishpasses in Germany: drop structureconversions, fish ramps and bypass channels.In: JUNGWIRTH, M.; SCHMUTZ, S.; WEISS,S. (Ed.). Fish migration and fish bypasses.Osney Mead: Fishing News Books, 1998. ch.29, p. 403-419.
474 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
GODINHO, A. L.; FONSECA, M. T.; ARAÚJO,L. M. The ecology of predator fishintroductions: the case of Rio Doce valleylakes. In: PINTO-COELHO, R. M.; GIANI, A.;VON SPERLING, E. (Ed.). Ecology andhuman impact on lakes and reservoirs inMinas Gerais, with special reference tofuture development and managementstrategies. Belo Horizonte, MG: SEGRAC,1994. p. 77-83.
GODINHO, A. L.; GODINHO, H. P. Brevevisão do São Francisco. In: GODINHO, H. P.;GODINHO, A. L. (Org.). Águas, peixes epescadores do São Francisco das MinasGerais. Belo Horizonte: PUC Minas, c2003. p.15-24.
GODINHO, A. L.; KYNARD, B.; MARTINEZ,C. B. Cheia induzida: manejando a água pararestaurar a pesca. In: GODINHO, H. P.;GODINHO, A. L. (Org.). Águas, peixes epescadores do São Francisco das MinasGerais. Belo Horizonte: PUC Minas, c2003.cap. 16, p. 307-326.
GODINHO, A. L.; VIEIRA, F. Áreasprioritárias para a conservação dabiodiversidade do Estado de Minas Gerais(Peixes). In: BIODIVERSIDADE em MinasGerais: um atlas para sua conservação. BeloHorizonte: Fundação Biodiversitas, 1998. 10p. Disponível em: <www.biodiversitas.org/areasprio/textos/peixes.html>. Acesso em:06 jun. 2003.
GODINHO, H. P. Reprodução dos peixes darepresa de Três Marias. InformativoAgropecuário de Belo Horizonte, BeloHorizonte, v. 10, n. 110, p. 29-34, fev. 1984.
GODINHO, H. P.; GODINHO, A. L. Ecologyand conservation of fish in southeasternBrazilian River Basins submitted tohydroelectric impoundments. ActaLimnologica Brasiliensia, Botucatu, v. 5, p.187-197, 1994.
GODINHO, H. P.; GODINHO, A. L.;FORMAGIO, P. S.; TORQUATO, V. C. Fish
ladder efficiency in a southeastern Brazilianriver. Ciência e Cultura: Journal of theBrazilian Association for the Advancementof Science, São Paulo, v. 43, no. 1, p. 63-67,Jan./Febr. 1991.
GODINHO, H. P.; GODINHO, A. L.; VONO,V. Peixes da bacia do rio Jequitinhonha. . In:LOWE-MCCONNEL, R. H. Estudosecológicos de comunidades de peixestropicais. Tradução: Anna Emília A. de M.Vazzoler, Angelo Antônio Agostinho,Patrícia T. M. Cunningham. São Paulo:EDUSP, 1999. cap. 18, p. 414-423. (ColeçãoBase). Título do original em inglês:Ecological studies in tropical fishcommunities.
GODOY, M. P. Aqüicultura: atividademultidisciplinar, escadas e outras facilidadespara passagens de peixes, estações depiscicultura. Florianópolis: Eletrosul, 1985.77 p., il.
GODOY, M. P. Marcação de peixes no rioMogi Guaçu (Nota prévia). Revista Brasileirade Biologia, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 479-490, dez. 1957.
GODOY, M. P. Peixes do Brasil, SubordemCharacoidei: bacia do rio Mogi Guassu. 1. ed.Piracicaba: Ed. Franciscana, 1975. 4v., il.
GOMES, L. C.; AGOSTINHO, A. A. Influenceof the flooding regime on the nutritionalstate and juvenile recruitment of thecurimba, Prochilodus scrofa, Steindachner, inUpper Paraná River, Brazil. FisheriesManagement and Ecology, Osney Mead, v. 4,no. 4, p. 263-274, Aug. 1997.
GOMES, L. C.; MIRANDA, L. E. Riverinecharacteristics dictate composition of fishassemblages and limit fisheries in reservoirsof the Upper Paraná River Basin. RegulatedRivers: Research & Management, Chichester,v. 17, no. 1, p. 67-76, Jan.-Feb. 2001.
GOMES, L. C.; MIRANDA, L. E.;AGOSTINHO, A. A. Fishery yield relative to
Referências 475475475475475
chlorophyll a in reservoirs of the UpperParaná River, Brazil. Fisheries Research(Amsterdam), v. 55, no. 1-2, p. 335-340, Mar.2002.
GOODLAND, R. Usina hidrelétrica Foz doAreia - Rio Iguaçu, Paraná, Brasil:reconhecimento do impacto ambiental.Curitiba: COPEL, 1975. 67 p.
GOTELLI, N. J.; COLWELL, R. K. Quantifyingbiodiversity: procedures and pitfalls in themeasurement and comparison of speciesrichness. Ecology Letters, v. 4, p. 379-391,2001.
GOULDING, M. The fishes and the forest:explorations in Amazonian natural history.Berkeley: University of California Press,c1980. 280 p., ill.
GOULDING, M.; CARVALHO, M. L.;FERREIRA, E. G. Rio Negro: rich life in poorwaters. Hague: SPB Academy Publishing,1988. 200 p., ill.
GOULDING, M.; SMITH, N. J. H.; MAHAR,D. J. Floods of fortune: ecology & economyalong the Amazon. New York: ColumbiaUniversity Press, 1996. 195 p., ill.
GROVES, A. B. Effects of hydraulic shearingactions on juvenile salmon (SummaryReport). Seattle, Washington, DC: ANorthwest Fisheries Center, NationalMarine Fisheries Service, 1972. 7 p.
GUO, L.; LI, Z. Effects of nitrogen andphosphorus from fish cage-culture on thecommunities of a shallow lake in middleYangtze River Basin of China. Aquaculture,Amsterdam, v. 226, p. 201-212, 2003.
GUREVITCH, J.; PADILLA, D. K. Areinvasive species a major cause of extinctions?Trends in Ecology and Evolution,Cambridge, v. 19, no. 9, p. 470-474, Sept.2004.
GURGEL, J. J. S. Sobre a produção de pescadodos açudes públicos do semi-árido Nordestebrasileiro. In: VILLA, I.; FAGETTI, E. (Ed.).Taller Internacional sobre ecología y manejode peces en lagos y embalses, Santiago,Chile, 5-10 de noviembre de 1984. Rome:FAO, 1986. p. 153-163. (COPESCALdocumento técnico, no. 4).
GURGEL, J. J. S.; FERNANDO, C. H. Fisheriesin semi-arid Northeast Brazil with specialreference to the role of tilapias.Internationale Revue der GesamtenHydrobiologie, Berlin, v. 79, no. 1, p. 77-94,1994.
GUTBERLET, J.; SEIXAS, C. S.; THÉ, A.P.G.Challenges in managing fisheries in the SãoFrancisco watershed of Brazil. In: BiennialConference of the IASCP (InternationalAssociation for the Study of CommonProperty), 10th, Oaxaca, México, 2004.Conference paper… Oaxaca, México:International Association for the Study ofCommon Property, 2004. p. 1-38.
HAEDRICH, R. L.; BARNES, S. M. Changesover time of the size structure in an exploitedshelf fish community. Fisheries Research,Amsterdam, v. 31, no. 3, p. 229-239, Aug. 1997.
HAHN, L. Diversidade, composição daictiofauna e aspectos da biologia de Salminusmaxillosus e Prochilodus lineatus do rioUruguai superior, entre Mondaí e Itapiranga,Santa Catarina, Brasil. Porto Alegre, 2000. 52f., il. Dissertação (Mestrado em Zoologia) –Faculdade de Biociências, PUCRS, PortoAlegre, 2000.
HAHN, N. S. Alimentação e dinâminca danutrição da curvina Plagioscionsquamosissimus (Heckel, 1840) (Pisces,Perciformes) e aspectos da estrutura trófica daictiofauna acompanhante no rio Paraná. RioClaro, 1991. 287 f., il. Tese (Doutorado emCiências Biológicas, Área de Zoologia) -Instituto de Biociências, UNESP, Campus deRio Claro, Rio Claro, 1991.
476 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
HAHN, N. S.; AGOSTINHO, A. A.; GOITEIN,R. Feeding ecology of curvina Plagioscionsquamosissimus (Hechel,1840)(Osteichthyes,Perciformes) in the ItaipuReservoir and Porto Rico Floodplain. ActaLimnologica Brasiliensia, Botucatu, v. 9, p. 11-22, 1997.
HAHN, N. S.; AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L.C.; BINI, L. M. Estrutura trófica da ictiofaunado reservatório de Itaipu (Paraná-Brasil) nosprimeiros anos de sua formação. Interciencia,Caracas, v. 23, no. 5, p. 299-305, Sept.-Oct.1998.
HAHN, N. S.; FUGI, R.; ALMEIDA, V. L. L.;RUSSO, M. R.; LOUREIRO, V. E. Dieta eatividade alimentar de peixes do reservatóriode Segredo. In: AGOSTINHO, A. A.; GOMES,L. C. (Ed.). Reservatório de Segredo: basesecológicas para o manejo. Maringá: EDUEM,1997. cap. 8, p. 141-162.
HAHN, N. S.; FUGI, R.; ANDRIAN, I. F.Trophic ecology of the fish assemblages. In:THOMAZ, S. M.; AGOSTINHO, A. A.;HAHN, N. S. (Ed.). The Upper Paraná Riverand its floodplain: physical aspects, ecologyand conservation. Leiden, The Netherlands:Backhuys Publishers, 2004. ch. 11, p. 247-269.(Biology of inland waters).
HALL, S. R.; MILLS, E. L. Exotic species inlarge lakes of the world. Aquatic EcosystemHealth and Management, Amsterdam, v. 3,p. 105-135, 2000.
HALLING-SORENSEN, B.; NIELSEN, S. N.;LANZKY, P. F.; INGERSLEV, F.; LUTZHOFT,H. C. H.; JORGENSEN, S. E. Occurrence, fateand effects of pharmaceutical substances inthe environment: a review. Chemosphere,Kidlington, Oxon, v. 36, no. 2, p. 357-393,1998.
HANSSON, S.; ARRHENIUS, F.;NELLBRING, S. Benefits from fish stocking -experiences from stocking young-of-the-yearpikeperch, Stizostedion lucioperca L. to a bay inthe Baltic Sea. Fisheries Research,
Amsterdam, v. 32, no. 2, p. 123-132, Nov.1997.
HARDIN, G. The tragedy of the commons.Science, New Series, Washington, DC, v. 162,no. 3859, p. 1243-1248, Dec. 1968.
HARRIS, G. This is not the end of limnology(or of science): the world may well be a lotsimpler than we think. Freshwater Biology,Osney Mead, v. 42, p. 689-706, 1999.
HARRISON, S.; ROSS, S. J.; LAWTON, J. H.Beta diversity on geographic gradients inBritain. Journal of Animal Ecology, OsneyMead, v. 61, no.1, p. 151-158, 1992.
HARTMANN, W.; DUGAN, P.; FUNGE-SMITH, S.; HORTLE, K. G.; KUEMLANGAN,B.; LORENZEN, K.; MARMULLA, G.;MATTSON, N.; WELCOMME, R. People andfisheries management. In: WELCOMME, R.L.; PETR, T. (Ed.). Proceedings of the SecondInternational Symposium on theManagement of Large Rivers for Fisheries:Sustaining Livelihoods and Biodiversity inthe New Millennium 11-14 February 2003,Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.Bangkok, Thailand: FAO Regional Office forAsia and the Pacific: Mekong RiverCommission, 2004. v. 1, p. 61-91. (RAPPublication 2004/16).
HARTMANN, W. D.; CAMPELO, C. M. F.Ambivalent enforcers. Rules and conflicts inthe co-management of Brazilian reservoirfisheries. In: CONFERENCE OF THEINTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THESTUDY OF COMMON PROPERTY -CROSSING BOUNDARIES, 7th, Vancouver,Canada, 1998. [Proceedings…]. Vancouver:International Association for the Study ofCommon Property, 1998. [18 p., ill.].
HARTZ, S. M.; VILELLA, F. S.; BARBIERI, G.Reproduction dynamics of Olygosarcusjenynsii (Characiformes, Characidae) in lakeCaconde, Rio Grande do Sul, Brazil. RevistaBrasileira de Biologia, Rio de Janeiro, v. 57,n. 2, p. 295-303, maio 1997.
Referências 477477477477477
HAYES, D. B.; TAYLOR, W. W.; MILLS, E. L.Natural lakes and large impoundments. In:KOHLER, C. C.; HUBERT, W. A. (Ed.). Inlandfisheries management in North America.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1993. ch. 21, p. 493-515.
HECK, Jr., K. L.; THOMAN, T. A.Experiments on predator-prey interactions invegetated aquatic habitats. Journal ofExperimental Marine Biology and Ecology,Amsterdam, v. 53, p. 125-134, 1981.
HEDRICK, P. W.; GILPIN, M. E. Geneticeffective size of a metapopulation. In:HANSKI, I.; GILPIN, M. E. (Ed.).Metapopulation biology: ecology, genetics,and evolution. San Diego, CA: AcademicPress, c1997. ch. 8, p. 165-181.
HIGUTI, J.; ZVIEJKOVSKI, I. P.;TAKAHASHI, M. A.; DIAS, V. G.Chironomidae indicadora do estado tróficoem reservatórios. In: RODRIGUES, L.;THOMAZ, S. M.; AGOSTINHO, A. A.;GOMES, L. C. (Org.). Biocenoses emreservatórios: padrões espaciais e temporais.São Carlos: RiMa, 2005. cap. 11, p. 137-145.
HILBORN, R.; BRANCH, T. A.; ERNST, B.;MAGNUSSON, A.; MINTE-VERA, C. V.;SCHEUERELL, M. D.; VALERO, J. L. State ofthe world’s fisheries. Annual Review ofEnvironment and Resources, Palo Alto,California, v. 28, p. 359-399, 2003.
HILBORN, R.; STOKES, K.; MAGUIRE, J.-J.;SMITH, T.; BOTSFORD, L. W.; MANGEL, M.;ORENSANZ, J.; PARMA, A.; RICE, J.; BELL, J.;COCHRANE, K. L.; GARCIA, S.; HALL, S. J.;KIRKWOOD, G. P.; SAINSBURY, K.;STEFANSSON, G.; WALTERS, C. When canmarine reserves improve fisheriesmanagement? Ocean and CoastalManagement, Barking, Essex, v. 47, no. 3-4, p.197-205, 2004.
HILBORN, R.; WALTERS, C. J. Quantitativefisheries stock assessment: choice, dynamics
and uncertainty. New York; London:Chapman & Hall, 1992. 570 p., ill.
HILSDORF, A. W. S.; PETRERE JUNIOR, M.Conservação de peixes na bacia do rioParaíba do Sul. Ciência Hoje, Rio de Janeiro,v. 30, n. 180, p.62-65, mar. 2002.
HINDAR, K.; RYMAN, N.; UTTER, F. Geneticeffects of cultured fish on natural fishpopulations. Canadian Journal of Fisheriesand Aquatic Sciences, Ottawa, v. 48, no. 5, p.945-957, May 1991.
HOFLING, J. C.; FERREIRA, L. I.; RIBEIRONETO, F. B.; BRUNINI, A. P. C. Ecologiatrófica do reservatório de Salto Grande,Americana, SP, Brasil. Revista Bioikos,Campinas, v. 14, n. 1, p. 7-15, 2000.
HOLMSTROM, K.; GRASLUND, S.;WAHLSTROM, A.; POUNGSHOMPOO, S.;BENGTSSON, B.-E.; KAUTSKY, N. Antibioticuse in shrimp farming and implications forenvironmental impacts and human health.International Journal of Food Sciences &Technology, Oxford, v. 38, no. 3, p. 255-266,Mar. 2003.
HOLWAY, D. A.; SUAREZ, A. V. Animalbehavior: an essential component ofinvasion biology. Trends in Ecology andEvolution, Cambridge, v. 14, no. 8, p. 328-330, Aug. 1999.
IBAMA. Estatística da pesca 2000 Brasil:grandes regiões e unidades da Federação.Tamandaré, PE, 2002. 100 p. il.
IBGE. Pesquisa Nacional de SaneamentoBásico – 2000. Brasília, DF, 2006. Disponívelem: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em:4 ago. 2006.
ISAAC, V. J.; MILSTEIN, A.; RUFFINO, M. L.A pesca artesanal no baixo Amazonas:análise multivariada da captura por espécie.Acta Amazonica, Manaus, v. 26, n. 3, p. 185-208, set. 1996.
478 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
ITA, E. D. Kainji (Nigeria). In: KAPETSKY, J.M.; PETR, T. (Ed.). Status of African reservoirfisheries=Etat des pêcheries dans lesréservoirs d’Afrique. CIFA Technical Paper,Rome, no. 10, 1984. Disponível em:<http:www.fao.org>. Acesso em: 12 jun. 2006.
JACKSON, D.; MARMULLA, G. The influenceof dams on river fisheries. In: WORLDCOMISSION ON DAMS (WCD). Prepared forthematic review II.1: dams, ecosystemfunctions and environmental restoration. [S.l.], 2000. 46 p., ill. Final Report.(Environmental issues). Disponível em:<http://www.dams.org>.
JACKSON, J. B. C.; KIRBY, M. X.; BERGER,W. H.; BJORNDAL, K. A.; BOTSFORD, L. W.;BOURQUE, B. J.; BRADBURY, R. H.; COOKE,R.; ERLANDSON, J.; ESTES, J. A.; HUGHES, T.P.; KIDWELL, S.; LANGE, C. B.; LENIHAN,H. S.; PANDOLFI, J. M.; PETERSON, C. H.;STENECK, R. S.; TEGNER, M. J.; WARNER, R.R. Historical overfishing and the recentcollapse of coastal ecosystems. Science,Washington, DC, v. 293, p. 629-638, July 2001.
JANA, B. B.; SAHU, S. N. Relativeperformance of three bottom grazing fishes(Cyprinus carpio, Cirrhinus mrigala,Heteropneustes fossilis) in increasing thefertilizer value of phosphate rock.Aquaculture, Amsterdam, v. 115, no. 1-2, p.19-29, Aug. 1993.
JANBERG, N. International database andgallery of structures. Version 5.1. Disponívelem: <http://en.structurae.de>. Acesso em: 17nov. 2005.
JENKINS, R. M. Reservoir fish management.In: BENSON, N. G. (Ed.). A century offisheries in North America. Bethesda,Maryland: American Fisheries Society, 1970.p.173-182. (Special publications of theAmerican Fisheries Society, no. 7).
JOHNSON, D. L.; LYNCH, Jr., W. L. Panfishuse of and angler success at evergreen tree,brush, and stake-bed structures. North
American Journal of Fisheries Management,Bethesda, Maryland, v. 12, no. 1, p. 222-229,1992.
JUNK, W. J. Temporary fat storage, anadaptation of some fish species to thewaterlevel fluctuations and relatedenvironmental changes of the AmazonRiver. Amazoniana, Kiel, v. 9, no. 3, p. 315-351, Dez. 1985.
JUNK, W. J.; BAYLEY, P. B.; SPARKS, R. E.The flood pulse concept in river-floodplainsystems. In: Dodge, D.P. (Ed.). Proceedings ofthe International Large River Symposium(LARS) (Honey Harbour, Ontario, Canada,September 14-21, 1986). Ottawa: Departmentof Fisheries and Oceans, 1989. p. 110-127.(Canadian special publication of Fisheriesand Aquatic Sciences, v. 106).
KAPETSKY, J. M. Management of fisherieson large african reservoirs-an overview. In:HALL, G. E.; VAN DEN AVYLE, M. J. (Ed.).Reservoir fisheries management: strategiesfor the 80’s. Proceedings of a Symposiumheld in Lexington, Kentucky June 13-16, 1983.Bethesda, Maryland: Reservoir Committee,Southern Division, American FisheriesSociety, 1986. p. 28-38. Título da capa:Reservoir fisheries management: strategiesfor the 80’s. A National Symposium onManaging Reservoir Fisheries Resources.
KAUFMAN, L. Catastrophic change inspecies-rich freshwater ecosystems: thelessons of Lake Victoria. BioScience,Washington, DC, v. 42, no. 11, p. 846-858,Dec. 1992.
KIMMEL, B. L.; GROEGER, A. W.Limnological and ecological changesassociated with reservoir aging. In: HALL, G.E.; VAN DEN AVYLE, M. J. (Ed.). Reservoirfisheries management: strategies for the 80’s.Proceedings of a Symposium held inLexington, Kentucky June 13-16, 1983.Bethesda, Maryland: Reservoir Committee,Southern Division, American FisheriesSociety, 1986. p. 103-109. Título da capa:
Referências 479479479479479
Reservoir fisheries management: strategiesfor the 80’s. A National Symposium onManaging Reservoir Fisheries Resources.
KIMMEL, B. L.; LIND, O. T.; PAULSON, L. J.Reservoir primary production. In:THORNTON, K. W.; KIMMEL, B. L.; PAYNE,F. E. (Ed.). Reservoir limnology: ecologicalperspectives. New York: J. Wiley & Sons,c1990. ch. 6, p. 133-194.
KINCAID, H. L. An evaluation of inbreedingand effective population size in salmonidbroodstocks in federal and state hatcheries.In: SCHRAMM, Jr., H. L.; PIPER, R. G. (Ed.).Uses and effects of cultured fishes in aquaticecosystems. Bethesda, Maryland: AmericanFisheries Society, 1995. p. 193-204. (AmericanFisheries Society Symposium, 15).
KING, M. Fisheries biology, assessment andmanagement. Osney Mead: Fishing NewBooks, 1995. 341 p., ill.
KOLAR, C. S.; LODGE, D. M. Progress ininvasion biology: predicting invaders.Trends in Ecology and Evolution,Cambridge, v. 16, no. 4, p. 199-204, Apr. 2001.
KREBS, C. J. Ecology: the experimentalanalysis of distribution and abundance. 4th
ed. New York: Harper Collins CollegePublishers, c1994. 801 p., ill. (some col.).
KRUEGER, C. C.; DECKER, D. J. The processof fisheries management. In: KOHLER, C. C.;HUBERT, W. A. (Ed.). Inland fisheriesmanagement in North America. 2nd ed.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1999. ch. 2, p. 31-59.
KUBEÈKA, J. Succession of fish communitiesin reservoirs of Central and Eastern Europe.In: STRAŠKRABA, M.; TUNDISI, J. G.;DUNCAN, A. (Ed.). Comparative reservoirlimnology and water quality management.Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,c1993. ch. 11, p. 153-168. (Developments inhydrobiology, 77).
KUBITZA, F.; ONO, E. A.; LOPES, T. G.Lucros ou prejuízos? Eis a questão. Panoramada Aqüicultura, Rio de Janeiro, v. 11, n. 65, p.48-54, maio/jun. 2001.
KURA, Y.; REVENGA, C.; HOSHINO, E.;MOCK, G. Fishing for answers: makingsense of the global fish crisis. Washington,DC: World Resources Institute, c2004. 140 p.,ill. (some col.).
LACKEY, R. T. Fisheries managementtheory. In: SYMPOSIUM ON SELECTEDCOOLWATER FISHES OF NORTHAMERICA. Proceedings of the… Bethesda,Maryland: American Fisheries Society, 1978.p. 417-423. (American Fisheries SocietySpecial Publications, 11).
LALUMERA, G. M.; CALAMARI, D.; GALLI,P.; CASTIGLIONI, S.; CROSA, G.; FANELLI,R. Preliminary investigation on theenvironmental occurrence and effects ofantibiotics used in aquaculture in Italy.Chemosphere, Kidlington, Oxon, v. 54, p.661-668, 2004.
LAMAS, I. R. Análise de característicasreprodutivas de peixes brasileiros de águadoce, com ênfase no local de desova. Belohorizonte, 1993. 72 f., il. Dissertação(Mestrado em Ecologia, Conservação eManejo de Vida Silvestre) - Instituto deCiências Biológicas, Universidade Federal deMinas Gerais, Belo Horizonte, 1993.
LANSAC-TÔHA, F. A.; THOMAZ, S. M.;LIMA, A. F.; ROBERTO, M. C.; GARCIA, A. P.P. Vertical distribution of some planktoniccrustaceans in a “várzea” lake (lake Pousadadas Garças) of the floodplain in High RiverParaná, MS, Brazil. International Journal ofEcology and Environmental Sciences, NewDelhi, v. 21, no. 1, p. 67-68, Apr. 1995.
LARINIER, M. Dams and fish migration. In:WORLD COMISSION ON DAMS (WCD).Prepared for thematic review II.1: dams,ecosystem functions and environmentalrestoration. [S. l.], 2000. 26 p., ill. Final
480 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Report. (Environmental issues). Disponívelem: <http://www.dams.org>.
LARINIER, M. Environmental issues, damsand fish migration. In: MARMULLA, G. (Ed.).Dams, fish and fisheries: opportunities,challenges and conflict resolution. FAOFisheries Technical Paper, Rome, no. 419, p.45-89, 2001.
LARKIN, P. A. An epitaph for the concept ofmaximum sustained yield. Transactions ofthe American Fisheries Society, Bethesda,Maryland, v. 106, no. 1, p. 1-11, Jan. 1977.
LATINI, A. O.; PETRERE JUNIOR, M.Reduction of a native fish fauna by alienspecies: an example from Brazilianfreshwater tropical lakes. FisheriesManagement and Ecology, Oxford, v. 11, no.2, p. 71-79, Apr. 2004.
LEITE, R. A. N. Efeitos da usina hidrelétricade Tucuruí sobre a composição da ictiofaunadas pescarias experimentais de malhadeirasrealizadas no baixo rio Tocantins (Pará).Manaus, 1993. 133 f., il. Dissertação(Mestrado). – Instituto Nacional de Pesquisasda Amazônia, Universidade Federal doAmazonas, Manaus, 1993.
LEMES, E. M.; GARUTTI, V. Ictiofauna depoção e rápido em um córrego de cabeceirada bacia do alto rio Paraná. Comunicaçõesdo Museu de Ciências e Tecnologia daPUCRS, Série Zoologia, Porto Alegre, v. 15,n. 2, p. 175-199, dez. 2002.
LEVINE, J. M. Species diversity andbiological invasions: relating local process tocommunity pattern. Science, Washington,DC, v. 288, p. 852-854, May 2000.
LILLIE, R. A.; BUDD, J. Habitat architectureof Myriophyllum spicatum L. as an index tohabitat quality for fish andmacroinvertebrates. Journal of FreshwaterEcology, Holmen, v. 7, no. 2, p. 113-125, June1992.
LIMA JUNIOR, D. P.; LATINI, A. O. E se aaqüicultura se expandir no Brasil? CiênciaHoje, Rio de Janeiro, v. 38, n. 226, p. 58-60,maio 2006.
LIMNOBIOS Consultoria em AmbientesAquáticos. Desmatamento e limpeza doreservatório do AHE Peixe Angical: parecertécnico sobre a relevância das áreas mantidascomo suporte à ictiofauna (áreas depreservação e de desmatamento facultativo).Maringá, 2004. 73 f. + anexos. Parecer técnico.
LIN, C. K.; YI, Y. Minimizing environmentalimpacts of freshwater aquaculture and reuseof pond effluents and mud. Aquaculture,Amsterdam, v. 226, no. 1, p. 57-68, Oct. 2003.
LONG, C. W.; OSSIANDER, F. J.; RUELE, T.E.; MATHEWS, G. M. Survival of cohosalmon fingerlings passing throughoperating turbines with and withoutperforated bulkheads and of steelhead troutfingerlings passing through spillways withand without a flow deflector. Seattle,Washington, DC: NOAA National MarineFisheries Service, Northwest FisheriesScience Center, 1975. Non paged.
LOWE-MCCONNELL, R. H. Estudosecológicos de comunidades de peixestropicais. Tradução: Anna Emília A. de M.Vazzoler, Angelo Antônio Agostinho,Patrícia T. M. Cunningham. São Paulo:EDUSP, 1999. 534 p., il. (Coleção Base). Títulodo original em inglês: Ecological studies intropical fish communities.
LUDWIG, D. Environmental sustainability:magic, science, and religion in naturalresource management. EcologicalApplications, Washington, DC, v. 3, no. 4, p.555-558, Nov. 1993.
LUIZ, E. A. Assembléias de peixes depequenos reservatórios hidrelétricos doEstado do Paraná. Maringá, 2000. 33 f., il.Dissertação (Mestrado em Ecologia deAmbientes Aquáticos Continentais) –
Referências 481481481481481
Departamento de Biologia, UniversidadeEstadual de Maringá, Maringá, 2000.
LUIZ, E. A.; PETRY, A. C.; PAVANELLI, C. S.;JÚLIO JÚNIOR, H. F.; LATINI, J. D.;DOMINGUES, V. M. As assembléias depeixes de reservatórios hidrelétricos doEstado do Paraná e bacias limítrofes. In:RODRIGUES, L.; THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Org.).Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa,2005. cap. 14, p. 169-184.
LUIZ JÚNIOR, O. J. A comunidade de peixesda represa Billings, São Paulo: análisepreliminar de distribuição. São Bernardo doCampo, 1999. 23 f., il. + anexos (Monografia).– Universidade Metodista de São Paulo, SãoBernardo do Campo, 1999.
LUZ-AGOSTINHO, K. D. G.; BINI, L. M.;FUGI, R.; AGOSTINHO, A. A.; JÚLIOJÚNIOR, H. F. Food spectrum and trophicstructure of the ichthyofauna of Corumbáreservoir, Paraná river Basin, Brazil.Neotropical Ichthyology, São Paulo, v. 4, no.1, p. 61-68, Jan/Mar. 2006.
MACEINA, M. J.; BETTOLI, P. W.;KLUSSMANN, W. G.; BETSILL, R. K.; NOBLE,R. L. Effect of aquatic macrophyte removal onrecruitment and growth of black crappies andwhite crappies in Lake Conroe, Texas. NorthAmerican Journal of Fisheries Management,Bethesda, Maryland, v. 11, no. 4, p. 556-563,1991.
MACK, R. N.; SIMBERLOFF, D.; LONSDALE,W. M.; EVANS, H.; CLOUT, M.; BAZZAZ, F.A. Biotic invasions: causes, epidemiology,global consequences, and control. EcologicalApplications, Washington DC, v. 10, no. 3, p.689-710, June 2000.
MAGURRAN, A. E. Ecological diversity andits measurement. London, Sydney: CroomHelm, 1988. 179 p., ill.
MANCUSO, M. I. R.; VALENCIO, N. F. L. S.Marias e Januárias: mulheres de pescadoresdo São Francisco. In: GODINHO, H. P.;GODINHO, A. L. (Org.). Águas, peixes epescadores do São Francisco das MinasGerais. Belo Horizonte: PUC Minas, c2003.cap. 22, p. 407-422.
MANIFESTO dos praticantes da pescaesportiva no Estado do Paraná da LigaParanaense de Pesca Esportiva. Páginaeletrônica da Pescarte, Curitiba, 2004.Disponível em: <http://www.pescarte.com.br/restrito/rev04/tend204/tend53_manifesto.asp>. Acesso em:set. 2005.
MARÇAL-SIMABUKU, M. A.; PERET, A. C.Alimentação de peixes (Osteichthyes,Characiformes) em duas lagoas de umaplanície de inundação brasileira da bacia dorio Paraná. Interciencia, Caracas, v. 27, no. 6,p. 299-306, Jun. 2002.
MARCOLIN, N. Rotas da eletricidade. PesquisaFAPESP, São Paulo, n. 118, p. 8-9, dez. 2005.
MARCONDES, D. A. S.; MUSTAFÁ, A. L.;TANAKA, R. H. Estudos para manejointegrado de plantas aquáticas noreservatório de Jupiá. In: THOMAZ, S. M.;BINI, L. M. (Ed.). Ecologia e manejo demacrófitas aquáticas. Maringá: EDUEM, 2003.cap. 15, p. 299-317.
MARQUES, E. E.; AGOSTINHO, A. A.;SAMPAIO, A. A.; AGOSTINHO, C. S.Alimentação, evacuação gástrica e cronologiada digestão de jovens de pintadoPseudoplatystoma corruscans (Siluriformes,Pimelodidae) e suas relações com atemperatura ambiente. Revista UNIMAR,Maringá, v. 14 (Suplemento), p. 207-221, out.1992.
MARSHALL, B. E. Predicting ecology and fishyields in African reservoirs frompreimpoundment physico-chemical data.CIFA Technical Paper = Document Techniquedu CPCA, Rome, no. 12, 1984. 36 p., ill.
482 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
MARTIN, D. B.; MENGEL, L. J.; NOVOTNY, J.F.; WALBURG, C. H. Spring and summerwater levels in a Missouri River Reservoir:effects on age-0 fish and zooplankton.Transactions of the American FisheriesSociety, Bethesda, Maryland, v. 110, no. 3, p.370-381, May 1981.
MARTINS, S. L. Sistemas para a transposiçãode peixes. São Paulo, 2000. 184 f., il.Dissertação (Mestrado em Engenharia) -Escola Politécnica da Universidade de SãoPaulo, São Paulo, 2000.
MATHIAS, J. A.; FRANZIN, W. G.; CRAIG, J.F.; BABALUK, J. A.; FLANNAGAN, J. F.Evaluation of stocking walleye fry to enhancea commercial fishery in a large, Canadianprairie lake. North American Journal ofFisheries Management, Bethesda, Maryland,v. 12, no. 2, p. 299-306, 1992.
MATSUMURA-TUNDISI, T.; TUNDISI, J. G.;SAGGIO, A.; OLIVEIRA NETO, A. L.;ESPÍNDOLA, E. G. Limnology of SamuelReservoir (Brazil, Rondônia) in the fillingphase. Verhandlungen, InternationaleVereinigung Fur Theoretische UndAngewandte Limnologie, Stuttgart, v. 24, pt.3, p. 1482-1488, Juni 1991.
MATTHEWS, W. J.; HILL, L. G.;SCHELLHAASS, S. M. Depth distribution ofstriped bass and other fish in Lake Texoma(Oklahoma-Texas) during summerstratification. Transactions of the AmericanFisheries Society, Bethesda, Maryland, v.114, no. 1, p. 84-91, 1985.
MATTIAS, A. T.; MORON, S. E.;FERNANDES, M. N. Aquatic respirationduring hypoxia of the facultative air-breathing Hoplerythrinus unitaeniatus. Acomparison with the water-breathing Hopliasmalabaricus. In: VAL, A. L.; ALMEIDA-VAL,V. M. F.; RANDALL, D. J. (Ed.). Physiologyand biochemistry of the fishes of theAmazon. Manaus: INPA, 1996. cap. 17, p. 203-211.
MAZZEO, N.; RODRÍGUEZ-GALEGO, L.;KRUK, C.; MEERHOFF, M.; GORGA, J.;LACEROT, G.; QUINTANS, F.; LOUREIRO,M.; LARREA, D.; GARCIA-RODRÍGUEZ, F.Effects of Egeria densa Planch. beds on ashallow lake without piscivorous fish.Hydrobiologia, Dordrecht, v. 506/509, p.591-602, Nov. 2003.
McCUNE, B.; GRACE, J. B.; URBAN, D. L.Analysis of ecological communities.Gleneden Beach, Oregon: MjM SoftwareDesign, c2002. 300 p.
McKAYE, K. R.; RYAN, J. D.; STAUFFER Jr., J.R.; LOPEZ PEREZ, L. J.; VEGA, G. I.;BERGHE, E. P. van den. African tilapia inLake Nicaragua: ecosystem in transition.BioScience, Washington, DC, v. 45, no. 6, p.406-411, June 1995.
McKINNEY, M. L.; LOCKWOOD, J. L. Biotichomogenization: a few winners replacingmany losers in the next mass extinction.Trends in Ecology and Evolution, Cambridge,v. 14, no. 11, p. 450-453, Nov. 1999.
McMULLIN, S. L. Natural resourcemanagement and leadership in public arenadecision making: a prescriptive framework.In: MIRANDA, L. E.; DEVRIES, D. R. (Ed.).Multidimensional approaches to reservoirfisheries management. Bethesda, Maryland:American Fisheries Society, 1996. p. 54-63.(American Fisheries Society Symposium, 16).
MÉRONA, B. Amazon fisheries: generalcharacteristics based on two case-studies.Interciencia, Caracas, v. 15, no. 6, p. 461-468,Nov.-Dec. 1990.
MÉRONA, B.; CARVALHO, J. L.;BITTENCOURT, M. M. Les effets immédiatsde la fermeture du barrage de Tucurui(Brésil) sur l’ichtyofaune en aval. RevueD’Hydrobiologie Tropicale, Paris, v. 20, n. 1,p. 73-84, 1987.
MÉRONA, B.; SANTOS, G. M.; ALMEIDA, R.G. Short term effects of Tucuruí Dam
Referências 483483483483483
(Amazonia, Brazil) on the trophicorganization of fish communities.Environmental Biology of Fishes, Dordrecht,v. 60, no. 4, p.375-392, Apr. 2001.
MILLER, P. J. The tokology of gobioid fishes.In: POTTS, G. W.; WOOTTON, R. J. (Ed.). Fishreproduction: strategies and tactics. London:Academic Press, 1984. ch. 8, p. 119-153.
MINTE-VERA, C. V.; CAMARGO, S. A.;BUBEL, A. P. M.; PETRERE JUNIOR, M.Artisanal fisheries in an urban reservoir:Billings case (Metropolitan region of SãoPaulo). Brazilian Journal of Ecology, SãoCarlos, v. 1, p. 143-147, 1997.
MINTE-VERA, C. V.; PETRERE JUNIOR, M.Artisanal fisheries in urban reservoirs: a casestudy from Brazil (Billings Reservoir, SãoPaulo Metropolitan Region). FisheriesManagement and Ecology, Oxford, v. 7, no.6, p. 537-549, Dec. 2000.
MIRANDA, L. E. A review of guidance andcriteria for managing reservoirs andassociated riverine environments to benefitfish and fisheries. In: MARMULLA, G. (Ed.).Dams, fish and fisheries: opportunities,challenges and conflict resolution. FAOFisheries Technical Paper, Rome, no. 419, 91-137, 2001.
MIRANDA, L. E. Development of reservoirfisheries management paradigms in theTwentieth Century. In: MIRANDA, L. E.;DEVRIES, D. R. (Ed.). Multidimensionalapproaches to reservoir fisheriesmanagement. Bethesda, Maryland: AmericanFisheries Society, 1996. p. 3-11. (AmericanFisheries Society Symposium, 16).
MIRANDA, L. E.; HODGES, K. B. Role ofaquatic vegetation coverage on hypoxia andsunfish abundance in bays of a eutrophicreservoir. Hydrobiologia, Dordrecht, v. 427,p. 51-57, June 2000.
MIRANDA, L. E.; SHELTON, W. L.; BRYCE,T. D. Effects of water level manipulation on
abundance, mortality, and growth of young-of-year largemouth bass in West PointReservoir, Alabama-Georgia. NorthAmerican Journal of Fisheries Management,Bethesda, Maryland, v. 4, no. 3, p. 314-320,1984.
MITCHELL, D. S.; PIETERSE, A. H.;MURPHY, K. J. Aquatic weed problems andmanagement in Africa. In: PIETERSE, A. H.;MURPHY, K. J. (Ed.). Aquatic weeds: theecology and management of nuisanceaquatic vegetation. Oxford: OxfordUniversity Press, 1990. ch. 17, p. 341-354.
MITZNER, L. Influence of floodwater storageon abundance of juvenile crappie andsubsequent harvest at Lake Rathbun, Iowa.North American Journal of FisheriesManagement, Bethesda, Maryland, v. 1, no. 1,p. 46-50, 1981.
MORAIS FILHO, M. B. Utilização dosreservatórios hidrelétricos para produçãopiscícola. In: ENCONTRO NACIONALSOBRE LIMNOLOGIA, PISCICULTURA EPESCA CONTINENTAL, 1., Belo Horizonte,1975. Anais do... Belo Horizonte: FundaçãoJoão Pinheiro, Diretoria de Tecnologia eMeio Ambiente, Centro de RecursosNaturais, 1976. p. 289-299.
MOYLE, P. B. Inland fishes of California. 1st
ed. Berkeley, California: University ofCalifornia Press, 1976. 405 p., ill.
MOYLE, P. B.; CECH, Jr., J. J. Fishes: anintroduction to ichthyology. EnglewoodCliffs: Prentice Hall, 1996. 590 p., ill.
MOYLE, P. B.; LIGHT, T. Biological invasionsof freshwater: empirical rules and assemblytheory. Biological Conservation, Kidlington,Oxon, v. 78, p. 149-161, 1996.
MOZETO, A. A.; NOGUEIRA, F. M. B.;ESTEVES, F. A. Caracterização das fontes dematéria orgânica dos sedimentos da represado Lobo (SP) através do uso da composição
484 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
de carbono-13. Acta LimnologicaBrasiliensia, Botucatu, v. 2, p. 943-963, 1988.
MÜLLER, A. C. Hidrelétricas, meio ambientee desenvolvimento. São Paulo: MakronBooks do Brasil, c1996. 412 p., il.
NADER, V. Setor elétrico: uma história dedescaminhos. Correio da Cidadania. 5 f.Disponível em: <http://www.correiocidadania.com.br/ed452/esp1.htm>. Acesso em: 22 jun. 2005.
NAKATANI, K.; AGOSTINHO, A. A.;BAUMGARTNER, G.; BIALETZKI, A.;SANCHES, P. V.; MAKRAKIS, M. C.;PAVANELLI, C. S. Ovos e larvas de peixes deágua doce: desenvolvimento e manual deidentificação. Maringá: EDUEM, 2001. 378 p.,il. (algumas color.).
NAKATANI, K.; BAUMGARTNER, G.;BAUMGARTNER, M. S. T. Larvaldevelopment of Plagioscion squamosissimus(Heckel) (Perciformes, Sciaenidae) of ItaipuReservoir (Paraná River, Brazil). RevistaBrasileira de Zoologia, Curitiba, v. 14, n. 1,p. 35-44, jan. 1997.
NAKATANI, K.; BAUMGARTNER, G.;CAVICCHIOLI, M. Ecologia de ovos e larvasde peixes. In: VAZZOLER, A. E. A. de M.;AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. (Ed.). Aplanície de inundação do alto rio Paraná:aspectos físicos, biológicos esocioeconômicos. Maringá: EDUEM:Nupélia, 1997. cap. II.9, p. 281-306.
NAKATANI, K.; LATINI, J. D.;BAUMGARTNER, G.; BAUMGARTNER, M. S.T. Distribuição espacial e temporal das larvasde curvina Plagioscion squamosissimus (Heckel,1840) (Osteichthyes, Sciaenidae), noreservatório de Itaipu. Revista UNIMAR,Maringá, v. 15 (Suplemento), p. 191-209, 1993.
NATHANAEL, S.; EDIRISINGHE, U.Developing co-management in an artisanalgill net fishery of a deep hydro-electricreservoir in Sri Lanka. Fisheries
Management and Ecology, Oxford, v. 9, no.5, p. 267-276, Oct. 2002.
NAVA, A. F. Breves consideraciones sobre elimpacto ambiental de la piscicultura enjaulas flotantes. Revista Latinoamericana deAcuicultura, Lima, no. 41, p. 60-65, Sept. 1989.
NAYLOR, R. L.; GOLDBURG, R. J.;PRIMAVERA, J. H.; KAUTSKY, N.;BEVERIDGE, M. C. M.; CLAY, J.; FOLKE, C.;LUBCHENCO, J.; MOONEY, H.; TROELL, M.Effect of aquaculture on world fish supplies.Nature, London, v. 405, no. 6790, p. 1017-1024, June 2000.
NAYLOR, R. L.; WILLIAMS, S. L.; STRONG,D. R. Aquaculture - a gateway for exoticspecies. Science, Washington, DC, v. 294, p.1655-1656, Nov. 2001.
NEIFF, J. J. Ideas para la interpretaciónecológica del Parana. Interciencia, Caracas, v.15, no. 6, p. 424-441, Nov.-Dec. 1990.
NEY, J. J. Oligotrophication and itsdiscontents: effects of reduced nutrientloading on reservoir fisheries. In:MIRANDA, L. E.; DEVRIES, D. R. (Ed.).Multidimensional approaches to reservoirfisheries management. Bethesda, Maryland:American Fisheries Society, 1996. p. 285-295.(American Fisheries Society Symposium, 16).
NIELSEN, L. A. History of inland fisheriesmanagement in North America. In:KOHLER, C. C.; HUBERT, W. A. (Ed.). Inlandfisheries management in North America.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1993. ch. 1, p. 3-31.
NOBLE, R. L. Management of forage fishes inimpoundments of the Southern UnitedStates. Transactions of the AmericanFisheries Society, Bethesda, Maryland, v.110, no. 6, p. 738-750, Nov. 1981.
NOBLE, R. L. Management of lakes,reservoirs, and ponds. In: LACKEY, R. T.;NIELSEN, L. A. (Ed.). Fisheries management.
Referências 485485485485485
Oxford: Blackwell Scientific, 1980. ch. 12, p.265-295.
NOBLE, R. L. Management of reservoir fishcommunities by influencing speciesinteractions: predator-prey interactions inreservoir communities. In: HALL, G. E.; VANDEN AVYLE, M. J. (Ed.). Reservoir fisheriesmanagement: strategies for the 80’s.Proceedings of a Symposium held inLexington, Kentucky June 13-16, 1983.Bethesda, Maryland: Reservoir Committee,Southern Division, American FisheriesSociety, 1986. p. 137-143. Título da capa:Reservoir fisheries management: strategiesfor the 80’s. A National Symposium onManaging Reservoir Fisheries Resources.
NOBLE, R. L.; JACKSON, J. R.; IRWIN, E. R.;PHILLIPS, J. M.; CHURCHILL, T. N.Reservoirs as landscapes: implications forfish stocking programs. In: TRANSACTIONSOF THE NORTH AMERICAN WILDLIFEAND NATURAL RESOURCESCONFERENCE, 59th., 1994. [S. l.], 1994. p. 281-288.
NOBLE, R. L.; JONES, T. W. Managingfisheries with regulations. In: KOHLER, C.C.; HUBERT, W. A. (Ed.). Inland fisheriesmanagement in North America. 2nd ed.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1999. ch. 17, p. 455-477.
NORTHCOTE, T. G. Migratory behaviour offish and its significance to movementthrough riverine fish passage facilities. In:JUNGWIRTH, M.; SCHMUTZ, S.; WEISS, S.(Ed.). Fish migration and fish bypasses.Osney Mead: Fishing News Books, 1998. ch.1, p. 3-18.
NURSALL, J. R. The early development of abottom fauna in a new power reservoir inthe Rocky Mountains of Alberta. CanadianJournal of Zoology, Ottawa, v. 30, p. 387-409, 1952.
O’BRIEN, W. J. Perspectives on fish inreservoir limnology. In: THORNTON, K.
W.; KIMMEL, B. L.; PAYNE, F. E. (Ed.).Reservoir limnology: ecologicalperspectives. New York: J. Wiley & Sons,c1990. ch. 8, p. 209-225.
OGUTU-OHWAYO, R. The decline of thenative fishes of lakes Victoria and Kyoga(East Africa) and the impact of introducedspecies, especially the Nile perch, Latesniloticus, and the Nile tilapia, Oreochromisniloticus. Environmental Biology of Fishes,Dordrecht, v. 27, no. 2, p. 81-96, Feb. 1990.
OKADA, E. K.; AGOSTINHO, A. A.; GOMES,L. C. Spatial and temporal gradients inartisanal fisheries of a large Neotropicalreservoir, the Itaipu Reservoir, Brazil.Canadian Journal of Fisheries and AquaticSciences, Ottawa, v. 62, no. 3, p. 714-724,Mar. 2005.
OKADA, E. K.; AGOSTINHO, A. A.;PETRERE JUNIOR, M. Catch and effort dataand the management of the commercialfisheries of Itaipu Reservoir in the UpperParaná River, Brazil. In: COWX, I. G. (Ed.).Stock assessment in inland fisheries. OsneyMead, Oxford: Fishing News Books, 1996.ch. 12, p. 154-161.
OKADA, E. K.; AGOSTINHO, A. A.;PETRERE JUNIOR, M.; PENCZAK, T. Factorsaffecting fish diversity and abundance indrying ponds and lagoons in the UpperParaná River Basin, Brazil. InternationalJournal of Ecohydrology & Hydrobiology,Warsaw, v. 3, no. 1, p. 97-110, 2003.
OKADA, E. K.; GREGORIS, J.; AGOSTINHO,A. A.; GOMES, L. C. Diagnóstico da pescaprofissional em dois reservatórios do rioIguaçu. In: AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L.C. (Ed.). Reservatório de Segredo: basesecológicas para o manejo. Maringá: EDUEM,1997. cap. 16, p. 293-318.
OLDANI, N. O.; BAIGÚN, C. R. M.Performance of a fishway system in a majorSouth American dam on the Paraná River(Argentina-Paraguay). River Research and
486 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Applications, Chichester, v. 18, no. 2, p. 171-183, Mar.-Apr. 2002.
OLIVEIRA, E. F.; GOULART, E.; MINTE-VERA, C. V. Fish diversity along spatialgradients in the Itaipu Reservoir, Paraná,Brazil. Brazilian Journal of Biology, SãoCarlos, v. 64, no. 3A, p. 447-458, Aug. 2004.
OLIVEIRA, E. F.; LUIZ, E. A.; AGOSTINHO,A. A.; BENEDITO-CECÍLIO, E. Fishassemblages in littoral areas of the UpperParaná River floodplain, Brazil. ActaScientiarum, Maringá, v. 23, no. 2, p. 369-376, Apr. 2001.
OLIVEIRA, E. F.; MINTE-VERA, C. V.;GOULART, E. Structure of fish assemblagesalong spatial gradients in a deepsubtropical reservoir (Itaipu Reservoir,Brazil-Paraguay border). EnvironmentalBiology of Fishes, Dordrecht, v. 72, p. 283-304, 2005.
OLIVEIRA, J. C.; LACERDA, A. K. G.Alterações na composição e distribuiçãolongitudinal da ictiofauna na área deinfluência do reservatório Chapéu d’Uvas,bacia do rio Paraíba do Sul (MG), poucodepois da sua implantação. RevistaBrasileira de Zoociências, Juiz de Fora, v.6, n. 1, p. 45-60, jul. 2004.
OLIVEIRA FILHO, C. C. Consideraçõessobre a utilização múltipla de grandesrepresas brasileiras. Rio de Janeiro:ELETROBRÁS, 1976. 14 f.
OLSON, M. H.; CARPENTER, S. R.;CUNNINGHAM, P.; GAFNY, S.; HERWIG,B. R.; NIBBELINK, N. P.; PELLET, T.;STORLIE, C.; TREBITZ, A. S.; WILSON, K.A. Managing macrophytes to improve fishgrowth: a multi-lake experiment. Fisheries,Bethesda, Maryland, v. 23, no. 2, p. 6-12,Feb. 1998.
ORSI, M. L.; AGOSTINHO, A. A. Introduçãode espécies de peixes por escapes acidentaisde tanques de cultivo em rios da Bacia do
Rio Paraná, Brasil. Revista Brasileira deZoologia, Curitiba, v. 16, n. 2, p. 557-560,jun. 1999.
OSTRENSKY, A.; VIANA, L. S. A dança dosnúmeros da piscicultura paranaense.Panorama da Aqüicultura, Rio de Janeiro,v. 14, n. 84, p. 28-32, jul./ago. 2004.
PACIFIC NORTHWEST NATIONALLABORATORY. Hydropower: direct effectsof shear strain on fish. Idaho Falls: IdahoNational Laboratory, c2005. Disponível em:<http://www.hydropower.inel.gov>.Acesso em: jan. 2005.
PADUA, D. M. C. Fundamentos depiscicultura. Goiânia: Ed. da UCG, 2001. 341p., il.
PAGIORO, T. A. Variações espaço-temporais das características físicas equímicas da água, material emsedimentação e produtividade primáriafitoplanctônica no reservatório de Itaipu-PR-Brasil. Maringá, 1999. 59 f., il. Tese(Doutorado em Ecologia de AmbientesAquáticos Continentais) - Departamento deBiologia, Universidade Estadual deMaringá, Maringá, 1999.
PAGIORO, T. A.; ROBERTO, M. C.;THOMAZ, S. M.; PIERINI, S. A.; TAKA, M.Zonação longitudinal das variáveislimnológicas abióticas em reservatórios.In: RODRIGUES, L.; THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Org.).Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa,2005. cap. 3, p. 39-46.
PAGIORO, T. A.; THOMAZ, S. M.;ROBERTO, M. C. Caracterizaçãolimnológica abiótica dos reservatórios. In:RODRIGUES, L.; THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Org.).Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa,2005. cap. 2, p. 17-37.
Referências 487487487487487
PAINE, R. T. Food web complexity andspecies diversity. The American Naturalist,Chicago, v. 100, no. 910, p. 65-75, Jan.-Feb.1966.
PAIVA, M. M. Grandes represas do Brasil.Brasília, DF: Editerra, 1982. 292 p., il. + 9estampas.
PAIVA, M. P.; PETRERE JUNIOR, M.;PETENATE, A. J.; NEPOMUCENO, F. H.;VASCONCELOS, E. A. Relationshipbetween the number of predatory fishspecies and fish yield in large northeasternBrazilian reservoirs. In: COWX, I. G. (Ed.).Rehabilitation of freshwater fisheries.Osney Mead: Fishing News Books, 1994. ch.11, p. 120-129.
PATERSON, M. J.; FINDLAY, D.; BEATY, K.;FINDLAY, W.; SCHINDLER, E. U.;STAINTON, M.; McCULLOUGH, G.Changes in the planktonic food web of anew experimental reservoir. CanadianJournal of Fisheries and Aquatic Sciences,Ottawa, v. 54, no. 5, p. 1088-1102, May 1997.
PATTEN, M. L. Understanding researchmethods: an overview of the essentials. 4th
ed. Glendale, CA: Pyrczak Publishing,c2004. 170 p., ill.
PAULY, D. Tropical fishes: patterns andpropensities. Journal of Fish Biology,London, v. 53(Supplement A), p. 1-17, Dec.1998.
PAULY, D.; CHRISTENSEN, V.; DALSGAARD,J.; FROESE, R.; TORRES Jr., F. Fishing downmarine food webs. Science, Washington, DC,v. 279, no. 6, p. 860-863, Feb. 1998.
PAVLOV, D. S.; LUPANDIN, A. I.; KOSTIN, V.V. Downstream migration of fish throughdams of hydroelectric power plants.Translated by T. Albert and G. F. Cada. OakRidge, Tennessee: Oak Ridge NationalLaboratory, 2002. Available on line from theU.S. Department of Energy Hydropower
Program. Disponível em: <http://hydropower.id.doe.gov/>.
PEARSONS, T. N.; HOPLEY, C. W. A practicalapproach for assessing ecological risksassociated with fish stocking programs.Fisheries, Bethesda, Maryland, v. 24, no. 9, p.16-23, Sept. 1999.
PELICICE, F. M. A pesca na represa Billings,São Bernardo do Campo, São Paulo:perspectivas atuais. São Bernardo do Campo,1999. 30 f., il. (algumas color.) + anexos, fotoscolor. Monografia (Bacharel em CiênciasBiológicas e da Saúde) – Faculdade deCiências Biológicas e da Saúde, UniversidadeMetodista de São Paulo, São Bernardo doCampo, 1999.
PELICICE, F. M. Os peixes ornamentais e aplanície de inundação do alto rio Paraná.Maringá, 2003. 29 f., il. + anexos. Monografia(Exame Geral de Qualificação do Programa dePós-Graduação em Ecologia de AmbientesAquáticos Continentais) – Departamento deBiologia, Universidade Estadual de Maringá,Maringá, 2003.
PELICICE, F. M.; ABUJANRA, F.; FUGI, R.;LATINI, J. D.; GOMES, L. C.; AGOSTINHO, A.A. A piscivoria controlando a produtividadeem reservatórios: explorando o mecanismotop down. In: RODRIGUES, L.; THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Org.).Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa, 2005.cap. 23, p. 293-302.
PELICICE, F. M.; AGOSTINHO, A. A. Feedingecology of fishes associated with Egeria spp.patches in a tropical reservoir, Brazil. Ecologyof Freshwater Fish, München, v. 15, no. 1, p.10-19, 2006.
PELICICE, F. M.; AGOSTINHO, A. A.;THOMAZ, S. M. Fish assemblages associatedwith Egeria in a tropical reservoir:investigating the effects of plant biomass anddiel period. Acta Oecologica, Paris, v. 27, p. 9-16, 2005.
488 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
PENCZAK, T.; GALICKA, W.; MOLINSKI, M.;KUSTO, E.; ZALEWSKI, M. The enrichment ofa mesotrophic lake by carbon, phosphorusand nitrogen from the cage aquaculture ofrainbow trout, Salmo gairdneri. Journal ofApplied Ecology, Oxford, v. 19, p. 371-393,1982.
PEREIRA, J. L.; SILVA, A. L. N.; CORREIA, E.S. Situação atual da Aqüicultura na regiãoNordeste. In: VALENTI, W. C.; POLI, C. R.;PEREIRA, J. A.; BORGHETTI, J. R. (Ed.).Aqüicultura no Brasil: bases para umdesenvolvimento sustentável. Brasília, DF:CNPq: Ministério da Ciência e Tecnologia,2000. cap. 8, p. 267-288.
PERETTI, D.; ANDRIAN, I. F. Trophicstructure of fish assemblages in fivepermanent lagoons of the high Paraná Riverfloodplain, Brazil. Environmental Biology ofFishes, Dordrecht, v. 71, no. 1, p. 95-103, Sept.2004.
PÉREZ, J. E.; ALFONSI, C.; NIRCHIO, M.;MUÑOZ, C.; GÓMEZ, J. A. The introductionof exotic species in aquaculture: a solution orpart of the problem? Interciencia, Caracas, v.28, no. 4, p. 234-238, Apr. 2003.
PÉREZ, J. E.; MUÑOZ, C.; HUAQUÍN, L.;NIRCHIO, M. Riesgos de la introducción detilapias (Oreochromis sp.) (Perciformes:Cichlidae) en ecosistemas acuáticos de Chile.Revista Chilena de Historia Natural, Santiago,v. 77, p. 195-199, 2004.
PÉREZ, J. E.; SALAZAR, S. K.; ALFONSI, C.;RUIZ, L. Ictiofauna del río Manzanares: acuatro décadas de la introducción de la tilapianegra Oreochromis mossambicus (Pisces:Cichlidae). Boletín del Instituto Oceanográficode Venezuela Universidad de Oriente,Cumana, v. 42, n. 1&2, p. 29-35, 2003.
PERNA, S. A.; FERNANDES, M. N. Gillmorphometry of the facultative air-breathingloricariid fish, Hypostomus plecostomus(Walbaum) with special emphasis on aquatic
respiration. Fish Physiology and Biochemistry,New York, v. 15, no. 3, p. 213-220, 1996.
PETR, T. Interactions between fish and aquaticmacrophytes in inland waters: a review. FAOFisheries Technical Paper, Rome, no. 396, 2000.185 p., ill.
PETRERE JUNIOR, M. Ecology of the fisheriesin the River Amazon and its tributaries in theAmazonas State (Brazil). Norfolk, UK, 1982. 96f., ill. Thesis (PhD) - University of East Anglia,UK, 1982.
PETRERE JUNIOR, M. Fisheries in largetropical reservoirs in South America. Lakes &Reservoirs: Research and Management,Carlton South, v. 2, p. 111-133, 1996.
PETRERE JUNIOR, M. Migraciones de peces deagua dulce en América Latina: algunoscomentarios. Copescal Documento Ocasional,Rome, n. 1, 1985. 17 p., il.
PETRERE JUNIOR, M. Pesca e esforço de pescano estado do Amazonas. II. Locais, aparelhosde captura e estatística de desembarque. ActaAmazonica, Manaus, v. 8, n. 3(suplemento 2),p. 1-54, 1978.
PETRERE JUNIOR, M. River fisheries in Brazil:a review. Regulated Rivers: Research &Management, Chichester, v. 4, p. 1-16, 1989.
PETRERE JUNIOR., M.; AGOSTINHO, A. A. Lapesca en el tramo brasileño del Río Paraná.FAO Informe de Pesca, Roma, n.490, p.52-72,1993.
PETRERE JUNIOR, M.; AGOSTINHO, A. A.;OKADA, E. K.; JÚLIO JÚNIOR, H. F. Review ofthe fisheries in the Brazilian portion of theParaná/Pantanal basin. In: COWX, I. G. (Ed.).Management and ecology of lake andreservoir fisheries. Osney Mead: Fishing NewBooks, 2002. ch. 11, p.123-143.
PETRERE JUNIOR, M.; BARTHEM, R. B.;CÓRDOBA, E. A.; GÓMEZ, B. C. Review of thelarge catfish fisheries in the Upper Amazon
Referências 489489489489489
and the stock depletion of piraíba(Brachyplatystoma filamentosum Lichtenstein).Reviews in Fish Biology and Fisheries,Dordrecht, v. 14, no. 4, p. 403-414, 2004.
PETRERE JUNIOR, M.; RIBEIRO, M. C. L. B. Theimpact of a large tropical hydroelectric dam:the case of Tucuruí in the Middle RiverTocantins. Acta Limnologica Brasiliensia,Botucatu, v. 5, p. 123-133, 1994.
PETRY, A. C.; AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L.C. Fish assemblages of tropical floodplainlagoons: exploring the role of connectivity in adry year. Neotropical Ichthyology, São Paulo,v. 1, no. 2, p. 111-119, Oct./Dec. 2003.
PETRY, P.; BAYLEY, P. B.; MARKLE, D. F.Relationships between fish assemblages,macrophytes and environmental gradients inthe Amazon River floodplain. Journal of FishBiology, London, v. 63, no. 3, p. 547-579, Sept.2003.
PETTS, G. E. Impounded rivers: perspectivesfor ecological management. Chichester: J.Wiley & Sons, c1984. 326p., ill. (Environmentalmonographs and symposia).
PETTS, G. E. Perspectives for ecologicalmanagement of regulated rivers. In: GORE, J.A.; PETTS, G. E. (Ed.). Alternatives in regulatedriver management. Boca Raton, Florida: CRCPress, c1989. ch. 1, p. 3-24.
PETTS, G. E. Water quality characteristics ofregulated rivers. Progress in PhysicalGeography, Queen Mary, UK, v. 10, no. 4, p.492-516, 1986.
PEZZATO, L. E.; SCORVO FILHO, J. D.Situação atual da Aqüicultura na regiãoSudeste. In: VALENTI, W. C.; POLI, C. R.;PEREIRA, J. A.; BORGHETTI, J. R. (Ed.).Aqüicultura no Brasil: bases para umdesenvolvimento sustentável. Brasília, DF:CNPq: Ministério da Ciência e Tecnologia,2000. cap. 10, p. 303-322.
PHAN, P. D.; DE SILVA, S. S. The fishery ofthe Ea Kao Reservoir, southern Vietnam: afishery based on a combination of stock andrecapture, and self-recruiting populations.Fisheries Management and Ecology, Oxford,v. 7, no. 3, p. 251-264, Apr. 2000.
PHILIPP, D. P.; CLAUSSEN, J. E. Fitness andperformance differences between two stocksof largemouth bass from different riverdrainages within Illinois. In: SCHRAMM, Jr.,H. L.; PIPER, R. G. (Ed.). Uses and effects ofcultured fishes in aquatic ecosystems.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1995. p. 236-243. (American FisheriesSociety Symposium, 15).
PIANA, P. A.; GASPAR DA LUZ, K. D.;PELICICE, F. M.; COSTA, R. S.; GOMES, L. C.;AGOSTINHO, A. A. Predição e mecanismosreguladores da biomassa de peixes emreservatórios. In: RODRIGUES, L.; THOMAZ,S. M.; AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.(Org.). Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa, 2005.cap. 24, p. 303-310.
PIEDRAHITA, R. H. Reducing the potentialenvironmental impact of tank aquacultureeffluents through intensification andrecirculation. Aquaculture, Amsterdam, v.226, no. 1-4, p. 35-44, Oct. 2003.
PILATI, R.; ANDRIAN, I. F.; CARNEIRO, J. W.P. Desempenho germinativo de sementes deCecropia pachystachya Trec. (Cecropiaceae),recuperadas do trato digestório de Doradidae,Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1833), daplanície de inundação do alto rio Paraná.Interciencia, Caracas, v. 24, no. 6, p. 381-388,Nov.-Dec. 1999.
PILLAY, T. V. R. Aquaculture and theenvironment. 2nd ed. Oxford: BlackwellPublishing, 2004. 196 p., ill.
PLOSKEY, G. R. Impacts of terrestrialvegetation and preimpoundment clearing onreservoir ecology and fisheries in the United
490 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
States and Canada. FAO Fisheries TechnicalPaper, Rome, no. 258, 1985. 35p., ill.
POLI, C. R.; GRUMANN, A.; BORGHETTI, J. R.Situação atual da Aqüicultura na região Sul.In: VALENTI, W. C.; POLI, C. R.; PEREIRA, J.A.; BORGHETTI, J. R. (Ed.). Aqüicultura noBrasil: bases para um desenvolvimentosustentável. Brasília, DF: CNPq: Ministério daCiência e Tecnologia, 2000. cap. 11, p. 323-351.
POUILLY, M.; YUNOKI, T.; ROSALES, C.;TORRES, L. Trophic structure of fishassemblages from Mamoré River floodplainlakes (Bolivia). Ecology of Freshwater Fish,München, v. 13, no. 4, p. 245-257, Dec. 2004.
PUPIM, P. Linhagem de tilápia poderevolucionar piscicultura. Jornal da UEM,Maringá, n. 21, jun. 2005. Disponível em:<http://www.jornal.uem.br>. Acesso em:nov. 2005.
QUIRÓS, R. Estructuras para asistir a los pecesno salmónidos en sus migraciones: AméricaLatina. COPESCAL Documento Tecnico,Roma, no. 5, 1988. 50 p., il.
QUIRÓS, R. The relationship between fishyield and stocking density in reservoirs fromtropical and temperate regions. In: TUNDISI,J. G.; STRASKRABA, M. (Ed.). Theoreticalreservoir ecology and its applications. SãoCarlos: International Institute of Ecology;Leiden, The Netherlands: BackhuysPublishers; Rio de Janeiro: Brazilian Academyof Sciences, 1999. p. 67-83.
QUIRÓS, R.; MARI, A. Factors contributing tothe outcome of stocking programmes inCuban reservoirs. Fisheries Managementand Ecology, Oxford, v. 6, no. 3, p. 241-254,June 1999.
RADOMSKI, P. J.; GOEMAN, T. J. Thehomogenizing of Minnesota Lake fishassemblages. Fisheries, Bethesda, Maryland,v. 20, no. 7, p. 20-23, 1995.
RAHEL, F. J. Homogenization of freshwaterfaunas. Annual Review of Ecology andSystematics, Palo Alto, California, v. 33, p.291-315, 2002.
RAINWATER, W. C.; HOUSER, A. Speciescomposition and biomass of fish in selectedcoves in Beaver Lake, Arkansas, during thefirst 18 years of impoundment (1963-1980).North American Journal of FisheriesManagement, Bethesda, Maryland, v. 2, no. 4,p. 316-325, 1982.
RAMOS, L. A.; ROSÁRIO, D. A. P.;MARCHESAN, A. M. M. A proteção à fauna eà biodiversidade: o princípio da prevenção eos possíveis efeitos nocivos decorrentes daintrodução e criação de tilápias e bagre-do-canal (catfish). In: CONGRESSO NACIONALDE DIREITO AMBIENTAL – FAUNA,POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOSLEGAIS, 8., São Paulo, 2004. Anais... SãoPaulo: Instituto O Direito por um PlanetaVerde, 2004. p. 467-486.
RANDALL, R. G.; KELSO, J. R. M.; MINNS, C.K. Fish production in freshwaters: are riversmore productive than lakes? CanadianJournal of Fisheries and Aquatic Sciences,Ottawa, v. 52, no. 3, p. 631-643, Mar. 1995.
REIS, R. E.; KULLANDER, S. O.; FERRARIS,Jr., C. J. (Org.). Check list of the freshwaterfishes of South and Central America. PortoAlegre: EDIPUCRS, 2003. 729 p., ill.
REYNOLDS, C. S. The state of freshwaterecology. Freshwater Biology, Oxford, v. 39,no. 4, p. 741-753, June 1998.
RIBEIRO, M. C. L. B.; PETRERE JUNIOR, M.;JURAS, A. A. Ecological integrity andfisheries ecology of the Araguaia-Tocantinsriver basin, Brazil. Regulated Rivers:Research & Management, Chichester, v. 11,no.3/4, p. 325-350, Nov. 1995.
RIBEIRO, M. C. L. B.; STARLING, F. L. R. M.;WALTER, T.; FARAH, E. M. Peixes. In:FONSECA, F. O. (Org.). Olhares sobre o lago
Referências 491491491491491
Paranoá. Brasília, DF: Secretaria de MeioAmbiente e Recursos Hídricos, 2001. p. 121-128.
RICKER, W. E. Computation andinterpretation of biological statistics of fishpopulations. Bulletin of the FisheriesResearch Board of Canada, Ottawa, v. 191,1975.
RIGLER, F. H. Recognition of the possible: anadvantage of empiricism in ecology.Canadian Journal of Fisheries and AquaticSciences, Ottawa, v. 39, p. 1323-1331, 1982.
RIZZO, E.; SATO, Y.; FERREIRA, R. M. A.;CHIARINI-GARCIA, H.; BAZZOLI, N.Reproduction of Leporinus reinhardti Lütken,1874 (Pisces: Anostomidae) from the TrêsMarias Reservoir, São Francisco River, MinasGerais, Brazil. Ciência e Cultura, São Paulo,v. 48, no. 3, p. 189-192, May/June 1996.
RODRIGUES, A. M.; RODRIGUES, J. D.;CAMPOS, E. C.; FERREIRA, A. E. Aspectos daestrutura populacional e época dereprodução do tambiú Astyanax bimaculatus(Characiformes, Characidae) na represa deBariri, rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, v.16, n. 1, p. 97-110, jan./jun. 1989.
RODRIGUEZ, F. A. O papel das barragens naagricultura brasileira. In: WORKSHOPBARRAGENS, DESENVOLVIMENTO E MEIOAMBIENTE = WORKSHOP ON DAMS,DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT,2000, São Paulo. São Paulo: BancoInteramericano de Desenvolvimento, 2000. p.113-128.
RODRÍGUEZ, J. P. Exotic speciesintroductions into South America: anunderestimated threat? Biodiversity andConservation, Dordrecht, v. 10, p.1983-1996, 2001.
RODRÍGUEZ RUIZ, A. Fish speciescomposition before and after constructionof a reservoir on the Guadalete River (SW
Spain). Archiv für Hydrobiologie,Stuttgart, v. 142, no. 3, p. 353-369, June1998.
ROSENFIELD, A.; MANN, R. (Ed.).Dispersal of living organisms into aquaticecosystems. College Park, Maryland: AMaryland Sea Grant Publication, c1992. 471p., ill.
RUDSTAM, L. G.; MAGNUSON, J. J.Predicting the vertical distribution of fishpopulations: analysis of cisco, Coregonusartedii, and yellow perch, Perca flavescens.Canadian Journal of Fisheries and AquaticSciences, Ottawa, v. 42, no. 6, p. 1178-1188,June 1985.
RUESINK, J. L. Global analysis of factorsaffecting the outcome of freshwater fishintroductions. Conservation Biology,Kidlington, Oxon, v. 19, no. 6, p. 1883-1893,Dec. 2005.
RUFFINO, M. L. Towards participatoryfishery management on the LowerAmazon. Eschborne: GTZ-IARA Project,Lower Amazon, Brazil, 1997. p. 165-169.(Abteilung, 424). Report Project.
RUFFINO, M. L.; BARTHEM, R. B.Perspectivas para el manejo de los bagresmigradores de la Amazonia. BoletinCientifico, Santa Fé de Bogotá, n. 4, p. 19-28, 1996.
RUGGLES, C. P. A review of thedownstream migration of Atlantic salmon.Canadian Technical Report of Fisheriesand Aquatic Sciences, Quebec, no. 952, p. 1-39, 1980. Technical report.
RYDER, R. A. Effects of ambient lightvariations on behavior of yearling, subadult,and adult walleyes (Stizostedion vitreumvitreum)1,2,3. Journal of the Fisheries ResearchBoard of Canada, Ottawa, v. 34, no. 10, p.1481-1491, Oct. 1977.
492 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
SABINO, J.; CASTRO, R. M. C. Alimentação,período de atividade e distribuição espacialdos peixes de um riacho da floresta atlântica(sudeste do Brasil). Revista Brasileira deBiologia, Rio de Janeiro, v. 50, n. 1, p. 23-36,fev. 1990.
SABINO, J.; ZUANON, J. A stream fishassemblage in Central Amazonia:distribution, activity patterns and feedingbehavior. Ichthyological Explorations ofFreshwaters, München, v. 8, no. 3, p. 201-210,Feb. 1998.
SAINT-PAUL, U. Potential for aquaculture ofSouth American freshwater fishes: a review.Aquaculture, Amsterdam, v. 54, no. 3, p. 205-240, June 1986.
SANCHES, P. V. Influências das variações donível fluviométrico e canais e efeitos dobarramento sobre o ictiplâncton na planíciede inundação do alto rio Paraná, Brasil.Maringá, 2002. 51 f., il. Tese (Doutorado emEcologia de Ambientes AquáticosContinentais) - Departamento de Biologia,Universidade Estadual de Maringá, Maringá,2002.
SÁNCHEZ-BOTERO, J. I.; ARAÚJO-LIMA, C.A. R. M. As macrófitas aquáticas comoberçário para a ictiofauna da várzea do rioAmazonas. Acta Amazonica, Manaus, v. 31,n. 3, p. 437-447, 2001.
SANDERS, N. J.; GOTELLI, N. J.; HELLER, N.E.; GORDON, D. M. Community disassemblyby an invasive species. Proceedings of theNational Academy of Sciences of the UnitedStates of America, Washington, DC, v. 110,no. 5, p. 2474-2477, Mar. 2003. Disponíveltambém em: <http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0437913100>.
SANTAMARÍA, L. Why are most aquaticplants widely distributed? Dispersal, clonalgrowth and small-scale heterogeneity in astressful environment. Acta Oecologica,Paris, v. 23, no. 3, p. 137-154, June 2002.
SANTOS, A. H. M.; FREITAS, M. A. V.Hidrelétricas e desenvolvimento no Brasil.In: WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, SãoPaulo. São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 59-76.
SANTOS, G. B.; FORMAGIO, P. S. Estruturada ictiofauna dos reservatórios do rioGrande, com ênfase no estabelecimento depeixes piscívoros exóticos. InformeAgropecuário, Belo Horizonte, v. 21, n. 203,p. 98-106, mar./abr. 2000.
SANTOS, G. B.; MAIA-BARBOSA, P. M.;VIEIRA, F.; LÓPEZ, C. M. Fish andzooplankton community structure inreservoirs of southeastern Brazil: effects ofthe introduction of exotic predatory fish. In:PINTO-COELHO, R. M.; GIANI, A.; VONSPERLING, E. (Ed.). Ecology and humanimpact on lakes and reservoirs in MinasGerais, with special reference to futuredevelopment and management strategies.Belo Horizonte, MG: SEGRAC, 1994. p. 115-132.
SANTOS, G. M. Composição do pescado esituação da pesca no Estado de Rondônia.Acta Amazônica, Manaus, v. 16/17, Supl., p.43-84, 1986/1987.
SANTOS, G. M. Impactos da hidrelétricaSamuel sobre as comunidades de peixes dorio Jamari (Rondônia, Brasil). ActaAmazonica, Manaus, v. 25, n. 3/4, p. 247-280, set./dez. 1995.
SANTOS, G. M.; FERREIRA, E. J. G. Peixes dabacia Amazônica. In: LOWE-MCCONNEL,R. H. Estudos ecológicos de comunidadesde peixes tropicais. Tradução: Anna EmíliaA. de M. Vazzoler, Angelo AntônioAgostinho, Patrícia T. M. Cunningham. SãoPaulo: EDUSP, 1999. cap. 15, p. 345-373.(Coleção Base). Título do original eminglês: Ecological studies in tropical fishcommunities.
Referências 493493493493493
SANTOS, G. M.; MÉRONA, B. Impactosimediatos da UHE Tucuruí sobre ascomunidades de peixes e a pesca. In:MAGALHÃES, S. B.; BRITTO, R. C.;CASTRO, E. R. (Ed.). Energia na Amazônia.Manaus: Universidade Federal daAmazônia: Museu Paulo Emilio Goldi:Universidade da Amazônia, 1996. v. 1, p.251-258.
SANTOS, G. M.; OLIVEIRA JUNIOR, A. B. Apesca no reservatório da hidrelétrica deBalbina (Amazonas, Brasil). ActaAmazonica, Manaus, v. 29, n. 1, p. 145-163,1999.
SANTOS, G. M.; SANTOS, A. C. M.Sustentabilidade da pesca na Amazônia.Estudos Avançados, São Paulo, v. 19, n. 54,p. 165-182, ago. 2005.
SANTOS, R. A.; CAMARA, J. J. C.; CAMPOS,E. C.; VERMULM JUNIOR, H.; GIAMAS, M.T. D. Considerações sobre a pescaprofissional e a produção pesqueira emáguas continentais do Estado de São Paulo.Boletim Técnico do Instituto de Pesca, SãoPaulo, n. 19, 1995. 32 p., il.
SANTOS, S. R. O futuro dos recursoshídricos no Brasil e na América Latina:barragens, navegação e meio ambiente. In:WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, SãoPaulo. São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 129-142.
SATO, Y.; GODINHO, H. P. Migratory fishesof the São Francisco River. In:CAROLSFELD, J.; HARVEY, B.; ROSS, C.;BAER, A. (Ed.). Migratory fishes of SouthAmerica: biology, fisheries andconservation status. Ottawa: WorldFisheries Trust: International DevelopmentResearch Centre; Washington, D.C.:International Bank for Reconstruction andDevelopment/The World Bank, c2003. ch. 5,p. 195-232.
SATO, Y.; GODINHO, H. P. Peixes da baciado rio São Francisco. In: LOWE-MCCONNEL, R. H. Estudos ecológicos decomunidades de peixes tropicais. Tradução:Anna Emília A. de M. Vazzoler, AngeloAntônio Agostinho, Patrícia T. M.Cunningham. São Paulo: EDUSP, 1999. cap.17, p. 401-413. (Coleção Base). Título dooriginal em inglês: Ecological studies intropical fish communities.
SATO, Y.; OSÓRIO, F. M. F. A pescaprofissional na região de Três Marias, MGem 1986. In: COLETÂNEA de Resumos dosEncontros da Associação Mineira deAqüicultura (AMA): 1982-1987. Brasília, DF:Codevasf, 1988. p. 91-92.
SAVINO, J. F.; STEIN, R. A. Predator-preyinteraction between largemouth bass andbluegills as influenced by simulated,submersed vegetation. Transactions of theAmerican Fisheries Society, Bethesda,Maryland, v. 111, no. 3, p. 255-266, May 1982.
SAZIMA, I.; ZAMPROGNO, C. Use of waterhyacinths as shelter, foraging place, andtransport by young piranhas, Serrasalmusspilopleura. Environmental Biology of Fishes,Dordrecht, v. 12, no. 3, p. 237-240, Mar. 1985.
SCHEFFER, M. Ecology of shallow lakes. 1st
ed. London: Chapman & Hall, 1998. 357 p.,ill. (Population and community biologyseries, 22).
SCHISLER, G. J.; BERGERSEN, E. P.Identification of gas supersaturation sourcesin the Upper Colorado River, USA.Regulated River: Research & Management,Chichester, v. 15, no. 4, p. 301-310, July-Aug.1999.
SCHOLZ, T. Parasites in cultured and feralfish. Veterinary Parasitology, Amsterdam, v.84, no. 3-4, p. 317-335, Aug. 1999.
SCHRAMM, Jr., H. L.; PIPER, R. G. (Ed.). Usesand effects of cultured fishes in aquaticecosystems. Bethesda, Maryland: American
494 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Fisheries Society, 1995. 608 p., ill. (AmericanFisheries Society Symposium, 15).
SEMINÁRIO SOBRE FAUNA AQUÁTICA E OSETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: REUNIÕESTEMÁTICAS PREPARATÓRIAS, 1993. Rio deJaneiro: ELETROBRÁS: COMASE, 1994. 4cadernos.
SHANER, B. L.; MACEINA, M. J.; MCHUGH,J. J.; COOK, S. F. Assessment of catfishstocking in public fishing lakes in Alabama.North American Journal of FisheriesManagement, Bethesda, Maryland, v. 16, no.4, p. 880-887, Nov. 1996.
SHEA, K.; CHESSON, P. Community ecologytheory as a framework for biologicalinvasions. Trends in Ecology and Evolution,Cambridge, v. 17, no. 4, p. 170-176, Apr. 2002.
SIH, A.; ENGLUND, G.; WOOSTER, D.Emergent impacts of multiple predators onprey. Trends in Ecology and Evolution,Cambridge, v. 13, no. 9, p. 350-355, Sept. 1998.
SILVA, C. P. D. Community structure of fishin urban and natural streams in the CentralAmazon. Amazoniana, Kiel, v. 13, no. 3/4, p.221-236, Dez. 1995.
SILVANO, R. A. M.; BEGOSSI, A. Seasonaldynamics of fishery at the Piracicaba River(Brazil). Fisheries Research, Amsterdam, v.51, no. 1, p. 69-86, Apr. 2001.
SIMBERLOFF, D. Confronting introducedspecies: a form of xenophobia? BiologicalInvasions, Hague, The Netherlands, v. 5, no.3, p. 179-192, Sept. 2003.
SIPAÚBA-TAVARES, L. H.; FÁVERO, E. G. P.;BRAGA, F. M. S. Utilization of macrophytebiofilter in effluent from aquaculture: I.Floating plant. Brazilian Journal of Biology,São Carlos, v. 62, no. 4A, p. 713-723, Nov.2002.
SIROL, R. N.; BRITTO, S. G. Conservação emanejo da ictiofauna: repovoamento. In:
NOGUEIRA, M. G.; HENRY, R.; JORCIN, A.(Org.). Ecologia de reservatórios: impactospotenciais, ações de manejo e sistemas emcascata. São Carlos: RiMa, 2005. cap. 11, p.275-284.
SMITH, W. S.; PEREIRA, C. C. G. F.;ESPÍNDOLA, E. L. G.; ROCHA, O. Aimportância da zona litoral para adisponibilidade de recursos alimentares àcomunidade de peixes em reservatórios. In:HENRY, R. (Org.). Ecótonos nas interfacesdos ecossistemas aquáticos. São Carlos:RiMa, 2003. p. 233-248.
SMITH, W. S.; PETRERE JUNIOR, M. Peixesem represas: o caso de Itupararanga. CiênciaHoje, Rio de Janeiro, v. 29, n. 170, p. 74-77,abr. 2001.
SMITH-ROOT, INC. c2000-2005. Disponívelem: <http://www.smith-root.com>. Acessoem: jan. 2005.
SOLUK, D. A. Multiple predator effects:predicting combined functional response ofstream fish and invertebrate predators.Ecology (Washington, DC), v. 74, no. 1, p.219-225, Jan. 1993.
SOUZA FILHO, E. E.; ROCHA, P. C.;COMUNELLO, E.; STEVAUX, J. C. Effects ofthe Porto Primavera Dam on physicalenvironment of the downstream floodplain.In: THOMAZ, S. M.; AGOSTINHO, A. A.;HAHN, N. S. (Ed.). The Upper Paraná Riverand its floodplain: physical aspects, ecologyand conservation. Leiden, The Netherlands:Backhuys Publishers, 2004. ch. 3, p. 55-74.(Biology of inland waters).
SOUZA-STEVAUX, M. C.; NEGRELLE, R. R.B.; CITADINI-ZANETTE, V. Seed dispersalby the fish Pterodoras granulosus in the ParanáRiver Basin, Brazil. Journal of TropicalEcology, Cambridge, v. 10, pt. 4, p. 621-626,Nov. 1994.
STERGIOU, K. I. Overfishing, tropicalizationof fish stocks, uncertainty and ecosystem
Referências 495495495495495
management: resharpening Ockham’s razor.Fisheries Research, Amsterdam, v. 55, no. 1-3, p. 1-9, Mar. 2002.
SUGUNAN, V. V. Fisheries management ofsmall water bodies in seven countries inAfrica, Asia and Latin America. FAOFisheries Circular, Rome, no. 933, Nov. 1997.149 p., ill.
SUMMERFELT, R. C. Lake and reservoirhabitat management. In: KOHLER, C. C.;HUBERT, W. A. (Ed.). Inland fisheriesmanagement in North America. Bethesda,Maryland: American Fisheries Society, 1993.ch. 10, p. 231-261.
SURHEMA/ITAIPU BINACIONAL. Estudoslimnológicos do reservatório de Itaipu,Paraná, Brasil, no período de julho/87 ajunho/88. Elaborado por R. F. Brunkow...[etal.]. Consultor J. G. Tundisi. Curitiba, 1989.Não paginado. Relatório técnico.
SUZUKI, H. I. Estratégias reprodutivas depeixes relacionadas ao sucesso nacolonização em dois reservatórios do rioIguaçu, PR, Brasil. São Carlos, 1999. 97 f., il.Tese (Doutorado em Ecologia e RecursosNaturais) – Programa de Pós-Graduação emEcologia e Recursos Naturais, UniversidadeFederal de São Carlos, São Carlos, 1999.
SUZUKI, H. I. Variações na morfologiaovariana e no desenvolvimento do folículode peixes teleósteos da bacia do rio Paraná.Curitiba, 1992. 140 f., il. Dissertação(Mestrado em Zoologia) – Curso de Pós-Graduação em Zoologia, UniversidadeFederal do Paraná, Curitiba, 1992.
SUZUKI, H. I.; AGOSTINHO, A. A.Reprodução de peixes do reservatório deSegredo. In: AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L.C. (Ed.). Reservatório de Segredo: basesecológicas para o manejo. Maringá: EDUEM,1997. cap. 9, p. 163-182.
SUZUKI, H. I.; VAZZOLER, A. E. A. de M.;MARQUES, E. E.; PEREZ LIZAMA, M. A.;
INADA, P. Reproductive ecology of the fishassemblages. In: THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. (Ed.). TheUpper Paraná River and its floodplain:physical aspects, ecology and conservation.Leiden, The Netherlands: BackhuysPublishers, 2004. ch. 12, p. 271-291. (Biologyof inland waters).
SWISHER, B. J.; SOLUK, D. A.; WAHL, D. L.Non-additive predation in littoral rotifer totwo invertebrate predators. Oikos,Copenhagen, v. 81, p. 30-37, 1998.
TACON, A. G. J.; FORSTER, I. P. Aquafeedsand the environment: policy implications.Aquaculture, Amsterdam, v. 226, no. 1-4, p.181-189, Oct. 2003.
TAFT, N.; BATES, K.; BRUSH, T.; HARN, J.;SOLONSKY, A.; WHITMAN, M.; ZAPEL, E.Guidelines for evaluating fish passagetechnologies. Prepared by the AmericanFisheries Society Bioengineering Section.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 2000. Technical report. Disponívelem: <http://biosys.bre.orst.edu/afseng/fish_pass_comm.htm>. Acesso em: jun. 2004.
TAGLIANI, P. R. A. Ecologia da assembléiade peixes de três riachos da planície costeirado Rio Grande do Sul. Atlântica, RioGrande, v. 16, p. 55-68, 1994.
TAMADA, K.; MARTINS, S. L. Vertical slotfishway. In: INTERNATIONALSYMPOSIUM ON RESERVOIRMANAGEMENT IN TROPICAL AND SUB-TROPICAL REGIONS: The Contribution ofDam Engineering to Sustainable WaterResources Development, Foz do Iguaçu,2002. Proceedings… Foz do Iguaçu: ICOLD:CBDB, 2002. p. 561-568.
TEIXEIRA FILHO, A. R. Piscicultura aoalcance de todos. São Paulo: Nobel, 1991.212 p., il.
TELES, M. E. O.; GODINHO, H. P. Cicloreprodutivo da pirambeba Serrasalmus
496 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
brandtii (Teleostei, Characidae) na represade Três Marias, rio São Francisco. RevistaBrasileira de Biologia, Rio de Janeiro, v. 57,n. 2, p. 177-184, maio 1997.
TEMPORETTI, P. F.; ALONSO, M. F.;BAFFICO, G.; DIAZ, M. M.; LOPEZ, W.;PEDROZO, F. L.; VIGLIANO, P. H. Trophicstate, fish community and intensiveproduction of salmonids in AlicuraReservoir (Patagonia, Argentina). Lakes &Reservoirs: Research and Management,Carlton South, v. 6, no. 4, p. 259-267, Dec.2001.
THÉ, A. P. G.; MADI, E. F.; NORDI, N.Conhecimento local, regras informais e usodo peixe na pesca do alto-médio SãoFrancisco. In: GODINHO, H. P.; GODINHO,A. L. (Org.). Águas, peixes e pescadores doSão Francisco das Minas Gerais. BeloHorizonte: PUC Minas, c2003. cap. 21, p.389-406.
THOMAZ, S. M. Influência do regimehidrológico (pulsos) sobre algumasvariáveis limnológicas de diferentesambientes aquáticos da planície deinundação do alto rio Paraná, MS, Brasil.São Carlos, 1991. 294 f., il. Dissertação(Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais)- Departamento de Ciência Biológicas,Universidade Federal de São Carlos, SãoCarlos, 1991.
THOMAZ, S. M.; AGOSTINHO, A. A.;HAHN, N. S. (Ed.). The Upper Paraná Riverand its floodplain: physical aspects, ecologyand conservation. Leiden, The Netherlands:Backhuys Publishers, 2004. 393 p., ill.(Biology of inland waters).
THOMAZ, S. M.; BINI, L. M. A expansão dasmacrófitas aquáticas e implicações para omanejo de reservatórios: um estudo narepresa de Itaipu. In: HENRY, R. (Ed.).Ecologia de reservatórios: estrutura, funçãoe aspectos sociais. Botucatu, SP: FAPESP/FUNDIBIO, 1999. cap. 20, p. 597-626.
THOMAZ, S. M.; LANSAC-TÔHA, F. A.;ROBERTO, M. C.; ESTEVES, F. A.; LIMA, A.F. Seasonal variation of some limnologicalfactors of lagoa do Guaraná, a várzea lakeof the High Rio Paraná, State of MatoGrosso do Sul, Brazil. Revue D’Hydrobiologie Tropicale, Paris, v. 25, n. 4,p. 269-276, 1992.
THOMAZ, S. M.; PAGIORO, T. A.; BINI, L.M.; MURPHY, K. J. L’effet d’une réductiondu niveau de l’eau sur la biomasse de troisespèces de macrophytes aquatiques dans ungrand réservoir sub-tropical (Itaipu, Brazil)= Effect of reservoir drawdown on biomassof three species of aquatic macrophytes in alarge sub-tropical reservoir (Itaipu, Brazil).In: SYMPOSIUM INTERNATIONAL EWRSSUR LA GESTION DES PLANTESAQUATIQUES, 11eme, Moliets et Maá(France), 2002 = EWRS INTERNATIONALSYMPOSIUM ON AQUATIC WEEDS, 11th,Moliets et Maâ (France), 2002. Actes du.../Proceedings of the… Moliets et Maá:EWRS; Cestas Cedex: Cemagref; Mpnt deMarsan: Conseil Géneral des Landes, 2002.p. 197-200.
THOMAZ, S. M.; PAGIORO, T. A.; BINI, L.M.; ROBERTO, M. C. Ocorrência edistribuição espacial de macrófitasaquáticas em reservatórios. In:RODRIGUES, L.; THOMAZ, S. M.;AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. (Org.).Biocenoses em reservatórios: padrõesespaciais e temporais. São Carlos: RiMa,2005. cap. 22, p. 281-292.
THOMAZ, S. M.; PAGIORO, T. A.;ROBERTO, M. C.; PIERINI, S. A.; PEREIRA,G. Padrões de variação espacial e temporalde fatores limnológicos. In:UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Furnas. Estudosictiológicos na área de influência do AHECorumbá: biologia e ecologia de peixes doreservatório de Corumbá: bases para omanejo. Elaborado por A. A. Agostinho...[et al.]. Maringá, 2001. cap. 2, p. 15-38.Relatório técnico.
Referências 497497497497497
THOMAZ, S. M.; ROBERTO, M. C.;LANSAC-TÔHA, F. A.; ESTEVES, F. A.;LIMA, A. F. Dinâmica temporal dosprincipais fatores limnológicos do rio Baía-planície de inundação do alto rio Paraná-MS, Brasil. Revista UNIMAR, Maringá, v.13, n. 2, p. 299-312, out. 1991.
THORNTON, K. W.; KIMMEL, B. L.;PAYNE, F. E. (Ed.). Reservoir limnology:ecological perspectives. New York: J.Wiley & Sons, c1990. 246 p., ill.
TORLONI, C. E. C.; CORRÊA, A. R. A.;CARVALHO JUNIOR, A. A. D.; SANTOS, J.J. D.; GONÇALVES, J. L.; GERETO, E. J.;CRUZ, J. A.; MOREIRA, J. A.; SILVA, D. C.;DEUS, E. F.; FERREIRA, A. S. Produçãopesqueira e composição das capturas emreservatórios sob concessão da CESP nosrios Tietê, Paraná e Grande no período de1986 a 1991. São Paulo: CESP, 1993. 73 p., il.(Série Produção pesqueira, 001).
TREBITZ, A. S.; NIBBELINK, N. Effect ofpattern of vegetation removal on growthof bluegill: a simple model. CanadianJournal of Fisheries and Aquatic Sciences,Ottawa, v. 53, no. 8, p. 1844-1851, Aug.1996.
TROELL, M.; BERG, H. Cage fish farming inthe tropical Lake Kariba, Zimbabwe:impact and biogeochemical changes insediment. Aquaculture Research, OsneyMead, Oxford, v. 28, no. 7, p. 527-544, July1997.
TSVETKOV, V. I.; PAVLOV, D. S.;NEZDOLIY, V. K. Changes in hydrostaticpressure lethal to the young of somefreshwater fish. Journal of Ichthyology,Moscow, v. 12, p. 307-318, 1972.
TUCCI, C. E. M. Barragens e controle deinundações. In: WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, São Paulo.
São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 143-154.
TUNDISI, J. G. Tropical South America:present and perspectives. In: MARGALEF, R.(Ed.). Limnology now: a paradigm ofplanetary problems. Amsterdam: Elsevier,1994. p. 353-424.
TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T.Integration of research and management inoptimizing multiple uses of reservoirs: theexperience of South America and Braziliancases studies. Hydrobiologia, Dordrecht, v.500, p. 231-242, June 2003.
TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T.;CALIJURI, M. C. Limnology and managementof reservoirs in Brazil. In: STRASKRABA, M.;TUNDISI, J. G.; DUNCAN, A. (Ed.).Comparative reservoir limnology and waterquality management. Dordrecht: KluwerAcademic Publishers, c1993. ch. 2, p. 25-55.(Developments in hydrobiology, 77).
TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T.;HENRY, R.; ROCHA, O.; HINO, K.Comparação do estado trófico de 23reservatórios do Estado de São Paulo:eutrofização e manejo. In: TUNDISI, J. G.(Ed.). Limnologia e manejo de represas. SãoCarlos: EESC-USP/CHREA/ACIESP, 1988. v.1, t. 1, p. 165-204. (Série: Monografias emLimnologia).
TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T.;ROCHA, O.; ESPÍNDOLA, E. G. Limnologia egerenciamento integrado de represas naAmérica do Sul: avanços recentes e novasperspectivas. In: WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, São Paulo.São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 17-30.
TURNPENNY, A. W. H.; DAVIS, M. H.;FLEMING, J. M.; DAVIES, J. K. Experimentalstudies relating to the passage of fish andshrimps through tidal power turbines.
498 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Fawley, Hampshire, UK: National PowerPLC, Marine and Freshwater Biology Unit,1992. Non paged.
UIEDA, V. S.; UIEDA, W.; FROEHLICH, O.;AMARAL, M. E. C. Organização de cardumesem Tilapia rendalli na represa de Americana,São Paulo. Revista Brasileira de Biologia,Rio de Janeiro, v. 49, n. 3, p. 749-756, ago.1989.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Copel. Ecologia doreservatório de Segredo. Elaborado por A. A.Agostinho e L. C. Gomes. Maringá, [1997]. 54p., il. color. Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Copel. Estudosictiofaunísticos na bacia do rio Jordão.Elaborado por C. S. Pavanelli... [et al.].Maringá, 2002. 153p., il. Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Copel. Pequenosreservatórios: ictiofauna dos reservatóriosCapivari, Guaricana, Alagados, Rio dosPatos, Fiú, Mourão, Vossoroca, Cavernoso,Marumbi, Chopim I, Melissa e Salto do Vaú.Relatório síntese. Elaborado por A. A.Agostinho, H. I. Suzuki e E. A. Luiz. Maringá,2000. [16 f.], il. Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Copel. Reservatório deSalto Caxias: bases ecológicas para o manejo.Relatório final. Elaborado por A. A.Agostinho... [et al.]. Maringá, 2001. 272 p., il.color. Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Furnas. Biologiapesqueira e pesca na área de influência daAPM Manso. Relatório final: pesca. Elaboradopor A. A. Agostinho... [et al.]. Maringá, 2005.2v., il. color. Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Furnas. Estudosictiológicos na área de influência do AHE
Corumbá: biologia e ecologia de peixes doreservatório de Corumbá: bases para omanejo. Elaborado por A. A. Agostinho... [etal.]. Maringá 2001a. 356 p., il. Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Furnas. Estudosictiológicos na área de influência do AHECorumbá (GO): fase reservatório – relatórioparcial março/98 – fevereiro/99. Elaboradopor A. A. Agostinho... [et al.]. Maringá, 2000.365 p., il. (algumas color.). Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Furnas. Estudosictiológicos na área de influência do APMManso. Relatório parcial 2000/2001. Elaboradopor A. A. Agostinho... [et al.]. Maringá, 2001b.110 p., il. (algumas color.). Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Itaipu Binacional.Reservatório de Itaipu: estatística derendimento pesqueiro. Relatório anual (2001).Elaborado por A. A. Agostinho... [et al.].Maringá, 2002. 245 p., il. (algumas color.).Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Itaipu Binacional.Reservatório de Itaipu: estatística derendimento pesqueiro. Relatório anual (2003).Elaborado por A. A. Agostinho... [et al.].Maringá, 2004. 373 p., il. (algumas color.).Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Itaipu Binacional.Reservatório de Itaipu: estatística derendimento pesqueiro. Relatório anual (2004).Elaborado por A. A. Agostinho... [et al.].Maringá, 2005. v. 2, il. (algumas color.).Relatório técnico.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DEMARINGÁ.Nupélia/Itaipu Binacional.Variações espaço-temporais na ictiofauna esuas relações com as condições limnológicasno reservatório de Itaipu: relatório anual
Referências 499499499499499
(1997). Maringá, 1998. 330 p., il. (algumascolor.). Relatório técnico.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINASGERAIS.Museu de História Natural.FUNDEP.Projeto operação de resgate da ictiofauna emonitoramento sob as condições emergentesem razão do fechamento das comportas daUHE Nova Ponte: relatório final. BeloHorizonte: FUNDEP, 1995. 39 p., il. Relatóriotécnico.
VAL, A. L.; ROLIM, P. R.; RABELO, H.Situação atual da Aqüicultura na regiãoNorte. In: VALENTI, W. C.; POLI, C. R.;PEREIRA, J. A.; BORGHETTI, J. R. (Ed.).Aqüicultura no Brasil: bases para umdesenvolvimento sustentável. Brasília, DF:CNPq: Ministério da Ciência e Tecnologia,2000. cap. 7, p. 247-266.
VALÊNCIO, N. F. L. S.; GONÇALVES, J. C.;VIDAL, K. C.; MARTINS, R. C.; RIGOLIN, M.V.; LOURENÇO, L. C.; MENDONÇA, S. A. T.;LEME, A. A. O papel das hidroelétricas noprocesso de interiorização paulista: o caso dasusinas hidroelétricas de Barra Bonita eJurumirim. In: HENRY, R. (Ed.). Ecologia dereservatórios: estrutura, função e aspectossociais. Botucatu: FUNDIBIO/FAPESP, 1999.cap. 7, p. 185-218.
VALENCIO, N. F. L. S.; LEME, A. A.;MARTINS, R. C.; MENDONÇA, S. A. T.;GONÇALVES, J. C.; MANCUSO, M. I. R.;MENDONÇA, I.; FELIX, S. A. A precarizaçãodo trabalho no território das águas:limitações atuais ao exercício da pescaprofissional no alto-médio São Francisco. In:GODINHO, H. P.; GODINHO, A. L. (Org.).Águas, peixes e pescadores do São Franciscodas Minas Gerais. Belo Horizonte: PUCMinas, c2003. cap. 23, p. 423-446.
VALENTI, W. C. Introdução. In: VALENTI, W.C.; POLI, C. R.; PEREIRA, J. A.; BORGHETTI, J.R. (Ed.). Aqüicultura no Brasil: bases para umdesenvolvimento sustentável. Brasília, DF:CNPq: Ministério da Ciência e Tecnologia,2000. p. 25-32.
VARI, R. P.; MALABARBA, L. R. Neotropicalichthyology: an overview. In:MALABARBA, L. R.; REIS, R. E.; VARI, R. P.;LUCENA, Z. M. S.; LUCENA, C. A. S. (Ed.).Phylogeny and classification of neotropicalfishes. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. p. 1-11.
VAZZOLER, A. E. A. de M. Biologia dareprodução de peixes teleósteos: teoria eprática. Maringá: EDUEM; São Paulo: SBI,1996. 169 p., il. (algumas color.).
VAZZOLER, A. E. A. de M.; SUZUKI, H. I.;MARQUES, E. E.; PEREZ LIZAMA, M. A.Primeira maturação gonadal, períodos eáreas de reprodução. In: VAZZOLER, A. E.A. de M.; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S.(Ed.). A planície de inundação do alto rioParaná: aspectos físicos, biológicos esocioeconômicos. Maringá: EDUEM:Nupélia, 1997. cap. II.7, p. 249-265.
VEHANEN, T. Fish and fisheries in largeregulated peaking-power river reservoirs innorthern Finland, with special reference tothe efficiency of brown trout and rainbowtrout stocking. Regulated Rivers: Research& Management, Chichester, v. 13, no. 1, p.1-11, Jan.-Feb. 1997.
VERMEIJ, G. J. An agenda for invasionbiology. Biological Conservation,Kidlington, Oxon, v. 78, p. 3-9, 1996.
VERMEIJ, G. J. When biotas meet:understanding biotic interchange. Science,New Series, Washington, DC, v. 253, no.5024, p. 1099-1104, Sept. 1991.
VERMULM JUNIOR, H.; GIAMAS, M. T. D.;CAMPOS, E. C.; CAMARA, J. J. C.;BARBIERI, G. Avaliação da pesca extrativaem alguns rios do Estado de São Paulo, noperíodo entre 1994 e 1999. Boletim doInstituto de Pesca, São Paulo, v. 27, n. 2, p.209-217, 2001.
VIEIRA, F.; POMPEU, P. S. Peixamentos:uma alternativa eficiente? Ciência Hoje,
500 ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS EM RESERVATÓRIOS DO BRASIL
Rio de Janeiro, v. 30, n. 175, p. 28-33, set.2001.
VIOTTI, C. B. Barragens e energiahidrelétrica na América Latina. In:WORKSHOP BARRAGENS,DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE =WORKSHOP ON DAMS, DEVELOPMENTAND THE ENVIRONMENT, 2000, SãoPaulo. São Paulo: Banco Interamericano deDesenvolvimento, 2000. p. 101-111.
WALSH, M. R.; MUNCH, S. B.; CHIBA, S.;CONOVER, D. O. Maladaptive changes inmultiple traits caused by fishing:impediments to population recovery.Ecology Letters, Osney Mead, v. 9, no. 2, p.142-148, Feb. 2006.
WALTER, T. Ecologia da pesca artesanal nolago Paranoá - Brasília - DF. São Carlos,2000. 227 f. Dissertação (Mestrado emCiências da Engenharia Ambiental) –Escola de Engenharia de São Carlos, USP,São Carlos, 2000.
WALTERS, C. J.; HILBORN, R. Adaptivecontrol of fishing systems. Journal of theFisheries Research Board of Canada,Ottawa, v. 33, no. 1, p. 145-159, Jan. 1976.
WARD, J. V.; STANFORD, J. A. The serialdiscontinuity concept: extending the modelto floodplain rivers. Regulated Rivers:Research & Management, Chichester, v. 10,no. 2-4, p. 159-168, Aug. 1995.
WARD, P. O fim da evolução: extinções emmassa e a preservação da biodiversidade.Tradução de Ivo Korytowsky. Rio deJaneiro: Campus, 1997. 323 p., il. Dooriginal em inglês: The End of evolution.
WARFE, D. M.; BARMUTA, L. A. Habitatstructural complexity mediates theforaging success of multiple predatorspecies. Oecologia, Berlin, v.141, no. 1, p.171-178, Sept. 2004.
WCD ver WORLD COMMISSION ON DAMS
WEBSTER, J. R.; SIMMONS, Jr., G. M. Leafbreakdown and invertebrate colonizationon a reservoir bottom. Verhandlungen,Internationale Vereinigung FurTheoretische Und AngewandteLimnologie, Stuttgart, v. 20, pt. 3, p. 1587-1596, Nov. 1978.
WELCOMME, R. L. Internationalintroductions of inland aquatic species.FAO Fisheries Technical Paper, Rome, no.294, 1988. 318 p.
WELCOMME, R. L. Status of fisheries inSouth American rivers. Interciencia,Caracas, v. 15, no. 6, p. 337-345, Nov.-Dec.1990.
WELCOMME, R. L. Stocking as a techniquefor enhancement of fisheries. FAOAquaculture Newsletter, Rome, no. 14, [p.8-14.], Dec. 1996.
WETZEL, R. G. Limnología. Traducido porMarcela Chinchilla y Montserrat Comellas.Barcelona: Omega, 1981. 679 p., il. Ediciónoriginal de esta obra en ingles: Limnology.
WETZEL, R. G. Reservoir ecosystems:conclusions and speculations. In:THORNTON, K. W.; KIMMEL, B. L.;PAYNE, F. E. (Ed.). Reservoir limnology:ecological perspectives. New York: J.Wiley & Sons, c1990. ch. 9, p. 227-238.
WHITE, K.; O’NEILL, B.; TZANKOVA, Z. Ata crossroads: will aquaculture fulfill thepromise of the Blue Revolution? [S. l.]:SeaWeb Aquaculture Clearinghouse, c2004.17 f., ill. (A SeaWeb AquacultureClearinghouse Report). Disponível em:<http://www.clearinghouse.org>.
WHITE, R. J.; KARR, J. R.; NEHLSEN, W.Better roles for fish stocking and aquaticresource management. In: SCHRAMM, Jr.,H. L.; PIPER, R. G. (Ed.). Uses and effects ofcultured fishes in aquatic ecosystems.Bethesda, Maryland: American Fisheries
Referências 501501501501501
Society, 1995. p. 527-547. (AmericanFisheries Society Symposium, 15).
WILCOX, J. How to make a small fortunein aquaculture? Apopka, FL: Aquatic Eco-Systems, c2004. Disponível em: <http://www.aquaticeco.com/index.cfm/fuseaction/ popup.techTalkDetail/ttid/38>. Acesso em: jul. 2006.
WILEY, M. J.; GORDEN, R. W.; WAITE, S.W.; POWLESS, T. The relationship betweenaquatic macrophytes and sport fishproduction in Illinois ponds: a simplemodel. North American Journal ofFisheries Management, Bethesda,Maryland, v. 4, no. 1, p. 111-119, 1984.
WILLIAMS, J. D.; WINEMILLER, K. O.;TAPHORN, D. C.; BALBAS, L. Ecology andstatus of piscivores in Guri, anoligotrophic tropical reservoir. NorthAmerican Journal of FisheriesManagement, Bethesda, Maryland, v. 18,no. 2, p. 274-285, May 1998.
WILLIAMSON, M. H.; FITTER, A. Thecharacters of successful invaders.Biological Conservation, Kidlington,Oxon, v. 78, p. 163-170, 1996.
WINEMILLER, K. O. Patterns of variationin life history among South Americanfishes in seasonal environments. Oecologia(Berlin), v. 81, no. 2, p. 225-241, 1989.
WINEMILLER, K. O.; AGOSTINHO, A. A.;CARAMASCHI, E. P. Fishes. In:DUDGEON, D.; CRESSA, C. (Ed.). Tropicalstream ecology. London: Elsevier Science.No prelo.
WOOTTON, R. J. Ecology of teleost fishes.London: Chapman and Hall, 1990. 404 p.,ill. (Fish and fisheries series, 1).
WORLD BANK. Reaching the rural poor: arenewed strategy for rural development.Washington, DC, c2003. v. 1. Reportnumber 26763. Disponível em:<www.worldbank.org>. Acesso em: mai.2005.
WORLD COMMISSION ON DAMS (WCD).Dams and development: a new frameworkfor decision-making. The report of theWorld Commission on Dams. London;Sterling: Earthscan Publishing, 2000. 404 p.,ill. (some col.).
WYDOSKI, R. S.; WILEY, R. W. Managementof undesirable fish species. In: KOHLER, C.C.; HUBERT, W. A. (Ed.). Inland fisheriesmanagement in North America. 2nd ed.Bethesda, Maryland: American FisheriesSociety, 1999. ch. 15, p. 403-430.
ZANIBONI FILHO, E.; SCHULZ, U.H.Migratory fishes of the Uruguay River. In:CAROLSFELD, J.; HARVEY, B.; ROSS, C.;BAER, A. (Ed.). Migratory fishes of SouthAmerica: biology, fisheries andconservation status. Ottawa: WorldFisheries Trust: International DevelopmentResearch Centre; Washington, D.C.:International Bank for Reconstruction andDevelopment/The World Bank, c2003. ch. 4,p. 157-194.
ZARET, T. M.; PAINE, R. T. Speciesintroduction in a tropical lake. Science,New Series, Washington, DC, v. 182, no.4111, p. 449-455, Nov. 1973.
ZIMBA, P. V.; ROWAN, M.; TRIEMER, R.Identification of Euglenoid algae thatproduce ichthyotoxin(s). Journal of FishDiseases, Oxford, v. 27, no. 2, p. 115-117,Feb. 2004.