Clauses Combining Grammaticalization - temporal clauses in Brazilian Portuguese
Transcript of Clauses Combining Grammaticalization - temporal clauses in Brazilian Portuguese
MARIA CÉLIA PEREIRA LIMA-HERNANDES
Gramaticalização de Combinação de Cláusulas:
Orações de Tempo no Português do Brasil
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Filologia e Língua Portuguesa, do
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo.
Orientadora: Profa. Dra. Angela Cecília de S. Rodrigues
Co-orientadora: Maria Luiza Braga (UFF/UNICAMP)
São Paulo
1998
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
2
AGRADECIMENTOS
À professora Dra. Angela Cecília de S. Rodrigues,
Aos professores Drs. Sandra Palomo, Elisa Guimarães, Ataliba
Castilho e Carlos Maciel, pelas sugestões e discussões no decorrer
dos cursos,
À Profa. Dra. Angelina Batista, da Unesp-Botucatu, pela
colaboração,
À Profa. Dra. Lygia Correia, pela paciência e colaboração nas
discussões sobre questões sintáticas,
A Carlos, Carla e Ingrid, por suportarem os vários momentos de
ausência,
A João, Abelita, Raphael e Maria, pelo constante suporte,
Ao CNPq, pela bolsa de estudos concedida entre 1996 e 1998,
À Profa. Dra. Maria Luiza Braga, pela disponibilidade, atenção,
cuidado constante e exemplo,
Agradeço.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
3
S U M Á R I O
RESUMO ABSTRACT Lista de Figuras Lista de Tabelas Lista de Contínuos Lista de Quadros Introdução Capítulo 1- Considerações Preliminares sobre Aspectos Teóricos Capítulo 2 - Processos de Combinação de Orações 2.1 Abordagem Tradicional 2.2 Abordagem Funcionalista 2.3 Perspectiva da Gramaticalização Capítulo 3 - Orações de Tempo 3.1 Abordagem Tradicional 3.2 Abordagem Funcionalista Capítulo 4 - Abordagem Metodológica 4.1 O Corpus 4.1.1 Corpus de Língua Popular de São Paulo 4.1.2 Corpus de Língua Carioca Capítulo 5 - Gramaticalização dos Processos de Combinação de Orações de Tempo: Hipóteses, Parâmetros e Resultados 5.1 Conexão das Orações de Tempo 5.1.1 Conectores na Justaposição 5.1.2 Conectores na Coordenação 5.1.3 Conectores na Hipotaxe 5.1.4 Conectores na Relativização 5.1.5 Conectores no Encaixamento 5.2 Explicitude do Sujeito da Oração de Tempo 5.2.1 Explicitude do Sujeito na Justaposição 5.2.2 Explicitude do Sujeito na Coordenação 5.2.3 Explicitude do Sujeito na Hipotaxe 5.2.4 Explicitude do Sujeito na Relativização 5.2.5 Explicitude do Sujeito no Encaixamento
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
4
5.3 Ordem e Mobilidade das Orações de Tempo 5.3.1 Ordem na Justaposição 5.3.2 Ordem na Coordenação 5.3.3 Ordem na Hipotaxe 5.3.4 Ordem na Relativização 5.3.5 Ordem no Encaixamento 5.4 Inversão Potencial da Ordem 5.4.1 Inversão Potencial na Justaposição 5.4.2 Inversão Potencial na Coordenação 5.4.3 Inversão Potencial na Hipotaxe 5.4.4 Inversão Potencial na Relativização 5.4.5 Inversão Potencial no Encaixamento 5.5 Identidade entre Sujeitos das Orações Combinadas 5.5.1 Identidade entre Sujeitos na Justaposição 5.5.2 Identidade entre Sujeitos na Coordenação 5.5.3 Identidade entre Sujeitos na Hipotaxe 5.5.4 Identidade entre Sujeitos na Relativização 5.5.5 Identidade entre Sujeitos no Encaixamento 5.6 Traço [Animado] do Sujeito da Oração de Tempo 5.6.1 Traço [animado] do Sujeito na Justaposição 5.6.2 Traço [animado] do Sujeito na Coordenação 5.6.3 Traço [animado] do Sujeito na Hipotaxe 5.6.4 Traço [animado] do Sujeito na Relativização 5.6.5 Traço [animado] do Sujeito no Encaixamento 5.7 Identidade entre Tempos e Modos 5.7.1 Identidade modo-temporal na Justaposição 5.7.2 Identidade modo-temporal na Coordenação 5.7.3 Identidade modo-temporal na Hipotaxe 5.7.4 Identidade modo-temporal na Relativização 5.7.5 Identidade modo-temporal no Encaixamento 5.8 Correlação entre Processos e Noções Desencadeadas Conclusões Referências Bibliográficas
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
5
I n t r o d u ç ã o
A proposta deste trabalho é realizar uma análise quantitativa de
sentenças complexas cuja noção estabelecida entre as unidades seja tempo, com
vistas a identificar uma graduação dos processos de combinação de orações, numa
perspectiva da gramaticalização.
A importância de se estudar os estágios de gramaticalização em que
estão os processos de combinação de orações reside na possibilidade de se buscar
evidências sobre uma estrutura ter derivado de outra e desvendar seu
direcionamento.
Detemo-nos especialmente na descrição do processo de
gramaticalização que resultou na emergência de marcadores temporais, embora
também tenhamos observado orações cuja partícula conectiva não estivesse
explícita.
O estudo da origem das subordinadas, em muitas línguas, enriqueceu o
conhecimento do desenvolvimento de seu sistema gramatical, como ocorreu com as
línguas Chadic (Frajzyngier 1996), razão pela qual julgamos importante a descrição
do comportamento das orações de tempo no Português do Brasil.
Alguns autores consideram Gramaticalização tão somente um processo
histórico, portanto diacrônico. Esse é o ponto de vista de Matsumoto (1988),
Matisoff (1991) e Lichtenberk (1991). Este último, embora exclua a sincronia,
considera que a variação (fenômeno sincrônico) é um conseqüência necessária de
uma graduação de mudança lingüística. Notamos que autor faz sutil exclusão de
variações estáveis e concentra sua atenção nas variações instáveis que culminam em
mudança.
Outros autores, em contrapartida, buscam cercar o processo de
gramaticalização tanto diacrônica quanto sincronicamente, por acreditarem que
estudos sincrônicos sistemáticos são uma necessidade (Myhill 1988; Hopper 1979,
1982; Givón 1979; Du Bois 1987; Herring 1988; Traugott & Heine 1991;
Frajzyngier 1996) na compreensão da evolução lingüística.
Essa discussão sobre a possibilidade de ser a gramaticalização um
fenômeno da sincronia ou da diacronia remete-nos à questão da definição do
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
6
fenômeno em si. Nesse sentido, apresentamos e comentamos as definições de alguns
lingüistas que lidam com esse fenômeno.
Heine et al. (1991) consideram que, quando uma unidade lexical ou
estrutura maior assume função gramatical, ou ainda quando uma unidade gramatical
torna-se mais gramatical, fica caracterizada a ocorrência da Gramaticalização.
Traugott & König (1991) complementam essa caracterização, ao
agregarem ao processo histórico a noção de ‘unidirecionalidade’. Com o traço de
unidirecionalidade, esses autores querem expressar a direção única assumida por
um item lexical ‘menos gramatical’ que caminha em direção a um estatuto ‘mais
gramatical’, sem a possibilidade de percorrer o sentido contrário.
Hopper & Traugott (1993) definem gramaticalização de uma forma um
pouco diferenciada, uma vez que seguem assumem a conceituação apresentada por
Heine, entretanto imprimindo a noção evolutiva intrínseca, que valoriza a
dinamicidade do processo. Podemos perceber essa diferenciação quando eliminam a
disjunção e acrescentam que, uma vez gramaticalizados, esses itens continuam a
desenvolver novas funções gramaticais. Afora essa diferença, esses autores também
afirmam que gramaticalização pode ser processo, mas também pode ser paradigma,
e que pode ser um fenômeno diacrônico ou sincrônico. Esse tratamento de Hopper
& Traugott demonstra-se mais completo, por ser mais abrangente e englobar
também a definição proposta por Traugott & Köni.
A gramaticalização é considerada paradigma se observada num estudo
da língua que se preocupe em focalizar a maneira como formas gramaticais e
construções surgem e como são usadas. Em contrapartida, é considerada processo se
se detiver na identificação e análise de itens que se tornam mais gramaticais.
Entretanto, pode ser observada de duas perspectivas: diacrônica, se a preocupação
do estudo estiver voltada para a unidirecionalidade característica de subconjuntos de
mudanças lingüísticas ou sincrônica, se a preocupação estiver voltada para a análise
de ‘modelos fluidos’ do uso da língua, portanto, com enfoque sintático e
pragmático-discursivo.
Nosso trabalho pode ser situado no paradigma da gramaticalização,
numa perspectiva sincrônica, uma vez que analisa estruturas sintáticas em
sentenças complexas cuja relação semântica seja tempo, a fim de observar como
estruturas surgem e como são usadas, segundo um contínuo de gramaticalização.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
7
A metodologia usada segue os moldes da rotina adotada por
sociolingüistas da corrente laboviana, ou seja, selecionamos os dados a partir de
materiais de língua falada gravados, codificamo-los com base em grupos de fatores
arrolados num momento de maior ebulição do lingüista ou estudioso da língua, em
que vertem hipóteses a serem investigadas. Submetemos, então, esses dados ao
tratamento estatístico previsto no algorítmo da Sociolingüística Quantitativa e
interpretamos os resultados à luz das hipóteses levantadas.
As análises das orações certamente farão com que tentativas de
explicações baseadas na entonação lingüística ou nos processos cognitivos dos
falantes venham à tona, entretanto não enveredamos por esses caminhos ainda não
desbravados por nós.
Em verdade, nossos argumentos estão centrados nos resultados
numéricos e evidências lingüísticas propiciadas pela correlação estabelecida entre
usos e parâmetros. Neste trabalho, portanto, temos o objetivo de mostrar como a
configuração de orações, numa sentença complexa que codifique tempo, é feita,
estabelecendo uma tipologia em que não cabem categorias discretas para a
classificação dos períodos.
Este trabalho apresenta-se dividido em seis capítulos. O primeiro
capítulo é composto de esclarecimentos e considerações sobre aspectos teóricos do
Funcionalismo Lingüístico. Nesse capítulo, traçamos as diferenças de tratamento,
em especial na constituição dos dados, entre duas grandes correntes lingüísticas
contemporâneas: funcionalismo e formalismo.
No segundo capítulo, sintetizamos informações pertinentes aos
processos de gramaticalização de orações, explanadas em três núcleos: a gramática
tradicional, o modelo funcionalista e o processo de gramaticalização. A segmentação
efetuada reflete uma preocupação puramente metodológica, que permite uma clara
distinção entre os modos de tratamento de um mesmo fenômeno.
No terceiro capítulo, encontra-se a síntese das informações
relacionadas às orações de tempo, especificamente na língua portuguesa, também
segmentadas em dois núcleos: abordagem tradicional e abordagem funcionalista.
No quarto capítulo, apresentamos informações sobre a abordagem
metodológica, incluindo esclarecimentos sobre os corpora dos quais retiramos os
dados para a constituição da amostra, bem como critérios adotados.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
8
No quinto capítulo, encontram-se os frutos e os resultados de toda a
reflexão desenvolvida com a fundamentação teórica e metodológica oferecida nos
capítulos iniciais. É nesse capítulo que apresentamos as hipóteses surgidas no
levantamento dos dados, além da correlação desses com os parâmetros utilizados.
Na terminologia da sociolingüística variacionista, esses parâmetros são
representados pelos grupos de fatores: tipo de conector, explicitude do sujeito,
ordem, inversão potencial da ordem, identidade entre sujeitos, identidade entre
tempos e modos e traço animado do sujeito da oração de tempo. Na correlação
desses critérios com os dados selecionados, argumentaremos sobre a adequação ou
inadequação desses critérios na apreensão dos estágios de gramaticalização dos
tipos de processos de combinação de orações investigados.
No último capítulo, faremos uma breve retomada de resultados
relevantes para o paradigma da gramaticalização, bem como de alguns aspectos
teóricos específicos e pertinentes para explicar a gradiência das estruturas
analisadas num contínuo que evidencie o maior ou menor estágio de
gramaticalização.
1. Considerações Preliminares sobre Aspectos Teóricos
Ao elaborarmos o presente estudo a partir de dados de língua falada,
partimos do pressuposto de que todo estudo que trate dos usos lingüísticos, tendo
em vista a comunicação entre os indivíduos falantes de uma língua natural, não pode
prescindir da teoria funcionalista, porque esta é a abordagem que assume claramente
o uso da língua no seu contexto.
Muitas vertentes há no Funcionalismo, assim como muitas questões
para serem observadas, estudadas, e muitos aspectos para serem estabelecidos
teoricamente. Apesar das discrepâncias, a idéia recorrente é traduzida na associação
entre forma e função.
Tendo em vista o estágio atual em que se encontra o Funcionalismo
Lingüístico, Neves (1994:112) listou alguns aspectos que resumem as preocupações
daqueles que caminham nessa estrada ainda tão pouco sinalizada, por isso
aparentemente insegura, da ciência lingüística. Todos esses problemas relacionam-
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
9
se à terminologia da área e à adequação do emprego desses termos derivados da
palavra função, tais como: funcional e funcionalismo.
Nichols (1984, apud Neves 1994a:72) acha possível considerar a
existência de três tipos de Funcionalismo, segundo a evolução dos estudos. O
primeiro, conservador, admite o tratamento formalista e estruturalista como
ineficientes, sem, contudo, apresentar soluções. O segundo, moderado, caminha um
pouco mais, uma vez que, além de apontar as ineficiências, apresenta uma proposta
de análise das estruturas. O terceiro, chamado extremo, “nega a realidade da
estrutura como estrutura, e considera que as regras se baseiam internamente na
função, não havendo, pois, restrições sintáticas”.
Halliday (1978:126) discute as preocupações da corrente funcionalista
a partir da questão de o funcionamento social da língua estar refletido na estrutura
lingüística e, pelo próprio teor da pergunta, conduz o leitor ao entendimento de que
o funcionalismo parte de preocupações e observações da língua em uso e analisa a
estrutura, enquanto representação da organização da língua em funcionamento. Essa
idéia pode ser lida em Comrie (1988:277), que observa que a sintaxe não pode ser
reduzida a facetas da língua, especialmente na mescla de fatos pragmáticos com
semânticos, porque “many syntactic phenomena only make sense against a
background of pragmatic and semantic correlates”.
Resumindo as idéias de Halliday, Souza (1996:41) afirma que o texto é
composto de estruturação gramatical e de estruturação semântica. Nesse sentido, a
primeira é refletida desde a unidade mínima (fonema, morfema) até o limite superior
(a frase complexa) e a segunda reflete relações entre porções maiores do que a frase
complexa.
A gramática funcional de Halliday (apud Neves 1994:117; 1994a:70;
1997:48) tem orientação paradigmática, uma vez que a língua é interpretada como
uma rede de relações. Para ele, a língua é um sistema semântico, razão pela qual
uma gramática dita funcional deve destinar-se ao estudo do desvendamento das
codificações semânticas, carreadas pelas seqüências lingüísticas.
Dik (1989, apud Souza 1996:42) apresenta as unidades estruturais
divididas em quatro níveis ou camadas. No primeiro nível, estariam o predicador e
seus termos, remetendo à entidade; no segundo, a predicação, que remete ao estado-
de-coisas; no terceiro nível, a proposição, representando um fato possível; e no
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
10
quarto, a cláusula, designando atos de fala. Todos esses rótulos remetem a uma
tipologia que procura dar conta da apreensão do texto em sua totalidade, sem deixar
escapar aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos.
Interessa-nos o tratamento dado por Dik aos constituintes adverbiais.
Diz ele que esses constituintes são geralmente tratados como satélites. Por essa
caracterização, nota-se que satélites são diferenciados de argumentos, no sentido de
que estes não são opcionais, enquanto os satélites são acréscimos opcionais.
Com relação ao estudo da língua, Dik (1989:1) afirma que, numa
abordagem funcional, a preocupação central deve estar voltada à análise de como
opera um usuário da língua natural. Na tentativa de dar conta dessa questão, o
investigador deve observar como os interlocutores se comunicam entre si por meio
de expressões lingüísticas, como se fazem entender e como se influenciam. Por
conseguinte, a língua não deve ser observada desvinculada do contexto de uso.
Em suma, a língua é concebida por Dik enquanto sistema não-
autônomo, vinculado a uma estrutura pragmática geral em que a relação entre
instrumentalidade e sistematicidade escapa à arbitrariedade do usuário da língua.
Preocupado por estabelecer a distinção entre gramática funcional e
gramática formal, Dik apresenta oito aspectos relevantes, que podem ser observados
no quadro 11:
Quadro 1: Paradigma Formal X Paradigma Funcional
Paradigma Formal Paradigma Funcional
Como definir a língua
Conjunto de orações
Instrumento de interação social.
Principal função da língua
Expressão do pensamento Comunicação
Correlato Psicológico
Competência: capacidade de produzir, interpretar e julgar orações.
Competência comunicativa: habilidade de interagir socialmente com a língua.
O sistema e seu uso
O estudo da competência tem prioridade sobre o da atuação.
O estudo do sistema deve fazer-se dentro do quadro de usos.
Língua e contexto/ situação
As orações da língua devem descrever-se independentemente do contexto/situação.
A descrição das expressões deve fornecer dados para a descrição de seu funcionamento num dado contexto.
Aquisição da
Faz-se com uso de propriedades inatas, com base em um input
Faz-se com a ajuda de um input extenso e estruturado de dados apresentado no
1 Esse quadro foi montado a partir do elaborado por Neves (1996:46).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
11
linguagem
restrito e não-estruturado de dados.
contexto natural.
Universais Lingüísticos
Propriedades inatas do organismo humano.
Explicados em função de restrições: comunicativas, biológicas ou psicológicas e contextuais.
Relação entre a sintaxe, a semântica e a pragmática
A sintaxe é autônoma em relação à semântica; as duas são autônomas em relação à pragmática; as prioridades vão da sintaxe à pragmática, via semântica.
A pragmática é o quadro dentro do qual a semântica e a sintaxe devem ser estudadas; as prioridades vão da pragmática à sintaxe, via semântica.
Para Leech (apud Souza 1996; Neves 1997:49), a distinção entre
formalismo e funcionalismo, proposta tanto por Halliday quanto por Dik, não é o
melhor caminho para se tratar a linguagem, uma vez que não se pode tratar do
aspecto psicológico sem que se leve em conta o aspecto social. Nesse sentido,
estabelece uma ligação entre as duas correntes, conforme quadro 22.
Quadro 2: Aproximação entre Formalismo e Funcionalismo
Formalismo Funcionalismo
Linguagem fenômeno mental fenômeno social
Universais lingüísticos
herança genética
derivação da universalidade de usos na sociedade
Aquisição da Linguagem
capacidade inata humana para aprender
desenvolvimento das neces- sidades e habilidades comuni- cativas
Língua é Estudada
sistema autônomo
relação com função social
Aliar forma a função constitui objetivo de todas as vertentes
funcionalistas. Entretanto, ainda que se utilizem, na maioria das vezes, dos mesmos
critérios e elementos que proporcionem como medir os efeitos desses usos, diferem
os funcionalistas na interpretação do conjunto de parâmetros que cada um
estabelece.
2. Processos de Combinação de Orações
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
12
Partimos do princípio de que o discurso não é constituído de unidades
isoladas, mas de unidades informacionais ligadas de modos diferenciados. Essas
unidades são chamadas, na literatura, de cláusulas ou orações, que são ligadas umas
às outras, estruturalmente ou semanticamente, de forma mais ou menos lassa,
constituindo, numa seqüência maior, períodos compostos ou sentenças complexas.
Para a explanação dos processos de combinação de orações em
Português, optamos por apresentá-los em três partes, cada uma delas diferenciada
pelos pressupostos teóricos. Dessa maneira, nesta seção, teremos três subseções,
correspondentes, respectivamente, a: abordagem tradicional, abordagem
funcionalista e perspectiva da gramaticalização.
Na seção correspondente à abordagem tradicional, apresentamos
concepções de alguns gramáticos quanto aos processos de combinação de orações
em Português: dois deles representam o período que antecede a NGB3 e seis outros
refletem o período posterior à divulgação dessa nova norma. Alguns destes,
entretanto, embora utilizem a referida nomenclatura, incluem observações sobre
incongruências nela verificadas.
Incluímos também as idéias do pesquisador sintaticista Clóvis Barleta
de Morais, que, embora faça um estudo histórico-comparativo, portanto com
objetivos distintos dos nossos, apresenta proposta muito interessante, que faz
pensar sobre as saídas encontradas pelos lingüistas e influências advindas da
gramática tradicional.
O recorte feito permitirá observar a trajetória dos estudos da gramática
tradicional quanto aos processos de combinação de orações, mais comumente
tratados de processos sintáticos. A demarcação dos períodos foi determinada, como
vimos, pelo advento da Nomenclatura Gramatical Brasileira, e essa decisão se
deveu a dois motivos. O primeiro está relacionado com o estatuto regulamentador de
nomenclaturas proporcionado, pois “o recorte de campo por ela fixado normalizou
em muito o modo de consideração das entidades” (Neves 1990:188),
2 Quadro formulado a partir da síntese de leitura de Leech (1983), por Neves (1997:49). 3 No ano de 1958, foi publicada a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
13
desencadeando a revisão de muitas obras. O segundo deve-se ao fato de que o tema
processos sintáticos ficou bastante afetado com a NGB.
Ainda que não seja propriamente um trabalho de sintaxe, incluímos
Garcia (1967) em nossa revisão bibliográfica, por crermos que muitas de suas
percepções acerca da língua são procedentes, pois se mostram coerentes e bem
fundamentadas, além de muitos dos casos discutidos pelo autor serem atualmente
foco de investigações dos teóricos funcionalistas.
Consultamos Rocha Lima (1958), Garcia (1967), Said Ali (1964;
19714), Morais (1972), Luft (1978)5, Cunha (1962; 1983), Mira Mateus et al.
(1983), Cunha & Cintra (1985) e Bechara (1992), a fim de observar o tratamento
dado aos processos de combinação de orações e buscar informações sobre a
importância dos parâmetros explicitação, identidade e traço animado do sujeito,
ordem e correlação tempo/modo, na abordagem desses autores. A síntese dessas
informações apresentamos na seção 1.2.1.
Na seção 1.2.2, apresentamos a síntese de alguns pontos de vista sobre
a teoria funcionalista no que tange aos processos de combinação de orações. Para
tanto, selecionamos os seguintes autores: Halliday (1985), Matthiessen &
Thompson (1988) e Lehmann (1988).
A relevância dos trabalhos arrolados pode ser observada no tratamento
que dão aos processos de combinação de orações, diverso da tradicional divisão
entre coordenação e subordinação. Esse tratamento reconheceu, numa graduação
menos discreta, a existência de tipos oracionais, anteriormente incluídos num dos
dois extremos de dependência, ainda que discrepantes em traços e comportamento.
Em especial, citamos a contribuição de Lehmann, porque o desenvolvimento de suas
idéias e argumentos neutralizam as influências do modelo de análise tradicional.
Por último, na seção 1.2.3, apresentamos a questão da combinação de
orações nas suas relações com o processo de Gramaticalização. Apresentamos uma
síntese das idéias sobre tal processo, fundamentada em Hopper & Traugott (1993),
Harris & Campbell (1995) e Frajzyngier(1996). Dessa perspectiva, os autores 4 A primeira edição desse livro foi feita em dois volumes: em 1921, sob o título Lexeologia do Português Histórico, pela Companhia Melhoramentos; e em 1923, sob o título Formação de Palavras e Sintaxe do Português Histórico. A segunda edição, publicada em único volume, recebeu o título Gramática Histórica, com prólogo de 1931. Portanto, embora edição utilizada para pesquisa seja de 1971, as idéias veiculadas podem ser associadas ao período antecedente à NGB. 5 A publicação desse trabalho foi feita em consonância com as recomendações da NGB e sua primeira edição data de 1960.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
14
analisam os processos de combinação de orações quanto ao estágio mais ou menos
avançado de gramaticalização.
2.1 Abordagem Tradicional
Como nos propusemos na seção 2, apresentamos a seguir uma síntese
das concepções de alguns autores sobre os processos de combinação de orações.
Said Ali (1971:273), observando os rótulos dados aos diferentes
processos, nota que “a coordenação e subordinação prefere a lingüística moderna
as expressões parataxe e hipotaxe”, sendo as paratáticas equivalentes às
copulativas, adversativas ou disjuntivas. Com relação às hipotáticas, o autor afirma
que à tradicional divisão em orações substantivas, adjetivas e adverbiais falta rigor,
pois não existem adverbiais equivalentes a toda a tipologia de advérbios: “Esta é
divisão geral de caráter prático, mas convém notar que não é extremamente
rigorosa; as adverbiais, se bem abrangem as espécies tempo, lugar, modo e outras,
como na divisão do advérbio, compreendem também algumas que não se
enquadram nesta categoria léxica.” (p.272-§1357).
Rocha Lima6 (1958:251) distingue quatro processos sintáticos como
fundamentais: coordenação, subordinação, correlação e justaposição, segundo o
grau de dependência entre as orações. Na coordenação, teríamos, segundo o autor,
orações independentes; na subordinação, interdependentes; na correlação,
paradependentes; e na justaposição, independentes formalmente e dependentes
semanticamente.
Segundo esse autor, o termo coordenação remete à sucessão de orações
ligadas por conjunções coordenativas ou separadas por pausa, razão pela qual
apresentam o mesmo valor sintático. Trata-se de sentidos independentes ordenados
segundo a sucessão lógica dos fatos. Ao comentar um exemplo de João Ribeiro,
Rocha Lima (1958:252) enfatiza que a inversão da ordem desse tipo de oração seria
impossível, por resultar em ruptura da ordem histórica, à exceção dos casos em que
6 Clóvis B. de Morais (1972), também fazendo revisão da literatura sobre os processos de sintáticos, afirma que José Oiticica (1953:244-5 e 248), em seu Manual de Análise e em Teoria da Correlação (1952) mostra-se defensor da divisão em quatro processos, como Rocha Lima. Morais (1972:168), consultando Gladstone Chaves de Melo, notou que esse autor admite a correlação como processo ao lado de subordinação e coordenação.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
15
fossem empregadas conjunções disjuntivas (alternativas), por haver, nesse caso, a
exclusão de um dos dois fatos citados.
O termo subordinação, por sua vez, remete à noção de oração principal
somada aos vários desdobres dos termos que a constituem na função de substantivo,
adjetivo ou advérbio. Daí a distribuição das orações em substantivas, adjetivas e
adverbiais. Leva-se em conta a função sintática desempenhada pela oração
subordinada enquanto termo da principal.
A justaposição, segundo o autor, é um processo a meio caminho da
coordenação e da subordinação, por crer que as orações sejam independentes
formalmente, entretanto com profundo comprometimento semântico. Para ele, seria
a justaposição “o processo em que mais se sente a frase, o todo completo, apesar de
as orações conservarem relativa integridade formal” (Rocha Lima 1958:262). É,
segundo o autor, diferente de subordinação e de coordenação pela ausência da
conjunção, e diferente da correlativa pela ausência dos termos correlatos. Dividem-
se as justapostas, segundo Rocha Lima, em quatro tipos: intercaladas, apositivas,
objetivas diretas e adverbiais.
As correlativas diferem-se das demais pela presença de pares
correlativos, que integram profundamente as duas orações combinadas. Assim, dois
termos correlativos indicam uma relação de dependência entre uma oração, dita
principal, e a oração subordinada.
Garcia (1967:16) observa que os processos sintáticos restringem-se à
coordenação e à subordinação. Na coordenação, ocorreria “um paralelismo de
funções ou valores sintáticos idênticos”, uma vez que as orações, tendo a mesma
natureza e função, deveriam ter a mesma estrutura sintática. O próprio autor
menciona, em forma de nota, que a correspondência citada deriva de um conceito
tradicional e positivista, merecedor de uma revisão. Na subordinação, ocorreria a
desigualdade de funções e de valores sintáticos.
O travamento sintático resultante do uso de conjunções coordenativas,
segundo Garcia (1967:17), é mais frouxo do que aquele proveniente do uso das
subordinativas. Por outro lado, salienta esse autor que existem orações somente
aparentemente coordenadas, fato utilizado como evidência para sustentar seu ponto
de vista sobre a pouca importância do conectivo no processo de encadeamento do
discurso. Os exemplos (1) e (2) ilustram os casos de aparente coordenação citados.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
16
(1) chega aqui...bate a bola treis veze [pop1] (2) tu começa a jogar, todo mundo começa a gritar teu nome [peul19]
Tanto em (1) quanto em (2), não há conectivos expressos, somente
ocorre a pausa entre duas porções. Tradicionalmente, esses exemplos poderiam ser
considerados casos típicos de coordenação, se não fosse a dependência, o alto
entrelaçamento semântico entre essas duas porções. Nos dois exemplos, a oração
anteposta carrega o tempo do evento assinalado na oração posposta.
Morais (1972:168) prefere não usar o termo ‘processos’, porque não
acredita que ‘coordenação’ e ‘subordinação’ sejam nomenclaturas atribuídas a
fenômenos afins: “o termo coordenação é usado em dois sentidos: pode referir-se à
natureza de uma oração ou ao modo de ligação das orações”. Para esse autor, a
coordenação tanto pode indicar a presença de orações independentes quanto a
presença de orações justapostas ou conectivas. Sua grande contribuição patenteia-se
nos vários momentos de análise em que deixa evidenciada a fragilidade do modelo
tradicional. Segundo o autor, “o conceito de subordinação é de essência, e se
refere à natureza da oração; o de coordenação, no sentido de modo de ligação das
orações, é acidental, e não interfere na natureza das orações” (p.168). Para
entender esse raciocínio, observemos que orações subordinadas que estão
coordenadas entre si podem ocorrer, mas o inverso não é admissível. Logo, os
rótulos coordenação e subordinação, para o autor, não podem ser usados como
relacionados a um mesmo fenômeno lingüístico.
Luft7 (1978) apresenta dois processos de combinação de orações:
coordenação e subordinação. As coordenadas são orações de igual função, ligadas
entre si, enquanto as subordinadas são orações que dependem de outra, chamada
principal.
A subordinação inclui, segundo Luft, orações substantivas, adjetivas e
adverbiais. As substantivas podem ser, quanto ao verbo e conexão, reduzidas ou
desenvolvidas, estas conectadas por conjunção (que, se, como) ou por pronome (
quem, como, quanto). O autor inova no sentido de incluir dentre as substantivas as
7 Luft (1978:145) afirma que Parataxe e Hipotaxe seriam nomenclaturas correspondentes aos processos de coordenação e subordinação em outras línguas, estando, portanto, em relação de sinonímia. Em relação a esses termos, Said Ali (1971:273) alerta que são preferidos pela Lingüística moderna, em lugar dos sistematicamente utilizados nas gramáticas tradicionais, coordenação e subordinação.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
17
de adjunto adnominal e as de agente da passiva, para as quais serviriam de exemplo
as orações introduzidas por pronomes relativos sem antecedente. Com o fim de
manter o paralelismo entre advérbios e orações adverbiais, também propõe as
adverbiais modais e as adverbiais locativas.
Luft (1978:46) argumenta contra a quádrupla classificação dos
processos de estruturação sintática, como concebe Rocha Lima, por entender que
correlação e justaposição são fenômenos correntes tanto em coordenação quanto em
subordinação. Oferece, contudo, duas outras explicações para justificar a não-
inclusão de justaposição e correlação no rol dos processos sintáticos. A primeira
aparece em forma de transcrição8 da opinião de Antenor Nascentes: “uma oração
ligada a outra só pode estar ou em situação de igualdade, de independência, ou em
situação de subordinação, de dependência”. A segunda justificativa é dada pelo
próprio Luft, ao concluir que a inclusão de correlação e justaposição somente
sobrecarregaria a nomenclatura.
Cunha (1962;1983), depois retomado por Cunha & Cintra (1985),
defende que existem dois processos de junção de orações: coordenação e
subordinação. O primeiro caracteriza-se pela independência semântico-sintática das
orações que podem estar justapostas (assindéticas) ou ligadas por conectivos
(sindéticas); o segundo caracteriza-se pela não-autonomia gramatical das orações. A
diferença entre esses processos manifesta-se no fato de subordinadas
desempenharem função como termo essencial, integrante ou acessório de outra
oração.
Cunha e Cunha & Cintra mantêm a divisão em três tipos de
subordinadas com algumas ressalvas. As substantivas também podem ser
justapostas, com verbos que expressem ordem, desejo e súplica; além disso, como
observação, é sugerida a inclusão das substantivas de agente da passiva.
Com o objetivo de fornecer elementos para a descrição da estrutura,
funcionamento e uso do português, Mira Mateus et al. (1983) identificam as
estruturas gramaticais possíveis no português, e as dividem em dois tipos: estruturas
de coordenação e estruturas de subordinação.
8 A citada transcrição encontra-se originalmente publicada na NGB, pela qual Antenor Nascentes foi co-responsável.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
18
Embora a apresentação das autoras siga um tom diferenciado quanto à
orientação teórico-metodológica das demais gramáticas incluídas neste estudo,
ainda assim as definições dos processos são equivalentes. Caracterizam como
coordenadas estruturas em que as orações, ligadas por conectores ou pausas, não
desempenhem funções dentro de outras orações. Com relação ao nexo semântico,
essas orações se coordenariam por conjunção, disjunção, contrajunção e condição-
conseqüência.
Mira Mateus et al. (1983:405) reúnem as construções de subordinação
em três grupos distintos a partir do critério ‘encaixamento’: encaixamento, não-
encaixamento, encaixamento por graduação. No primeiro grupo, estão as
complementizadoras e as relativas; no segundo, as condicionais, as finais, as
contrastivas e as de ordenação temporal; no terceiro grupo, as comparativas e as
consecutivas.
Bechara (s/data:266; 1992:216) classifica coordenadas e intercaladas
como independentes, por não exercerem função sintática dentro de outra oração a
que se ligam, e as subordinadas como dependentes, por exercerem função sintática
em outra e equivalerem a um substantivo, adjetivo ou advérbio.
O tratamento dado por Bechara (1992) aos processos de junção de
orações é baseado no tipo de conexão. Ele mostra que as subordinadas substantivas
(subjetivas, objetivas diretas e indiretas, predicativas, completivas nominais e
apositivas), adjetivas e adverbiais podem apresentar-se tanto encadeadas por
justaposição quanto por conectivos.
Ao tratar das ambigüidades interpretativas ou possível acúmulo de
noções em um único tipo de oração, traça comentários sobre as adjetivas e
adverbiais (condicionais e finais). Segundo o autor, as adjetivas podem acumular
outros sentidos: adversativo, final, condicional, conseqüência, concessão; as
condicionais podem encerrar também noções de hipótese, eventualidade, concessão
e tempo; e as finais podem desencadear interpretação consecutiva, quando a
conseqüência denota efeito ou resultado intencional. Embora o autor não cite,
temos, em nossos dados, evidências de que adjetivas possam acumular a função de
tempo, como em (3) e (4):
(3) antigamente...quando um cara falava assim...ela já pensava que era verdade mesmo [pop236] (4) sexta-feira, quando eu apanhar meu filho no colégio, eu vou
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
19
pra lá [peul148]
As intercaladas, para Bechara, não trariam, em geral, conectivos
expressos e seriam independentes, entretanto temos evidência em (7) e (8) de que
esse critério é insuficiente para a classificação dessas orações, uma vez que se aplica
somente a intercaladas que funcionam como apêndices, esclarecimentos. Com isso,
queremos chamar a atenção para o fato de que o conjunto das intercaladas pode ser
seccionado em subconjuntos peculiares, e isso pode ser visto em alguns dos nossos
dados de língua falada.
A classificação proposta para as independentes - coordenadas e
intercaladas - não nos parece satisfatória por entendermos que nela ocorre mescla de
critérios, uma vez que o autor inclui num mesmo grupo rótulo destinado a marcar a
ordem das orações - intercalação - e rótulos destinados a marcar processos de
combinação sintática - coordenação. A amostra analisada possibilitou observar que
nem todas as intercaladas são justapostas, isto é, as orações introduzidas por
conectivo também podem ocorrer no interior de outra oração. Alguns desses
exemplos podem ser observados de (5) a (10).
(5) mas ele...quando era garotinho...pegou lá - uma vez pegou - ganhou um copo lá...sabe? [Peul28] (6) aí a professora...quando chega em sala...não sabe o que faz [Peul61] (7) mas...a hora que eu entendê de i lá...eu vô [Pop94] (8) porque quando eu vim de lá...eu era melhor [Pop107] (9) ela põe eles pa me ajudá (risos) porque eu...chego lá...ela fica “ô Iara vem vê a tartaruga [Pop267] (10) mas...na hora de voltar...ela não dá para correr [Peul266]
Bechara, portanto, classifica as intercaladas como independentes9 sem
levar em conta que esse é o traço distintivo de apenas um dos tipos de intercalada.
As orações intercaladas de Bechara nada têm a ver com as que, neste
estudo, consideramos intercaladas. Os exemplos apresentados por esse autor são,
atualmente, vistos como unidades discursivas modernamente nomeadas de
afterthought, a exemplo do rótulo utilizado em estudos mais recentes de orientação
funcionalista.
9 Luft (1981:178) concorda com esse traço distintivo, entretanto ressalta que o termo “intercalada” não é registrado na NGB.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
20
Com relação às orações reduzidas, observamos um maior consenso
entre os autores. Rocha Lima (1958:264) apresenta as orações reduzidas como
forma peculiar em que podem aparecer as subordinadas, as correlatas e as
justapostas. Elas são identificadas pela forma nominal do verbo empregado:
infinitivo, gerúndio, particípio presente e particípio passado.
Segundo esse autor, à exceção de adjetivas e justapostas adverbiais,
todas as demais podem ser codificadas pelo infinitivo; as gerundivas, ao contrário,
seriam, pela própria formação histórica, exclusivamente adverbiais. Essa afirmação
categórica faz com que o autor discuta a ‘aparente’ feição gerundiva da oração
adjetiva, como em (11).
(11) Vi dois homens brigando na rua
Para Rocha Lima (1958:267), a interpretação da relação sintática
dessas orações pode ser equivocada, pois “tem-se, à primeira vista, a impressão de
que o gerúndio se refere claramente a um substantivo ou pronome da oração
principal, e neste caso, corresponderia ele a uma oração subordinada adjetiva”.
Completa sua análise afirmando que uma observação mais detida do período
mostra-nos “que se trata de mera impressão, pois nelas o gerúndio é apenas
remanescente de uma oração adjetiva cujo verbo figura numa construção
progressiva com o verbo estar”.
Portanto, não seria esse caso, para Rocha Lima, um exemplo de
redução e sim de elipse de dois termos: pronome relativo e verbo auxiliar, com a
seguinte reconstrução recuperada em (11a).
(11a) Vi dois homens que estavam brigando na rua
As reduzidas de particípio presente, usadas normalmente como
substantivos e adjetivos (Said Ali, 1971) seriam, segundo Rocha Lima, quando
desenvolvidas, tipicamente subordinadas adjetivas, como mostra o exemplo (12) e
(12a).
(12) Este é o caminho conducente à glória (p.268) (12a) Este é o caminho que conduz à glória.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
21
Por fim, as de particípio passado (p.268) aparecem associadas às
adjetivas e às adverbiais, como vemos nos exemplos (13) e (14).
(13) Ficarão em minha casa os parentes chegados ontem do interior. (13a) Ficarão em minha casa os parentes que chegaram ontem do interior. (14) Acabada a festa, retiraram-se os músicos. (14a) Quando acabou a festa, retiraram-se os músicos.
As escolhas interpretativas apresentadas em (13a) e (14a) foram feitas
pelo gramático, mas outras possibilidades descortinam-se em (14b), (14c) e (14d),
não excluindo com essas as nuanças semânticas decorrentes da troca de conectivo
por outro que encerra a mesma noção. Em outras palavras, não apresentamos
exemplos de outras equivalências nocionais que se abrem como leques sem
ultrapassar os limites de classificações tradicionais, como é caso de se trocar quando
por logo que, em que a noção maior de tempo não se modifica, somente a nuança
aspectual.
(14b) Porque acabou a festa, retiraram-se os músicos. (14c) Já que acabou a festa, retiraram-se os músicos. (14d) Acabou a festa, retiraram-se os músicos.
Segundo Luft (1978), excetuando as substantivas de agente da passiva,
todas as outras podem ser reduzidas de infinitivo; as adjetivas podem apresentar-se
nas três formas reduzidas: de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Com relação às
adverbiais, causais e modais, podem ser infinitivas e gerundivas; as concessivas,
condicionais e temporais podem assumir as três formas reduzidas e a final somente
pode assumir a forma infinitiva. Já as comparativas, conformativas, consecutivas,
locativas e proporcionais não aparecem de forma reduzida em nenhuma hipótese.
Cunha & Cintra (1985:594) definem as orações reduzidas como
aquelas em que não são utilizados os conectivos, mas, mais do que isso, aquelas que
têm seus verbos nas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio.
Segundo Cunha (1962:303; 1983:416) e Cunha & Cintra (1985:598),
todas as substantivas, adjetivas e adverbiais, excetuando-se entre essas últimas as
comparativas, conformativas, consecutivas e proporcionais, podem-se apresentar
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
22
sob forma reduzida de infinitivo. Com relação às gerundivas e participiais, somente
aparecem nessas formas verbais as adjetivas e algumas adverbiais (causais,
concessivas e condicionais).
Esses autores, em forma de nota, incluem as adjetivas no rol das
orações reduzidas de infinitivo, diversamente de Rocha Lima, acrescentando ser
esse uso menos comum no português do Brasil do que no português europeu.
Acrescem ainda que, embora alguns gramáticos considerem galicismo o uso das
adjetivas gerundivas, esse é uso muito antigo no Português (Cunha 1983:416; Cunha
& Cintra 1985:599), fato ilustrado com exemplos dos séculos XIV e XVIII.
Mira Mateus et al. (1983:479), por sua vez, afirmam que “as orações
infinitivas, gerundivas e participiais ordenam temporalmente um determinado
estado de coisas por referência ao intervalo de tempo do estado de coisas descrito
pela outra oração”. Com objetivos descritivos, faz análises pontuais de cada
estrutura recorrente na língua portuguesa, mencionando o uso de formas verbais
infinitivas, gerundivas e participiais em orações adverbiais. Há, entretanto,
referência às orações reduzidas de infinitivo substantivas e relativas.
Bechara (1992:235) enfatiza que não é a falta do conectivo que
caracteriza as reduzidas, mas sim a forma nominal do verbo. Além disso, para o
autor, o emprego dessas orações constituiria um dos recursos que, quando
empregado com arte e bom gosto, emprestaria ao discurso elegância e eficiência.
Essas orações, segundo Bechara (s/data:290; 1992:236), podem ser
independentes (coordenadas) ou dependentes (subordinadas); além disso, a maioria
delas pode ser desdobrada numa correspondente, ainda que existam também as
fixas, que não podem ser desdobradas. As coordenadas são construídas com as
formas verbais infinitivo e gerúndio, em apenas dois casos10 citados pelo autor. As
reduzidas dependentes, se com verbo na forma infinitiva, podem ser desenvolvidas
em causais, concessivas, condicionais, consecutivas, finais, locativas, de meio e
instrumento, modais ou temporais; se na forma gerundiva, podem desencadear
orações desenvolvidas causais, concessivas, condicionais, consecutivas, de meio e
instrumento e temporais; se na forma participial, podem ser desenvolvidas em
causais, concessivas, condicionais e temporais. O terceiro tipo de reduzida, as fixas,
10 Bechara inclui nesses usos o infinitivo precedido da preposição sobre em situações de ênfase e o gerúndio para a expressão de fato imediato.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
23
são aquelas para as quais não encontramos formas desenvolvidas correspondentes
(Bechara s/data:298; 1992:242). Esses casos refletem as seguintes estruturas:
orações que contêm verbos seguidos de sujeito oracional; orações construídas com
os verbos agradecer, perdoar e haver, seguidos de objeto direto oracional; orações
coordenadas na estrutura sobre ou além de + infinitivo, com sentido aditivo
enfático; orações circunstanciais que denotam exceção, exclusão e meio ou
instrumento.
Em síntese, os rótulos mais comumente empregados para designar os
processos de combinação de orações, na literatura investigada, são coordenação e
subordinação (Said Ali, Garcia, Luft, Cunha, Cunha & Cintra, Mira Mateus et al. e
Bechara). Somente Rocha Lima concebe quatro tipos de processos, por incluir
também a correlação e a justaposição e Morais não considera que coordenação
possa ser usada ao lado de subordinação, enquanto processo. Consenso também
pode ser observado na mistura de critérios utilizados pelos autores para definirem os
processos de combinação de orações por eles arrolados.
Neste estudo, partimos da pergunta: quais são as formas de se
combinarem orações cuja noção relacional seja tempo? Buscamos, assim, identificar
estruturas compostas por duas orações, em que uma oração reflete o tempo de
realização do evento de outra oração. Como partimos do critério semântico para
seleção dos dados, será necessário levar em conta os processos de combinação de
oração numa abordagem funcionalista.
2.2 Abordagem funcionalista
A natureza da combinação de cláusulas tem sido objeto de estudo de
funcionalistas, os quais buscam apresentar modelos que dêem conta das estruturas
lingüísticas correntes. Invariavelmente, criticam o ponto de vista tradicional por
crerem que esse modelo não possa abarcar todas as frases complexas das línguas.
Apresentamos, por isso, um resumo das idéias contidas em alguns trabalhos de
orientação funcionalista, a fim de verificar como esses pesquisadores concebem os
processos de combinação de orações.
Ao tratar da frase complexa, Halliday & Hasan (1983:227) tratam
conjunção como uma relação coesiva que entendem como “a different type of
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
24
semantic relation, one which is no longer any kind of a search instruction, but a
specification of the way in which what is to follow is systematically connected to
what has gone before”.
Por julgarem que o termo ‘encaixamento’ não tem sido claramente
distinguido de hipotaxe em muitos dos estudos prévios, Halliday & Hasan
(1983:136) preferem o termo ‘rankshifted’, pois esse termo deixa evidente que uma
oração pode ser dependente de outra sem, contudo, estar integrada a ela, não sendo
constituinte da oração-núcleo, portanto.
Halliday (1985:195) divide os processos de combinação de orações em
dois tipos: parataxe e hipotaxe. Segundo ele, na hipotaxe, a inversão de ordem não
muda a interpretação de qual seja a secundária; na parataxe, a que vier anteposta
será a primeira da seqüência, ou seja, a ordem das orações reflete a ordenação dos
eventos, conforme quadro apresentado a seguir.
Quadro 3: Orações Primárias e Secundárias11
Primary Secondary
Parataxis 1 (initiating) 2 (continuing)
Hipotaxis α (dominant) ß
Se essa afirmação é válida para o inglês, no português não pode ser
aceita, porque exemplos como (15), (16) e (17) demonstram que o tempo pode vir
expresso em justapostas intercaladas e pospostas.
(15) isso, eles vive dizendo isso, eu nem sonhava em ter filho ainda [peul143] (16) tem tanta gente aí que sofre tanto, né? em pequeno, que, no entanto, cresce, vai ser um grande homem [peul198] (17) qué dizê que o padre abria a porta...nóis era os primero a entrá [pop286]
Casos em que o tempo vem expresso em ambas as orações combinadas
também ficam à margem da afirmação de Halliday. E esses casos podem ser vistos
em (18) a (20).
(18) comecei aprendê.. eu era pequeno [pop341] (19) minha mãe morreu...eu tinha oito ano [pop343]
11 Reprodução da tabela 7(1): “Primary and Secondary Clauses”, In: Halliday (1985:195).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
25
(20) eu fui sabê meu nome...eu tinha vinte e três para vinte e quatro ano [pop364]
Para Halliday (p.198), hipotaxe é o processo de ligação de elementos
de estatuto sintático diferente, ao passo que parataxe representa a combinação de
elementos com o mesmo estatuto. Seria, portanto, a parataxe uma relação lógica
simétrica e transitiva, ao contrário da relação lógica implementada pela hipotaxe.
Há, em Halliday, a distinção entre os processos de combinação de
orações e o encaixamento. Assim, enquanto os processos combinatórios oracionais
são vários em termos de graus de interdependência, o encaixamento é mais restrito
por determinar unicamente casos em que uma oração funciona como constituinte de
outra oração. As relações que implicam combinação de orações podem ser
apreciadas no quadro 4, formulado originalmente por Halliday (1985:197)12.
Quadro 4: Tipos Básicos de Combinação de Orações
PROJECTION Parataxis Hipotaxis
(a) elaboration -------------------- ----------------
(b) extension -------------------- ----------------
(c) enhancement -------------------- ----------------
EXPANSION (a) locution ----------------- ----------------
(b) idea ------------------ ----------------
Halliday, como podemos observar no quadro 4, faz a distinção entre os
tipos de interdependência com base em dois critérios: projeção e expansão. Lendo
as informações contidas no quadro, apreendemos que, de um lado, elaboração,
extensão e realce são três tipos de projeção, e, de outro, que locução e idéia são
dois tipos de expansão.
Na elaboração, uma oração elabora o sentido da outra, na medida em
que a informação já apresentada é retomada ou especificada. Na extensão, uma
oração amplia o significado da outra, trazendo um acréscimo em relação à primeira
informação. No realce, uma oração imprime relevo circunstancial à informação da
oração à qual se combina.
O encaixamento, no modelo de Halliday, como dissemos
anteriormente, não faz parte da combinação de orações, por ter intrinsecamente
12 Reprodução parcial da tabela 7(2): “Basic Types of Clause Complex”.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
26
estatuto sintático diverso. Enquanto o encaixamento inclui restritivas e completivas
subjetivas e objetivas, a parataxe inclui casos de coordenação, justaposição e
citação. A hipotaxe, por sua vez, remete a relativas não-restritivas, ‘reported speech’
e adverbiais em geral.
Thompson (1984:86) afirma que não há, normalmente, critérios
razoáveis que dêem conta de tudo o que, na língua, se encaixa em ‘subordinação’:
“So the term ‘subordination’ seems to be at best a negative term which lumps
together all deviations from some ‘main clause’ norm, which means that it treats as
unified a set of facts which we think is not a single phenomenon”.
A autora distingue entre dois tipos de orações que normalmente são
consideradas ‘subordinadas’. O primeiro tipo congrega um grupo de orações
governadas por princípios gramaticais e o segundo tipo, um grupo cuja
independência organizacional é traço marcante.
No primeiro grupo, as orações estão em constituição com um nome, um
verbo ou uma preposição. Se em constituição com um nome, são reconhecidas
como orações relativas; se em constituição com um verbo ou preposição, são
orações-complemento. Os exemplos apresentados por Thompson sugerem que,
considerando a terminologia da gramática tradicional, as primeiras seriam
equivalentes às orações adjetivas restritivas, as segundas, às substantivas objetivas
diretas, e as últimas, às reduzidas de infinitivo.
No segundo grupo, são incluídas as chamadas adverbiais, participiais e
relativas não-restritivas. Essas orações são diferentes daquelas do primeiro grupo
por não desempenharem função dentro da outra oração e serem apresentadas como
não-dependentes.
A autora prefere o rótulo não-dependente a independente, por crer que
não haja orações plenamente independentes no discurso: “Pragmatically, of course,
almost every utterance we use is dependent, since it requires context for its
interpretation, but what grammarians have been concerned about when they use the
‘dependent’ has generally been grammatical dependency, not this kind of pragmatic
dependency” (p.88).
Haiman & Thompson (1984, apud Decat, 1993:95 e Koch, 1995:13)
propõem, como solução para essa abordagem inadequada das combinações de
orações, alguns critérios para dar conta dos tipos classificados como ‘subordinação’:
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
27
identidade de sujeito, tempo e modo das orações combinadas; redução de uma das
orações; incorporação gramatical da oração; ligação entonacional; inclusão de uma
oração como escopo da outra; ausência de iconicidade; e identidade de atos de fala.
Portanto, os processos de combinação de orações em Thompson e
Haiman & Thompson passam longe de uma classificação tradicional, uma vez que
vinculam sua análise a outros critérios que não ao tipo de conector. Dessa forma,
rejeitam o critério de dependência utilizado para algumas orações ‘subordinadas’,
numa acepção gramatical, e fragilizam o rótulo ‘subordinação’ enquanto abarcador
de tipos diversos de construções oracionais.
Matthiessen & Thompson (1988:285) afirmam não haver consenso
entre os estudiosos quanto à terminologia utilizada para nomear processos de
combinação de orações. Não aceitam o rótulo ‘adverbial’ nem ‘subordinada’ por
sinalizarem invariavelmente encaixamento que, para esses autores, não é verdadeiro.
Seguindo esse raciocínio, distinguem, a exemplo de Halliday (1985), entre
combinação de orações e encaixamento, por entenderem que há uma mistura de
critérios ao se juntarem orações do tipo circunstancial com aquelas que
desempenham função sintática dentro de outra oração, casos em que funcionam
como constituinte da oração a que se subordinam.
A visão dos autores é diversa da tradicional já que vêem a gramática de
combinação de orações como reflexo da organização do discurso. Para que essa
organização seja apreendida, Matthiessen & Thompson(1988:289) apresentam a
distinção entre relação núcleo-satélite e relação lista: “we have also seen that two
types of relations can be distinguished: those in which one member of the related
pair is ancillary to the other (diagrammed with an arc from the ancillary portion to
the central portion), and one in which neither member of the pair is ancillary to the
other (diagrammed as descendents from a List node). This distinction is crucial. The
first type we might call a ‘Nucleus-Sattelite’ relation, the second a ‘List’ relation.”.
Segundo eles, em um texto convivem porções textuais nucleares e
porções suplementares aos objetivos centrais do texto. O satélite é um elemento
periférico na relação núcleo-satélite, ou seja, a função organizacional da oração dita
satélite é secundária, mas não menos importante ou dependente, em relação à
oração- núcleo. Em contrapartida, na relação lista, não ocorre essa vinculação de um
elemento em relação a outro, ou seja, não ocorre hierarquização.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
28
Matthiessen & Thompson (1988:301) defendem que a combinação de
orações constitui gramaticalização de unidades retóricas no discurso, mais
especificamente, “enhancing hypotactic clause combining has evolved as a
grammaticalization of rhetorical relations in text of the enhancing Nucleus-Satellite
kind”. Como Halliday, esses autores apresentam dois tipos de marcas gramaticais
que viriam sinalizando as orações satélite: conectivo e natureza finita, neste último
incluídas as infinitivas e participiais.
Eles descrevem as hipotáticas circunstanciais a partir de algumas
propriedades, dentre as quais citamos marcas gramaticais e ordem. Por marcas
gramaticais, entende-se que unidades formais devem sinalizar a diferença entre
núcleo e satélite e, por ordenação, apreendemos a seqüência de porções envolvidas
na relação núcleo+satélite.
Ainda com relação à ordem, Matthiessen & Thompson negam que
exista variação livre, pois, na verdade, a seqüência da relação núcleo-satélite é
altamente determinada pelo discurso. Esse fato pode ser justificado, segundo os
autores, com as diferenças no estatuto temático proveniente da inversão. Nesse
sentido, se a hipotática é ‘guia’ virá anteposta à núcleo, por exigência de sua função
orientadora. Os autores seguem o que postulou Chafe (1984) ao chamá-la de
‘guidepost’.
Para Matthiessen & Thompson (1988), as coordenadas e hipotáticas
estão próximas entre si e distantes do encaixamento, pois as hipotáticas partilhariam
um maior número de traços com as coordenadas do que com as encaixadas. Num
contínuo, teríamos a seguinte figura.
Contínuo 1: Aproximação dos Processos segundo Traços
Coordenadas >>>hipotáticas>>>>>>>>>>>>>>>>> encaixamento
Lehmann (1988:214) classifica os processos de combinação de orações
a partir de seis parâmetros: hierarquia gradual de orações subordinadas, nível
sintático da oração principal e da oração subordinada, dessentencialização da oração
subordinada, gramaticalização do verbo principal, entrelaçamento das duas orações
e explicitude do elo conectivo.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
29
A partir da combinação desses seis parâmetros, cria o autor vários
contínuos que são expressos entre dois pólos: elaboração e condensação, conforme
quadro 513. Segundo o autor, tal fato significa que duas forças opostas atuam no
processo de ligação de orações, formando dois pólos extremos. Entre esses
extremos, existe uma gama de variedades e tipos intermediários e concomitantes de
combinação de orações.
Quadro 5: Paralelismo de contínuos de ligação de orações
elaboration -------------------------------------- compression Downgrading of subordinate clause weak ------------------------------------------------------ strong parataxis embedding Syntactic level high --------------------------------------------------------- low sentence word Dessententialization weak --------------------------------------------------------- strong clause noun Grammaticalization of main predicate weak ------------------------------------------------------- strong lexical verb grammatical affix Interlacing weak --------------------------------------------------------- strong clauses disjunct clauses overlapping Explicitness of linking maximal ---------------------------------------------------- minimal syndesis asyndesis
Observando o quadro acima, verificamos que Lehmann polariza
elaboração e condensação para sinalizar os graus de conexão das orações. Do ponto
de vista da gradiência de orações subordinadas, a parataxe representa fraco grau de
vinculação na elaboração, enquanto o encaixamento, o mais forte grau. Levando em
conta o nível sintático, a sentença estaria num alto grau de elaboração e a palavra,
no mais baixo grau, no pólo oposto. A dessentencialização é mais fraca em orações,
entretanto mais forte no nome, porque representa o processo pelo qual uma oração
perde características oracionais e torna-se constituinte de outra oração. A 13 Reprodução fiel ao original apresentado na Figura 6: “Parallelism of clause linkage continua”, In:
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
30
gramaticalização é fraca em itens lexicais verbais, contudo muito forte em afixos
gramaticais. O entrelaçamento das orações possui seu grau mínimo na disjunção de
orações e grau máximo na sobreposição de orações. A explicitude da conexão é
máxima nas sindéticas e mínima nas assindéticas.
Todos os contínuos, segundo Lehmann(1988:216), partem de um pólo
de máxima elaboração em direção a um pólo de máxima condensação do léxico e da
informação gramatical, podendo ser explicado por meio da atuação de forças
opostas: “this means that two opposing forces are at work in clause linkage. The
first acts towards the elaboration of a phrase into a more fully developed
construction which contains its own predication with all the accessories.(...) The
opposing force acts towards the compression of a full-fledged clause to a nominal
or adverbial constituent of a matrix clause”. Com base na atuação dessas duas
forças antagônicas, mas complementares, Lehmann estabelece um modelo funcional
de junção de orações
Em resumo, as idéias discutidas nesta seção evidenciaram um
distanciamento maior ou menor da visão positivista da gramática. Embora Halliday
faça distinção entre processos de combinação de orações (parataxe e hipotaxe) e
encaixamento, neste trabalho o rótulo combinação de orações abrange todas as
construções que estão ligadas semanticamente pela relação de tempo.
2.3 Perspectiva da Gramaticalização
Hopper & Traugott (1993:170) propõem a combinação de dois critérios
para o estabelecimento de um contínuo de orações: dependência e encaixamento.
Dividem, então, os processos de combinação oracional em três tipos: parataxe,
hipotaxe e subordinação.
Parataxe evidencia independência entre as orações que compõem a
seqüência. Hipotaxe vem expressa pela interdependência entre as orações
combinadas, havendo uma oração-núcleo e uma ou mais orações com relativa
dependência. Subordinação apresenta-se com grau máximo de dependência, por
servir como constituinte da oração-núcleo.
Lehmann (1988: 217).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
31
Esses autores também representam, em forma de quadro de contínuos,
os processos de combinação de orações, incluindo, a exemplo de Lehmann (1988), o
critério da integração sintática, apresentado na seção anterior. A representação
desses critérios em contínuos pode ser observada no quadro 6.
Com base nesses critérios, afirmam que adverbiais e relativas
apositivas podem ser menos dependentes do que relativas restritivas e orações-
complemento em algumas línguas ou em estágios de uma língua.
Segundo as informações apresentadas por Hopper & Traugott, a
Parataxe, como processo de ligação, envolve tanto as justapostas, quanto as
coordenadas. As primeiras aparecem lado a lado sem a presença de um conector e a
relação semântica é estabelecida somente por inferência. As segundas, ao contrário,
trazem o conectivo explícito e apresentam as orações num mesmo contorno
entonacional. A Hipotaxe representa a seqüência de orações que surgem da
reanálise de sintagmas adverbiais, portanto, como já mostrado por Mathiessen &
Thompson (1988), com status semântico diferente das encaixadas: “they have not
reached the level of incorporation that, for example, complements have done”
(Hopper & Traugott 1993:176). A Subordinação identifica orações com força
elocucionária idêntica à da matriz e é equivalente ao constituinte que expressa.
Essas orações exemplificam o que Lehmann chama de interlaced, por isso mesmo
são completamente dependentes de sua matriz.
Quadro 6: Propriedades relevantes para o contínuo de Combinação de Orações14 parataxis------------------------hypotaxis-----------------subordination (independence) (interdependence) (dependence) nucleus ----------------------------------------------------------- margin minimal integration ------------------------------ maximal integration maximal overt linking ---------------------------minimal overt linking
14 Reprodução integral da figura 7.1: “Properties relevant to the cline of clause combining”, In: Hopper & Traugott 1993:171.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
32
Harris & Campbell (1995) discutem os processos de junção das
orações, questionam a unidirecionalidade da mudança e examinam como as
estruturas renovam-se na língua.
As autoras apresentam duas razões para a crença de que hipotaxe é
derivada de parataxe, idéia consensual na visão mais tradicional (cf. Said Ali 1971).
A primeira razão advém de que a parataxe é mais comum nos estágios mais recentes
de uma língua escrita do que encaixamento; e a segunda é baseada na idéia de que
subordinadores em muitas línguas surgiram a partir dos pronomes interrogativos. A
segunda hipótese, segundo estudos das autoras, não se sustenta por falta de
evidências lingüísticas.
Para Harris & Campbell, a mais aceitável explicação para o surgimento
das construções complexas estaria baseada na reanálise de estruturas. Como
evidência, apresentam o caso do pronome thaβ (das) que, já no alemão antigo, foi
usado para marcar subordinadas, sendo reanalisado, então, como
complementizador. Essa reanálise explicaria uma forma gráfica que distinguisse o
pronome demonstrativo das do complementizador dass (daβ). Evidência disso
também pode ser encontrada, segundo as autoras, no inglês com a reanálise de “the
while that” em while e, no francês, de “par ce que” em parce que.
Quanto à unidirecionalidade, essas autoras consideram bastante
questionável que se conceba uma mudança lingüística sempre da estrutura menos
complexa para a mais complexa. A evidência apresentada pode ser observada em
qualquer língua viva, uma vez que nelas continuam a existir estruturas simplificadas
e não apenas as mais complexas.
Com relação à renovação, as autoras remetem ao processo contínuo de
substituição ou revisão dos tipos de construções utilizadas, não sem antes desmontar
o consenso de que a hipotaxe é um recurso mais sofisticado, enquanto parataxe,
primitivo. As autoras assentem que esse consenso pode ser aceito, parcialmente, se
restringirmos hipotaxe a orações finitas; entretanto temos hipotáticas não-finitas.
Essa afirmação prende-se ao fato de que resultados do estudo de Chafe (1982)
apontaram para um maior índice de subordinadas finitas na escrita do que na fala.
Ainda que a produtividade seja evidenciada, questionam as autoras a aproximação
entre freqüência e primitividade. Ou seja, a alta produtividade não é evidência de
primitividade.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
33
Harris & Campbell (1995:310), portanto, refutam a hipótese Parataxe,
mas aceitam o Princípio do Uniformitarismo, que prevê que um processo que opera
num tempo pré-histórico é o mesmo que opera no tempo histórico. Entretanto, para
que um processo tenha ocorrido, evidências são necessárias.
Todos os argumentos construídos pelas autoras envolvem a reanálise
em alguma instância. Reanálise, aliás, é a explicação mais aceitável para o
surgimento das hipotáticas, porque as autoras crêem que nenhum mecanismo
especial é necessário para a explicação de como surgiram essas orações. Segundo
elas, toda língua que tenha formas verbais não-finitas tem o potencial para
introduzir uma oração subordinada finita. Portanto, a etimologia de um conectivo
não poderia explicar a estrutura original do tipo oracional, pois a subjunção pode ser
extensiva a um tipo diferente de oração, por reanálise.
Harris & Campbell (1995:304) estabelecem uma tipologia de orações,
aplicável somente às subordinadas, baseada no tipo de asserção; daí os rótulos:
asserções do falante, asserções indiretas e não-asserções. As orações com que
trabalhamos estão incluídas nas não-asserções, uma vez que adverbiais em geral
fazem parte desse grupo.
Paiva (1998:62), por outro lado, analisando as expressões da relação de
causalidade no Português de Contato do Alto Xingu, fez observações que
confirmaram a Hipótese Parataxe. Notou que, com o avanço do aprendizado do
português, a relação de causa fica mais gramaticalizada, pois, se inicialmente a
parataxe predomina, com o domínio mais acentuado da língua, a hipotaxe aumenta
expressivamente. Esta é uma evidência de que mudanças lingüísticas na combinação
de orações estão atreladas aos estágios de aquisição de L2. Nesse sentido, a
Hipótese Parataxe é aplicável ao Português de Contato.
Franjzyngier (1996) investigou construções complexas nas línguas
Chadic, e propôs uma tipologia oracional baseada em três tipos: ligação assindética,
seqüencial e subordinada. Nesse modelo, muitas estruturas complexas subordinadas
naquela língua são identificadas com base no tipo de verbo da principal:
complementos de verbos de dizer, interrogativas encaixadas, complementos de
verbos de volição, complementos de verbos de percepção, complementos de verbos
de cognição, orações temporais, orações condicionais e orações relativas.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
34
Novamente, a maioria das explicações dadas para o surgimento das orações baseia-
se na reanálise.
Em síntese, nesta seção, apresentamos notícias sobre os trabalhos de
Hopper & Traugott, Harris & Campbell, Paiva e Franjzyngier, a fim de enfatizar que
a reanálise, enquanto processo que implica a mudança de percepção de uma dada
estrutura por abdução (inferência), é explicação recorrente na literatura sobre
gramaticalização.
Voltaremos a este tema na análise de nossos dados, uma vez que
apresentaremos evidências de que estruturas emergentes da combinação de orações
podem ser explicadas por reanálise.
3. Orações de Tempo
Este capítulo é destinado a tratar especificamente das orações de tempo
no português, em duas perspectivas: tradicional e funcionalista.
É consenso entre os autores de gramáticas tradicionais que as orações
adverbiais funcionam como adjuntos adverbiais de outras orações. De modo geral, o
que encontramos na bibliografia consultada é uma apresentação bastante superficial
do comportamento dessas orações. As temporais, objeto de nossa investigação,
invariavelmente aparecem incorporadas a um conjunto “homogêneo” de orações,
nomeado subordinadas adverbiais.
Pela homogeneização dos tipos oracionais, pouco espaço é dado à
discussão de peculiaridades comportamentais das orações e isso pode ser observado
em Said Ali (1964), Rocha Lima (1958), Cunha (1962, 1983), Luft (1978, 1981),
Cunha & Cintra (1985) e Bechara (1992). Quando encontramos algum comentário,
este remete o leitor ao capítulo sobre as respectivas conjunções. Por outro lado, há
autores (Morais 1972; Mira Mateus et alii 1983) que, embora façam observações
que levem em conta o uso dos conectores, fazem-no de forma a dar evidências de
noções desencadeadas, portanto com orientação semântica.
Em resumo, embora partamos do princípio de que o tipo do conector
não seja crucial para a depreensão da noção de tempo, dois motivos impelem-nos a
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
35
recuperar algumas informações sobre o assunto: a ênfase dada por alguns autores
consultados e a busca de evidências para nossas hipóteses.
Na segunda seção, apresentaremos trabalhos de lingüistas
funcionalistas que têm construído hipóteses e análises bastante profundas de orações
de tempo, especificamente em português. Portanto, farão parte desta seção os
resultados das principais pesquisas desta década sobre as orações de tempo no
Português: Decat (1993), Braga (1995, 1996), Souza (1996) e Neves & Braga (no
prelo).
3.1 Abordagem da Gramática Tradicional
Segundo a abordagem tradicional, as orações de tempo, no português
padrão, podem ser introduzidas por conjunções subordinativas ou locuções
conjuntivas, também chamadas orações desenvolvidas. Essas orações podem ser,
ainda, construídas com verbos na forma não-finita, sendo chamadas reduzidas.
Said Ali (1964:142), tratando da noção de tempo, discute o papel das
conjunções e defende a idéia de a palavra que ter valor de conjunção temporal. A
interpretação temporal seria lícita à palavra que, “quando se segue às expressões
hoje, agora, então, há tempo, faz anos, a primeira vez, a última vez, e outras do
mesmo gênero”.
Rocha Lima (1958:257; 1962:173) comenta genericamente as
adverbiais, limitando-se a nomear os tipos de adverbiais, dentre elas as temporais,
sem entrar na discussão de cada uma delas. Dessa forma, lista algumas conjunções
temporais (apenas, mal, quando, até que, assim que, antes que, depois que, logo
que, tanto que), sem fazer referência ao seu uso.
O espaço dedicado por Rocha Lima às temporais é muito restrito.
Enquanto, na edição de 1958 (p.257), são citadas algumas adverbiais por tipo de
relação semântica, incluindo as temporais, na edição de 1962 (p.258), as temporais
sequer são mencionadas.
Cunha (1962:282; 1983:396) e Cunha & Cintra (1985:573), ao
focalizarem as temporais, também apresentam um rol de conjunções similar ao de
Rocha Lima, acrescentando alguns outros conectores (sempre que, desde que, todas
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
36
as vezes que, cada vez que, que= desde que). Cunha & Cintra, entretanto, alertam
que, quanto ao emprego desses conectivos, “o seu valor está condicionado ao
contexto em que se inserem, nem sempre isento de ambigüidade, pois que há
circunstâncias fronteiriças”(p.576). Tais casos são rotulados de polissemia
conjuncional.
Luft (1978:157; 1981:177) apresenta lista semelhante a de Rocha
Lima, observando que, embora alguns autores considerem justapostas as orações de
seqüências como Sei quando isso aconteceu, de fato a segunda é introduzida por
pronomes relativos sem antecedente, ou interrogativos (em interrogações indiretas);
esses pronomes acumulariam função de conectivo, denotando um sincretismo.
Bechara (s/data:200; 1992:164) apresenta as orações temporais por
meio de alguns exemplos e o peso maior novamente é dado ao capítulo que trata
das conjunções e das noções por elas expressas. Segundo o autor, as conjunções
temporais iniciam a oração que exprime o tempo da realização do fato enunciado na
oração principal, podendo indicar tempo anterior (antes que, primeiro que),
posterior (depois que, quando), posterior imediato (logo que, tanto que, assim que,
desde que, apenas, mal, eis que, senão quando, eis senão que), freqüentativo
(quando, todas as vezes que, cada vez que, sempre que), concomitante (enquanto, no
entretanto que) ou terminal (até que).
Morais (1972), com base em textos escritos, trata de outros valores
expressos por conectivos, normalmente deixados de lado nas gramáticas
tradicionais. Como justificativa, o autor afirma que a ocorrência de superposição de
noções gera uma confusão, de tal modo que não é possível ao analista dizer qual
dessas noções é predominante. Muito provavelmente seja nesse sentido que “talvez
se possa dizer que há ambigüidade ou polissemia” (p.173). No primeiro caso,
haveria sobreposição de sentidos, descobrindo-se o predominante, em muitos casos,
pelo contexto, mas em alguns casos persistindo a noção ambígua. No segundo caso,
o da polissemia: uma mesma conjunção ou locução conjuntiva em contextos
diversos pode desencadear mais de uma noção.
Um caso evidente dessa acumulação de noções pode ser observado,
segundo o autor, em orações reduzidas de gerúndio, que, à leitura, fazem com que
um leque se abra e nele se encontrem as noções de tempo/causa ou
tempo/causa/modo, simultaneamente.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
37
Fato similar ocorre na locução mesmo quando, pois o falante comum é
capaz, segundo Morais (p.174), de notar que há duas partículas que compõem a
noção, e essas partículas poderiam ser decompostas e utilizadas de outra maneira15.
Duas noções se percebem com a apresentação da locução mesmo quando:
inclusão/tempo, as quais resultam, em combinação, na noção de concessão.
Morais propõe que as orações adverbiais como um todo, tendo em vista
a noção expressa, e não o conectivo utilizado, sejam classificadas de forma diferente
da tradicional. Passamos, então, a apresentar algumas considerações sobre esses
rótulos, no que tange tão somente às temporais. Essas considerações serão
apresentadas em dois sentidos: conjunções tidas como temporais que figuram com
outro sentido e conjunções de outros tipos que figuram como temporais.
Há orações subordinadas adverbiais que podem, pelo conector
utilizado, desencadear a noção de adição. Nesse sentido, propõe o autor a
classificação de orações subordinadas adverbiais aditivas, as quais encerram um
fato a que se acrescenta outro, apresentado na oração principal. Para exemplificar, o
autor apresenta a expressão “en même temps que”, do francês, mas acrescenta que
essa noção pode manifestar-se no português pelo uso das partículas também e ainda
que funcionam como reforço da noção de acréscimo expressa pela subordinada.
Existem algumas conjunções que são tradicionalmente classificadas
como temporais (quando, enquanto, enquanto que, ao passo que), as quais podem
carrear noções de contraste e oposição, como fazem as adversativas. Contudo,
segundo Morais (p.194), somente esse fato não satisfaz a necessidade de se criar um
novo tipo de oração16.
Esses tipos conjuncionais, claramente temporais na origem, evidenciam
uma derivação das orações temporais, “em algumas construções - as que indicavam
simultaneidade -, foi-se insinuando a idéia de contraste, a qual não chegou a
predominar e excluir qualquer noção de tempo”(p.195). Para o autor, essas orações
devem ser chamadas de comparativas contrastivas, que não devem ser confundidas
com as temporais, mesmo porque a presença do conectivo não é determinante na
noção expressa. Fenômeno similar ocorre com “desde que”, que pode indicar
15 Morais (1972:174) diz que, nesse caso em que as partículas podem ser decompostas, não ocorreu a gramaticalização. Quando esse fenômeno é realidade, o falante comum não consegue decompor a conjunção, como ocorre com embora. 16 O autor refere-se às orações subordinadas adversativas, estudadas por Renzo Cristiani (1941) e Regula e Jernej (1965) no italiano e Kr. Sandfeld, no francês.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
38
tempo/causa/condição, e com “enquanto que”, que pode sugerir
contraste/oposição/tempo.
As comparativas constrastivas podem ser iniciadas, ainda segundo
Morais, por quando, enquanto, enquanto que17, entretanto que, entanto que e ao
passo que. Ainda que quando seja preponderantemente empregado com a noção de
tempo, há raros casos em que é empregado para indicar contraste também.
Para diferenciar os usos de “enquanto que” e “enquanto”, Morais faz
um estudo da ordenação desses tipos de orações, chegando à conclusão de que, se a
noção expressa é contrastividade, a oração “enquanto que” virá anteposta à
principal. Se o conector for “enquanto” e estiver associado à noção de tempo, a
ordem mais recorrente será a posposição da temporal em relação à principal.
Enquanto Bechara (apud Morais 1972:203) diz que a locução “ao
passo que” pode ser empregada sem a noção de proporção, Morais, com base em
seus dados de língua escrita, é mais incisivo, afirmando que ‘raramente’ esse uso
ocorre com noção de proporção. Segundo ele, sua maior incidência é decorrente da
noção de contraste e esse uso é muito recente na língua, contudo não condenado
pelos gramáticos como ocorreu com “enquanto que”.
Morais discute o estatuto das orações locativas e mostra que é
perfeitamente possível encontrarmos a locução “antes que” despontando a noção de
lugar, apresentando o seguinte exemplo18:
(21) Nos baixios da Jussara, antes que comece o riacho, viu a fumaça cegando (Adonias Filho, Corpo Vivo, pp.13-4)
Mira Mateus et al. (1983:474) consideram, em separado, os aspectos
semânticos da ordenação temporal e os aspectos sintáticos das construções
temporais. Com relação ao aspecto semântico, a ordenação de tempo pode ser
expressa por coordenação ou subordinação. Por coordenação, o tempo seria
expresso pela sucessão das orações, enquanto por subordinação, teríamos um
sentido explicitamente temporal.
Quanto ao período de tempo do evento, “os dois estados de coisas
podem ser homo ou hetero-temporais; no primeiro caso são simultâneos, no
17 Segundo Morais (1972:201), os autores que primeiro se deram conta desse uso do enquanto que foram Leite de Vasconcelos e Epifânio Dias em Portugal; no Brasil, foram Mário Barreto e Evanildo Bechara. 18 Exemplo oferecido por Morais (1972:214).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
39
segundo caso são sucessivos” (Mira Mateus et al.: 1983:475). As conjunções
quando, enquanto, ao mesmo tempo que aparecem em construções simultâneas e as
conjunções antes que/de, depois que/de, em construções sucessivas.
Com relação ao aspecto sintático, as autoras focalizam os conectores
usados e os distribuem em cinco grupos: 1.conectores quando ou enquanto; 2.
conectores de base adverbial (agora que, logo que, sempre que, assim que, antes
que/de, depois que/de); 3. conectores de base prepositiva (desde que, até que); 4.
conectores implícita ou explicitamente correlativos (mal, apenas); 5. conectores de
base nominal (no momento em que, na altura em que, todas as vezes que, cada vez
que, à medida que).
Ao considerarem problemas relacionados às orações infinitivas,
gerundivas e participiais de sentido temporal, Mira Mateus et al. (1983:479) frisam
que nelas ocorre uma profunda integração, pela possibilidade de se inferir o tempo
dessas orações a partir do tempo expresso na oração-núcleo.
Ainda segundo essas autoras, as infinitivas podem exprimir
simultaneidade, se iniciadas por ao, ou sucessividade, se iniciadas por antes de,
depois de; mas também podem ser iniciadas por até. As gerundivas exprimem
simultaneidade de eventos, entretanto, se o gerúndio for expresso em locução
verbal, indicará a anterioridade do evento. As participiais, por sua vez, exprimem a
anterioridade do evento.
Quanto à posição, tanto as gerundivas quanto as participiais são
antepostas; se infinitiva flexionada ou qualquer outra forma finita, poderá
apresentar-se anteposta ou posposta à outra oração. Ainda com relação à ordem,
Mira Mateus et al. (p.482) afirmam que a posposição demonstra-se mais usual em
duas situações: depois de expressão comparativa e como reforço de oposições de
caráter aspectual.
Quanto à explicitude do sujeito nas orações reduzidas, o sujeito nulo da
oração temporal é interpretado como co-referente do sujeito da oração-núcleo. Com
a oração infinitiva e gerundiva, os sujeitos podem ter o traço [-identidade]. Já, a
oração participial nunca tem sujeito próprio, categoricamente tem sujeito co-
referente da outra oração. Entretanto, se tiver objeto, estabelece relação de
concordância em gênero e número com esse objeto, que pode ser interpretado
equivocadamente como sujeito.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
40
Dois outros comentários acerca das reduzidas temporais apresentam-se
em Bechara (1992:242) e dizem respeito à formação das gerundivas e das
participiais. As primeiras, quando utilizam preposição em, fazem com que o verbo
da oração núcleo expresse futuro, conforme exemplo (22). Já as últimas podem vir
acompanhadas do pronome relativo que + verbo ser, conforme exemplo (23).
(22) Em havendo paz, a vida será melhor. (23) Esgotado que foi o prazo para entrega do plano, o fracasso imperou.
Em síntese, as conjunções são privilegiadas nas discussões de cada
autor enfocado, tanto como elementos que desencadeiam a noção de tempo quanto
como elementos que evidenciam o surgimento de uma semântica ‘nova’ no uso de
ferramentas lingüísticas antigas. Esse e outros aspectos sobre estruturas emergentes
serão mais concretamente trabalhados na seção 5, quando analisaremos os materiais
de língua falada.
3.2 Abordagem Funcionalista Nesta seção, serão apresentadas e discutidas idéias desenvolvidas em
estudos de lingüistas contemporâneos na observação do Português do Brasil.
Decat (1993) investiga o modo como cada oração de realce no
Português do Brasil se articula, usando corpus de língua falada e escrita. Numa
perspectiva funcional-discursiva, analisa as orações adverbiais conectivas e
justapostas, nas formas plena e reduzida de infinitivo, buscando correlacionar as
modalidades oral e escrita aos gêneros narrativo e dissertativo no português.
A autora admite a hipótese de que o uso da hipotaxe adverbial seja
influenciado por três fatores: o gênero de discurso, a modalidade e a variação
individual. Com relação às orações de tempo, conclui que tanto no narrativo oral
quanto escrito, das relações básicas de realce, a de tempo é a mais recorrente.
Na correlação entre o narrativo oral e o dissertativo oral, Decat
observou que o narrativo privilegia a relação de tempo e que o favorecimento dessa
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
41
relação no narrativo se sobrepõe ao dissertativo, na modalidade escrita. Esses
resultados foram representados por Decat (p.216) em um contínuo crescente que
mostra, de forma mais clara, como foi a distribuição, com a relação de tempo:
Contínuo 2: Distribuição de Orações de Tempo: Dissertativo x Narrativo
DO ------- NE ------ DE ------ NO
31,25% 40,4% 59,6% 68,75%
Os resultados apurados pela autora levaram-na a afirmar que discursos
narrativos privilegiam a relação de tempo, enquanto os discursos dissertativos
privilegiam a relação de motivo. À exceção do narrativo escrito, os três demais
discursos favorecem a anteposição de orações hipotáticas em formas plenas:
“tendem a se antepor as cláusulas adverbiais que funcionam como orientação no
narrativo ou encaminhamento no dissertativo; e a tendência à posposição está
ligada à função avaliativa ou argumentativa a que elas se prestam no narrativo e
no dissertativo” (Decat 1993:272).
Braga (1995) comparou orações de tempo reduzidas de gerúndio,
coordenadas e as chamadas adverbiais, segundo os parâmetros mobilidade
posicional e explicitação do sujeito. Seu objetivo era verificar se as orações
reduzidas se comportavam como as coordenadas ou como as adverbiais. Seus
resultados mostraram que as orações subordinadas desenvolvidas assumiram a
maior recorrência no corpus analisado pela autora (67,5%), ocupando
preponderantemente a margem esquerda. As orações coordenadas foram
construídas, com predominância, em anteposição, justificada pela iconicidade que
rege esse tipo de oração. As reduzidas, por sua vez, assumem uma distribuição mais
equilibrada quanto à posição em relação à matriz.
Com relação à explicitação do sujeito na oração de tempo, Braga
(1995:92) observou que, enquanto as desenvolvidas e as coordenadas detêm uma
marca de realização de sujeitos na casa dos 70%, as reduzidas caminham em sentido
contrário, pois, embora com diferença pequena (6%), a maior recorrência é de
sujeitos não-explícitos.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
42
A autora chega à conclusão de que as reduzidas são orações a meio
caminho das demais, quanto aos critérios em que foi avaliada, uma vez que possuem
mobilidade posicional como as desenvolvidas, mas comportam-se diferentemente
na explicitação do sujeito.
Uma vez que as orações reduzidas, nesse estudo de Braga, revelaram-
se orações surpreendentes quanto ao comportamento, Braga (1996) retoma o tema,
desta vez isolando essas orações e analisando-as no corpus do Projeto da Gramática
do Português Falado, formado a partir de materiais de língua falada do Projeto
NURC.
Braga (1996) retoma, com maior profundidade, o estudo das orações
reduzidas com noção de tempo, a fim de buscar respostas sobre serem as reduzidas
estratégias de subordinação ou de coordenação. Para tanto, a autora elege quatro
critérios para investigar o estatuto sintático desse tipo de oração: posição,
explicitude do sujeito, identidade entre sujeitos e nível sintático do constituinte ao
qual a oração se articula.
Segundo a autora, a oração reduzida é um tipo bastante diferente da
desenvolvida e da coordenada no aspecto das proposições relacionais licenciadas,
porque “o encobertamento do tempo-modo verbal, a apenas ocasional explicitude
do elemento conectivo favorecem a diversidade de leituras”(p.235). Dessa forma,
os resultados de Braga (1996) envolvem as orações que favoreçam a inferência de
duas proposições relacionais: tempo/condição.
Os resultados a que chegou confirmaram a alta produtividade de
orações desenvolvidas em relação às de gerúndio e coordenadas, anteriormente
demonstrada em Braga (1995). Da mesma forma, houve a confirmação dos
resultados quanto à posição das orações, uma vez que tanto desenvolvidas quanto
reduzidas detêm mobilidade posicional, enquanto a coordenada é categoricamente
fixada à margem esquerda.
Quanto à explicitude do sujeito e sua correlação com a posição, Braga
obteve os seguintes resultados: o sujeito da oração de tempo anteposta é menos
realizado na reduzida. Em contrapartida, o sujeito é altamente explicitado na oração
desenvolvida, seguida de perto pela coordenada. A taxa de [+identidade] entre
sujeitos mostrou-se mais alta nas orações reduzidas, o que explica a alta taxa de
apagamento de sujeitos nesse tipo de oração, em que a integração com a oração-
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
43
núcleo parece deter o mais alto grau, ou seja, somente a partir da leitura da oração-
núcleo, pode-se estabelecer a interpretação do tempo-modo da oração reduzida.
Dos critérios eleitos por Braga para estudo das orações reduzidas de
tempo, somente o nível do constituinte sintático a que se vincula a oração não se
demonstrou determinante nas diferenças, já que todas elas se vinculam a uma outra
oração.
Também focalizando orações de tempo, entretanto em materiais de
língua escrita, Souza (1996) explicita, baseada em pressupostos teóricos
funcionalistas de Halliday (1985) e Dik (1989), as relações sintático-semântico-
pragmáticas envolvidas na articulação das orações.
Embora com pressupostos teóricos funcionalistas, adotou caminho
diferenciado para a seleção dos dados. Seu ponto de partida para a constituição dos
dados foi a presença da conjunção. Dessa maneira, utilizando um programa
informático de busca de dados, a autora definiu três alvos: conjunções temporais,
conjunções proporcionais, locuções conjuntivas.
Com base nesse levantamento de dados, Souza apurou os seguintes
resultados percentuais: 72,9% de quando, 19,3% de enquanto e 7,8% de outros usos
(locuções e conjunções proporcionais), o que a fez concluir ser “quando” temporal
por excelência.
A autora apresenta um quadro em que correlaciona outros conectivos
menos recorrentes no corpus à posição da oração. Essa estratégia evidenciou o fato
de que alguns conectivos temporais aparecem sistematicamente introduzindo
orações que ocupam posição categórica. Chama a atenção naquele quadro a posição
categórica de mal, assim que, logo que, à medida que, a proporção que e cada vez
que; entretanto, devido à baixa representatividade no corpus (8%), não se pode
generalizar, mas pode-se pensar sobre o comportamento dessas conjunções e nas
noções desencadeadas. Entretanto, pela baixa recorrência, a autora abandona a
análise dessas conjunções, detendo-se nas mais recorrentes em seu corpus: quando
(73%) e enquanto (19%).
Apesar dessa aparente preocupação em selecionar conjunções, Souza,
após o levantamento preliminar mencionado, faz a seleção dos dados a partir da
noção expressa. Assume em seu trabalho, portanto, que “a par de seu significado
básico, elas (as conjunções) adquiram outras significações no contexto lingüístico
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
44
em que se inserem, passando a significar juntamente com as orações com as quais
se relacionam, ou melhor, a co-significar” (p.82). Dessa maneira, a autora fez um
levantamento baseado nos valores assumidos pelo conector de acordo com o
contexto.
Como vimos na seção 1 e a própria Souza (p.169) esclarece, o modelo
funcionalista adotado parte da noção em uso, buscando explicações lingüísticas e
extralingüísticas como resultado de uma análise sintática, semântica e pragmática,
verificando superposições ocorrentes e efeitos decorrentes, com vistas ao
estabelecimento de um continuum.
Os resultados a que Souza chegou mostraram que, no português
escrito, houve a predominância da ordem posposta (47,3%), seguida de antepostas
(38,6%) e intercaladas (14,1%). Esses resultados diferem daqueles encontrados por
Braga (1995:90), uma vez que esta última trabalhou com materiais de língua falada.
Os resultados desses estudos complementam-se, pelas modalidades diferenciadas e,
somados, confirmam os resultados a que chegou Decat, quando mostrou que as
adverbiais seguem duas tendências: da orientação e da argumentação. Seguindo a
primeira tendência, ela virá expressa na ordem anteposta e, seguindo a tendência da
argumentação, ela virá expressa na ordem posposta.
Quanto à correlação das temporais com o escopo, houve a
predominância de incidência sobre a oração núcleo (80,2%), seguido de sintagma
adverbial (19,4%). Essa predominância de posposição pode ser observada
tanto em orações iniciadas por quando (47,4%) quanto por enquanto (63,7%), sendo
que, na maioria, as primeiras não obedecem ao princípio da iconicidade na ordem da
representação experiencial, o que foi associado, pela autora, ao caráter mais
elaborado da linguagem em investigação.
Neves & Braga (no prelo) fizeram um estudo das orações hipotáticas
temporais e condicionais, a fim de examinar em que estágio de gramaticalização
estavam. Para tanto, trabalharam com a hipótese de que quanto maior o grau de
entrelaçamento ou integração entre a oração-núcleo e a hipotática mais
gramaticalizada estaria a construção na língua portuguesa.
Para medir o grau de integração entre as orações combinadas, Neves &
Braga trabalham com a mesma hipótese de Hopper & Traugott (1993), qual seja,
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
45
quanto maior o grau de integração entre essas orações, mais elevado é o estágio de
gramaticalização dessa relação sintático-semântico na língua.
Como índices utilizados para medir essa integração, foram
selecionados os seguintes parâmetros: anáfora pronominal ou zero na posição de
sujeito da hipotática; determinação do tempo e modo da hipotática pelos tempo e
modo da oração-núcleo; e ordenação das orações.
O último parâmetro, a ordem, pode, segundo Lehmann, denunciar
também o grau de gramaticalização de um item, tendo em vista a restrição à sua
mobilidade. Nesse sentido, Neves & Braga (no prelo) submeteram as orações a mais
esse critério, por ampliação da hipótese relativa a itens lexicais.
Os resultados alcançados apontaram para a competição entre
motivações, ou seja, o resultado da análise das variáveis ora caminha em uma dada
direção, ora caminha em sentido contrário. Contudo, as condicionais demonstraram-
se mais gramaticalizadas do que as de tempo. Passamos a relatar os resultados da
correlação entre os parâmetros estabelecidos a partir das hipóteses apresentadas,
restringindo-nos aos resultados relativos às temporais.
As orações de tempo apresentaram-se predominantemente antepostas à
oração-núcleo (73%), embora também ocorressem pospostas (25,5%) e intercaladas
(1,5%). Quanto ao parâmetro explicitação do sujeito, as orações de tempo obtiveram
índice de 75,5% de anáfora pronominal e somente 24,6% de anáfora zero. Com base
nesses resultados, Neves & Braga mostram que pode haver conflito de motivações,
uma vez que posição da oração e identidade entre sujeitos são fortes
condicionadores de sujeitos anafóricos.
Estabelecendo a correlação modo-temporal entre as orações
combinadas, as autoras observaram que os falantes combinam as orações com
tempos e modos idênticos. Embora seja um resultado bastante categórico, alertam as
autoras para o fato de que a maioria das orações analisadas foram introduzidas pelo
conector quando, favorecedor de indicativo.
Com base nos dados investigados e resultados apurados, as autoras
montaram um quadro das correlações tempo-modo encontradas, o qual
reproduzimos parcialmente19 a seguir:
19 A reprodução parcial refere-se à exclusão dos resultados sobre correlações tempo/modo nas orações condicionais.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
46
Quadro 7: Correlações Tempo-Modo nas Orações de Tempo
Oração Núcleo Oração Hipotática presente indicativo presente indicativo futuro subjuntivo futuro presente perifrástico pretérito imperfeito indicativo imperfeito indicativo perfeito indicativo pretérito perfeito indicativo presente indicativo pretérito perfeito indicativo pretérito imperfeito indicativo futuro presente perifrástico futuro subjuntivo futuro pretérito indicativo presente indicativo presente subjuntivo presente do indicativo
Segundo as autoras, os resultados expostos nesse quadro deixam claro
que o tempo/modo da oração-núcleo não determina a configuração modo-temporal
da hipotática.
Em síntese, os estudos apresentados ratificaram a posição habitual e o
conector prototípico, como características mais recorrentes nas orações de tempo.
Outros fatores como explicitação e identidade do sujeito mostraram-se importantes
na evidência de que motivações lingüísticas estão em competição no Português do
Brasil.
Uma vez que muitos dos parâmetros adotados, pelas autoras que
compõem esta seção, mostraram-se relevantes para a caracterização do
comportamento das orações de tempo no português, serão retomadas, na seção 5,
como critérios de investigação na identificação dos estágios de gramaticalização de
sentenças complexas, identificadas no corpus com a relação de tempo.
4. Abordagem Metodológica
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
47
Neste estudo, fazemos uso do aparato metodológico da Sociolingüística
Quantitativa, porque, além de fornecer a possibilidade de tratamento estatístico dos
dados por meio do pacote de programas computacionais conhecido por Varbrul
(Variable Rules), a utilização dos grupos de fatores permite um tratamento
exaustivo e coerente de todos os dados, segundo as mesmas categorias lingüísticas.
Todavia, é importante que se perceba a não-inclusão do fato gramatical
em estudo no rol dos fenômenos em variação. Não é objetivo ou preocupação nossa
investigar se há variação de uso em jogo, mas estabelecer ou dar conta de estratégias
comunicativas que codifiquem tempo no corpus investigado.
Segundo Braga20, a teoria da variação visa a dar conta especificamente
dos fenômenos variáveis. Pode, no entanto, ser utilizada como um instrumental
heurístico para a análise de outros fenômenos. É este o uso que fazem alguns
pesquisadores do Projeto da Gramática do Português Falado, como Kato et al.
(1996), dentre outros e alguns trabalhos funcionalistas, como Neves & Braga (no
prelo), ao trabalharem com correlações de parâmetros.
Quanto aos critérios de seleção de dados, levamos em conta a noção de
tempo, que pode ser efetivamente codificada por uma oração em relação à outra, não
importando se o conectivo é prototipicamente uma conjunção temporal ou qualquer
outra, ou ainda se a partícula conectora não está expressa. Portanto, a seleção dos
dados partiu de uma perspectiva funcionalista, no sentido de buscar dados com base
na relação semântica estabelecida no momento da fala. O ponto de partida para
nossa análise é a maneira como funciona determinada seqüência de valor temporal
no momento de fala. Dessa maneira, orações que seriam tradicionalmente
classificadas como adjetivas ou substantivas podem fazer parte deste rol de
ocorrências, porque a perspectiva para a seleção dos dados é semântica. Assim,
identificamos a relação proposicional de tempo, independentemente da codificação
estrutural.
É certo que, ao tratarmos das unidades coexistentes de mesmo sentido,
estaremos basicamente abordando o princípio rotulado de layering, que pode ser
entendido como camadas de uso, sentido esse muito próximo ao de ‘variantes’
20 Essa explicação de Maria Luiza Braga foi obtida em colóquio.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
48
utilizado por Labov. A diferença é que no caso da gramaticalização, estamos sempre
pensando em ‘contínuos’, e isso não é preocupação no variacionismo.
O trabalho de identificar em layering as estratégias temporais não
pressupõe o rastreamento histórico de conectivos ou idade de cada estratégia
empregada, embora em alguns momentos seja necessário que recuemos no tempo
para evidenciar o fenômeno como possível ou recorrente na história do português,
portanto, passível de ocorrer atualmente.
A descoberta dos usos e suas tendências pressupõe uma abordagem
quantitativa do fenômeno em foco, entretanto, podemos, a partir dos resultados da
correlação entre as variáveis, fazer uma leitura mais calcada em postulações,
hipóteses e interpretá-los à luz de alguns princípios da gramaticalização. Essa é
nossa proposta: aliar teorias que, na prática, já convivem com êxito e, na teoria,
complementam-se.
Para análise dos dados, portanto, procedemos inicialmente a um
tratamento quantitativo a fim de determinar a freqüência de uso das diferentes
construções, depois seguimos rumo ao tratamento qualitativo de casos que seriam
irrelevantes estatisticamente, mas altamente importantes num estudo que procura
detectar estruturas emergentes, como é o caso do nosso.
4.1 O Corpus
O material utilizado para constituição do corpus foi separado em dois
arquivos de dados. Cada arquivo possui suas características e especificidades,
entretanto foram utilizados como forma de verificar a abrangência do fenômeno
investigado.
Cada arquivo é representante típico de um uso lingüístico. O arquivo 1
(Português Popular de São Paulo) reflete o uso de uma variedade de língua menos
presa a normas convencionais da gramática, por isso mesmo o grande celeiro de
novidades e tradições. O arquivo 2 (Português Carioca - PEUL) reflete o uso de uma
variedade de língua mais presa a normas gramaticais, porque os falantes já foram
submetidos, desde cedo, à variedade padrão: mesmo as crianças vêm de família de
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
49
classe média, buscando ascensão social. Portanto, buscam a linguagem da elite,
como forma de inclusão social.
4.1.1 Corpus de Língua Popular de São Paulo
O material objeto de análise foi extraído de um corpus formado por 20
horas de língua falada gravada com 40 informantes adultos, moradores em favelas
da periferia da cidade de São Paulo. Esse material corresponde a entrevistas que
deverão ser retranscritas para constituir o Banco de Dados do Português Popular
Falado na Cidade de São Paulo, a fim de que se tornem acessíveis a pesquisadores.
A descrição detalhada da composição do Banco de Dados do
Português Popular Falado na Cidade de São Paulo e a caracterização
pormenorizada da amostra foram feitas por Rodrigues (1987) que o constituiu e o
analisou quanto à concordância verbal em sua tese de doutoramento.
Ao iniciar a coleta de dados, Rodrigues decidiu estratificar a amostra
dos 40 falantes adultos de acordo com os seguintes fatores extralingüísticos: faixa
etária, escolarização, sexo e procedência.
Com relação à faixa etária, ficaram estabelecidas três faixas: (1) de 20
a 35 anos, (2) de 36 a 50 anos e (3) mais de 51 anos. Para essa divisão em faixas,
Rodrigues (1987:130) levou em conta critérios sociais: “a partir dos 20 anos, a
população de baixa renda pode ser considerada economicamente ativa,
perfeitamente inserida no mercado de trabalho. Por outro lado, os falantes de mais
de 50 anos já se consideram velhos, aposentados ou próximos da aposentadoria,
portanto, aquém do ponto máximo de realização quanto às suas perspectivas de
trabalho”.
Quanto à escolarização, dois recortes foram feitos: analfabetos e semi-
alfabetizados, sendo que estes refletem a caracterização de falantes que tivessem
cursado em parte ou totalmente o antigo primário, equivalente às quatro primeiras
séries do atual ensino fundamental. Rodrigues entrevistou somente aqueles
informantes que não estavam freqüentando escola, “portanto, não sujeitos à pressão
contínua da norma escolar” (p.131).
A amostra, separada para análise nesta pesquisa, conta com um total de
14 informantes, reclassificados em quatro faixas etárias. Somente se diferencia do
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
50
critério original adotado por Rodrigues o fato de termos incluído uma quarta faixa
etária, para identificar os idosos a partir de setenta anos. A representação da
distribuição dos informantes pode ser vista abaixo:
Quadro 8: Distribuição dos informantes - Português Popular de São Paulo 1a faixa > 2 Mulher 2a faixa > 2 3a faixa > 2 4a faixa > 1 1a faixa > 2 Homem 2a faixa > 2 3a faixa > 2 4a faixa > 1
O esquema acima representa os informantes das entrevistas utilizadas
para a seleção, codificação e estatística dos dados. Dessa amostra, levantamos um
total de 363 ocorrências de orações com valor temporal.
4.1.2 Corpus de Língua Carioca
O material utilizado para compor a amostra do português carioca foi
retirado do corpus do “Programa de Estudos sobre o Uso da Língua” (PEUL)21 e a
amostra foi composta tendo em vista os seguintes recortes: sexo e faixa etária.
Os falantes adultos que compõem o corpus citado, quanto à origem,
são cariocas ou moram no Rio de Janeiro desde os cinco anos de idade, e nunca se
ausentaram da cidade por mais de dois anos consecutivos. Todos os falantes
crianças nasceram e foram criados no Rio de Janeiro e estudam em escolas públicas.
Em termos de idade, foram estabelecidos três recortes: de 7 a 10 anos;
de 15 a 25 anos e de 26 a 49 anos. O total de entrevistas que compõem a amostra é
nove, e os informantes estão distribuídos da seguinte maneira:
Quadro 9: Distribuição dos Informantes - Português Carioca faixa 0 - 2
21 Para uma caracterização mais detalhada dos informantes e para informações sobre os critérios utilizados para a composição do Corpus, consultar Scherre (1988) e Oliveira e Silva & Scherre (1996).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
51
Mulher 2a faixa - 2
faixa 0 - 2 Homem 1a faixa - 1 2a faixa - 2
Embora com distribuição em desequilíbrio, faremos a análise dos dados
segundo os mesmos critérios aplicados aos demais materiais de língua falada. Dessa
maneira, esperamos não incorrer no erro de generalizar o que é individual. A partir
dessas entrevistas, constituímos uma amostra com 296 ocorrências de orações
temporais.
5. Gramaticalização dos processos de combinação de orações
de tempo: hipóteses, parâmetros e resultados
Dos aspectos discutidos sobre os processos de combinação de orações,
na seção 2.1, a possibilidade de distribuí-los em dois tipos - coordenação e
subordinação - aparece como uma idéia corrente. Essa é a tradicional classificação
encontrada nas gramáticas e a mais difundida nos ensinos fundamental e médio,
ainda que problemática, por não dar conta de todos os casos surpreendidos na língua
em uso.
Na visão dos funcionalistas, apresentada na seção 2.2, não é concebível
a divisão em dois processos e o maior problema por eles apontado diz respeito à
classificação das subordinadas. A explicação para a não-aceitação é calcada na idéia
de que esse rótulo funciona como um guarda-chuva acolhedor de tipos oracionais
diversificados - substantivas, adjetivas e adverbiais - que, num conjunto
aparentemente harmônico, mostram suas diferenças comportamentais.
Pensamos que a proposta de análise que parece dar conta dos usos
observados é a de Lehmann que, se não explicita todos tipos oracionais que podem
ser encontrados, não exclui a possibilidade de existirem outras orações no contínuo
por ele estabelecido.
Na perspectiva da gramaticalização de estruturas oracionais, Hopper &
Traugott, como Lehmann, também mostram os diferentes tipos de combinações de
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
52
orações dispostos em forma de contínuo. Oferecem também critérios que justificam
a redistribuição dos tipos oracionais arrolados na gramática tradicional, como pôde
ser observado no quadro 6, da seção 2.3.
É na perspectiva sincrônica da gramaticalização em que se insere esta
investigação, uma vez que buscamos traçar o contínuo de estágios de
gramaticalização das orações complexas que codificam tempo. Assumimos, para
tanto, o contínuo de Hopper & Traugott, como realidade no português do Brasil,
com a ressalva de que, a fim de evitar a confusão de rótulos decorrente do emprego
do termo ‘subordinação’, procedemos à substituição do mesmo pelo termo
‘encaixamento’.
Contínuo 3: Gramaticalização de Processos de Combinação Oracional P A R A T A X E > H I P O T A X E > ENCAIXAMENTO
As setas da representação acima visam a reproduzir em processos
estruturas oracionais do menor estágio de gramaticalização para o maior estágio de
gramaticalização. Essa representação não esgota os tipos de estruturas que podem
emergir nos intervalos, como ocorre com as focalizações que serão objeto de
algumas observações num momento posterior (vide p.176). Explica-se tal fato
porque a gramaticalização de estruturas prevê estágios intermediários de usos e é
influenciada, segundo Heine et al. (1991:150), por vários fatores não-estruturais,
tais como contato entre línguas, interferência entre a forma escrita e a forma falada,
contexto sócio-cultural, dentre outros.
Após o tratamento dos dados, identificamos os processos de
combinação de orações citados em que a noção de tempo foi codificada: parataxe,
hipotaxe e encaixamento e estudamos as estruturas complexas que os compunham.
Uma vez que algumas estruturas complexas estudadas não
correspondiam, de fato, a nenhum dos processos citados, fizemos uma tentativa de
classificação por aproximação aos processos já citados, e os chamamos de
‘estruturação22 intermediária’.
22 O rótulo estruturação está sendo usado como sinônimo de ‘camada’, como um dos princípios de gramaticização de Hopper, aqui aplicado à sintaxe da frase.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
53
(a) Parataxe Foram consideradas orações de tempo por parataxe as estruturações justapostas e as estruturações intermediárias 1.
a. 1 Estruturação Justaposta
A justaposição constitui o processo pelo qual o falante apresenta
orações lado a lado, sem o emprego de conectivos explícitos, portanto numa
seqüência formalmente desconexa. A interpretação de tempo é resultado da leitura
da seqüência das duas orações justapostas, com entonação especial23.
(24) isso, eles vive dizendo isso, eu nem sonhava em ter filho ainda[peul143] (25) ela...o cachorrinho morreu...ela enterrô encostadinho na parede nossa aí [pop18] (26) porque...cheguei...já tinha passado a reunião [pop52]
a.2 Estruturação Intermediária 1
Classificamos como estruturas intermediárias 1 as ocorrências em que
as orações estivessem acompanhadas de seqüenciadores narrativos do tipo e , então,
aí e depois.
(27) aí eu estava jogando bola, ele me chamou para mim ir [peul62] (28) então eu acabava o meu/ a minhas coisas de casa...lição...tudo...corria pra casa da dona [pop90] (29) e eu chego...tá tudo em orde [pop211] (30) depois chegá na hora...não é da gente [pop300]
23 Segundo Dubois et al. (1973:217), elementos de informação afetivos, conotativos, estéticos estão contidos na entonação e unem-se à expressão de idéias. Com base nessas informações, nos resultados dos testes não sistemáticos de leitura dos exemplos encontrados e na audição das gravações do Português Popular de São Paulo, observamos a diferença entonacional citada.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
54
Numa seqüência coordenada prototípica, as orações
apresentam o conector entre as duas orações, diferentemente das orações com que
trabalhamos. Em todos os exemplos analisados, o elemento coordenativo aparece no
início da primeira oração, o que nos impede que classificá-las como coordenada.
Detemo-nos, portanto, na análise de orações cuja relação
seja tempo, numa estruturação não-prototípica, daí o rótulo ‘estruturação
intermediária’.
(b) Hipotaxe As orações que indicam circunstancialmente o tempo da
oração-núcleo foram classificadas como hipotáticas de realce. Essas orações
equivalem às subordinadas adverbiais temporais, numa perspectiva tradicional, e
aparecem no corpus sob duas formas: orações finitas e orações não-finitas.
b.1 Orações Finitas
As orações de tempo rotuladas de hipotáticas de realce correspondem
àquelas ocorrências em que o processo sintático consistiu no explicitamento do
elemento conector por uma conjunção subordinativa. Essas orações equivalem,
numa perspectiva tradicional, às subordinadas adverbiais temporais desenvolvidas.
Estão, portanto, incluídas nessa classificação as orações hipotáticas de
realce cujo conectivo, amplamente aceito como conector temporal, esteja explícito.
(31) ela fica apavorada quando a gente sai [peul56] (32) depois que teve essa briga com a minha mãe e meu pai, eu, sei lá, tomei pavor do lugar [peul147] (33) quando eu tava fazendo isso... as coisas aqui era pió [pop154] (34) enquanto o vizinho aí do lado tá falando...você não consegue dormi [pop184]
b.1 Orações Não-Finitas
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
55
Essas orações têm por característica o emprego de verbos em suas
formas nominais e, quando transformadas em desenvolvidas, equivalem a uma
oração temporal, com conectivo prototípico presente na estrutura de superfície.
Compõem o grupo das hipotáticas não-finitas orações introduzidas por verbos na
forma nominal.
(35) fica todo mundo pacato, vendo aquele filme que aparece de Natal [peul53] (36) passando o cemitério...o ônibus faz aquelas voltinha [pop36]
Não foi encontrada qualquer ocorrência de oração reduzida de
particípio ou de infinitivo, que fossem interpretadas como orações hipotáticas de
tempo, que, na estrutura desenvolvida, tivessem um conectivo prototipicamente
temporal.
(c) Encaixamento
O rótulo aplicado ao conjunto das orações apresentadas a seguir remete
às estruturas que reclamam um complemento, que será fornecido em outra estrutura
oracional. A seqüência que integra como complemento a outra oração é chamada
matriz e a oração integrada àquela é chamada oração constituinte ou encaixada.
Seguindo esse raciocínio, consideramos estruturas de encaixamento as seguintes:
estruturação intermediária 2 e estruturação de encaixamento prototípico.
c.1 Estruturação Intermediária 2
Fazem parte deste conjunto de estruturas aquelas orações
que são compostas por oração matriz e oração de tempo numa noção de
encaixamento próxima ao da formação por relativização da gramática gerativa24. A
24 Segundo Dubois et al. (1973:519), na gramática gerativa, a relativização remete à formação de uma relativa por transformação. Nessa formação incluem-se o pronome relativo que e um sintagma nominal ao qual vai se encaixar aquele pronome, gerando o apagamento de elementos idênticos.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
56
diferença resume-se em dois aspectos: ao tipo de pronome relativo empregado e à
equivalência morfológica da oração.
Naquelas estruturas analisadas pela gramática gerativa, o pronome
relativo que é invariavelmente empregado e produz na oração a equivalência de um
adjetivo. Nestas estruturas intermediárias, analisadas por nós, a partícula quando faz
as vezes do pronome relativo e produz na oração a equivalência morfológica de um
advérbio.
Tanto em uma estrutura quanto em outra, o rótulo é aplicável a
construções que podem desempenhar funções sintáticas de adjunto adnominal e de
aposto.
Em nossos dados, encontramos exemplares de orações combinadas
num processo muito próximo da ‘relativização’ em dois níveis: um nível mais
encaixado, mais integrado, mais necessário para o sentido da oração matriz e outro
nível menos encaixado, mais independente, menos necessário para o sentido da
oração matriz. Esses dois níveis de encaixamento com o emprego do conectivo
quando resultaram em dois tipos de orações, que apresentamos a seguir.
• Determinativa
Chamamos de determinativa a estrutura oracional que contém na
oração encaixada a palavra quando desempenhando a função sintática de relacionar
a proposição posterior ao termo antecedente, restringindo ou especificando. É,
assim, uma informação imprescindível ao sentido pretendido pelo falante. Essas
orações aproximam-se das adjetivas restritivas da gramática tradicional.
(37) antigamente...quando um cara falava assim...ela já pensava que era verdade mesmo [pop236] (38) porque eu sempre, quando eu era pequeno, não é? eu ficava lá [peul70] (39) sexta-feira, quando eu apanhar meu filho no colégio, eu vou para lá [peul148]
• Apositiva
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
57
Foram chamadas de apositivas as estruturas oracionais que contêm na
oração encaixada a palavra quando desempenhando a função sintática de relacionar
a proposição posterior ao termo antecedente. O relativo quando, neste tipo de
oração, introduz uma informação acessória.
As orações apositivas representam, portanto, uma informação
prescindível em relação ao termo antecedente, parte da oração matriz. Nesse
sentido, as orações apositivas funcionam como conteúdo dispensável, como
elemento facultativo, uma seqüência acessória. Essas orações desempenham função
similar à da adjetiva explicativa da gramática tradicional.
(40) antigamente...quando eu vim pra São Paulo...naquele tempo os campeonato era só sábado e domingo né? e era só no Pacaembu...eu ia todo sábado e domingo[pop347] (41) naquele tempo...quando a gente criô lá na roça...eles não registrava os filho home...só as mulhé né? [pop365] (42) em 80, quando eu cheguei aqui, foi o papai noel no Maracanã [peul105]
Esse comportamento relativizador das orações de tempo pode ser
explicado, em parte, pelo Princípio da Informatividade (Atlas & Levinson 1981),
segundo o qual o falante é tão informativo quanto possível, dada a necessidade da
situação. Traugott & König (1991:192) discutem esse princípio de uma perspectiva
histórica e afirmam que “the principle of informativeness and relevance presumably
drives speakers to attempt to be more and more specific throught grammatical
coding, and most specially to invite hearers to select the most informative
interpretation”. Assim, se o falante observa, ao falar, que a marcação do tempo pelo
advérbio conferiu ao enunciado baixa informatividade, esse falante intercala uma
oração que restrinja ou explique o sentido temporal pretendido.
c.2 Estruturação de encaixamento prototípico
As orações consideradas encaixadas representam parcialmente as
chamadas subordinadas na gramática tradicional, uma vez que identificam, em
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
58
nossos dados, as orações que desempenham funções de substantivo e de adjetivo
dentro de outras orações.
c.2.1 Encaixamento prototípico com função substantiva
Todas as orações que funcionam como constituinte
sintático substantivo da oração matriz fazem parte deste conjunto de encaixamento
prototípico.
• Subjetiva
As orações encaixadas prototípicas subjetivas desempenham função
sintática de sujeito da oração matriz e são introduzidas por conjunção não
integrante, cuja noção seja tempo.
(43) mas é ruim demais quando a gente descobre [pop152] (44) ainda mais, quando tu marca um gol, que tu vê aquele pessoal todo gritando o seu nome, é um desespero [peul118]
• Objetiva
Estão incluídas sob o rótulo de orações encaixadas prototípicas
objetivas as orações que desempenham a função sintática de objeto direto da oração
matriz e que são introduzidas por conectivo típico de orações temporais.
(45) eu reconheço quando estou errada [peul37] (46) Adorava quando a gente ia pra fazenda [pop97]
c.2.2 Encaixamento prototípico com função adjetiva Fazem parte deste conjunto todas as orações combinadas
pela noção de tempo, mas que tradicionalmente seriam classificadas como orações
adjetivas. Em nossos dados, essas orações foram identificadas sob duas formas:
finitas e não-finitas.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
59
• Adjetivas Finitas
Essas orações foram agrupadas num mesmo conjunto por
serem introduzidas por pronome relativo que, antecedido por um sintagma nominal.
A diferença entre estas orações e aquelas classificadas
anteriormente como ‘relativas’ (vide item c.1 - Estruturação intermediária 2) está na
palavra empregada como conectora, ou seja, naquelas, o conector é a palavra
quando funcionando como pronome relativo e, nestas, o conector é a partícula
polifuncional que.
(47) a hora que eles chega...aí eles roba [pop20]
No exemplo apresentado, a partícula conectora que é interpretada como
parte de uma oração intercalada, entretanto à pergunta “quando eles roubam?”
obtém-se como resposta toda seqüência anterior à pausa.
(48) quando eles roubam? a hora que eles chegam (49) quando eles roubam? * a hora
Dessa maneira, a resposta apresentada em (49) é incompleta e somente
a seqüência apresentada em (48) é satisfatória. Essa aproximação do sintagma
nominal à partícula que sugere a possibilidade de interpretar a seqüência como uma
locução, tal é o grau de integração de seus componentes.
• Adjetivas não-finitas
Todas as orações que compõem este conjunto apresentam seus verbos
na forma infinitiva precedidos por uma seqüência de advérbio de tempo +
preposição.
(50) na hora de dormir...aquela sirene ali fica tocando [peul165]
De posse dessas informações, é possível construir um quadro que contenha todas as
estruturações contidas nos processos de combinação de orações analisados neste
trabalho:
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
60
Quadro 10: Estruturações identificadas nos processos de combinações de orações Parataxe Estruturação Justaposta
Estruturação intermediária 1
Hipotaxe Estruturação finita
Estruturação não-finita
Estruturação
determinativa
intermediária 2
apositiva
Encaixamento
função
subjetiva
Encaixamento Prototípico
substantiva objetiva
função
finita
adjetiva
não-finita
Com base no exposto, esses três processos de combinação serão
explorados de acordo com os seguintes parâmetros: ordem, explicitude do sujeito da
oração de tempo, identidade entre sujeitos, traço animado do sujeito da oração de
tempo, tipo de conector e identidade entre tempos e modos.
Esses parâmetros funcionarão como índices de maior ou menor grau de
gramaticalização dos processos de combinação de orações identificados.
Ao analisar os dados, ficou evidente que o processo mais produtivo
para expressar a noção de tempo através de orações complexas é a hipotaxe de realce,
tanto na amostra do português popular quanto na amostra do português carioca. Esses
resultados podem ser examinados na tabela 1:
Tabela 1: Processos de Combinação de Orações x Variedade Lingüística
P a r a t a x e H i p o t a x e E n c a i x a m T o t a l
N % N % N % N %
PEUL 37 12,5 215 72,5 44 15 296 45
POP 98 27 233 64 32 9 363 55
Total 135 20,5 448 68 76 11,5 659
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
61
O corpus analisado é composto de 659 ocorrências, que
apareceram distribuídas da seguinte maneira quanto aos processos de combinação
de orações identificados: 68% das orações de tempo hipotáticas, 20,5% orações de
tempo paratáticas e 11,5% de orações de tempo encaixadas.
Quanto ao uso, os falantes de ambos os corpora tendem a usar as
hipotáticas em maior freqüência. A diferença, ainda que irrelevante estatisticamente,
fica por conta de maior uso de paratáticas (27%) pelos falantes do português popular
de São Paulo e de maior uso de encaixadas (15%) pelos falantes do português
carioca.
Na fundamentação teórica deste trabalho, pudemos apresentar
argumentos de autores que confirmam ou refutam a Hipótese Parataxe. A feição
paratática das línguas primitivas e o processo de aquisição de línguagem são fatos
que confirmariam ser a parataxe um processo de encadeamento de orações menos
complexo do que a hipotaxe.
Com base nos argumentos favoráveis à Hipótese Parataxe, deveríamos
poder afirmar que, sendo os informantes que nos forneceram o corpus pessoas que
já dominam o uso lingüístico, o índice de estruturas paratáticas seria relativamente
baixo. Entretanto, essa afirmação é invalidada pelos dados. Logo, assumimos que a
parataxe é apenas mais um processo de se combinarem orações, o qual pode estar
associado ao grau de escolaridade do falante. Dessa maneira, teríamos um maior
índice de paratáticas nos dados de falantes analfabetos. De fato, esse índice mais
elevado se comprova com os resultados, entretanto a diferença, como já dissemos
anteriormente, é pouco significativa estatisticamente.
Uma vez que fazem parte do processo Parataxe duas estruturações
diferenciadas (justaposta e intermediária 1), reapresentaremos os resultados,
especificando o comportamento de cada uma dessas estruturações.
Combinação por Parataxe
De um total de 135 orações paratáticas, 109
(81%)ocorrências foram estruturadas por justaposição e somente 26 (19%)
ocorrências foram estruturadas com seqüenciadores narrativos, portanto,
consideradas exemplares de estruturação intermediária 1.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
62
Por variedade de língua, essa distribuição, que parecia conter
diferenças irrelevantes, reverte-se em números percentuais significativos para indicar
as diferenças de usos entre os falantes de cada variedade de língua falada analisada.
Tabela 2: Estruturas Paratáticas x Variedades Lingüísticas
Estrutura justaposta Estrutura intermediária 1 Total Port.popular SP 82 (83,5%) 16 (16,5%) 98 (72,5%) Port. Carioca 27 (73,5%) 10 (26,5%) 37 (27,5%) Total 109 (81%) 26 (19%) 135
Com base nos resultados da tabela anterior, observamos que os
falantes do português popular de São Paulo (72,5%) fazem maior uso de orações
combinadas pelo processo da Parataxe, se compararmos com o percentual dessas
orações utilizado pelo falante do português carioca (27,5%).
As ocorrências referentes às estruturas intermediárias 1 formam
células de freqüência muito baixa, portanto não confiáveis num tratamento
estatístico. Por esse motivo, serão deixadas de lado nas correlações que serão
estabelecidas no decorrer deste capítulo, contudo, num momento posterior do
trabalho, serão retomadas para uma análise qualitativa.
Pelo número de justapostas no corpus, podemos, com segurança,
afirmar que a presença dos conectivos não é imprescindível para o estabelecimento
de relações temporais entre orações no português falado. Por outro lado, o conectivo
é importante parâmetro de observação, como mostraremos no item 5.1, pois alguns
casos encontrados não se enquadram nas classificações tradicionais. Um desses
casos é a combinação de conectivos numa seqüência temporal, com estrutura típica
que impede sua inserção tanto no grupo das conjunções quanto no das locuções
conjuntivas tradicionais.
Combinação por Hipotaxe
As estruturações que compõem o processo de
combinação de orações por hipotaxe somam um total de 448 ocorrências, distribuídos
em dois tipos: finitas e não-finitas.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
63
Tabela 3 : Estruturações hipotáticas
Finitas Não-finitas Total Port.Popular SP 220 (94,5%) 13 (5,5%) 233 (52%) Port.carioca 205 (95,5%) 10 (4,5%) 215 (48%) Total 425 (95%) 13 (5%) 448
Apesar de serem as hipotáticas as mais recorrentes do
corpus, na separação por tipo de estruturação, apresentada acima, as
freqüencialmente mais recorrentes são somente as finitas.
Uma vez que o conjunto das orações encaixadas também
congrega vários tipos de encaixamento, já explanados no início deste capítulo,
apresentamos, a seguir, uma explanação pormenorizada que privilegia os tipos de
estruturas.
Combinação por Encaixamento
O número de estruturas classificáveis, na visão tradicional, tanto como
subordinada adverbial, quanto como encaixamento, nos faz entender que não se
trata de usos equivocados e, sim, de estruturas em situação fronteiriça, do ponto de
vista da gramaticalização. Com base, então, na tipologia de estruturações por
encaixamento, apresentada no início deste capítulo, submetemos os dados ao pacote
Varbrul e chegamos aos seguintes resultados:
Tabela 4: Distribuição das Ocorrências por tipo de Encaixamento
Estruturação Intermediária 2 24 (31,5%) Estruturação por Encaixamento Prototípico Substantivo 11 (14,5%) Estruturação por Encaixamento prototípico Adjetivo 41 (54%) Total 76
Do total de 76 orações de tempo encaixadas,
praticamente a metade delas esteve estruturada por encaixamento prototípico adjetivo
(54%). As orações restantes estiveram atreladas, em maioria, à estruturação
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
64
intermediária 2 (31,5%) e somente 14,5% dos dados apresentaram-se em
encaixamento prototípico substantivo.
Cada uma dessas estruturas foi inicialmente apresentada
como acolhedora de dois subtipos, que merecem explanação pormenorizada.
A estruturação intermediária 2, como já dissemos
anteriormente, representa as orações que, num processo muito próximo da
relativização, têm a palavra quando introduzindo a oração encaixada e, ao mesmo
tempo, remetendo o leitor à recuperação da informação antecedente, encaixando uma
informação de forma prescindível ou imprescindível.
Tabela 5: Estruturação Intermediária 2
Apositiva Determinativa Total POP 2 (14%) 12 (86%) 14 (59%) PEUL 1 (10%) 9 (90%) 10 (41%) Total 3 (12,5%) 21 (87,5%) 24
Na tabela 4, observamos que, apesar do número muito baixo de
ocorrências, as estruturas determinativas são mais recorrentes do que as apositivas,
entretanto, a fim de evitarmos conclusões tendenciosas, reservaremos esses dados
para uma análise qualitativa, a exemplo do que faremos com as estruturas
intermediárias 1.
Estruturas desse tipo, chamadas emergentes, não são novidade nas
línguas. Givón (1981:261) observou exemplos de orações de tempo e de lugar em
hewa, língua da Papua-Nova Guiné, e em hebreu bíblico. Essas orações seguiam o
modelo das relativas. Esse mesmo autor apresentou evidências de que a função de
marcadores de cláusulas relativas é desenvolvida por partículas QU- em francês, em
krio (crioulo de base inglesa) e em grego moderno.
Essas sobreposições são, segundo Heine et al. (1991:162), fatores
comuns do processo de gramaticalização e o seu efeito, sincronicamente, é a
ambigüidade. Alguns autores explicam este fenômeno através do princípio chamado
de ‘divergence’ (Hopper 1991) ou split (Heine & Reh 1984).
Um novo uso para uma palavra antiga ou a aproximação de duas
palavras, originalmente distantes, aparecem como fatos associados a sobreposições
de sentidos e ainda em alguns casos de estruturas tidas como emergentes. Em se
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
65
tratando de combinação de orações, esses aspectos podem ser associados ao conector,
razão pela qual julgamos fundamental sua análise.
5.1 Conexão das Orações de Tempo
Os conectivos, segundo Halliday & Hasan (1983), não são
fundamentais para o estabelecimento de relações de sentido entre orações: “he is
aware that certain types of phenomena are likely to be linked to one another by
certain types of meaning relation.” (p.229). A explicação para o fato prende-se à
capacidade que o falante de uma língua tem de reconhecer que uma mesma relação
pode ser desencadeada sob mais de uma forma diferenciada. Assim, as relações de
significação podem ser estabelecidas entre duas orações por outros meios que não o
emprego de conectores e, nas palavras de Halliday & Hasan, essas relações
conjuntivas não são lógicas, mas, sim textuais. Dessa forma, quando ouvimos dois
blocos informacionais, tendemos a interpretá-los como um todo. Esse aspecto será
também elaborado por Mann & Thompson (1986), ao postularem as proposições
relacionais.
Hopper & Thompson (1993:178), apoiados em Halliday & Hasan
(1976), afirmam que os conectores são originalmente motivados pelo desejo que o
falante tem de ser claro e informativo, com vistas à interpretação das orações
construídas por ele.
Concordamos com esses autores quanto a não ser a conjunção um
elemento imprescindível para o estabelecimento da combinação de orações numa
sentença complexa, ou seja, a relação sintática entre as orações pode ser
estabelecida mesmo em orações justapostas. Por outro lado, a escolha do tipo do
conectivo para expressar determinada relação pode ser crucial na gramaticalização
da noção que carreia. O conector ‘quando’, numa construção complexa em que mais
de uma relação semântica aflora, ratifica nossa afirmação:
(51) quando eu falá pra você que eu vô batê...você tem que obedecê...entende? [pop117] (51a) se eu falá pra você que eu vô batê...você tem que
obedecê...entende?
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
66
Nesse sentido, uma conjunção, tradicionalmente temporal, desencadeia
a relação de condição e nos permite considerar um novo uso para uma velha
conjunção. Esse fenômeno não pode ser desprezado nos estudos funcionalistas, uma
vez que pode envolver explicações de mudança histórica, tais como explicações
fundamentadas na gramaticalização.
Já que a mudança lingüística se concretiza de forma lenta e gradual,
num estudo sincrônico, como é o caso deste, é possível observar as variações de uso
que podem ou não desencadear mudanças lingüísticas. Em outras palavras, em
sincronia, podemos identificar layerings25, camadas de usos que convivem, mas
com idades diferentes.
Para identificar essas camadas ou graus de gramaticalização, a
observação das conjunções é essencial como índice de uma gramática que está
sempre em construção, sempre se renovando, embora, conforme Harris & Campbell
(1995), valendo-se dos recursos já existentes na língua.
Uma vez que gramaticalização também é processo evolutivo pelo qual
itens gramaticais surgem (Craig 1991:45), a observação do elemento articulador das
orações não pode ser desprezada. A forma desse elo pode facilitar a identificação
das novas camadas que continuamente surgem e passam a ‘funcionar’ ao lado de
camadas mais antigas.
Segundo Hopper (1991), essas camadas podem ser analisadas segundo
parâmetros de recorrência, pois podem ser especializadas26 em determinados itens
lexicais, em classes particulares de construções ou em registros sociolingüísticos.
Com este estudo, observaremos em que medida a recorrência pode ser utilizada
como parâmetro para analisar os processos de combinação de orações e respectivas
estruturações.
Quanto ao tipo de conector, procedemos ao agrupamento dos
elementos conectivos, segundo características estruturais partilhadas. Assim,
sintetizamos os usos encontrados em cinco grandes subconjuntos: conectivos 25 Segundo Hopper & Traugott (1993:124), layering é o resultado sincrônico de gramaticalização sucessiva de formas as quais contribuem para um mesmo domínio. Equivale, portanto, à coexistência de camadas.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
67
prototípicos, locuções conjuntivas, pronomes relativos, locuções híbridas,
seqüenciadores narrativos e ausência do conectivo.
(a) Conectivos Prototípicos
Foram reunidos no conjunto dos conectivos prototípicos aqueles
tradicionalmente reconhecidos como temporais e que são formados por um único
item lexical (quando, enquanto, mal):
(51) depois...quando eu completei dezessete ano...eu saí...entrei numa oficina de costura [pop157] (53) quando cheguei em casa...estava com ele...apagando [peul269] (54) enquanto o vizinho aí do lado tá falando...você não consegue dormi [pop184] (55) o futebol tem(...)aquele que nasce com a sorte de entrar num clube...(...)enquanto o outro(...)está ainda por baixo [peul109] (56) mal vem ao centro da cidade(...) volta para Campo Grande[peul194]
(b) Locuções Conjuntivas
Como resultado da leitura de alguns trabalhos sobre a conexão de
orações, resolvemos separar as locuções conjuntivas dos conectores prototípicos.
Tal procedimento encontrou sustentação nos autores, cujos argumentos passo a
sintetizar.
Bechara (1976:139) e Kehdi (1982:204) afirmam que o amplo
emprego da palavra que fez com que se desencadeasse um esvaziamento do valor do
relativo, instaurando-se uma interpretação de locução conjuncional temporal. Além
disso, a ausência de pausa entre os termos teria solidificado a locução, por isso foi
possível interpretar, por exemplo a seqüência agora que, como locução
conjuncional temporal.
Câmara Jr. (1976), por sua vez, afirma haver duas motivações para a
formação de locuções conjuncionais: deslocamento de advérbios e amplo emprego
26 Em sendo especializadas, remetem ao princípio de gramaticalização, chamado especialização. Por esse princípio, entende-se que uma forma começa a ser obrigatória, logo o poder de escolha desaparece, conforme Hopper 1991.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
68
da palavra que. A primeira evidência reflete a aproximação de um advérbio de
reforço originariamente presente na oração principal para a oração secundária,
surgindo daí as locuções. Seria, portanto, uma evidência sincrônica de deslocamento
de partículas, com resultados observáveis diacronicamente.
Explicação baseada em estudo diacrônico também é oferecida por
Mattos e Silva (1993:116). Essa autora observou que, já no português arcaico, a
construção de locuções temporais era um processo produtivo na língua portuguesa.
A explicação para essa produtividade é apoiada no mesmo argumento dos autores
citados: expansão de uso da palavra que.
Com base nos argumentos apresentados, agrupamos, no conjunto das
locuções conjuntivas, as expressões formadas por um item lexical (preposição ou
advérbio), seguido da conjunção que (sempre que, até que, assim que, depois que,
logo que, desde que):
(57) assim que nós terminamo o serviço...passamo um telegrama pra cá...né? [pop65] (58) despois que ele foi no Bem Estar...eles ajudô...né? [pop33] (59) logo que nós chegamos...não era perigoso...sabe? [pop85] (60) aí...até que fizeru um abaxo-assinado...aí foru na rua [pop164] (61) há anos...desde que era garoto...está no mesmo emprego ainda [peul46] (62) depois que eu soube daquilo...cheguei pra ela e disse assim...[peul50] (63) eu fui reprovado no Pedro II...assim que eu entrei [peul279] (64)desde que eu tomei gosto pelo estudo...o ano mais difícil que eu tive foi o segundo [peul282]
(c) Pronome Relativo
Câmara Jr. (1976:184), ao analisar o surgimento da
palavra que, homônima ao pronome relativo que, afirma que esse fato fez com que,
num primeiro momento, houvesse o esvaziamento da significação pronominal da
forma neutra quid e, num segundo momento, a expansão de uso do que, resultando,
dessa maneira, uma partícula multifuncional.
As explicações de Bechara (1976), Kehdi (1982),
Câmara Jr. (1976) e Mattos e Silva (1993) para o surgimento das locuções
conjuncionais, apresentadas no item anterior, aplicam-se ao surgimento das
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
69
expressões relativas, uma vez que toda locução conjuntiva deve ter proporcionado
inicialmente uma interpretação relativa. O deslocamento de um advérbio de reforço
originariamente presente na oração principal em direção à oração secundária teria
como resultado a locução. Os condicionadores dessa aproximação seriam o uso
excessivo da palavra que posposta ao advérbio e o desaparecimento da pausa entre
os dois elementos. O que era relativo vai aos poucos sendo reanalisado como
conjunção. Generalizando, toda locução conjuntiva é uma estrutura mais
gramaticalizada de expressões relativas.
Este fator, como podemos verificar nos exemplos que seguem,
representa as estruturas de tempo que trazem como conector o pronome relativo que
.
(65) mas...um dia que ela me pegou colando...ela não falou muito não [peul34] (66) depois de três ano que eu tava aqui...aconteceu um acidente com meu irmão caçula em Belo Horizonte [pop75] (67)porque ele...naquela vez que estava o Zico e o Serginho...aí ele...ele instruiu o Serginho...[peul64] (68) desde o momento que estuda num colégio católico...é obrigado a participar...mesmo sendo crente...sabe? [peul206] (69) a hora que eles chegá...aí eles roba [pop20]
(d) Locuções Híbridas
Estão agrupadas neste conjunto de locuções as expressões com
formação similar àquelas encontradas no grupo das locuções conjuntivas. Estas
diferem daquelas por conterem um item lexical - quando -, interpretado por falantes
nativos do português como conjunção temporal, desempenhando função original de
relativo. Na perspectiva da gramaticalização, essa manutenção de traços
característicos de determinada forma gramatical recebe, segundo Hopper (1991), o
nome de persistência.
Dessa maneira, esse tipo de locução é construído com um advérbio de
tempo seguido pelo relativo não-prototípico “quando”. Nessas estruturas
locucionais, chamadas híbridas, encontramos o conector temporal quando
fortemente ligado a um advérbio de tempo, ou seja, sem a ocorrência de pausa entre
esses dois elementos.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
70
Numa gradação da gramaticalização, encaixamos as
locuções híbridas num estágio mais tenro do que as expressões relativas, uma vez que
falantes nativos da língua reconhecem essa forma como ambígua.
(70) porque logo quando meu marido/fiquei sem marido...eu cuidava deles no cabo do/aqui da enxada né? [pop7] (71) sempre quando eu tô no ponto de ônibus...eu peço à pessoa pra avisar [pop34] (72) porque eu...as vezes quando eu fui lá...também não andei né? [pop258] (73) não comparecia, sabe? nos ensaio...as vezes quando tinha[peul204]
(e) Seqüenciadores Narrativos
Seqüenciadores narrativos do tipo: e, então, depois e aí são também
instrumentos utilizados para ligar orações com noção de tempo.
O uso desses conectores pode ser interpretado como uma tendência de
mudança histórica que evidencia a bidirecionalidade das mudanças formais,
contrariando a teoria de unidirecionalidade da gramaticalização, sustentada por
Lehmann e Heine & Reh. Essa evidência se mostra no uso de uma conjunção
coordenativa, que originalmente ligaria orações coordenadas, assumindo funções
discursivas, ou seja, funcionando como seqüenciador numa macro-estrutura
discursiva.
(74) depois eu levo lá...eles me dão cinqüenta por cento [pop25] (75) aí chega lá...tá tudo fracassado [pop66] (76 )então eu acabava o meu/ a minhas coisas de casa...lição...tudo...corria pra casa da dona [pop90] (77) aí eu estava jogando bola, ele me chamou para mim ir [peul62]
O que vemos nesses exemplos são categorias gramaticais que
acumulam função. Deixam de apenas relacionar orações e assumem função
discursiva de seqüenciador. Dessa maneira, esses seqüenciadores desenvolvem a
característica de marcadores discursivos, aparecendo em posição categórica inicial e
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
71
conservam resquícios de sua função original, ou seja, a de coordenar. Configura-se,
assim, o princípio da persistência.
A função original é desenvolvida agora na sintaxe de uma unidade
maior, o texto. A esse fenômeno de migração de planos lingüísticos, a teoria da
gramaticalização dá o nome de decategorização, conforme Hopper (1991).
Matsumoto (1988) observou esse mesmo fenômeno no japonês, o que o
teria levado a distinguir partículas conectivas dos conectivos. As primeiras, usadas
para ligar duas orações numa sentença, ocorrem no final da primeira oração,
enquanto os últimos, usados como morfemas livres, ocorrem no início de turnos
discursivos com acento entonacional específico. Notamos, então, a atuação da
pragmaticalização que representa uma direção típica de mudança semântica.
(f) Ausência de Conectivos
Este é o fato que se verifica em seqüências de orações sem nenhum
item conector que as ligue. Nesse sentido, teremos incluídas nesse grupo tanto as
orações justapostas quanto as orações reduzidas. É importante esclarecer que,
embora recebam o mesmo rótulo quanto à ausência do elemento conector, terão um
tratamento diferenciado no conjunto das orações: as justapostas compõem um grupo
específico e as reduzidas, por sua vez, compõem, o grupo das orações não-finitas
hipotáticas e não-finitas encaixadas.
Esse agrupamento proposto contraria a visão de Rocha Lima
(1958:262) que aponta ser o conectivo a diferença entre justaposição e
subordinação. Também contraria a visão de Matthiessen & Thompson (1988),
quando afirmam ser o conectivo, ao lado da natureza finita, as marcas gramaticais
de orações satélites, uma vez que, dentre os exemplos abaixo, temos algumas
orações-satélite com verbos nas formas não-finitas e também sem conectivos
explícitos.
A inclusão de algumas não-finitas no conjunto das hipotáticas também
contraria a concepção de orações reduzidas apresentadas por Hopper & Traugott.
Esses autores apresentam todas as reduzidas como encaixadas, tendo em vista o
grau de integração dessas orações com a outra oração com que estão combinadas.
Entretanto, na análise de nossos dados, optamos por separá-las semanticamente, o
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
72
que nos fez encontrar diferenças que não justificaria a inclusão delas num único
grupo.
(78) fica todo mundo pacato...vendo aquele filme...que apareceu de natal [peul53] (79) mas na hora de voltar...ela não dá pra correr [peul80] (81) a pessoa...de vê a gente com a bengala...já vem a pessoa [pop24]
O resultado dos cálculos de freqüência de uso dos
conectores é apresentado na tabela a seguir.
Tabela 4: Tipo de Conectivo e Processos de Combinação de Orações
Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total s/conectivo 109 (81%) 23 (5%) 2 (2,5%) 134 (20%) seq. .narrativo 26 (19%) 0 0 26 (4%) conj.prototípica 0 385 (86%) 28 (37%) 413 (62,5%) loc.híbrida 0 5 (1%) 4 (5%) 9 (1,5%) pron.relativo 0 0 40 (53%) 40 (6%) loc.conjuntiva 0 35 (8%) 2 (2,5%) 37 (6%) Total 135 448 76 659
Os resultados referentes ao processo de parataxe aparecem, na tabela
acima, circulares, porque foi condição para inclusão no referido processo a ausência
de conectivo (estruturação justaposta) e a presença de seqüenciadores narrativos
(estruturação intermediária 1). Já que estamos levando em conta nesta análise o tipo
de conector, os dados referentes à estruturação justaposta serão retomados em outro
momento de nosso estudo.
A estruturação intermediária 1, por sua vez, é estratégia utilizada nos
dois materiais que compõem o corpus e equivale a 4% do total das estratégias sob
análise. Enquanto os falantes do português popular de São Paulo utilizam formas
mais diversificadas de seqüenciadores narrativos (e, então, aí, depois), os falantes do
português carioca utilizam categoricamente a partícula aí.
Supondo que tanto locução híbrida quanto expressões relativas sejam,
dentre os tipos de conectores aqui arrolados, os ainda não reconhecidos pela
gramática tradicional, hipotetizamos que eles seriam estruturas emergentes da
língua, portanto usos mais recentes do que os demais. Com base nessa hipótese, a
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
73
correlação entre o tipo de conector e a faixa etária dos falantes pode facilitar a
identificação de novas estruturações lingüísticas.
Tabela 5 : Correlação tipo de conector x faixa etária
Faixa etária
sem conectivo
Conect. Prototípico
Locução híbrida
pronome relativo
locução conjunt.
Seqüenc. Narrativo
Total
0 5 (5%) 88 (84%) 0 7 (6%) 4 (4%) 1 (1%) 105 (16%)
1 43(26%) 97 (58,5%) 3 (2%) 7 ( 4%) 10 (6%) 6 (3,5%) 166 (25%)
2 46 (17,5%) 162 (62%) 3 (1%) 20 (7,5%)
17 (6,5%) 14(5,5%) 262 (40%)
3 28(34,5%) 36 (45%) 2 (2,5%)
5 (6%) 5 (6%) 5 (6%) 81 (12%)
4 12(27%) 30 (67%) 1 (2%) 1(2%) 1 (2%) 0 45 (7%)
Total 134 (20,5%)
413 (62,5%)
9 (1,5%)
40 (6%) 37 (5,5%) 26 (4%) 659
Na tabela anterior, verificamos que todos os falantes,
independentemente da faixa etária, fazem maior uso de conectivos prototípicos na
combinação de orações que codificam tempo. Outro fato que nos chama a atenção é
o uso aproximado de conectivos prototípicos e estruturas sem conector na faixa
etária 3 (51-69 anos), diferentemente das demais faixas etárias.
A locução híbrida, por sua vez, foi empregada por falantes de todas as
faixas etárias, exceto por falantes da faixa 0 (7 a 10 anos), o que nos impede de
traçar qualquer correlação entre o uso e a faixa etária. Esses dados podem ser
melhor visualizados na figura que segue.
Figura 1: Tipo de Conector por faixa etária
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
74
sem conectivo
conectivo prototípico
locução híbrida
expressão relativa
locução conjuntiva
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
sem conectivo
conectivo prototípico
locução híbrida
expressão relativa
locução conjuntiva
faixa 4faixa 3faixa 2faixa 1faixa 0
Na próxima seção, passamos a estudar cada processo de combinação de
oração, traçando, sempre que possível, correlações com o tipo de conectivo
utilizado.
5.1.1 Conectores na Hipotaxe
De um total de 448 ocorrências de hipotáticas, 86% (385 dados) das
orações estiveram ligadas por conectivos prototípicos temporais e 8% foram ligadas
por locuções conjuntivas. Os índices mais baixos ficaram associados ao uso de
orações reduzidas (5%) e locuções híbridas (1%). Em ambos os corpora,
verificamos que a hipotaxe é a estratégia mais rica em formas conectoras, uma vez
que as orações são combinadas por meio de conjunções prototípicas, de locuções
conjuntivas, de locuções híbridas e também sem a presença formal do conector.
A distribuição por tipo de conectivo empregado evidencia diferenças
muito pequenas entre os dois tipos de falantes, como podemos observar na figura
apresentada a seguir, o que justificou o tratamento unificado dos dados.
O uso de hipotáticas, como podemos observar na figura que segue,
aparece combinado com as conjunções temporais prototípicas. Esses resultados
ratificam os achados por Souza (1996) que encontrou um percentual de 92% de
conjunções deste tipo e 8% de não-prototípicas.
Figura 2: Conexão das hipotáticas
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
75
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
locu
ção
híbr
ida
s/co
nect
ivo
locu
ção
conj
untiv
a
cone
ct.p
roto
típic
o
Port.Popular
Port.Carioca
Hopper, como já dissemos anteriormente, atrela a recorrência ao grau
de gramaticalização, referindo-se, entretanto, a outras unidades menores do que a
frase. Certamente, o critério da recorrência poderia ser vinculado à alta freqüência
de temporais com conectivos prototípicos, contudo não poderia ser aplicado, como
notamos nos resultados apurados, ao processo de combinação de orações.
Explicamos: as orações em mais alto estágio de gramaticalização são as orações
encaixadas. Contudo, os exemplares de encaixamento não detêm alta recorrência no
corpus.
Parece que esse critério pode ser aplicado a estruturas resultantes dos
processos, mas não aos processos de combinação de orações em si. Se esse fato se
comprovar em todos dados, poderemos afirmar que a hipotaxe combinada às
conjunções prototípicas é a estratégia de tempo mais gramaticalizada. Em
contrapartida, as locuções híbridas representam as menos gramaticalizadas, por
constituírem estruturas emergentes na língua. Essa emergência, por outro lado, não
significa uma ‘novidade’ na língua, pois, diacronicamente, alguns autores deram
evidências de que todas as palavras QU- tinham função relativizadora. É o mesmo
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
76
que afirmar que os resultados apontam para uma reanálise da seqüência formada por
advérbio + quando enquanto locução conjuntiva.
Ainda quanto ao critério da recorrência, os percentuais de locuções
conjuntivas (8%), assim como os casos sem conectivo (5%) apresentam mínimas
diferenças.
Podemos, também, com base na distribuição de dados por tipo de
conectivo apresentar o seguinte contínuo de freqüência:
Contínuo 6: Distribuição de hipotáticas por tipo de conectivo
locução híbrida > sem conectivo > locução conjuntiva >
prototípica
1% 5% 8% 86%
Com esse contínuo, novamente voltamos a questionar a
vinculação do parâmetro da recorrência ao grau de gramaticalização dos processos
de combinação de orações, porque as orações reduzidas alcançaram um índice muito
baixo e são consideradas as mais gramaticalizadas. Ainda assim, esse contínuo de
freqüência permite, sem dúvida, afirmar que os conectivos quando e enquanto são
não-marcados na conexão das orações temporais hipotáticas.
5.1.2 Conectores no Encaixamento
No processo de combinação de orações por encaixamento, as
ocorrências são em número muito baixo, não permitindo, pois um tratamento
estatístico apropriado. Dessa maneira, iniciamos a explanação com números
percentuais globais do processo e, ao discutirmos cada tipo de estruturação do
processo, procederemos à análise qualitativa.
Quanto aos conectivos utilizados, os pronomes relativos foram mais
recorrentes (40 ocorrências - 52,5%), seguidos pelas conjunções prototípicas (28
ocorrências - 37%). As demais ocorrências são estatisticamente irrelevantes:
locuções híbridas (4 ocorrências - 5,5%), locução conjuntiva (2 ocorrências - 2,5%)
e sem conectivo (2 ocorrências - 2,5%).
Figura 3: Tipos de conectivo no encaixamento
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
77
s/conectivo
conj.prototípica
loc.híbrida
expr.relativas
loc.conjuntiva
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
s/conectivo
conj.prototípica
loc.híbrida
expr.relativas
loc.conjuntiva
Sendo os pronomes relativos e a conjunção prototípica as mais
recorrentes nas estruturações por encaixamento, seria um erro considerar que a
conjunção prototípica estaria somente vinculada à oração prototipicamente temporal.
Na tabela 6, notamos que o número de orações de tempo encaixadas é
muito baixo para que as tratemos estatisticamente. Limitamo-nos, assim, à
apresentação de um resumo das ocorrências.
Tabela 6: Tipos de conectivos no encaixamento
Intermediária 2 Substantivas Adjetivas
determin aposit. objetiva subjetiva finita ñ/finita Total conjunção prototípica
14 3 8 3 0 0 28 (37%)
Pronome Relativo
1 0 1 1 37 0 40 (53%)
locução conjuntiva
2 0 0 0 0 0 2 (2,5%)
locução híbrida
4 0 0 0 0 0 4 (5%)
s/conectivo 0 0 0 0 0 2 2 (2,5%)
Total 21(27,5%) 3 (4%) 9 (12%) 4 (5%) 37 (49%) 2 (2,5%) 76
Na estruturação intermediária 2, a oração determinativa, aparece
conectada por intermédio da conjunção prototípica na maioria dos casos (14 dados),
embora também apareçam conexões por meio de locução híbrida (4 dados), locução
conjuntiva (2 dados) e pronome relativo (1 dado). A oração apositiva, por sua vez,
aparece no corpus somente conectada por conjunções prototípicas (3 dados).
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
78
Dos tipos de conectivos encontrados na estruturação intermediária 2, o
mais freqüente, portanto não-marcado, é a conjunção prototípica quando. O fato de
esse conectivo não especificar a localização temporal do evento citado pelo falante
faz com que esse mesmo falante adicione, explique, informe ao seu interlocutor qual
o momento específico do evento. Foi com base nessa função de quando, que, ao
caracterizarmos os tipos de estruturações, chamamos a atenção para o fato de ela ser
muito próxima da relativização.
Notamos, então, que o sentido gramatical, como Bybee (1988:262)
também observou, pode incluir traços variados: “grammatical meaning also
involves a certain richness of detail, especially as it combines with lexical meaning
and world knowledge, and this can only be understood by considering that grams
encode a meaning that is at once abstract and general, but in addition contains
traces of its former lexical meaning and thus can convey a richness of nuance and
implication that leads to much variety in interpretation”.
Mattos e Silva (1993:116) elaborou estudo diacrônico cujo resultado
contribui sobremaneira para a compreensão da relativização em sincronia. Segundo
a autora, de todas as circunstâncias expressas pela subordinação adverbial, e aqui
ela faz uso da nomenclatura encontrada na NGB, é a temporal a que dispõe de maior
número de juntores, dentre eles sobressaindo-se quando, o menos marcado, o mais
freqüente em uso, embora não especifique por si só a localização temporal do
evento.
Com base nessas informações, compreendemos que, enquanto os
demais conectivos são mais específicos e sinalizam os vários momentos, inclusive
em suas nuanças aspectuais, quando é vazio em tempo específico. Dado esse
esvaziamento de tempo específico, é compreensível que funcione como um
pronome relativo, necessitando, portanto, de um referente em que possa ancorar sua
significação mais específica ou marcar a temporalidade de um evento.
Quanto às estruturações de encaixamento prototípico, apuramos um
total de 50 ocorrências, distribuídas em dois tipos de orações: substantivas e
adjetivas.
Num total de 13 ocorrências, as orações substantivas estiveram, na
maioria, associadas ao conectivo prototípico (11 dados) e à expressão relativa (2
dados). As orações objetivas apareceram introduzidas por conectivos prototípicos
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
79
(8 dados) e por pronome relativo (1 dado); e as orações subjetivas apareceram
ligadas à oração matriz por meio de conectivos prototípicos (3 dados) e de pronome
relativo (1 dado). Os números são muito baixos e não nos permitem qualquer tipo de
generalização, motivo pelo qual nos detivemos numa tarefa apenas descritiva desses
dados.
Num total de 37 orações, as orações encaixadas adjetivas
foram as mais recorrentes do processo de encaixamento. Todas essas orações
apresentaram-se ligadas por expressões relativas. Aliás, essa era a condição sine qua
non para a inclusão de orações neste conjunto, o que nos limita a observações
derivadas da tipologia em si, pois qualquer argumento baseado na recorrência
tornar-se-ia circular.
5.2 Explicitude do Sujeito da Oração de Tempo
Em vários momentos precedentes, enfatizamos que estamos estudando
os processos de combinação de orações sob a perspectiva da gramaticalização. Daí
termos investigado a realização do sujeito enquanto um dos parâmetros aferidores
do grau de gramaticalização, ainda que seja discutível sua atuação enquanto índice
de gramaticalização no Português do Brasil.
Alguns autores crêem que o uso acentuado de zeros pode ser atrelado
ao grau máximo de gramaticalização, enquanto o preenchimento por SNs seria
indicativo de menor grau. Essas hipóteses podem funcionar na análise de uma língua
não-pro-drop, embora pareçam irrelevantes numa língua como o Português do
Brasil. É indiscutível , porém, que uma oração que funciona como argumento
interno ou externo da oração ‘principal’ pode ser considerada mais gramaticalizada
do que outra que não tenha essas funções.
Ademais, a observação de como o sujeito é explicitado nas orações
combinadas pode auxiliar no entendimento dos processos de combinação de orações
e respectivas estruturações.
Com vistas a atingir esse objetivo e seguindo os passos de outros
investigadores, a exemplo de Neves & Braga, que se preocuparam com o fenômeno
da gramaticalização, analisamos a configuração do sujeito da oração de tempo com
base na forma de expressão e encontramos, em nossos dados, ocorrências cujos
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
80
sujeitos foram representados por sintagma nominal pleno e pronome. Também
encontramos casos de sujeitos não explícitos, que foram classificados em dois tipos
distintos: elipse e zero, caracterizados a seguir.
(a) Sintagma Nominal Pleno
Recebem o rótulo “sintagma nominal pleno” os sujeitos constituídos
por nome ou determinante + nome, seguidos ou não de modificadores. São,
portanto, considerados sintagmas nominais plenos, neste estudo, quaisquer
seqüências de sujeito que contenham como núcleo um nome, englobando seus
adjuntos adnominais porventura co-ocorrentes. Podemos observar alguns exemplos
de (82) a (85).
(82) ali...quando o nego não tem nada pra fazer, fica ali [peul262] (83) quando a mãe da minha cunhada morreu, ela disse que não queria ninguém chorando [peul58] (84) aí...quando chegou o tempo de fazê o serviço militar...eu fui procurá o meu registro [pop366] (85) o dono chegô...mandô nóis embora [pop340]
(b) Pronome
Incluímos neste conjunto sujeitos de orações temporais que são expressos por
pronomes pessoais27, indefinidos ou demonstrativos.
(86) inclusivemente...eu chegava ali...o gerente me conhecia[pop327] (87) pai, quando você acabar de comprar a máquina, vai lá na seção de brinquedos [peul13] (88) então, quando a gente vamos jogar uma bola, o técnico arma um time[peul108] (89) o futebol tem aquele que nasce com a sorte de entrar num clube,
enquanto o outro, que é craque de bola, está ainda por baixo[peul109]
(c) Elipse
As orações temporais cujos sujeitos são, na ótica da gramática tradicional,
ocultos recebem a classificação de elípticos.
27 Consideramos pronomes pessoais você e a gente, formas gramaticalizadas de segunda pessoa do singular e primeira pessoa do plural respectivamente.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
81
(90) a primera vez que fui, né? tava morrendo de medo [peul87] (91) cheguei lá, ele já tinha tomado injeção[peul146] (92) quando começá plantá uns pé de eucalipe grande lá...talvez eles enxerga pá tirá [pop319] (93) chegava ali pra comê...comia bem[pop329]
(d) Zero
Quando, na oração temporal, os sujeitos não puderam ser identificados, por
não remeterem a informação recuperável no texto, foram incluídos no conjunto de
sujeito zero. Estão incluídos neste grupo, também, os sujeitos classificados, na
perspectiva da gramática tradicional, como inexistentes. Alguns exemplos de sujeito
zero podem ser observados a seguir:
(94) quando foi de noite...nós tava vendo aquele mau chero aqui [pop14] (95) quando era domingo...a casa enchia de mulherada e rapazeada junto com os menino [pop17] (96) mas, quando é de manhã, é lindo [peul20] (97) depois que teve essa briga com a minha mãe e meu pai, eu, sei lá, tomei pavor do lugar [peul147]
Não fazem parte dessa classificação os sujeitos indeterminados que,
embora não possam ser identificados por recuperação informativa do texto, podem
ser inferidos pelo conhecimento de mundo. Mesmo porque há, em nossos dados,
sujeitos indeterminados por pronome na terceira pessoa, por elipse e ainda por SN,
como é o caso de (82).
Para análise dos dados, levamos em conta as hipóteses sugeridas nos
trabalhos de Givón (1983) e de Hopper & Traugott (1993). No primeiro trabalho,
Givón (1983:67) afirma que a continuidade/predizibilidade de um sujeito torna sua
explicitação desnecessária. Com base nessa afirmação, esperamos que em seqüências
de orações paratáticas, sujeitos sejam elididos com maior freqüência do que em
outras orações combinadas, pelo paralelismo intrínseco daquele tipo de oração. No
segundo trabalho, Hopper & Traugott estabelecem um contínuo de gramaticalização,
reproduzido no início deste capítulo, o qual levamos em conta, a fim de observar se, à
medida que os dados fossem analisados em direção ao extremo direito daquele
contínuo, o número de sujeitos elípticos aumentaria.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
82
Os resultados apurados apontaram para o uso predominante de sujeitos
pronominais e de sujeitos elípticos, como podemos observar pelos números
apresentados na tabela 7.
Tabela 7: Explicitude do Sujeito nas Orações de Tempo
J Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total Elipse 56 (41,5%) 112 (25%) 15 (20%) 183 (28%) SN 21 (15,5%) 69 (15,5%) 8 (10%) 98 (15%) Zero 1 (1%) 34 (7,5%) 2 (3%) 37 (5%) Pronome 57 (42%) 233 (52%) 51 (67%) 341 (52%) TOTAL 135 (20,5%) 448 (68%) 76 (11,5%) 659
No processo por parataxe, os sujeitos das orações de tempo apareceram
distribuídos da seguinte maneira: pronome (42%), elipse (41,5%), SN (15,5%) e
zero (1%). No processo por hipotaxe, a explicitação do sujeito da oração de tempo
demonstrou-se também variada: pronome (52%), elipse (25%), SN (15,5%) e zero
(7,5%). No processo de combinação de oração por encaixamento, as orações de
tempo apresentaram seus sujeitos assim distribuídos: pronome (67%), elipse (20%),
SN (10%) e zero (3%).
Para testar a hipótese levantada anteriormente, apresentamos a
distribuição dos sujeitos elípticos, em forma de contínuo:
Contínuo 7: Distribuição dos sujeitos elípticos nos processos
20% 25% 41,5% encaixamento hipotaxe parataxe Observando o contínuo estabelecido, chegamos à conclusão de que,
comparativamente ao contínuo de Hopper & Traugott, houve uma reversão dos
estágios de gramaticalização das estruturas analisadas, o que nos leva a questionar a
utilização desse parâmetro como adequado para aferir graus de gramaticalização.
Duas explicações poderiam ser levantadas para tal incongruência: erro
na leitura dos dados e competição de motivações. A primeira explicação não se
sustenta, uma vez que os mesmos resultados confirmam a hipótese levantada com
base no trabalho de Givón: o maior índice de sujeitos elididos estaria correlacionado
à parataxe. A segunda explicação nos parece aceitável, haja vista as conclusões a
que chegaram Neves & Braga (no prelo), quanto a outras forças estarem atuando
com relação ao parâmetro da explicitação do sujeito.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
83
Uma vez que cada processo de combinação de orações inclui
estruturações diversas, apresentaremos a seguir a explanação dos resultados,
estabelecendo correlações com as citadas estruturações.
5.2.1 Explicitação do Sujeito na Parataxe
No processo de combinação de orações por parataxe, como já vimos,
duas estruturações foram consideradas: justaposição e estruturação intermediária 1,
as quais serão explanadas em relação à explicitação do sujeito.
Tabela 8: Explicitação do sujeito nas estruturações paratáticas
Elipse SN Zero Pronome Total justapostas 50 (46%) 18 (17%) 0 41 (37%) 109 (81%) Intermediária 1
6 (23%) 3 (11,5%) 1 (4%) 16 (81,5%) 26 (19%)
Total 56 (41%) 21 (15,5%) 1 (0,5%) 57 (42,5%) 135
De um total de 109 dados de estruturações justapostas, 46% (50
ocorrências) representam dos sujeitos são elípticos, 37% (41 ocorrências)
representam sujeitos pronominais e 17% (18 ocorrências) representam sujeitos em
forma de sintagmas nominais plenos.
Da estruturação intermediária 1, incluída também na parataxe,
apuramos um total de 26 ocorrências, número muito baixo para qualquer tipo de
generalização. Entretanto, uma vez que pretendemos observar somente a
distribuição dos sujeitos elípticos, a fim de constatar uma possível inversão do
contínuo apresentado nos dados gerais, os números percentuais não podem ser
interpretados como decorrentes de células confiáveis.
Os sujeitos das orações temporais na estruturação intermediária 1
mostraram-se interessantes, mas devem ser vistos com cuidado, haja vista o número
baixo de ocorrências: pronome (61,5% - 16 ocorrências), elipse (23% - 6
ocorrências), SN (11,5%- 3 ocorrências) e zero (4% - 1 ocorrência). Nesse tipo de
oração de tempo, os sujeitos pronominais são maioria.
5.2.2 Explicitação do Sujeito na Hipotaxe
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
84
O processo de combinação de orações por hipotaxe engloba dois tipos
de orações de tempo: orações finitas e orações não-finitas.
As orações finitas somaram um total de 425 ocorrências e são maioria
dentre as hipotáticas (95%). Como se vê na tabela 9, a explicitação dos sujeitos
dessas orações deu-se da seguinte maneira: pronome (225 ocorrências - 53%),
elipse (102 ocorrências - 24%), SN (64 ocorrências - 15%) e zero (34 ocorrências -
8%).
Tabela 9: Explicitação do Sujeito nas Orações Hipotáticas
Elipse Sn Zero Pronome Total
finitas 102 (24%) 64 (15%) 34 (8%) 225 (53%) 425 (95%)
não-finitas 10 (43,5%) 5 (21,5%) 0 8 (35%) 23 (5%)
Total 112 (25%) 69 (15,5%) 34 (7,5%) 233 (52%) 448
As hipotáticas não-finitas somam um número baixo de ocorrências (23
dados), equivalente a 5% do total de hipotáticas. Também nessas orações, devemos
ter o cuidado de não generalizar o resultado apurado: elipse (10 ocorrências -
43,5%), pronome (8 ocorrências - 35%) e SN (5 ocorrências - 21,5%). Embora as
células sejam insuficientes para sustentar conclusões definitivas, cremos que os
resultados refletem o comportamento normalmente esperado de uma oração
reduzida, ou seja, os sujeitos elípticos com traço [+identidade], questão que será
discutida na seção 5.5.
Com os dados globais, havíamos notado que a hipotaxe alcança
maiores índices de freqüência se correlacionada a sujeitos pronominais e elípticos,
ainda que sujeitos nulos e explicitados por SN também sejam utilizados, em índices
menores. Com a análise dos subtipos oracionais, comportamentos divergentes
especificaram as diferenças na interpretação dos resultados (ver tabela 9).
Esses comportamentos diferenciados, como o das orações não-finitas,
podem estar mostrando que essas orações estão em estágios de gramaticalização
diferenciado.
5.2.3. Explicitação do Sujeito no Encaixamento
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
85
As orações combinadas por encaixamento somaram um total de 76
ocorrências, que equivalem a somente 11,5% do total de orações analisadas neste
trabalho.
O encaixamento, como já expusemos no início do capítulo 5, engloba
dois tipos de orações de tempo: estruturação intermediária 2 e estruturação de
encaixamento prototípico.
As estruturações intermediárias 2 incluem as orações determinativas
(21 ocorrências) e as apositivas (3 ocorrências). As orações determinativas são mais
integradas à matriz do que as apositivas, por isso esperamos que os resultados
apresentem sujeitos elípticos, em maior número, nas orações determinativas.
Tabela 10:Explicitação do Sujeito na Estruturação Intermediária 2
Elipse SN Zero Pronome Total determinativa 3 4 1 13 21 apositiva 0 0 0 3 3 Total 3 4 1 16 24
Esses subtipos são diferenciados, como se vê na literatura tradicional
com relação às adjetivas, pela pausa e pelos laços semânticos em relação ao
elemento antecedente. Na perspectiva da gramaticalização, uma é mais integrada à
outra com a qual se combina, havendo, portanto, um maior ou menor laço sintático-
semântico.
Pelos resultados, não podemos seguramente afirmar que há grandes
diferenças quanto aos sujeitos dessas orações, porque as células são pouco
confiáveis estatisticamente, embora notemos que, na oração mais dependente ou
determinativa, há maior riqueza de formas para a explicitação do sujeito.
Entretanto, na grande maioria dos dados, é o pronome a forma eleita para
representar o sujeito. Portanto, se há diferença, essa não pode ser apreendida
somente pela análise do sujeito da oração de tempo.
São 52 casos de encaixamento prototípico correspondentes a 68,5% das
orações encaixadas dos corpora. É característica distintiva dessas orações o fato de
desempenharem função sintática de substantivo ou adjetivo dentro da oração matriz.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
86
As orações com funções substantivas são as menos recorrentes dentre
as encaixadas e somam um total de 13 ocorrências, assim distribuídas quanto à
explicitude do sujeito:
Tabela 11: Explicitude do Sujeito nas orações encaixadas com funções substantivas. Elipse Sn Zero Pronome Total subjetiva 1 0 0 3 4 objetiva 3 0 1 5 9 Total 4 0 1 8 13
Os números são muito baixos para uma análise estatística
confiável, o que nos impede de estabelecer paralelos percentuais, mas, de qualquer
forma, ratificam a distribuição mais geral apresentada para o encaixamento.
Ainda que as encaixadas possam acumular funções
subjetivas e objetivas, a distribuição da explicitação do sujeito não se mostra variada.
Em outras palavras, as orações analisadas funcionam como argumentos de dois tipos
da oração-núcleo, mas essa diferença, em dados, parece não atuar na configuração do
sujeito.
As orações com função adjetivas somam 39 dados,
equivalentes a 51,5% das encaixadas e são predominantemente adjetivas finitas,
como podemos ver na tabela 11a:
Tabela 11a: Explicitação do Sujeito nas orações encaixadas com funções adjetivas Elipse Sn Zero Pronome Total finita 6 4 0 27 37 não-finita 2 0 0 0 2 Total 8 4 0 27 39
Uma vez que orações não-finitas aparecem em pequeno
número no corpus analisado, não poderão ser alvo de quaisquer elucubrações, ainda
que esperássemos que elas trouxessem sujeito elíptico com maior freqüência, pelo
comportamento típico dessa oração.
As orações finitas não alteram a tendência observada
nos dados gerais, ou seja, trazem um número elevado (73%) de sujeitos pronominais.
As estratégias de tempo, exceto estruturações justapostas
e orações não-finitas, trazem um índice acentuado de sujeitos expressos por pronome.
Esses resultados, entretanto, não apontam com segurança para a não-integração das
orações nem seguem contra o princípio da economia lingüística. Outros fatores
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
87
podem estar atuando, como coadjuvantes, na explicação desse comportamento, tais
como mudança de referência discursiva, tendência ao preenchimento do sujeito
sintático no PB, ou mesmo a ordem.
A tendência ao preenchimento do sujeito foi observada
por Paredes da Silva (1988) ao investigar os pronomes sujeitos em cartas cariocas.
Segundo a autora, os falantes mais jovens tendem a preencher a casa do sujeito por
pronomes.
Embora os objetivos da autora fossem diversos dos nossos, resolvemos
considerar a hipótese de a faixa etária atuar na baixa taxa de sujeitos elípticos
observado em orações de todos os processos de combinação analisados. Dessa forma,
estabelecemos a correlação entre faixas etárias e preenchimento dos sujeitos e
chegamos aos resultados expostos na tabela seguinte:
Tabela 12: Explicitude Sujeito e Faixa Etária do Falante
SN Elipse Pronome Zero Total Faixa 0 16 (15%) 28 (26,5%) 56 (53,5%) 5 (5%) 105 (16%) Faixa 1 26 (15,5%) 47 (28) 85 (51%) 9 (5,5%) 167 (25%) Faixa 2 37 (14%) 67 (25,5%) 140 (54%) 17 (6,5%) 261 (39,5%) Faixa 3 12 (15%) 24 (29,5%) 43 (53,5%) 2 (2%) 81 (12%) Faixa 4 7 (15,5%) 17 (37,5%) 17 (38%) 4 (9%) 45 (68%) Total 98 (15%) 183 (28%) 341 (52%) 37 (5%) 659
Tendo em vista os resultados apresentados na tabela
acima, vemos que a idade não se mostrou fator condicionador do preenchimento do
sujeito, a não ser na faixa etária 4 (acima de 70 anos de idade). Os idosos, então,
apresentaram os sujeitos da orações de tempo com menor taxa de preenchimento por
pronome do que os falantes das demais faixas etárias e também apresentaram um
maior uso, ainda que em pequena diferença, de sujeitos elípticos.
Em relação à ordenação das orações, pensamos que esse parâmetro
pode atuar fortemente na explicitude do sujeito, uma vez que funções discursivas,
estrategicamente utilizadas para dar conta da intenção do falante, neutralizariam
outros critérios que não viessem a colaborar para o objetivo do discurso, como
observado por Decat (1993:272), já apresentado e discutido na seção 1.3.2. Como
somente a explicitude do sujeito não dá conta de responder a nossas hipóteses,
torna-se importante observar como a explicitude do sujeito comporta-se tendo em
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
88
vista a correlação de processos de combinação de oração e ordem, o que faremos na
seção 5.3.
5.3 Ordem e Mobilidade das Orações de Tempo
Parece haver consenso entre os autores quanto à apresentação do
parâmetro ordem como critério relevante na caracterização e análise das orações
temporais. Essa afirmação é válida tanto para gramáticos quanto lingüistas
contemporâneos e reflete a observação da ordem variável das orações temporais.
Para medir o estágio de gramaticalização, a ordem também é fator levado em conta,
ou seja, quanto mais gramaticalizada é a oração, menor será sua mobilidade no
complexo sintático temporal.
Com base nessas informações, fizemos um levantamento das
ordenações apresentadas no corpus investigado e apuramos que, em textos orais, em
três posições podem aparecer as temporais com relação à oração-núcleo:
anteposição, posposição e intercalação.
(a) Anteposição
O grupo das antepostas corresponde às orações temporais construídas à
margem esquerda da oração-núcleo, como ocorre em (98) e (101).
(98) quando eu falá pra você que eu vou batê...você tem que obedecê...entende? [pop117] (99) quando ela falou isso, eu - meu olho encheu d’água [peul42] (100) aí quando acabava...a gente ia embora[pop19] (101) ela...o cachorrinho morreu...ela enterrô encostadinho na parede nossa aí [pop18]
Segundo Matthiessen & Thompson (1988), a oração anteposta possui
um caráter ‘guia’, que funciona como orientação para o interlocutor.
(b) Posposição
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
89
Orações de tempo construídas à margem direita da oração com que se
combina, como ocorre em (102) e (103), foram incluídas no grupo de orações
pospostas.
(102) mas eu não lembro quando eu adoeci...né? [pop26] (103) a imagem não é boa, quando vai dar o desenho do
Pinóquio [peul7]
Segundo Paredes da Silva (1988), essa posição oracional denota caráter
secundário, evidenciando uma circunstância acessória.
(c) Intercalação
Orações de tempo construídas de forma a quebrar a fluidez da idéia
apresentada na oração-núcleo, vindo, assim, realizadas no interior da núcleo, são
intercaladas, pois, somente após a inserção total da circunstância de tempo, será dada
continuidade à idéia-núcleo.
(104) muitas hora...quando uma pessoa fala uma coisa que a gente não acha bom...a gente cala a boca [pop46] (105) mas...a hora que eu entendê de i lá...eu vô [pop94] (106) porque...quando eu vim de lá...eu era melhor do que quando eu fiquei aqui [pop107] (107) inclusive...quando eu vim pra cá...minha menina tinha o quê? um ano e poco [pop224]
É importante esclarecer que marcadores conversacionais e
topicalizações não devem ser considerados elementos desencadeadores de
intercalação. São, neste estudo, considerados elementos co-ocorrentes. Esses
elementos precedem a oração anteposta, como em (100) e (101).
Ao levarmos em conta a questão da ordem dos constituintes de um
período complexo, temos em mente a hipótese de que, observando as estratégias
proposicionais, as hipotáticas admitiriam maior mobilidade, como o advérbio. Além
do mais, tendo em vista o contínuo proposto por Hopper & Traugott (1993),
hipotetizamos que a mobilidade característica das adverbiais diminuiria à medida que
analisamos os dados inclusos no extremo direito, representado pelo processo de
encaixamento.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
90
Essa hipótese pode ser explicada pelo comportamento típico das
orações encaixadas, porque a gramaticalização da noção de tempo representada numa
encaixada com funções substantivas faria com que a ordem fosse obrigatória, ou seja,
a oração de tempo ocuparia a posição habitual da função sintática que desempenha na
matriz. Assim, se subjetiva, virá anteposta ao verbo, como viria o sujeito em sua
ordem canônica e, se objetiva, virá posposta, tal como apareceria um objeto em sua
ordem habitual.
Após submetermos os dados à análise segundo o parâmetro ordem,
chegamos aos resultados apresentados na tabela 13.
Tabela 13: Ordem e Processos de Combinação de Orações
Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total Anteposta 115 (85%) 341 (76%) 12 (16%) 468 (71%) Intercalada 15 (11%) 48 (11%) 54 (71%) 117 (18%) Posposta 5 (4%) 59 (13%) 10 (13%) 74 (11%) Total 135 (20,5%) 448 (68%) 76 (11,5%) 659
Os resultados apresentados na tabela mostram que tanto no processo de
parataxe quanto no processo de hipotaxe a anteposição é ordem não-marcada. No
processo de encaixamento, a ordem não-marcada é a intercalação.
Ainda que em algumas estruturações o número de dados seja muito
pequeno, o tratamento do parâmetro ordem só será válido se for observado em cada
tipo de estruturação.
5.3.1 Ordem na Parataxe
Do total de 135 dados de construções paratáticas, apuramos 109
ocorrências (81%) de estruturações justapostas e 26 ocorrências (19%) de
estruturações intermediárias 1, assim distribuídas quanto à ordem:
Tabela 14: Ordem nas estruturações paratáticas
anteposta intercalada posposta Total Justaposta 89 (82%) 15 (13,5%) 5 (4,5%) 109 Intermediária 1 26 (100%) 0 0 26 Total 115 15 5 135
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
91
Com a separação das paratáticas em tipos de
estruturações, vemos que as justapostas são preponderantemente antepostas, embora
também sejam construídas intercaladas e pospostas, posições tradicionalmente não
admitidas para esse tipo de oração. As estruturações intermediárias 1, por terem
estrutura similar às orações coordenadas, comportam-se como tal, ou seja, são
categoricamente antepostas.
5.3.2 Ordem na Hipotaxe
As orações hipotáticas apareceram nas três posições consideradas,
como podemos observar nos resultados abaixo:
Tabela 15: Ordem das Hipotáticas
Anteposta Intercalada Posposta Total finitas 325 (76,5%) 44 (10,5%) 56 (13%) 425 (95%) não-finitas 16 (69,5%) 4 (17%) 3 (14%) 23 (5%) Total 341 (76%) 48 (11%) 59 (13%) 448
Sabendo que os graus de gramaticalização são muito
tênues e que podem atuar mesmo dentro de um grupo aparentemente coeso, como é o
caso das hipotáticas, demo-nos conta de que o tipo de conector certamente poderia
condicionar o comportamento das hipotáticas desenvolvidas. Para tanto,
estabelecemos a correlação entre tipo de conector e ordem das hipotáticas.
Tabela 16: Correlação Tipo de Conector X Ordem
Anteposta Intercalada Posposta Total Prototípico 299 40 46 385 Loc. Conjuntiva 25 3 7 35 Locução híbrida 2 1 2 5 sem conector 15 4 4 23 Total 341 48 59 448
Os resultados mostram que a ordem não-marcada independe do tipo de conectivo
utilizado, embora o comportamento das locuções híbridas seja pouco diferenciado
dos demais pelo baixo número de ocorrências analisadas.
5.3.3. Ordem no Encaixamento
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
92
Com base no raciocínio desenvolvido na análise dos conectivos usados
no processo de encaixamento por estruturações intermediárias 2, apresentadas em
5.1, postulamos que todas as orações temporais, cuja função seja especificar
anaforicamente o tempo expresso por uma palavra ou expressão na oração núcleo,
devem seguir ordem similar às subordinadas adjetivas, ou seja, serão orações
pospostas ou intercaladas e o referente virá instalado imediatamente antes do
conector que faz as vezes do pronome relativizador.
Ainda que os números sejam muito pequenos para dar conta de
confirmar, com segurança, as hipóteses formulados, cremos que a distribuição desses
números indique a validade do raciocínio desenvolvido.
Observando a tabela 13, que contém os dados gerais dos processos de
combinação de orações quanto à ordem, chegamos à conclusão de que o
comportamento das estruturações encaixadas é diferenciado, já que o mais alto índice
de freqüência encontra-se relacionado à intercalação. Essa distribuição atípica
permite o estabelecimento de um contínuo que parte de um uso menos recorrente das
estruturas que se localizam nas margens extremas e mais freqüente na intercalação.
Contudo, a apresentação dos resultados deve contemplar as diferenças
comportamentais existentes entre as várias estruturações que compuseram esse
panorama.
Tabela 17: Ordem nas estruturações intermediárias 2
Anteposta Intercalada Posposta Total Determinativa 6 12 3 21 Apositiva 0 3 0 3 Total 6 15 3 24
Nas estruturações intermediárias 2, a intercalação foi
ratificada como ordem não-marcada nas encaixadas, ainda que os números
constituam células muito pequenas.
Conforme tipologia apresentada na seção 5, o encaixamento
prototípico com funções substantivas remete a tipos diversificados de orações que
devem ser submetidos individualmente ao parâmetro ordem. Esperamos que as
orações subjetivas estejam, em maioria, antepostas, enquanto as orações objetivas
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
93
apresentem-se, em maioria, pospostas à oração-núcleo, por serem essas posições
reflexo da ordem habitual dos termos na frase do Português do Brasil.
Tabela 18: Ordem nas estruturações com funções substantivas
Anteposta Intercalada Posposta Total subjetiva 1 1 2 4 objetiva 3 1 5 9 Total 4 2 7 13
Uma vez que, no corpus analisado, o número desse tipo de orações é
pequeno, qualquer consideração que generalize o comportamento poderá ser
considerada leviana, razão pela qual nos detivemos na leitura dos dados brutos
apurados.
Das estruturações de encaixamento com funções substantivas, em
nossos dados, apuramos um total de 4 orações subjetivas (31% do total) e nove em
função objetiva (69% do total).
As subjetivas foram construídas nas três ordenações possíveis, o que
mostra que nossas hipóteses acerca da aproximação feita ao comportamento de um
sujeito em ordem prototípica, portanto anteposto, não se sustentam. Sustentar-se-iam
caso o número de orações subjetivas construídas à margem esquerda se constituísse
numa maioria esmagadora de orações.
No caso das orações objetivas, os resultados, embora deixem ver uma
pequena tendência à posposição, não confirmam uma hipótese tão genérica como foi
a traçada inicialmente. Essa tendência justifica-se se estabelecermos um paralelo com
a ordem habitual desses termos no Português do Brasil. O sujeito, na língua falada,
tende a ocupar a margem esquerda, sendo anteposto ao verbo, enquanto o objeto
ocupa a margem direita e vem posposto ao verbo. Portanto, a ordem dos termos pode
refletir, em parte, a ordem dos termos nas orações. É um paralelismo que poderia
denunciar o elevado grau de gramaticalização das orações encaixadas. Entretanto,
essa tendência não se confirma de forma tão evidente, como se esperava.
De qualquer maneira, essas orações não podem ser agrupadas às demais
encaixadas para uma análise global, pois evidenciam diferenças que só podem ser
averiguadas numa amostra maior.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
94
O último grupo de orações refere-se às orações
combinadas por encaixamento prototípico com funções adjetivas, distribuídas em
dois grupos: finitas e não-finitas.
Tabela 19: Ordem nas estruturações com funções adjetivas
Anteposta Intercalada Posposta Total Finita 0 37 0 37 não-finita 1 1 0 2 Total 1 38 0 39
A característica das orações adjetivas quanto à ordem é diferenciada
das demais orações. Esse tipo oração, por vir especificando um termo da matriz, é
construída invariavelmente intercalada naquela oração, embora também possa vir
posposta.
Nossos dados mostraram que as orações temporais adjetivas finitas são
categoricamente intercaladas, pois, sem a intercalação dificilmente poderiam
estabelecer laços com o nome que detém a noção de tempo, como ocorre nos
exemplos que seguem. No exemplo (108), a oração de tempo aparece intercalada e
produz a acumulação de função adjetiva, enquanto o exemplo (108a) mostra que o
deslocamento é inviável.
(108) no dia que o outro tava esperando a resposta... que era pra mim dá a resposta ...o menino pa dá a resposta pra ele...aí a gente começamo conversá de novo...né? [pop70] (108a) que o outro tava esperando a resposta...que era pra mim dá a resposta...o menino pa dá a resposta pra ele...no dia a gente começamo conversá de novo...né?
Na seção que tratamos da explicitude do sujeito, levantamos a hipótese
de a ordem funcionar como parâmetro atuante no apagamento do sujeito da oração de
tempo.
A explicitação do sujeito pode ser influenciada por alguns fatores, tais
como a ordem e a identidade entre sujeitos. Um sujeito que aparece realizado na
primeira oração de uma seqüência e que fosse o mesmo da subseqüente tenderia a
ser apagado numa segunda oração. O sujeito tende a ser explicitado, entretanto, em
casos de ambigüidade, contraste ou introdução de novo sujeito.
Seguindo esse raciocínio, a importância de se correlacionar os
parâmetros explicitude e identidade dos sujeitos da oração de tempo com a ordem
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
95
torna-se notória. Estabelecemos, assim, a correlação da ordem com a explicitação
do sujeito e os resultados podem ser vistos na tabela 20. Correlação entre os
processos de combinação de orações e o traço [identidade] dos sujeitos será alvo de
análise na seção 5.5.
Outrossim, os dados referentes às estruturações intermediárias 1 e
estruturações encaixadas serão deixados de lado nesta correlação. As primeiras, por
serem categóricas quanto à ordem na frase e as segundas, por não se constituírem um
conjunto homogêneo e por somarem um número muito baixo de ocorrências, como
pudemos observar no decorrer da análise. Com base no exposto, os resultados que
apresentamos a seguir retratam o comportamento de dois tipos de orações:
estruturações justapostas e hipotáticas.
Tabela 20: Ordem e explicitação do sujeito da oração justaposta
anteposta intercalada posposta Total SN 17 (19%) 1 (6,5%) 0 18 elipse 44 (49,5%) 5 (33,5%) 1 (20%) 50 pronome 28 (31,5%) 9 (60%) 4 (80%) 41 Total 89 (81,5%) 15 (14%) 5 (4,5%) 109
Do total de 89 orações justapostas antepostas, 49,5% apresentam seus
sujeitos elípticos, 31,5% apresentam sujeitos pronominais e 19% trouxeram
explicitados os sujeitos por meio de sintagma nominal. As intercaladas compõem
um total de 15 orações que tiveram seus sujeitos, na maioria (60%), expressos por
pronomes. Nessa posição, também encontramos sujeitos elípticos (33,5%) e sujeitos
formados por SNs (6,5%). As orações pospostas somaram 5 ocorrências, na maioria
com sujeitos pronominais (80%), embora também houvesse a ocorrência de um
sujeito elíptico.
Comparando o número de sujeitos elípticos em cada posição,
verificamos que a anteposição favorece o apagamento do sujeito, confirmando, em
parte nossa hipótese. Outras informações advirão da correlação com o traço
[identidade], dos sujeitos das orações combinadas, como já dissemos, na seção 5.5.
Tabela 21: Ordem e explicitação do sujeito da oração hipotática
anteposta intercalada posposta Total SN 46 (13,5%) 10 (21%) 13 (22%) 69 (15%)
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
96
elipse 83 (24,5%) 13 (27%) 16 (27%) 112 (25%) pronome 184 (54%) 22 (46%) 27 (46%) 233 (52%) zero 28 (8%) 3 (6%) 3 (5%) 34 (8%) Total 341 48 59 448
Nas orações hipotáticas antepostas, os sujeitos pronominais são
maioria, independentemente da posição em que a oração é construída, o que nos faz
supor que o traço identidade deve atuar fortemente nesse tipo de oração.
Outro fenômeno que explicaria o comportamento dessas orações com
relação ao sujeito seria a tendência ao preenchimento do sujeito no Português do
Brasil. Por outro lado, se essa tendência serve para explicar o comportamento das
hipotáticas, essa mesma tendência não propicia uma resposta coerente para o
comportamento das justapostas. Provavelmente, outros parâmetros devam ser
investigados, pois a competição de motivações internas e externas do sistema pode
estar ocorrendo, como observaram Du Bois (1984:344) e Neves & Braga (no prelo).
5.4 Inversão Potencial da Ordem
Com relação aos processos de combinação de orações, gramáticos e
funcionalistas partilham a idéia de que paratáticas não admitem inversão, porque são
regidas pelo princípio da iconicidade lingüística. Esse princípio, não regendo
hipotáticas, faz com que o comportamento posicional dessas orações seja mais
flexível. Pela falta do conectivo, a combinação por justaposição seria restrita à ordem
realizada, pois esta falta do conectivo não permitiria a inversão.
Tendo em vista o contínuo de gramaticalização de combinação de
orações, uma oração num estágio mais avançado teria restrições quanto à alteração da
ordem, ou seja, ocorreria uma fixação da posição dessas orações. Nesse sentido,
esperamos encontrar menor mobilidade das orações encaixadas, pois são mais
integradas à oração matriz. Em resumo, a gramaticalização da noção de tempo
representada numa encaixada faria com que a ordem fosse mais rígida.
Nas seções 2.1 e 2.2, a afirmação de que as hipotáticas distinguem-se
das demais subordinadas pela mobilidade é uma idéia defendida por muitos autores.
Aqui, propomos que se faça a distinção entre mudança potencial da ordem e
mobilidade de fato. Em outras palavras, as orações podem, se submetidas ao teste de
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
97
inversão de ordem, manter sua integridade semântica, entretanto não necessariamente
são construídas em outra posição que não aquela encontrada. Nesse caso, essas
orações teriam um comportamento posicional mais rígido, o que evidenciaria um
estágio mais adiantado de gramaticalização.
Por questões metodológicas, apresentamos, em forma de
tipologia, as possibilidades de inversão posicional das orações temporais. Cremos
que esse tratamento facilita a apresentação e compreensão do fenômeno, uma vez
que possibilita uma visão quase discreta da atuação de critério tão abstrato quanto é a
‘rigidez’ da ordem na graduação até o momento enfatizada.
(a) Inversão Irrestrita
Inserem-se no conjunto das orações cuja inversão é irrestrita, todas as
orações que, submetidas ao teste da inversão potencial da ordem, reagiram
positivamente. Com isso, queremos dizer que, com a mudança da ordem, não
ocorrem equívocos ou alterações semânticas e o sentido original é preservado.
Os casos de inversão incondicional refletem ocorrências mais flexíveis
quanto à ordem, podendo ocorrer em anteposição, posposição ou intercalação. Nos
casos de anteposição, as orações admitem assumir a posposição; nos casos de
posposição, as orações podem, sem problemas, deslocar-se para antes da oração-
núcleo; e os casos de intercalação evidenciam orações que tanto podem deslocar-se
para a margem direita quanto para a margem esquerda, sem prejuízos para a
ordenação cronológica dos eventos. Esses casos podem ser observados de (109) a
(115).
(109) quando dá tempo deu limpar as prata, eu limpo[peul172] (110) ele chegô...o rapais tava vendendo limão[pop299] (111) comecei aprendê...eu era pequeno [pop341] (112) minha mãe morreu...eu tinha oito ano [pop343] (113) eu fui sabê meu nome...eu tinha vinte e três para vinte quatro ano [pop364]
(114) quando o pai deles morreu...eles ficaru pequeno [pop8] (115) quando chega na sala, dona Manoelina dá um fora na gente
[peul32]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
98
Os exemplos (110) a (113), se submetidos ao teste de inversão, não
alteram a ordenação de acontecimento dos eventos, entretanto altera a classificação
de qual seja a temporal. Esse fato ocorre porque, não havendo marcas formais de qual
seja a temporal, a primeira da seqüência será interpretada como tal. Além disso, o
lapso de tempo representado pela forma verbal de imperfeito contém o momento de
realização do evento representado pela forma de pretérito perfeito.
(b) Inversão Restrita ou Parcial
Estão reunidas no grupo de inversão restrita ou parcial as orações
intercaladas que puderam ser deslocadas em direção a um dos extremos apenas,
embora pudesse, em tese, aparecer tanto anteposta quanto posposta. É o caso das
orações intercaladas, que, em tese, podem ser deslocadas tanto para a direita quanto
para a esquerda; exemplares desse tipo de oração podem ser observados em (116) a
(119).
(116) porque...logo quando meu marido/ fiquei sem o marido... eu
cuidava deles no cabo da enxada...né? [pop7] (117) mas quando eu chego humilhar aquela pessoa, eu gosto de botar a pessoa abaixo de vagabundo [peul41] (118) mas na hora de voltar, ela não dá para correr [peul80] (119) eu acho que sim... porque quando ela tava no prezinho lá
embaxo...ela mais brincava [pop186]
(c) Inversão Impossível
Fazem parte deste conjunto todas as orações que se demonstraram insensíveis ao
teste da inversão potencial da ordem. Todas essas orações, portanto, admitem
unicamente a ordem realizada. O critério para o impedimento é semântico, uma vez
que a inversão virtual resultaria na desordenação cronológica dos eventos. Os
exemplos que seguem evidenciam casos desse tipo.
(120) só deixa quando é aqui perto [peul48] (121) mas eu não gosto de ser mágico não, quando crescer [peul77] (122) aí quando meu marido começô namorá comigo...ele
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
99
falava assim [peul170] (123) o futebol tem aquele que nasce com o dom de jogar e aquele
que nasce com a sorte de entrar num clube, subir muito rápido, ser profissional, enquanto o outro que é craque de bola, malicioso, está ainda por baixo, esperando uma vez para subir. [peul109]
(124) o dia que eu vô na casa dela...eu sei que eu vô dá risada o dia intero...viu? [pop204]
(125) a última vez que os cara foram, eu não fui não [peul266]
Após submeter os dados ao tratamento estatístico,
obtivemos os seguintes resultados:
Tabela 22: Inversão Potencial das orações nos processos de combinação Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total
Inversão
irrestrita
13 (9,5%) 388 (86,5%) 27 (35,5%) 428 (65%)
Inversão
impossível
118 (87,5%) 27 (6%) 42 (55%) 187 (28%)
inversão parcial para direita
0 33 (7,5%) 6 (8%) 39 (6%)
inversão parcial para esquerda
4 (3%) 0 1 (1,5%) 5 (1%)
Total 135 (20,5%) 448 (68%) 76 (11,5%) 659
Os percentuais apresentados, na tabela acima referem-se ao cálculo na
linha vertical, pois está-se levando em conta o processo de combinação de oração.
As paratáticas, na maioria, não aceitam a inversão das orações (87,5%),
diferentemente das hipotáticas que admitem a inversão de forma irrestrita na maioria
das ocorrências analisadas (86,5%). Das orações encaixadas, 55% dos nossos dados
não admitem inversão em hipótese alguma.
Quanto à inversão virtual, a mobilidade das orações comprova as
nossas expectativas quanto à mobilidade característica das orações adverbiais, que as
aproxima do comportamento do advérbio, como defendem lingüistas e gramáticos.
As paratáticas, embora no contínuo de gramaticalização estejam
situadas no pólo esquerdo, indicando um menor estágio de gramaticalização,
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
100
aproximam-se do comportamento esperado para as encaixadas, que, num estágio
maior de gramaticalização, teriam menor mobilidade.
Uma vez que parataxe e encaixamento são processos que englobam
diversas estruturações em nosso trabalho, a análise por tipo é conveniente para que se
evitem incongruências possíveis de ocorrer num tratamento geral.
5.4.1 Inversão potencial da ordem na Parataxe
Inicialmente, com a leitura dos textos sobre o assunto, acreditávamos
que as justapostas seriam as orações de menor mobilidade, fato que se confirmou na
análise dos dados.
As justapostas não só aparecem construídas em ordem variada, mas
também admitem em alguns casos uma inversão potencial da ordem.
Tabela 23: Inversão potencial da ordem nas estruturações justapostas
anteposta intercalada posposta Total inversão irrestrita
6 2 4 12 (11%)
inversão impossível
83 9 1 93 (85%)
inversão parcial para esquerda
0 4 0 4 (4%)
Total 89 (81,5%) 15 (14%) 5 (4,5%) 109
A inversão potencial da ordem não se consuma em 85% das orações
justapostas. Quanto aos demais números, embora os tenhamos apresentado no quadro
anterior, não traçaremos qualquer comentário devido ao número insignificante de
ocorrências.
Algumas orações de tempo combinadas por justaposição tiveram sua
ordem virtualmente alterada, sem que nenhum problema ocorresse quanto à
informação que veiculavam. Esses casos somaram um total de doze ocorrências
(11%), sendo a maioria delas originariamente anteposta (6 casos).
Observemos quais são esses casos e o que justificaria a inversão de
ordem numa combinação de oração teoricamente regida pelo princípio de
iconicidade.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
101
(126) isso, eles vive dizendo isso, eu nem sonhava em ter filho ainda [peul143] (127) cheguei lá, ele já tinha tomado injeção [peul146] (128) eu cheguei aí, já estava terminando o primeiro tempo [peul168] (129) minha mãe morreu, eu tinha seis anos [peul180] (130) eu fui um cinema, a primeira vez,(...) já estava com dezoito ano [peul183]
Os exemplos (127) a (130) mostram que as orações, se submetidas ao
teste de inversão potencial, não têm alterada a ordenação dos eventos, mas este fato
interfere na classificação de qual seja a temporal. Isto ocorre porque, não havendo
conectivos explícitos, a primeira oração da seqüência será interpretada como a
temporal.
O exemplo (126) é um pouco diferente daqueles analisados
anteriormente, porque a oração temporal se encontra originariamente posposta à
oração-núcleo e não aceita, interpretativamente, o conectivo neutro quando.
Parafraseando aquele exemplo, teríamos a seguinte construção.
(126a) isso, eles vive dizendo isso, desde quando eu nem sonhava em ter filho ainda.
Em outras palavras, essa oração, se submetida ao teste de inversão, cria
a necessidade de um conectivo específico de ponto inicial na cadeia temporal. Esse
fenômeno ocorre devido à correlação modo-temporal pouco comum
(presente/imperfeito).
As orações que fazem parte do grupo caracterizado por inversão
impossível são também as mais recorrentes, o que depõe a favor da hipótese de serem
elas as justapostas prototípicas.
Outras orações justapostas somente podem ser
deslocadas em direção à margem esquerda, não admitindo anteposição, portanto.
Alguns desses casos são apresentados a seguir:
(127) cê sabe que...a gente trabalha assim por dia...tem que fazê tudo num dia só...né? [pop195]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
102
(128) as veis...dia de domingo...eu vô no serviço do meu marido...
levo as criança lá [pop218] (129) inclusivemente...eu chegava ali...o gerente me conhecia [pop327]
As estruturações intermediárias 1 representam orações que têm
comportamento semelhante às orações coordenadas.
É esperado que coordenadas não admitam inversão de ordem, caso
contrário a ordem cronológica dos eventos pode ser alterada. Submetemos, então, os
dados ao teste de inversão potencial e notamos que um dos casos analisados admitia
a inversão, sem mudar a ordenação original dos eventos. Esse caso pode ser
observado a seguir.
(130) aí eu estava jogando bola...ele me chamou para mim ir [peul62]
Nesse exemplo, a inversão é plenamente aceitável devido à marcação
do aspecto durativo na primeira oração, o que o torna concomitante ao evento da
segunda oração. Essa concomitância licencia a inversão da ordem. Do ponto de vista
da fixação da ordem, portanto, podemos afirmar que casos com eventos
concomitantes permitem a inversão de ordem na coordenação. Entretanto, embora a
inversão não altere a ordem histórica, altera a interpretação de qual seja a temporal,
conforme já observado por Rocha Lima (1958) e também Halliday (1985).
Os resultados apurados no processo de parataxe, na
estruturação intermediária 1 foram os seguintes:
Tabela 24: Inversão potencial da ordem na estruturação intermediária 1
Anteposta Intercalada Posposta Total Inversão irrestrita
1 0 0 1(4%)
Inversão impossível
25 0 0 25(96%)
Total 26 0 0 26
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
103
As estruturações intermediárias 1, além de serem construídas
categoricamente à margem esquerda da oração com a qual se combina, não admitem
a inversão virtual da ordem na maioria dos dados.
A não mobilidade da ordem pode denunciar o maior ou
menor grau de gramaticalização das orações. Sendo assim, as estruturações
intermediárias 1 encontram-se em estágio maior de gramaticalização em relação às
estruturações justapostas, como podemos observar na figura que segue:
Figura 4 : Mobilidade Potencial das estruturações paratáticas
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
inversão irrestrita inversão impossível inversão parcial
JustapostaIntermediária 1
5.4.2 Inversão potencial da ordem na Hipotaxe
Submetidas ao teste da inversão potencial de ordem, notamos que as
hipotáticas formam o conjunto de orações de maior mobilidade dentro da construção
complexa temporal.
A análise dos resultados permitiu observar que as hipotáticas podem
ser dispostas numa gradação que parte da estrutura mais flexível para a mais rígida.
Tabela 25: Inversão Potencial da ordem na oração hipotática
anteposta intercalada posposta Total inversão irrestrita
330 14 44 388 (87%)
inversão impossível
11 1 15 27 (6%)
inversão parcial para direita
0 33 0 33 (7%)
Total 341 48 59 448
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
104
87% das hipotáticas admitem a reversão da ordem. Deste total, 85%
são antepostas.
Algumas hipotáticas intercaladas, embora admitam a inversão,
condicionam a direção do deslocamento desta. Esse conjunto soma um total de 7,5%
das hipotáticas e permite inversão restrita em direção à margem direita, ou seja,
somente aceitam o teste se caminharem em direção à posposição. Alguns desses
casos podem ser apreciados nos exemplos que seguem:
(131) você vê que...quando eu tava no segundo ano...eu já sabia de cor a tabuada todinha [pop125] (132) qué dizê que...quando não tinha serviço pra nóis... dentro dali do sítio tinha poco...procurava trabalhá por dia [pop274] (133) eu acho que depois que a mulher tem um marido, que se casa ou que arruma um rapaz, sei lá, ela tem que dar o respeito, né? [peul155] (134) porque antes deles ir embora, ela falou [ peul173] (135) ela disse que, quando chegasse, que ela ia me procurar de novo [peul77] (136) na frente, eu largo aquela que vocês quando chegaru eu botei pra dentro [peul228] (137) vamos dizer que eu acreditando em mim, estou acreditando no meu Deus [peul252]
Todas essas orações apresentadas estão num estágio mais elevado de
gramaticalização do que as antepostas, porque são intercaladas e porque estão mais
integradas à oração-núcleo.
Nos dados de português popular, a grande maioria dos elementos
restritores da mobilidade é constituída pela conjunção porque; nos de português
carioca, essa função restritiva é desempenhada, na grande maioria, pelo conectivo
mas.
Na teoria sobre gramaticalização, as orações reduzidas estariam no
extremo direito do contínuo, indicando que são as estruturas mais gramaticalizadas.
Quando elaboramos este trabalho, sentimos dificuldade em assumir esse tratamento
de dados, por encontrarmos comportamentos discrepantes, mesmo dentre as
reduzidas. Portanto, o critério de separar as orações unicamente pelo tipo de forma
verbal não foi adotado neste trabalho.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
105
As orações reduzidas são mais gramaticalizadas,
concordamos, porque estão mais entrelaçadas às orações com que se combinam. A
justificativa é simples: seu tempo/modo e muitas vezes seu sujeito são inferidos a
partir da leitura da outra oração.
Evitamos, como se pode notar, o uso dos rótulos ‘oração-
núcleo’ e ‘oração matriz’ nas discussões acima. O fato é que, em nossos dados,
encontramos orações reduzidas que, quando desenvolvidas, assumiam a forma de
uma hipotática, mas também encontramos orações reduzidas que se desenvolviam em
orações adjetivas, portanto encaixadas. Na análise que segue, detivemo-nos nos casos
de orações reduzidas, cuja forma desenvolvida agrupava-se ao conjunto das
estruturações hipotáticas.
Segundo Lehmann28 (1991:524), a ordem dos constituintes é mais
rígida nas subordinadas não-finitas do que nas finitas. Este seria um critério para
afirmar que as reduzidas são mais gramaticalizadas do que as desenvolvidas. Para
testar essa hipótese, submetemos os dados ao teste da inversão potencial da ordem e
os resultados estão expostos na tabela abaixo.
Tabela 26: Inversão Potencial nas estruturações hipotáticas
finita não-finita Total inversão irrestrita 369 (87%) 19 (82,5%) 388 (87%) inversão impossível 27 (6%) 0 27 (6%) inversão parcial para direita 29 (7%) 4 (17,5%) 33 (7%) Total 425 23 448
Toda oração hipotática, pela própria condição de um advérbio de
tempo, deveria ser potencialmente móvel. Todavia, analisando os dados, observamos
que uma minoria não reage como o esperado, quando submetida ao teste de inversão
potencial.
O conjunto das orações que não admite inversão de ordem representa o
total de 6% (27 ocorrências) das hipotáticas. Esse comportamento atípico esteve
correlacionado à posposição em sua grande maioria, embora também pudesse ocorrer
em anteposição e intercalação esporadicamente.
28 Ilustra com esse fato o Princípio de Penthouse (Ross 1973), segundo o qual a diversidade sintática é reduzida aos mais baixos níveis gramaticais.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
106
As estruturações hipotáticas finitas, somando índices de mobilidade
irrestrita e mobilidade parcial, são móveis em 94% das ocorrências, entretanto não-
finitas mostraram-se categoricamente móveis. Como a diferença é pequena, cremos
que as reduzidas a que se refere Lehmann são as não-finitas por nós incluídas no
processo de encaixamento. Essas orações serão observadas com detalhe com na seção
5.4.3. A observação dos resultados apurados é favorecida no gráfico que segue.
Figura 5: Mobilidade das estruturações hipotáticas
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
inversão irrestrita inversão impossível inversão parcial paradireita
finitanão-finita
Uma vez que 6% das hipotáticas finitas não podem ter
sua ordem revertida, contrariando as expectativas e evidenciando um comportamento
atípico no conjunto, julgamos importante investigar as causas. Procedemos, então, à
análise qualitativa desse conjunto em busca de fatos que possam provocar essa
alteração de comportamento.
5.4.2.1. Impedimento de inversão das temporais antepostas
Quando analisamos o conjunto das antepostas que não admitem
inversão, observamos que o fenômeno que atua impedindo a inversão é
fundamentalmente o mesmo: a anáfora. À exceção do exemplo (140), todos os outros,
se em ordem inversa, teriam o rompimento da referência anafórica.
(138) quando, assim, dizem que está pifado, eu lembro, porque já pensei naquele dia, não é? [peul10] (139) quando a mãe da minha cunhada morreu, ela disse que não queria ninguém chorando [peul58] (140) quando chegar lá em cima, o king kong está segurando
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
107
uma mulher [peul75] (141) ali, quando o nego não tem nada pra fazer, fica ali [peul262]
(142) quando meu marido chegô...falei pra ele [pop226] (143) quando a professora saía de dentro da classe...
assim...ela não gostava que levantava dali [pop248]
O exemplo (144), se em ordem inversa, teria afetada a nuança temporal
originalmente expressa. Explicamos: se, na oração original, o item lexical até produz
noção de ponto inicial na linha do tempo, com a inversão essa mesma partícula
produziria a nuança aspectual de ponto terminal e mudaria toda a informação
expressa. Essa inversão pode ser vista em (144a).
(144) até que chegô um moço aí... matô todo mundo [pop221] (144a) matô todo mundo, até que chegô um moço aí.
Um outro viés de análise pode ser adotado para explicar a não-inversão
do exemplo anterior: o valor temporal das formas verbais. O tempo envolvido na
seqüência analisada é o pretérito perfeito que inclui um evento encerrado no passado.
A seqüência de formas tempos verbais de pretérito perfeito reflete a seqüência dos
eventos, nesse caso a ordem é icônica: “as formas de perfeito tendem a formar uma
série que indica os fatos ou eventos que se sucedem e compõem o núcleo da
narrativa; se se inverte a ordem das orações narrativas sem que o ouvinte seja
alertado sobre tal inversão, os eventos passam a ser interpretados como ocorridos
na nova ordem” (Rodrigues et al., 1996:427).
5.4.2.2. Impedimento de inversão das temporais pospostas
Na posposição, quatro fatos explicam a não-inversão de ordem:
relativo sem antecedente, uso da partícula só, uso da partícula até e inserção
circunstancial em porção textual contrastiva.
a) relativo sem antecedente
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
108
Os exemplos (145) e (146) ilustram orações de tempo inseridas no
primeiro caso. Em (145), a oração-núcleo funciona como complemento de outra
oração que está fora do processo de combinação da relação temporal. Nesse sentido,
se a oração de tempo for deslocada para a esquerda, para antes da oração núcleo, o
pronome relativo se distanciará do seu antecedente, fato que compromete o
significado do enunciado. Portanto, o deslocamento para a esquerda não pode ser
efetivamente realizado.
Esse mesmo fenômeno ocorre em (146), entretanto com uma oração de
outro estatuto sintático.
(145) sei o que que eu vou ser quando eu crescer [peul15] (146) no festival de cinema, não é? que eu ia falar com você,
quando estava na cozinha [peul22]
b) uso da partícula ‘só’
A grande maioria das orações reunidas no segundo grupo representa
orações que estão em processo de gramaticalização já nos limites de outra relação
circunstancial, a condição. Todas elas trazem na oração-núcleo a partícula só, que
forma par correlativo com o conectivo quando na oração de tempo, como nos
exemplos abaixo. A noção desencadeada mostra-se muito próxima à condição,
embora ainda seja interpretada, pelos falantes nativos, também como tempo. Essas
partículas, portanto, funcionam nas orações apresentadas como elementos fixadores
da ordem.
(147) eu só vou assim quando vai o Barramares [peul83] (148) a vida não pára, só pára depois que a gente morre [peul131] (149)o bicho morde, só larga depois que morre [peul268] (150) eu só ia quando o seu Benjamin ia pra lá de carro [pop94] (151) só vai no banhero quando dá o recreio [pop307]
c) uso da partícula ‘até’
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
109
Quando submetemos a seqüência (152) ao teste da inversão potencial
da ordem, dois caminhos mostraram-se conflitantes. Se consideramos a partícula aí
como elemento interno da oração-núcleo, o resultado será a inversão completa dos
eventos ocorridos. Entretanto, se a consideramos um seqüenciador discursivo, preso à
margem esquerda textual, portanto independente da sintaxe de orações, o resultado
será a movimentação parcial da hipotática.
(152) aí a gente dançava... dançava... dançava...até que saía briga [pop261]
d) inserção circunstancial em porção textual contrastiva
Alguns casos recorrentes apresentaram um comportamento atípico.
As orações-núcleo não estavam apenas em relação de tempo com a hipotática que a
sucedia, mas também em relação de contraste com a porção que a antecedia. Nesses
casos, a inversão torna-se inconcebível, pois o contraste praticamente desaparece,
promovendo uma nova semântica de mas, agora como reforço, ênfase, próprios da
oralidade.
(153) mas eu sinto muito quando eu não vô na reunião [pop53]
5.4.2.3. Impedimento de Inversão das temporais intercaladas
Somente um caso não admitiu inversão, ou seja, somente uma oração
não pôde ser deslocada nem para a direita nem para a esquerda. Essa oração, numa
perspectiva de gramaticalização, está em estágio mais gramaticalizado do que as que
caminham em alguma das direções.
No exemplo (154), o pronome anafórico da oração-núcleo remete ao
referente na temporal anteposta, pois ocorre a dissociação da identidade entre os
sujeitos.
(154) porque quando o homem gosta, a gente consegue mudar ele [peul207]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
110
Com relação aos conectores, pensamos que eles podem mostrar
alguma tendência a ocupar margens específicas; por isso, julgamos importante
observar se essa tendência significaria uma fixação de ordem. Para tanto,
submetemos somente os dados de hipotáticas finitas à análise da inversão potencial e
esses resultados podem ser vistos na tabela que segue:
Tabela 27: Tipo de Conector X Inversão potencial
Prototípico Loc.conjuntiva Loc.híbrida Total inversão irrestrita 337 (87,5%) 28 (80%) 4 (80%) 369 (87%)
inversão parcial para direita
25 (6,5%) 3 (8,5%) 1 (20%) 29 (7%)
inversão impossível 23 (6%) 4 (11,5%) 0 27 (6%)
Total 385 (90,5%) 35 (8,5%) 5 (1%) 425
Os resultados da tabela 27 levam-nos a observar que o tipo de
conector não atua na fixação da ordem, uma vez que todos detêm um índice alto de
inversão irrestrita.
5.4.3 Inversão potencial da ordem no encaixamento
O encaixamento é considerado o processo de combinação de orações
mais gramaticalizado, por esse motivo aparece representado no extremo direito do
contínuo.
Como já dissemos na seção anterior, o grupo de estruturações que
compõe o encaixamento neste trabalho foge um pouco ao proposto por Hopper &
Traugott, porque identificamos orações não-finitas que se comportam como
hipotáticas finitas e também encontramos orações não-finitas, que desempenham
função sintática adjetiva na oração matriz.
As orações temporais encaixadas com função substantiva passariam a
ser considerada uma oração temporal típica, se a casa do sujeito ou do objeto fosse
preenchida por um nome, fato que impediria a sua interpretação como substantiva,
como no exemplo que segue:
(155) mas é ruim demais quando a gente descobre [pop152] (155a) mas X é ruim demais quando a gente descobre Y.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
111
(155b) mas X é ruim demais quando a gente descobre X.
As orações que codificam tempo e são introduzidas por conjunções
prototípicas normalmente permitem inversão da ordem. Por outro lado, com as
orações que desempenham função substantiva, uma inversão pode gerar confusões de
interpretação, por serem ambíguas.
Tabela 28: Inversão potencial nas orações encaixadas
Anteposta Intercalada Posposta Total inversão irrestrita
10 9 8 27 (35,5%)
inversão parcial para direita
0 6 0 6 (8%)
inversão parcial para esquerda
0 1 0 1 (1,5%)
inversão impossível
1 39 2 42 (55%)
Total 11 (14,5%) 55 (72,5%) 10 (13%) 76
As orações encaixadas tendem a não admitir a inversão da ordem
(55%). Por outro lado, as orações que permitiram a inversão correspondem a um
percentual de 45%, que, comparado ao de inversão irrestrita, resulta numa diferença
pequena.
Como no grupo das encaixadas estão incluídas estruturações de
variados tipos, o ideal para o entendimento do comportamento dessas orações é que a
analisemos segundo o tipo de encaixamento.
Tabela 29: Inversão potencial da ordem nas estruturações encaixadas29
Estruturação Intemediária 2
Estruturação com função substantiva
Estruturação com função adjetiva
determ aposit subjet objet finita ñ-finita Total sim 14 2 2 7 1 1 27 direita 5 0 0 1 0 0 6 esquerda 0 1 0 0 0 0 1 não 2 0 1 0 37 2 42 Total 21 3 3 8 38 3 76
29 Os ró tu los da t abe la 28 , inversão i r res t r i ta , inversão parc ia l para a d i re i ta , inversão parc ia l para a esquerda e inversão imposs íve l fo ram subs t i tu ídos , na t abe la 29 , por , r e spec t ivamente : s im, d i re i ta , e squerda e não .
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
112
Não incluímos os percentuais por considerarmos baixo o número e de
dados correspondentes às diferentes estruturas. Ainda assim, podemos notar uma
tendência à mobilidade nos dois primeiros tipos de estruturações e a não-mobilidade
categórica das orações adjetivas.
5.5 Identidade dos Sujeitos das Orações
Um critério que pode ser usado para medir a integração sintática entre
orações é o traço identidade dos sujeitos da orações combinadas.
A identidade dos sujeitos desencadeia o fortalecimento da integração
sintática, uma vez que duas orações combinadas partilham alguns termos que
desempenham as mesmas funções e, pela coincidência de função sintática, o
apagamento é licenciado. Esse fenômeno é bastante comum nas orações
coordenadas e reduzidas temporais, conforme já observou Braga (1995, 1996).
Quanto à identidade entre sujeitos, três classificações foram
estabelecidas.
(a) [+identidade]
Esse fator inclui orações cujos sujeitos sejam os mesmos, embora sua
codificação possa ser diferente.
(156) quando eu cheguei em casa, joguei fora o chinelo, sabia? [peul18] (157) quando ele voltou, falou assim [peul24] (158) nego chega ali...roba a casa da pessoa [pop314]
(159) eu considero vivê enquanto eu posso tocá minha vida por minha conta [pop346]
(b) [-identidade]
Essa classificação foi atribuída à combinação de orações cujos sujeitos
são diferentes.
(160) depois, quando ele falou: “<ma-> <-ma-> - <ma->”, apareceu a mãe dele, né? [peul6]
(161) eu brinco quando eles vêm aqui [peul49]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
113
(162) e quando acharu esse home...que retiraru ele...nós não pôde comê nada [pop16] (163) quando assim a gente já tá já mais...ela fica de parte olhando [pop23]
( c) Não se aplica
Esse rótulo foi atribuído aos casos em que o sujeito da oração de
tempo não pôde ser identificado e, por esse motivo, quanto à sua explicitude, recebe a
classificação de ‘zero’. Os exemplos podem ser vistos em (164) a (167).
(164) quando foi de noite...nós tava vendo aquele mau chero aqui [pop14] (165) quando era domingo...a casa enchia de mulherada e rapazeada junto com os menino [pop17] (166) mas, quando é de manhã, é lindo [peul20] (167) depois que teve essa briga com minha mãe e meu pai, eu, sei lá, tomei pavor do lugar [peul147]
Após correlação dos processos de combinação de orações com o traço
identidade, obtivemos os seguintes resultados:
Tabela 30: Identidade dos Sujeitos x Processos de Combinação de Oração Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total [+identidade] 76 (56%) 209 (46,5%) 34 (45%) 319 (48,5%) [-identidade] 57 (42%) 204 (45,5%) 37 (48,5%) 298 (45%) não se aplica 2 (2%) 35 (8%) 5 (6,5%) 42 (6,5%) Total 135 (20,5%) 448 (68%) 76 (11,5%) 659
A hipótese inicial, à luz dos resultados globais, confirma-se, uma vez
que paratáticas detém o maior índice de sujeitos idênticos. Hipotáticas e encaixadas
apresentam resultados semelhantes de sujeitos idênticos e não-idênticos. Esses
resultados aparentam distorção, já que a integração de reduzidas é altamente
marcada, o que nos faz analisar cada processo de combinação de orações em
separado.
5.5.1 Identidade entre sujeitos nas estruturações paratáticas
O conjunto das paratáticas, que engloba estruturação justaposta e
estruturação intermediária 1, apresentou os seguintes resultados:
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
114
Tabela 31: Identidade dos sujeitos nas paratáticas
Justaposta Intermediária 1 Total [+ identidade] 62 (57%) 14 (54%) 76 (56%) [- identidade] 46 (42%) 11 (42%) 57 (42%) não se aplica 1 (1%) 1 (4%) 2 (2%) Total 109 (81%) 26 (19%) 135
As justapostas e intermediárias 1 comportam-se de forma similar
quanto à identidade dos sujeitos, o que comprova terem um alto índice de integração
sintática.
5.5.2 Identidade de sujeitos nas estruturações hipotáticas
O processo de combinação por hipotaxe concentra dois tipos de
estruturações: orações finitas e não-finitas; buscamos correlacioná-las com o fator
‘identidade de sujeitos’ e apuramos os seguintes resultados.
Tabela 32: Identidade dos sujeitos nas hipotáticas
Finitas Não-finitas Total [+identidade] 196 (46%) 13 (56,5%) 209 (46,5%) [-identidade] 194 (46%) 10 (43,5%) 204 (45,5%) não se aplica 35 (8%) 0 35 (8%) Total 425 (95%) 23 (5%) 448
Os resultados comprovam que finitas trazem sujeitos
idênticos e não idênticos nos mesmos índices, representando o equilíbrio de usos. As
não-finitas, por sua vez, apresentam ligeiro aumento do traço [+identidade],
ratificando os resultados a que chegou Braga (1996).
5.5.3 Identidade entre sujeitos nas estruturações encaixadas
A função específica de algumas orações encaixadas pode ser
determinante no entendimento do traço [identidade], uma vez que as orações podem
desempenhar a função sintática de sujeito, não recebendo, portanto, traço de
identidade.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
115
Outras estruturações, incluídas por nós no encaixamento, comportam-
se tal como uma temporal prototípica se comportaria, razão pela qual apresentamos
os resultados por tipo de encaixamento.
Tabela 33: Identidade dos sujeitos nas encaixadas
Estruturação Intemediária 2
Estruturação com função substantiva
Estruturação com função adjetiva
determ aposit subjet objet finita ñ-finita Total [+ident] 11 1 0 2 19 1 34 [-ident] 9 2 1 6 18 1 37 ñ se apl. 1 0 3 1 0 0 5 Total 21 3 4 9 37 2 76
Pelos resultados, nenhuma relação podemos estabelecer entre
identidade do sujeito e integração, dada a pequena quantidade de dados, que não
mostram quantitativamente diferenças significativas.
Esperávamos, com base na bibliografia consultada, um alto índice de
integração entre orações em complexos sintáticos em que a temporal é uma oração
encaixada, o que, de fato, não ocorreu.
Os resultados dispostos no quadro anterior fez-nos perceber que a
integração das orações, sob o prisma dos sujeitos, torna a distribuição conflituosa
com o contínuo inicial de integração de orações. Esse comportamento das orações
poderia traduzir-se na inadequação da utilização do parâmetro da integração de
sujeito para se determinar o estágio de gramaticalização de orações. Três argumentos
sobressaem desse contínuo e sustentam essa suspeita.
O primeiro parte do comportamento das encaixadas que, em estágio
mais adiantado de gramaticalização, revelam baixo índice de integração na
perspectiva analisada. Esse comportamento explica-se pelo fato de ela própria
assumir a função do sujeito, tal é o estágio de gramaticalização.
O segundo argumento decorre do tipo de oração que ocupa o extremo
direito do contínuo de Hopper & Traugott. Naquele contínuo, as orações encaixadas
estão no extremo direito. Se o critério identidade entre sujeitos fosse adequado para
avaliar graus de gramaticalização das orações, afirmaríamos, com base nos
resultados apurados, que as paratáticas apresentaria o mais alto grau. Explicamos: as
orações paratáticas apresentaram alto índice de sujeitos idênticos, contudo não podem
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
116
estar dispostas no extremo direito do contínuo de gramaticalização, uma vez que o
traço [-dependência] formal atua fortemente nessas orações.
O terceiro argumento é baseado principalmente em Du Bois (1984) e
Neves & Braga (no prelo), que chamaram a atenção para o fato de motivações
estarem atuando em direções contrárias, configurando-se a competição de
motivações, que “it is not only the competition between semantics and pragmatics
which leads to invoking grammar as arbiter, but also, perhaps, the competition
between one speaker, one segment of society, or one generation, and the next” (Du
Bois, 1984:361).
5.6 Traço [animicidade] do Sujeito da Oração de Tempo
Na literatura consultada, o traço semântico [animacidade] do sujeito é
muito pouco usado para caracterizar processos de combinação de orações.
Heine, Claudi & Hünnemeyer (1991) afirmam que o alto índice de
sujeitos com traço [-animado] evidenciam maior grau de gramaticalização. Com base
nessa afirmação, podemos supor que as orações com grau mais elevado de
gramaticalização comportarão um maior índice de sujeitos inanimados. Em
contrapartida, se menos gramaticalizadas, tenderão a apresentar sujeitos com o traço
[+animado].
Com base no exposto, então, analisamos os dados selecionados,
codificando-os de acordo com os seguintes critérios:
(a) [ - animado]
Foram classificados nesse grupo os sujeitos das orações de tempo que
tivessem o traço inanimado, que é pertinente à terceira pessoa. Exemplos de sujeitos
com esse traço podem ser observados a seguir:
(168) antes de vencê o tempo do acordo que eu fiz...mandaru me chamá no otro serviço [pop82] (169) quando tava pra vingá...o sol vinha e castigava [pop30] (170) passando o cemitério...o ônibus faz aquelas voltinha [pop36] (171) quando some um troço lá de outra pessoa, eles querem revistar nossas pastas [peul38]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
117
(172) me diz quando isso acabar [peul60] (173) quando estava dois a dois, ele - a Itália saiu a bola, ele foi para cima em vez de ficar na retranca [peul63]
(b) [ + animado]
Receberam essa classificação os sujeitos correspondentes a seres vivos,
humanos e não-humanos. Ainda são incluídos nesse rótulo sujeitos correspondentes a
seres dotados de vida, no imaginário da comunidade de fala investigada, ainda que
abstratos. Exemplos de sujeitos animados podem ser vistos a seguir.
(174) quando os filho vai preso...os pai vai atrás [pop138] (175) quando eu pagava aluguel...tinha dia de não tê dinhero nem pá comê [pop227] (176) quando eu aposentei...o último serviço meu no metrô foi no pátio de Itaquera...né? [pop353] (177)quando ela olha pra mim manda eu separar carteira [peul33] (178) quando o nego não tem nada pra fazer, fica ali [peul262] (179) aí quando voltou, aí, é sim, quase matou a mulher, sabe por quê? [peul23]
(c) Não se aplica
Foram incluídos nesse rótulo sujeitos cujo referente pôde ser identificado,
sujeitos inexistentes, sujeitos oracionais, como observamos em (188) a (193).
(180) quando é no outro dia...já amanheço doida pra vim embora [pop6] (181) quando foi de noite...nós tava vendo aquele mau chero aqui [pop14] (182) quando tem bazar...quermesse...essas coisa...eu vô [pop166] (183) mas, quando é de manhã, é lindo; fica tudo brilhando [peul20] (184) quando tem qualquer festa na casa da minha tia, seja onde for, eu tenho que fazer [peul151] (185) quando foi umas duas e meia, eu estava cansado já de ficar na cama, eu levantei [peul288]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
118
Feita a análise dos dados, segundo os critérios acima apresentados,
estabelecemos a correlação do parâmetro [+animacidade] com os processos de
combinação de orações e obtivemos os seguintes resultados.
Tabela 34: Processos de Combinação de Orações x Traço Animacidade
Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total [-anim] 11 (8%) 46 (10%) 8 (10,5%) 65 (10%) [+anim] 122 (90,5%) 365 (81,5%) 66 (87%) 553 (84%) Ñ se aplica 2 (1,5%) 37 (8,5%) 2 (2,5%) 41 (6%) Total 135 (20,5%) 448 (68%) 76 (11,5%) 659
Os resultados não evidenciam nenhuma relação entre sujeito [-
animado] e gramaticalização, pois todos processos apresentam praticamente os
mesmos índices de sujeitos com esse traço. Apesar disso, estabelecemos a correlação
com cada tipo de estruturação incluída nos processos.
5.6.1 Traço animado do sujeito das estruturações paratáticas
Na estruturação justaposta, o traço [+animado] dos sujeitos alcançou
um percentual de 91%, contra 8% de sujeitos [-animados]; o saldo restante (2%)
refere-se aos casos em que essa análise semântica não se aplica, como sujeitos
oracionais ou sujeitos inexistentes.
Na estruturação intermediária 1, o traço [+animado] alcançou um
percentual de 88,5%. O traço [-animado] somou apenas dois dados (7,5%) e o
restante (4%) era formado por orações sem sujeitos, em que esse traço não se aplica.
Tabela 35: Traço animado dos sujeitos das orações paratáticas
Justaposta Intermediária 1 Total [-anim] 9 (8%) 2 (7%) 11 (8%) [+anim] 99 (91%) 23 (89%) 122 (90,5%) ñ se aplica 1 (1%) 1 (4%) 2 (1,5%) Total 109 (81%) 26 (19%) 135
Portanto, estruturações justapostas e intermediárias 1 comportam-se da
mesma forma.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
119
5.6.2 Traço animado do sujeito nas estruturações hipotáticas
As hipotáticas finitas mostraram comportamento
diferente das não-finitas quando analisadas segundo o traço animacidade do sujeito.
Tabela 36: Traço animado dos sujeitos das estruturações hipotáticas
finitas não-finitas Total [-anim] 41 (9,5%) 5 (22%) 46 (10%) [+anim] 347 (81,5%) 18 (78%) 365 (82%) ñ se aplica 37 (9%) 0 37 (8%) Total 425 (95%) 23 (5%) 448
Ambas as estruturações têm sujeitos prototipicamente
animados, contudo, há um aumento pequeno do traço [-animado] nos sujeitos das
orações não-finitas.
5.6.3 Traço animado do sujeito nas estruturações encaixadas
Na realidade, não há diferença de comportamento entre estruturações
encaixadas e os demais processos analisados quanto ao traço [animado] do sujeito.
As encaixadas detêm o percentual de 10,5% de sujeitos com traço [-animado], como
apresentamos abaixo:
Tabela 37: Traço animado dos sujeitos nas orações encaixadas
Estruturação Intemediária 2
Estruturação com função substantiva
Estruturação com função adjetiva
determ aposit subjet objet finita ñ-finita Total [-anim] 2 0 0 3 3 0 8 (10,5%) [+anim] 18 3 4 5 34 2 66 (87%) ñ se apl. 1 0 0 1 0 0 2 (2,5%) Total 21 3 4 9 37 2 76
Com base nessa tabela, apresentamos a figura que apresenta, com
nitidez, que há maior índice de sujeito [-animado] no encaixamento e menor índice
nas coordenadas, o que pode justificar as hipóteses de Heine et al. quanto a esse traço
estar correlacionado a estruturas em maior estágio de gramaticalização.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
120
Figura 6: Distribuição dos Sujeitos [-Animados]
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
parataxe hipotaxe encaixamento
5.7 Identidade entre Tempos e Modos
A correlação modo-temporal aparece tanto na literatura tradicional
quanto na da lingüística contemporânea (Harris & Campbell 1995; Neves & Braga,
no prelo) como critério importante na descrição de fenômenos lingüísticos.
No artigo de Neves & Braga, as autoras investigaram, na perspectiva
da gramaticalização, construções de tempo e de condição e elegeram como um dos
critérios de integração a correlação tempo-modo. A maneira como as autoras
analisaram esses dados e os resultados a que chegaram nos levaram a postular que a
integração das estruturações poderia ser aferida pela correlação tempo-modo.
A maneira como estabelecemos as correlações foge ao modelo de
análise tradicional, por buscarmos indícios da gramaticalização da noção de tempo
em orações combinadas.
Codificamos os dados segundo esta variável, obedecendo
aos seguintes fatores:
a) [-identidade] de tempo e [+identidade] de modo;
b) [+identidade] de tempo e [-identidade] de modo;
c) [-identidade] de tempo e de modo;
d) [+identidade] de tempo e de modo;
e) [+identidade] por inferência.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
121
Os parâmetros arrolados acima, com exceção do último,
explicam-se por si mesmos. O parâmetro [+identidade] por inferência foi incluído
para abranger as orações que originalmente são introduzidas por formas nominais dos
verbos, as quais, desenvolvidas, têm seu tempo e modo inferido a partir da forma
verbal da oração com que se combina.
Tabela 38: Processos de Combinação de Orações X Identidade entre Tempos e Modos.
Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total fator a 25 (18,5%) 71 (16%) 17 (22,5%) 113 (17%) fator b 0 18 (4%) 4 (5,5%) 22 (3,5%) fator c 4 (3%) 25 (5,5%) 4 (5,5%) 33 (5%) fator d 106 (78,5%) 312 (69,5%) 49 (64,5%) 467 (71%) fator e 0 22 (5%) 2 (2%) 24 (3,5%) Total 135 448 76 659
O fator d refere-se ao conjunto das orações que apresentam maior grau
de integração por terem na correlação modo-temporal o traço de [+identidade].
Nossos resultados aproximam-se, assim, dos apresentados por Neves & Braga (no
prelo).
O interessante desses resultados é que revertem totalmente o contínuo
de gramaticalização de combinação de orações, estabelecido por Hopper &
Traugott, o que prova, mais uma vez, que esse parâmetro sozinho não revela os
graus de gramaticalização das orações.
Figura 7: Integração das Orações pelo tempo/modo [+idêntico]
[+identidade] tempo/modo
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Parataxe Hipotaxe Encaixamento
A figura anterior apresenta distribuição inversa da esperada para
indicar os graus de gramaticalização dos processos de combinação de orações.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
122
Outra correlação que indicaria a maior integração das orações é o fator
e, que se refere a orações reduzidas. Ocorre que o tratamento, da forma que foi
planejado, produziu resultados circulares, razão pela qual nos abstemos de fazer
considerações sobre o entrelaçamento dessas orações.
5.8 Correlação entre Processos e Noções Desencadeadas
Nos trabalhos sobre gramaticalização, a noção de polissemia aparece
associada, em geral, a itens lexicais. Neste trabalho, a noção polissêmica estará
associada a unidades maiores do que a palavra: as sentenças complexas.
Alguns autores, a exemplo de Sweetser, preocupam-se com essa
questão de polissemia e sobreposições de sentidos. A abordagem de Sweetser, de
orientação cognitiva, remete-nos à capacidade que o falante tem de compreender
sentidos que são estabelecidos a partir de sua experiência cognitiva humana,
incluindo o mundo cultural, social, mental, físico. Cada um desses domínios
cognitivos influenciam a compreensão, fazendo emergir a polissemia, usos
sintáticos diferenciados e ambigüidade pragmática.
Sweetser defende o mesmo ponto de vista que os semanticistas que
consideram que os sentidos sejam enraizados nas experiências cognitivas humanas e
que a cognição seja organizada. Nesse sentido, crê que “cognition is structured, not
chaotic - and the apparently domain of linguistic meaning can often be shown to be
structured around speakers’ understanding of a given cognitive domain” (p.12).
A autora discute o uso das conjunções no sentido de que elas, enquanto
partículas polifuncionais, podem ser interpretadas em três domínios (domínio do
conteúdo, domínio epistêmico e domínio dos atos de fala). O primeiro reflete a
modalidade raiz, deôntica, do mundo real; o segundo, a epistêmica, do mundo
textual, das unidades lógicas; o terceiro, a pragmática.
Com base no exposto, Sweetser afirma que a escolha interpretativa não é
aleatória: “the choice of a ‘correct’ interpretation depends not on form, but on a
pragmatically motivated choice between viewing the conjoined clauses” (p.78).
Para ilustrar, a autora apresenta exemplos de construções que incluem conjunções
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
123
adversativas e causativas, por crer que a ambigüidade é mais evidente nesses itens
gramaticais.
Ainda que o objetivo da autora não seja investigar processos de
combinação de orações, seu trabalho traz idéias significativas para o presente
estudo, porque ressalta que alguns fatores podem interferir na interpretação ou
desambiguação dos elementos conectores numa sentença, como a ordem e o tipo de
entonação os quais, para a autora, seriam evidências a favor da existência dos três
domínios.
Além disso, a idéia de que as conjunções funcionam em níveis
diferentes leva-nos a pensar em diferentes graus de vinculação entre as orações,
tendo em vista o conectivo empregado, ou ainda se um mesmo conectivo não
possibilitaria inferências de relações diferenciadas.
Assim como Sweetser, Mithun (1991:159) observou que dois fatores
manifestaram-se determinantes na gramaticalização de noções, por atuarem como
forças motivadoras: cognição e comunicação.
Frajzyngier (1996), também do ponto de vista da gramaticalização,
trabalhou com construções complexas nas línguas chádicas e chegou à conclusão de
que o surgimento dessas construções são explicáveis por processos cognitivos e que
muito pouco do que obteve como resultado era teoricamente predizível.
Portanto, os três pesquisadores acreditam que a mudança das línguas é
motivada por processos cognitivos ativados por seus usuários. A partir dessas
idéias, retomamos os dados analisados e estabelecemos nova correlação, desta vez
entre os processos de combinação de orações e a noção desencadeada, além de
levarmos em conta, como critérios complementares, o tipo de conectivo e a ordem.
As noções desencadeadas que encontramos no texto foram as seguintes:
(a) Exclusivamente Tempo
As orações combinadas que estabeleciam uma unicamente a relação de
tempo fazem parte deste grupo.
(186) aí quando foi a dança, sabe? ele - um garoto, ele sobrou [peul2] (187) quando cheguei em casa, estava com ele, apagando [peul3] (188) quando eu saí dessas pedra...sabe qual era a minha
profissão?[pop13] (189) quando foi de noite...nós tava vendo aquele mau chero aqui
[pop14]
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
124
(b) Tempo/Condição/Causa
Fazem parte desse conjunto orações relacionadas que suscitam três
interpretações possíveis: tempo, condição e causa. Exemplos de orações com
comportamento desse tipo podem ser vistas abaixo.
(190) eu conheço algumas pessoa dali e jogo uma pelada ali, quando vou à praia [peul106] (191) quando chegava...chegava doidinha caçando onde ele tava [pop10] (192) quando era domingo...aquilo/a casa enchia de mulherada e rapazeada junto com os menino [pop17]
(c) Tempo/Causa
As orações que, em relação com a núcleo, fazem emergir dupla
interpretação (tempo e causa) fazem parte deste conjunto e podem ser observadas nos
exemplos seguintes.
(193) Até cortei o dedo! Fazendo um deles.[peul95] (194) quando os menino desandô pra i...ele queria i...mais a calça não tava pronta [pop4] (195) chegô aqui...eu comprei [pop11] (196) ela...quando o cachorrinho morreu...ela enterrô encostadinho na parede nossa aí [pop18]
(d) Tempo/Condição
Orações que, conjugadas à oração-núcleo, fazem emergir uma
interpretação ambígua temporal e condicional estão arroladas neste conjunto.
Orações que ilustram esse tipo de ambigüidade semântica encontram-se nos
exemplos que seguem:
(197) quando eu entro, eu entro cedo [peul29] (198) quando eu vejo, eu digo quem é bonito, eu digo quem é feio para ele [peul44]
(e) Tempo Combinado
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
125
Recebem o rótulo de ‘tempo combinado’ casos de orações cuja relação
seja exclusivamente tempo, entretanto sem ficar claro qual seja a oração-núcleo. O
que vemos, nesses casos, são orações de tempo combinadas, ou seja, uma é tempo da
outra, portanto as duas podem ser classificadas como orações de tempo, assim como
as duas podem assumir a função de oração-núcleo. Enfim, uma oração é escopo da
outra, numa relação de tempo muito estreita. Exemplos desse tipo podem ser
observados nos exemplos listados abaixo.
(199) apesar que ela entrô lá...ela tinha cinco ano [pop188] (200) eu fui sabê meu nome...eu tinha vinte e três para vinte e quatro ano [pop364]
(f) Tempo Restringido
As orações que compõem esse grupo remetem especificamente a um
termo da oração-núcleo, ou seja, seu escopo é, na maioria das vezes, uma expressão
que funciona como advérbio de tempo, com noções muito amplas, portanto pouco
precisas, que serão especificadas e restringidas pela oração de tempo. Casos desse
tipo podem ser observados nos exemplos apresentados a seguir.
(201) vou de vez em quanto, quando eu tenho tempo [peul136] (202) Sexta-feira, quando eu apanhar meu filho do colégio eu vou para lá [peul148] (203) aí voltei pra São Paulo e trabalhei em obra até...até agora...quando aposentei [pop344] (204) antigamente quando um cara falava assim “ah, minha filha, eu lhe amo, isso, aquilo outro”...ela já pensava que era de verdade mesmo [pop236]
(g) Tempo Retomado
Orações de tempo agregadas a esse conjunto têm a característica
peculiar de acrescentar uma informação adicional àquela de tempo do antecedente,
ou seja, a noção principal de tempo já está expressa na oração-núcleo e é retomada,
em sua totalidade, na oração de tempo. Algumas dessas orações podem ser lidas a
seguir.
(205) Em 80, quando eu cheguei aqui, foi o Papai Noel no
Maracanã [peul105] (206) há anos, desde que era garoto, está no mesmo emprego
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
126
ainda [peul46] (207) naquele tempo...quando a gente criô lá na roça...eles não registrava os filho home só as mulhé...né? [pop365]
Detectadas essas noções nas orações de tempo analisadas,
estabelecemos uma correlação entre elas e os processos sob análise. Chegamos aos
seguintes resultados.
Tabela 39: Função Sintático-semântica da oração x processos de combinação de orações x conectivo Parataxe Hipotaxe Encaixamento Total Exclusivamente Tempo 16 (12%) 194 (43%) 41 (54%) 251(38%) Tempo Retomado 0 1 (0,5%) 7 (9%) 8 (1%) Tempo/Condição 12 (9%) 66 (15%) 6 (8%) 84 (13%) Tempo Restringido 0 0 14 (18,5%) 14 (2%) Tempo/Causa 27 (20%) 48 (11%) 0 75 (11,5%) Tempo/Causa/Condição 73 (54%) 137 (30%) 8 (10,5%) 218 (33%) Tempo Combinado 7 (5%) 2 (0,5%) 0 9 (1,5%) Total 135 448 76 659
No processo de parataxe, 54% das orações de tempo têm o mais alto
grau de ambigüidade: sua interpretação permite a interpretação das noções de
tempo, causa e condição concomitantemente.
No processo de hipotaxe as orações estão, na maioria, distribuídas em
dois tipos: orações que passam exclusivamente a noção de tempo (43%) e as
orações que possibilitam a interpretação de tempo, modo e condição (30%).
No processo de encaixamento, as orações possibilitam a interpretação
de uma única noção: tempo.
Os resultados até aqui apresentados coincidem com a afirmação de
Braga (1996) sobre serem as temporais orações caracteristicamente ambíguas. O que
vimos nos percentuais foi a ratificação do que já observara Braga, entretanto de
forma mais pormenorizada, uma vez que incluímos outros processos de combinação
de orações.
Cada noção observada, por exemplo na hipotaxe, remete às
estruturações identificadas que denunciam os vários tipos de estratégias para
combinar orações cuja relação seja tempo, as quais podem conjugar noções
pragmaticamente muito próximas, como é o caso de tempo/condição.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
127
As noções identificadas podem ser compreendidas como exemplos de
polissemia, uma vez que existem vários sentidos associados a uma estrutura formal.
Nesse sentido, seguimos a proposta de Sweetser (1990) que propõe acréscimos
semânticos em decorrência dos usos. O tempo, segundo a autora, seria uma noção
mais concreta do que condição e causa.
A sobreposição semântica observada nos casos descritos pode ser
explicada pela tendência de se dizer não mais do que o necessário, ditada pelo
princípio da economia lingüística. Esse princípio, como observou Traugott &
König, faria com que uma forma assumisse vários significados.
No caso das estruturações intermediárias 2, por exemplo, o que ocorre
é a aproximação de dois itens que, pela alta recorrência, são reanalisados como uma
seqüência única: uma locução temporal. A fusão em locução é o efeito da reanálise e
a emergência de um novo uso.
Tendo em vista os resultados da tabela anterior e o contínuo de
gramaticalização de Hopper & Traugott, parece que o traço [-ambíguo] relaciona-se
com orações cuja interpretação é exclusivamente tempo. Os resultados que
permitiram essa análise podem ser observados no seguinte contínuo:
Contínuo 8: Ambigüidade das orações de tempo
Parataxe Hipotaxe Encaixamento
12% > 43% > 54% [-ambígua]
[+ambígua] 54% < 30% < 10,5%
Para compor o traço [-ambigüidade], utilizamos os
resultados pertinentes às orações que somente possibilitavam a interpretação de
tempo e, para compor o traço [+ambigüidade], incluímos orações que possibilitavam
a interpretação de tempo, condição e causa, simultaneamente.
6. Considerações finais
Nossa proposta inicial foi analisar os estágios de gramaticalização,
envolvendo unidades maiores do que o item lexical. Dessa maneira, analisamos,
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
128
segundo um grupo específico de parâmetros, os processos de combinação de
orações que estabelecem a relação de tempo.
No capítulo 1, expusemos alguns princípios da teoria funcionalista,
referência teórica adotada.
No capítulo 2, apresentamos uma síntese da revisão bibliográfica sobre
os processos de combinação de orações. Restringimo-nos a duas abordagens
(tradicional e funcionalista) que orientam, de uma maneira ou outra, este trabalho, e
à questão da gramaticalização. Da abordagem tradicional, mostramos a evolução
do tratamento de questões relativas às orações de tempo por gramáticos
representantes de dois períodos, delimitados pelo advento da NGB. Da abordagem
funcionalista, sintetizamos as discussões em torno de um modelo que desse conta de
abarcar os vários tipos oracionais possíveis nas línguas. Dos estudos sobre a
gramaticalização, trouxemos informações sobre outro modo de se investigar os
processos, que não se encerra na estrutura fixa, mas se baseia num tratamento
evolutivo, dinâmico dos processos, levando em conta a atuação de fatores dia-
sincrônicos que fazem desencadear estruturas emergentes.
No capítulo 3, discutimos, nas abordagens já apresentadas, trabalhos
desenvolvidos ao longo de uma década. Todos os trabalhos tiveram como objeto a
língua portuguesa e foram ponto de partida para as hipóteses e discussões levantadas
no decorrer desta investigação.
No capítulo 4, apresentamos a metodologia adotada para o tratamento
dos dados, bem como especificidades sobre os materiais de língua falada que
serviram de base para a análise.
O capítulo 5, efetivamente o mais denso, contém a análise dos dados,
segundo os parâmetros ordem, conexão, inversão potencial, explicitude e traço
[animado] do sujeito, identidade de sujeito e de tempos e modos.
Os resultados a que chegamos, na maioria das vezes, forneceram
elementos para a discussão das hipóteses sobre a adequação dos parâmetros eleitos
para esta investigação, bem como para algumas explicações dadas.
Identificamos, a partir de 659 ocorrências de orações de tempo, três
processos pelos quais essas orações foram combinadas: parataxe, hipotaxe e
encaixamento.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
129
Dentro de cada processo identificado, observamos diferentes estratégias
ou maneiras de se construir o período, a que nomeamos de estruturações. Essas
estruturações funcionariam, tendo em vista o contínuo de gramaticalização de
orações, como as várias camadas intermediárias que permitiriam a ligação dos dois
extremos do contínuo citado.
No processo de parataxe, observamos a existência de duas
estruturações: justapostas e intermediárias 1. As justapostas se manifestam pela
junção de duas orações, sem a presença formal de um conector. As intermediárias 1
poderiam ser nomeadas de coordenadas, com base em dois argumentos: primeiro,
porque se aproximavam daquelas em vários aspectos, tais como conector e ordem;
segundo, porque esse rótulo não ofereceria dúvidas sobre o seu papel dentro do
contínuo de gramaticalização: estrutura em estágio de gramaticalização maior do que
as justapostas e menor do que as hipotáticas. Entretanto, optamos por um termo mais
neutro que não gerasse confusões com os rótulos da gramática tradicional.
No processo de hipotaxe, encontramos também orações com dois graus
diferentes de gramaticalização: estruturações finitas e estruturações não-finitas. As
finitas trouxeram conectores explicitados e mostraram-se menos integradas do que as
não-finitas, que dependiam de informações expressas na oração-núcleo para que
alguns vazios semânticos pudessem ser inferidos em sua estrutura. Essas últimas
funcionariam como estrutura intermediária, mais integrada do que as finitas e menos
integrada do que as encaixadas.
No processo de encaixamento, observamos o maior número de
estruturações que poderiam ser umas mais integradas do que as outras. Distribuímos
essas estruturas em dois grandes conjuntos. No primeiro conjunto reunimos orações
que partilhassem características do processo anterior, hipotaxe, mas também
mostrasse características de encaixamento: foram chamadas estruturas intermediárias
2. Os motivos que nos levaram a rotulá-las assim foram os mesmos apresentados
como explicações para as estruturas intermediárias 1, contudo em relação à hipotaxe
e encaixamento.
O segundo tipo de encaixamento identificado foi aquele em que as
orações temporais desempenhavam função sintática de orações substantivas ou
adjetivas dentro da oração matriz. Essas estruturas foram rotuladas de ‘estruturação
de encaixamento prototípico’. As funções substantivas conjugadas à noção de tempo
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
130
foram a de sujeito e de objeto direto. A única função adjetiva identificada foi a de
adjunto adnominal, apresentada em orações sob duas formas: finita e não-finita.
Identificados as orações de tempo, segundo os processos e respectivas
estruturações, procedemos, a fim de buscar evidências quanto aos seus graus de
gramaticalização, à correlação com os parâmetros arrolados para análise.
O primeiro critério que observamos não funcionar adequadamente para
medir graus de gramaticalização foi a recorrência. Esperávamos poder associar a alta
recorrência de estruturas a estágios elevados de gramaticalização, mas, com base nos
resultados apurados, observamos que as hipotáticas eram as mais recorrentes e as
encaixadas, as menos recorrentes. Esses resultados, associados ao grau de
gramaticalização, fariam com que disséssemos que hipotáticas são mais
gramaticalizadas do que encaixadas, o que seria um erro. Assim, se a recorrência
funciona para itens lexicais, como observou Hopper, dentre outros pesquisadores, não
funciona para a gramaticalização de processos de combinação de orações.
Quanto à conexão, vimos, na seção 5.1, que conjunções prototípicas são
as mais recorrentes nos processos de hipotaxe enquanto expressões relativas são as
mais recorrentes no processo de encaixamento. Vimos também que esses usos não
são influenciados pela faixa etária do falante, embora a faixa etária 3 (51-69 anos)
esteja correlacionada com o alto índice de pronomes relativos na oração de tempo.
O estudo dos conectores não se mostrou relevante para a inserção das
orações no contínuo de gramaticalização, se levarmos em conta o critério da
integração, entretanto são esses elementos que melhor evidenciam o aparecimento de
locuções e de novos usos para antigos conectores, período em que a ambigüidade se
mostra. Explicamos: muitos dos usos novos geram dificuldades de classificação das
respectivas orações, devido à interpretação ambígua.
Partindo da noção não-ambígua de tempo, teríamos um exemplo do
tipo “eu vou quando tenho tempo”, com a correlação modo-temporal mais recorrente
presente/presente; ao passar pela estruturação intermediária 2, essa estrutura se
alteraria para “vou hoje, quando der tempo”, em que o tempo expresso na oração de
tempo é perfeitamente dispensável, uma vez que o advérbio na oração principal já
mantém o interlocutor informado do tempo de ocorrência do verbo ‘ir’ e a correlação
modo-temporal possui traço [-identidade]: presente/futuro subjuntivo.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
131
Para que a oração possa assumir nova noção no contínuo estabelecido,
passa por um processo de clivagem com a partícula ‘só’. O acréscimo de ‘só’ à
conjunção temporal faz emergir a noção condicional: “vou só quando der tempo” .
Para chegar ao final do contínuo, essa estrutura volta a deter [+identidade] de tempo,
entretanto [-identidade] de modos e conjuga novamente uma conjunção temporal
seguida de uma partícula polifuncional QU-: “vou desde que dê tempo”.
É um jogo muito interessante em que se envolvem itens gramaticais
que sozinhos não podem dar conta de fazer emergir a noção, mas que, conjugados a
outros parâmetros, promovem desde a ambigüidade até a reanálise pelos falantes da
língua.
A explicitude do sujeito é tida como um dos bons critérios para se
mensurar a integração entre orações. Iniciamos nossa análise com a idéia equivocada
de que somente a elipse daria conta de evidenciar a integração, esperando, dessa
maneira, alta taxa de elipse nas coordenadas. Na verdade houve a atuação de forças
nesse processo, no mesmo sentido que Du Bois chamou de competição de
motivações. Essas forças puderam ser observadas em duas tendências de nossa
língua: a de se apagar sujeitos idênticos em estruturas coordenadas e, ao mesmo
tempo, a de se preencher sujeitos no PB.
As estruturações intermediárias 1 provaram, pelo seu comportamento,
partilhar, ao mesmo tempo, características de hipotaxe e de justaposição: como a
maioria das justapostas, essa oração não admite inversão de ordem e, como as
hipotáticas, traz o sujeito preenchido por pronome, contrariando também a visão
tradicional de que a coordenação, por ser processo sintático de encadeamento de
orações de mesmo valor, favoreceria a omissão do sujeito, conforme resultados de
Lira (1982, apud Paredes da Silva 1988). É certo que a estrutura analisada por Lira
era a coordenada prototípica, diferentemente da que trabalhamos que possibilita a
inferência de tempo com a marca formal no início da primeira oração.
Com base nos resultados e discussões levantadas, chegamos à
conclusão de que o parâmetro explicitude do sujeito parece não atuar para o maior ou
menor grau de gramaticalização. Outra evidência disso seria que orações encaixadas,
por serem mais gramaticalizadas, deveriam trazer alto índice de sujeitos elípticos, o
que não se confirmou. Novamente a tendência ao preenchimento do sujeito mostrou-
se.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
132
Na seção 5.3, tratamos da ordem e mobilidade. Esse parâmetro é tido
por alguns autores como forte indicador de gramaticalização. Crêem alguns
pesquisadores que, num estágio de gramaticalização mais avançado, a mobilidade
seja restringida. Com base no comportamento das orações de tempo, notamos que
cada processo se comporta de uma maneira diferente quanto à posição. Na parataxe,
as justapostas demonstraram-se mais móveis do que as estruturações intermediárias
1, que se apresentaram categoricamente construídas na anteposição. Na hipotaxe,
tanto finitas quanto não-finitas apresentaram-se com grande mobilidade e essa
mobilidade não é influenciada pelo tipo de conector empregado na construção, como
pudemos verificar nos resultados da tabela 16. No encaixamento, a posição não-
marcada é a intercalação, mesmo porque o número de dados de encaixadas com
funções adjetivas é mais expressivo que o das demais orações. Pelos resultados,
pudemos verificar que a ordem é um parâmetro adequado para se aferir o grau de
gramaticalização das estruturações.
A ordem também se mostrou como um dos condicionadores que
fortemente atuam no apagamento do sujeito nas estruturas paratáticas, como vimos
tabela 20, mas não nas hipotáticas (vide tabela 21).
Em referência às orações hipotáticas, notamos que
algumas delas (78 ocorrências - 16%) vinham acompanhadas de um seqüenciador,
tal como ocorre com as intermediárias 1, e ocupavam a posição anteposta à oração-
núcleo.
Esse achado serve de argumento para a posição das hipotáticas no
contínuo de gramaticalização, uma vez que elas funcionariam como elo entre a
estrutura anterior (estruturação intermediária 1) e a posterior (hipotática não-finita).
A evidência para essa afirmação baseia-se no comportamento posicional dessas
orações, que estão, em maioria, antepostas à outra oração – comportamento similar
ao das intermediárias 1-- e não permitem inversão.
A co-ocorrência de alguns termos pode tornar a oração de tempo mais
integrada à oração-núcleo. Esse é o caso do seqüenciador discutido no parágrafo
anterior e das partículas ‘só’ e ‘até’, discutidas na seção 5.4.3.
Fizemos a distinção entre mobilidade de fato e mobilidade potencial.
Consideramos que a mobilidade de fato pode ser aferida quando analisamos a
freqüência de determinada estrutura nas posições em que efetivamente foram
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
133
construídas pelo falante e a mobilidade potencial pode observada por meio de testes
de inversão virtual da ordem em que aparecem. Com base nessa distinção,
identificamos, na seção 5.4, três graus de mobilidade: inversão irrestrita, parcial e
impossível.
Quanto à mobilidade potencial, apuramos que as justapostas
apresentaram 85% de não-mobilidade e as intermediárias 1, 96% de não-
mobilidade. Dessa maneira, as estruturações que compõem o processo de parataxe
são, em índices muito altos, pouco móveis. As hipotáticas, tanto finitas quanto
infinitas, novamente mostraram grande mobilidade. Entretanto, ao contrário do que
esperávamos, também apresentaram 6% de ocorrências que não admitiram inversão.
Esses casos puderam ser explicadas por quatro fatos: relativos sem antecedente, uso
da partícula só, uso da partícula até e inserção circunstancial em porção textual
contrastiva. As encaixadas mostraram-se com tendência à não- reversão da ordem.
Os resultados apurados, quanto à mobilidade potencial, nas hipotáticas
e nas encaixadas ratificaram o contínuo de Hopper & Traugott, adotado neste
trabalho. Por outro lado, as paratáticas mostraram-se muito próximas de um
encaixamento quanto à mobilidade. Assim, se o teste da inversão potencial da ordem
é um bom aferidor para hipotáticas e encaixadas, não desencadeia boa compreensão
do comportamento das paratáticas.
Outro parâmetro adotado neste trabalho foi o traço [identidade].
Postulamos que a identidade de sujeitos e de tempos e modos possibilitaria a aferição
dos graus de gramaticalização dos processos analisados. Tal hipótese é fundada
também no parâmetro da integração de Lehmann.
Quanto à identidade entre sujeitos, observamos que paratáticas
(justapostas e intermediárias 1) têm sujeitos com traço [+identidade] em 56% das
ocorrências. As hipotáticas trazem um uso equilibrado de sujeitos com traço
[+identidade] e [-identidade]. Já, nas encaixadas, tanto as estruturações
intermediárias 2 quanto estruturações com função adjetiva trazem sujeitos em
distribuição equilibrada entre os traços de identidade. Nas estruturações com função
substantiva, o sujeito possui quase categoricamente o traço [-identidade], mas o
número de ocorrências é baixo para que qualquer tipo de generalização seja feita.
Com relação à identidade entre tempos e modos, os resultados
reverteram totalmente o contínuo proposto por Hopper & Traugott. Pelos resultados,
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
134
seria possível afirmar que quanto maior o índice de identidade entre tempos e modos,
menor seria o grau de gramaticalização das orações.
O último parâmetro analisado foi o traço animado do sujeito da oração
de tempo e, após a correlação estabelecida, chegamos à conclusão de que esse é um
parâmetro adequado para se medir o grau de gramaticalização dos processos de
combinação de orações. A evidência que apresentamos, na tabela 34, esteve baseada
no aumento de sujeitos [-animados] quanto mais gramaticalizado era o processo.
Nesse sentido, ratificamos as hipóteses de Heine et al.
Na seção 5.8, estabelecemos a correlação entre as orações analisadas e
as noções desencadeadas, identificando as seguintes noções conjugadas à noção de
tempo: tempo/condição/causa, tempo/causa e tempo/condição. Também
identificamos a noção de tempo que vinha conjugada a outra noção de tempo de dois
modos: restringido e retomado. Os resultados provaram ser a análise desse grupo de
fatores apropriada para medir graus de gramaticalização dos processos analisados.
Dessa maneira, apuramos que, quanto maior o grau de gramaticalização do processo,
tanto menor será o índice de ambigüidade.
As construções de tópico feitas nas estruturas analisadas
não constituiram objeto de análise mais apurada neste trabalho. O mesmo aconteceu
às construções clivadas e orações com verbos ‘haver’ e ‘fazer’. Apesar de terem sido
descartados no início da pesquisa, estes dados mostram-se muito interessantes como
estruturações possivelmente intermediárias no contínuo de gramaticalização.
Entretanto, não puderam ser analisadas satisfatoriamente sob os mesmos parâmetros.
Eis alguns exemplos desses tipos:
(208) então quando eles iam i que eu ia junto né? [pop21a] (209) vou lá, como bolo, aí depois que eu vou lá brincar [peul] (210)teve um tempo que nós brigamo tanto eu e ele [pop13b] (211) há tanto tempo que eu não fui lá [peul]
Após a análise feita e os resultados apresentados, podemos, com
segurança, afirmar que nem sempre os critérios ‘bons’ para a análise de itens
gramaticais, como é o caso da recorrência, são bons para a análise dos processos de
combinação de orações. Apresentamos evidências de que é um mito crer que uma
estrutura não-marcada seja necessariamente sinônima de mais gramaticalizada.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
135
Apresentamos, também, evidências de que nem sempre a integração
pode ser entendida como sinônimo de gramaticalização. Muitos autores acabam por
fazer essa associação e não pudemos deixar de fazer também, porém nem sempre
tivemos respostas adequadas. Foi o que ocorreu com a explicitude e a identidade do
sujeito.
Outro fator a se levar em conta neste trabalho remete ao conflito de
motivações presente em vários momentos da análise. Esses conflitos poderiam ser
minimizados numa análise que levasse em conta outros fatores, tais como o gênero
do discurso e critérios relativos à lingüística cognitiva. O ideal é que outros critérios
sejam conjugados aos já tradicionalmente correlacionados, tais como os fonéticos, a
fim de que se delineie um caminho de descobertas em torno dos processos de
combinação de orações e de como se gramaticalizam nas línguas.
Além disso, a ampliação do corpus com mais falantes de outras regiões
do Brasil possibilitariam também um panorama mais abrangente de como esses
processos se gramaticalizam.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
136
7. Referências Bibliográficas
BRAGA, Maria Luiza. “Processos de redução: o caso das orações de
gerúndio”. In: KOCH, Ingedore G. Villaça (Org.). Gramática do Português Falado. Volume VI: Desenvolvimentos. São Paulo/Campinas, Fapesp/Editora da Unicamp, 1996, pp. 231-251.
BRAGA, Maria Luiza. “As orações de tempo no discurso oral”. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos (28). Campinas, Unicamp/IEL, 1995, pp. 85-97.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 3aed. São Paulo, Cia. Editora Nacional, s/data.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 34a ed. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1992.
BYBEE, Joan L. “Semantic substance vs. Contrast in the development of grammatical meaning”. In: AXMAKER, Shelley; JAISSER, Annie & SINGMASTER, Helen (eds.). General Session and Parasession on Grammaticalization. Berkeley Linguistics Society, 1988, pp. 247-263.
CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. História e Estrutura da Língua Portuguesa. 2a ed. Rio de Janeiro, Padrão Livraria e Editora Ltda., 1976.
CEZARIO, Maria Maura; GOMES, Rosa; PINTO, Deise. “Integração entre cláusulas e gramaticalização”. In: MARTELOTTA, M.E.; VOTRE, S.J.; CEZARIO, M.M. Gramaticalização no Português do Brasil: uma abordagem funcional. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1996, pp.77-113.
COMRIE, Bernard. “Topics, grammaticalized topics, and subjects”. In: AXMAKER, Shelley; JAISSER, Annie; SINGMASTER, Helen (eds.).General Session and Parasession on Grammaticalization. Berkeley Linguistics Society, 1988, pp.265-279.
CRAIG, Colette G. “Ways to go in Rama: a case study in polygrammaticalization”. In: TRAUGOTT, Elizabeth Closs & HEINE, Bernd (eds.). Approaches to Grammaticalization .Volume II: Focus on Types of Grammatical Markers. Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, pp.45-49.
CUNHA, Celso. Manual de Português. 1aed. Rio de Janeiro, Livraria São José, 1962.
CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. 10a ed. Rio de Janeiro, Padrão Livraria e Editora, 1983.
CUNHA, Celso & CINTRA, Luís F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2aed. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1985.
DECAT, Maria Beatriz Nascimento. “Leite com manga morre!”: Da hipotaxe adverbial no português em uso. Tese de Doutoramento/LAEL. São Paulo, PUC/SP.
DIK, Simon C. The Theory of Functional Grammar. Dordrecht-Holland/ Providence RI: USA: Foris Publications, 1989. DU BOIS, John W. “Competing Motivations”. In: HAIMAN, John.
Iconicity in syntax. Amsterdam: John Benjamins, 1984, 343-365. FRAJZYNGIER, Zygmunt. Grammaticalization of the Complex Sentence: a
case study in Chadic. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1996.
GARCIA, Othon Manuel. Comunicação em Prosa Moderna. 1a ed. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1967.
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
137
GIVÓN, T. “The evolution of dependent clause morpho-syntax in Biblical Hebrew”. In: TRAUGOTT, Elizabeth Closs & HEINE, Bernd (eds.). Approaches to Grammaticalization .Volume II: Focus on Types of Grammatical Markers. Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, 257-310.
HALLIDAY, Michael A. K. “As bases funcionais da linguagem”. In: DASCAL, Marcelo (Org.).Fundamentos Metodológicos da Linguística. Volume I: Concepções Gerais da Teoria Lingüística. São Paulo, Global, pp. 125-161, 1978.
HALLIDAY, Michael A.K. “Above the clause: the clause complex”. In: An Introduction to Functional Grammar. Great Britain, Edward Arnold, pp.192-271, 1985.
HALLIDAY, Michael A. K. & HASAN, Ruqaiya. Cohesion in English. 5a ed. London: Longman, 1983.
HARRIS, Alice & CAMPBELL, Lyle. “On the development of complex constructions”. In: Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge, Cambridge University Press, 1995,pp. 282-313.
HEINE, Bernd & CLAUDI, Ulrike & HÜNNEMEYER, Friederike. Grammaticalization: a conceptual framework. Chicago/London, The University of Chicago Press, 1991a.
HEINE, Bernd & CLAUDI, Ulrike & HÜNNEMEYER, Friederike. “From Cognition to Grammar – evidence from African Languages”. In: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B (eds.) Approaches to Grammaticalization. Volume I: Focus on Theoretical and Methodological Issues. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991b, pp. 149-187.
HERRING, Susan C. “Aspect as a Discourse Category in Tamil”. In: AXMAKER, Shelley; JAISSER, Annie; SINGMASTER, Helen (eds.). General Session and Parasession on Grammaticalization. Berkeley Linguistics Society, 1988, pp.280-291.
HOPPER, Paul J. & TRAUGOTT, Elizabeth Closs. Grammaticalization. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
HOPPER, Paul J. “On Some Principles of Grammaticization”. In: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B (eds.) Approaches to Grammaticalization. Volume I: Focus on Theoretical and Methodological Issues. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, pp. 17-35.
KATO, Mary Aizawa .; BRAGA, Maria Luiza ; CORRÊA, Vilma R.; ROSSI, Maria A .L. & SIKANSI, Nilmara S. “As construções Q- no português brasileiro falado: perguntas clivadas e relativas. In: KOCH, Ingedore G.Villaça. Gramática do Português Falado.Volume VI: Desenvolvimentos. São Paulo/Campinas: Fapesp/Editora da Unicamp, 1996 , pp. 303-368.
KEHDI, Valter. “Construções de gerúndio subentendido”. In: As Construções Justapostas no Português. São Paulo: Tese de doutoramento. FFLCH-USP, 1982.
KOCH, Ingedore G. Villaça. “A articulação entre orações no texto”. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos (28). Campinas, IEL/UNICAMP, 1995, pp.9-18.
LEHMANN, Christian. “Towards a typology of clause linkage”. In: HAIMAN, John & THOMPSON, Sandra A (ed.). Clause Combining in Grammar and Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp.181-225, 1988.
LEHMANN, Christian. “Grammaticalization and related
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
138
changes in contemporary german”. IN: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B.(eds.) Approaches to Grammaticalization .Volume II: Focus on Types of Grammatical Markers. Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, 493-535.
LICHTENBERK, Frantisek. “On the gradualness of grammaticalization”. In: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B.(eds.) Approaches to Grammaticalization. Volume I: Focus on Theoretical and Methodological Issues. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991,pp. 37-80.
LUFT, Celso Pedro. Gramática Resumida. 8a ed. Porto Alegre, Editora Globo, 1978.
LUFT, Celso Pedro. Manual de Português: Gramática. Porto Alegre/Rio de Janeiro, Editora Globo, volume I, 1981.
LYONS, J. Introdução à Lingüística Teórica. São Paulo, Nacional/ Edusp, 1979.
MANN, William C. & THOMPSON, Sandra A . “Relacional Propositions in Discourse”. In: Discourse Processes (9). Pp.57-90, 1986.
MATSUMOTO, Yo. “From Bound Grammatical Markers to Free Discourse Markers: History of Some Japanese Connectives”. In: AXMAKER, Shelley; JAISSER, Annie; SINGMASTER, Helen (eds.). General Session and Parasession on Grammaticalization. Berkeley Linguistics Society, 1988. (340-351).
MATISOFF, James A . “Areal and Universal Dimensions of Grammatization in Lahu”. In: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B.(eds.) Approaches to Grammaticalization .Volume II: Focus on Types of Grammatical Markers. Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, 383-453.
MATTHIESSEN, Christian & THOMPSON, Sandra A . “The structure of discourse and ‘subordination’. In: HAIMAN, John & THOMPSON, Sandra A. (eds). Clause Combining in Grammar and Discourse. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp. 275-329, 1988.
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 1993.
MIRA MATEUS, Maria Helena; BRITO, Ana Maria; DUARTE, Inês Silva; FARIA, Isabel Hub. Gramática da Língua Portuguesa: elementos para a descrição da estrutura, funcionamento e uso do português actual. Coimbra, Livraria Almedina, 1983.
MITHUN, Marianne. “Role of Motivation in the Emergence of Grammatical Categories: the grammaticization of Subjects”. In: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B.(eds.) Approaches to Grammaticalization .Volume II: Focus on Types of Grammatical Markers. Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, pp. 159-184.
MORAIS, Clóvis Barleta de. “Alguns tipos de orações subordinadas adverbiais”. In: ALFA 18/19. Marília, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de MaríLia, 1972/1973.
MYHILL, John. “The grammaticalization of auxiliaries: Spanish clitic climbing”. In: AXMAKER, Shelley; JAISSER, Annie; SINGMASTER, Helen (eds.). General Session and Parasession on Grammaticalization. Berkeley Linguistics Society, 198, pp.352-363.
NEVES, Maria Helena Moura. “A questão da ordem na gramática
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
139
tradicional”.In: CASTILHO, Ataliba Teixeira de (org.). Gramática do Português Falado. Volume I: A Ordem. Campinas, Editora da Unicamp/Fapesp, páginas 185-316, 1990.
NEVES, Maria Helena Moura. “Uma visão geral da Gramática Funcional”. In: ALFA: Revista de Lingüística (38). São Paulo, Unesp, 1994, pp.109-127.
NEVES, Maria Helena Moura. “A gramática funcional”. In: Boletim da Abralin (15). Salvador, 1994a, pp.67-73.
NEVES, Maria Helena Moura. “A gramaticalização e a articulação de orações”. In: XXVII Anais de Seminários do GEL, São José do Rio Preto, 1998, pp.46-56
NEVES, Maria Helena Moura. A Gramática Funcional. São Paulo, Martins Fontes, 1997.
NEVES, Maria Helena Moura & BRAGA, Maria Luiza. Hipotaxe e Gramaticalização: uma análise das construções de tempo e de condição. (no prelo).
OLIVEIRA E SILVA, Giselle Machline de & SCHERRE, Maria Marta Pereira. Padrões Sociolingüísticos: análise de fenômenos variáveis do Português Falado na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
PAIVA, Maria Conceição de. “Da Parataxe à Hipotaxe: uma trajetória do português de contato”. In: XXVII Anais de Seminários do GEL, São José do Rio Preto, 1998, pp.57-63.
PAREDES DA SILVA, Vera Lúcia. Cartas cariocas: a variação do sujeito na escrita informal. Rio de Janeiro, Tese de doutorado, UFRJ. ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua
Portuguesa. 2a ed. Rio de Janeiro, F. Briguiet & Cia. Ed., 1958. ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua
Portuguesa. 7a ed. Rio de Janeiro, F.Briguiet & Cia. Ed., 1962. RODRIGUES, Angela C. de Souza; CAMPOS, Odette G.L.A.S.;
GALEMBEK, Paulo de T. & TRAVAGLIA, Luís C. “Formas de pretérito perfeito e imperfeito do indicativo no plano textual-discursivo”. In: KOCH, Ingedore G. Villaça. Gramática do Português Falado. Volume VI: Desenvolvimentos. São Paulo/Campinas: Fapesp/Editora da Unicamp, 1996, pp.415-462.
SAID ALI, Manuel. Gramática Secundária e Gramática Histórica da Língua Portuguesa. 3a ed. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1964.
SAID ALI, Manuel. Gramática Histórica da Língua Portuguesa.7a ed. Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica/Edições Melhoramentos, 1971.
SCHERRE, Maria Marta Pereira. Reanálise da Concordância Nominal em Português. Rio de Janeiro, Tese de doutoramento UFRJ, 1988. SOUZA, Maria Suely Crocci de. A hipotaxe adverbial temporal: uma
abordagem funcionalista. Tese de doutoramento. São Paulo: Unesp/Araraquara, 1996.
SWEETSER, Eve. From etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
THOMPSON, Sandra A . “ ‘Subordination’ in formal and informal
Gramaticalização da Combinação de Cláusulas: Orações de Tempo no Português do Brasil
140
discourse”. In: SCHIFFRIN, Deborah (ed.) .Meaning, form and use in Context: Linguistic Applications. Washington D.C., Georgetown University Press, 1984, pp.85-94.
TRAUGOTT, Elizabeth Closs & HEINE, Bernd. “Introduction”. In: Approaches to Grammaticalization. Volume I e II. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991.p.1-14.
TRAUGOTT, Elizabeth Closs & KÖNIG, Ekkehard. “The Semantics- Pragmatics of Grammaticalization Revisited”. In: TRAUGOTT, E.C. & HEINE, B.(eds.). Approaches to Grammaticalization. Volume I: Focus on Theoretical and Methodological Issues. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991, pp. 189-218.





























































































































































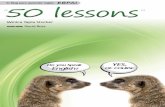
![The Grammaticalization of Antipassives [term paper]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318b1d6e9c87e0c090fca6f/the-grammaticalization-of-antipassives-term-paper.jpg)


