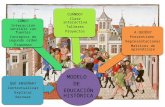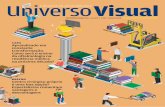Ciência e política - uma abordagem histórica
Transcript of Ciência e política - uma abordagem histórica
A história (política) da Ciência no século XX
Índice:
Introdução ...............................................................................................................................1
Parte I – A História da Ciência sob o Nazismo ......................................................................2
IG Farben: a ciência e a tecnologia à serviço da indústria e da guerra ...................................3
Fritz Haber: o cientista à serviço da guerra ........................................................................... 5
Tecnologia e Extermínio: a engenharia de incineração ..........................................................7
Racismo Científico: as ciências da vida sob o nazismo .............................. ..........................9
A Bomba Atômica e os impasses éticos na física:
1. O nascimento da física nuclear ............................................................................12
2. Da ciência pura à ciência aplicada .......................................................................16
Parte II – “Estado Nacional-Socialista” e “Estado Intervencionista” ...................................18
Parte III – A Ciência após 1945
Introdução .............................................................................................................................24
Globalização e Neoliberalismo .............................................................................................27
As novas tecnologia e impacto no meio ambiente: biotecnologia e engenharia genética ... 31
Considerações Finais: O Século XXI: “a ciência de novo em guerra” ................................ 34
Bibliografia ...........................................................................................................................38
1
Introdução
Neste trabalho iremos tratar do tema da ciência no século XX. Dentre as múltiplas
abordagens que um estudo com este tema possibilita, estaremos interessados em apresentar
a história da ciência tal como ela se desenvolveu sob o regime de Hitler para, então, propor
algumas reflexões sobre o papel da ciência nos dias de hoje.
A motivação para este trabalho nasceu da percepção de que há na ciência (sobretudo
nas ciência naturais) certas características que se mantém tanto sob o regime de Hitler
quanto em seu posterior desenvolvimento ao longo do século. A questão que permeia este
trabalho e que tentaremos, dentro do possível, levantar alguns pontos para refletirmos, é a
seguinte: “existem margens nítidas entre onde começa e onde termina a ciência nazista?”
(Corwell: 385). Um primeiro passo importante é especificar o modo como se relacionam
ciência e fascismo alemão e, para isso, utilizaremos uma bibliografia específica sobre a
ciência sob o fascismo (Os Cientistas de Hitler de J. Corwell e O Presente de Hitler de J.
Medawar e D. Pyke).
Num segundo momento trataremos de analisar as semelhanças e diferenças em
relação ao desenvolvimento da ciência após a Segunda Guerra Mundial. O fato marcante
deste período é, entre outros, o desenvolvimento da bomba atômica pelos cientistas, que
explodiu em 6 de agosto de 1945 em Hiroxima e em 9 de agosto de 1945 em Nagasáqui: ele
impõe a necessidade de pensar uma ética na ciência e de questionar a tese da “neutralidade
científica”.
Hobsbawm sintetiza os novos dilemas da ciência no século XX na afirmação
seguinte:
2
“Nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais nem mais
dependente delas do que o século XX. Contudo, nenhum período, desde a retratação de Galileu, se
sentiu menos à vontade com elas. Este é o paradoxo que tem de enfrentar o historiador do século."
(Hobsbawm, A Era dos Extremos, 1995: 504)
Parte I – A História da Ciência sob o Nazismo
A primeira vez em que a ciência e os cientistas foram postos a serviço de um
governo foi durante a Revolução Francesa; por exemplo, quando o geometra e engenheiro
Lazare Carnot foi posto à frente dos esforços de guerra jacobino, o matemático e físico
Monge se tornou Ministro da Marinha e o químico e economista Lavoisier preparou a
primeira estimativa da renda nacional francesa (Hobsbawm, A Era das Revoluções, 2003:
385). Mas foi sob o regime nacional-socialista alemão que as relações entre o governo
(ideologia) e a ciência se estreitaram – e esta relação se deu de uma forma complexa.
A Alemanha entrou no século XX como a mais poderosa nação da Europa. Liderada
por Bismarck, para quem a força militar deveria estar aliada à eficiência industrial e
econômica, o governo estimulou o desenvolvimento industrial combinado à pesquisa: as
empresas alemãs foram pioneiras no estabelecimento de departamentos e laboratórios de
pesquisas ao lado de suas fábricas, padrão esse que seria adotado mais tarde pelos Estado
Unidos. Essa aproximação de ciência e indústria resultou em enormes benefícios para o
crescimento industrial da Alemanha. A química estava a frente na aplicação da pesquisa à
produção industrial, contribuindo para o enriquecimento da indústria e o reforço do poderio
militar.
O alto status que a ciência adquiriu na Alemanha é simbolizado pela criação da
“Sociedade Kaiser Guilherme” para pesquisas químicas, físico-químicas, físicas e médicas,
pelo imperador alemão Guilherme II, em 1910. Por volta de 1920 vários outros “Institutos”
3
se espalharam de Berlim para outras partes da Alemanha e, após a Primeira Guerra, foram
rebatizados com o nome “Institutos Max Planck” (Medawar & Pyke, O Presente de Hitler,
2003: 25-7).
Esses Institutos recebiam financiamento não só do Estado, mas também da
filantropia privada, o que representa o vínculo entre a ciência e a indústria que, mais tarde,
seria uma característica da ciência nas sociedade ocidentais capitalistas. Esse vinculo se
torna ainda mais visível se nos voltarmos para a história do surgimento do primeiro grande
conglomerado industrial da Alemanha, a IG Farben.
IG Farben: a ciência e a tecnologia à serviço da indústria e da guerra
A IG Farben surgiu durante o Terceiro Reich como “uma das multinacionais mais
formidáveis e uma das mais corruptas do mundo” (Corwell, Os Cientistas de Hitler, 2003:
56). A empresa nasceu por iniciativa de Carl Duisberg, principal executivo na Bayer, que
estava na competição para ser o primeiro na produção e exploração da amônia artificial. A
amônia é um componente essencial para a produção de fertilizantes e explosivos, tendo sido
produzida em laboratório pela primeira vez em 1909 por Fritz Haber, um importante e
polêmico químico do século XX.
A inspiração de Duisberg para formar um cartel das principais empresas químicas
alemãs foi motivada por uma viajem que ele fez aos Estados Unidos, em 1903, onde
pretendia implantar uma filial de sua empresa. Lá ele estudou o principal movimento de
formação de trustes (cooperação para vencer a concorrência), o da Standart Oil, que
florescia apesar da Lei Sherman Antitruste de 1890.
Duisberg negociou uma fórmula que juntava as “Seis Grandes” do setor químico:
Bayer, BASF, Agfa, Hoechst, Cassella e Kalle – IG significa “comunidade de interesses”
4
em alemão (Interessengemeinschaft). O objetivo era reduzir a concorrência e estabelecer
um meio de partilha dos lucros. Cada empresa mantinha sua identidade independente,
sendo livre para criar e pesquisar produtos próprios (por exemplo: a Agfa especializou-se
em material fotográfico e a Bayer e Hoechst em produtos farmacêuticos).
Durante o nacional-socialista as empresas da IG Farben tiveram uma relação
estreita com a política do fascismo, utilizando trabalho escravo em seus laboratórios
químicos. Ao mesmo tempo em que uma fábrica de borracha sintética (“buna”) era
montada na região de Auschwitz, Himmler, o comandante chefe das forças armadas
alemãs, a SS, sondava a região para a instalação de uma colônia de refugiados.
Devido à escassez de mão-de-obra, as grandes empresas alemães empregaram
operários estrangeiros e trabalhadores escravos dos campos de concentração, o que resultou
numa simbiose entre a força militar da SS e a indústria. A exploração pela IG Farben de
trabalho forçado e escravo em suas fábricas de combustível e borracha sintéticos
aumentaram 30% no fim da guerra e cerca de 300 mil internos de campos de concentração
foram envolvidos no trabalho escravo, dos quais 30 mil morreram por assassinato, maus
trato e devido às condições subumanas de trabalho (Corwell, 2003: 324).
Após a guerra vinte e quatro membros da IG Farben foram denunciados com
acusações que incluíam fazer a guerra, saque e espoliação e, sobretudo, a “escravização e
assassinato em massa”. O julgamento se deu em agosto de 1947, em Nuremberg. Apesar da
declarações e depoimentos que comprovavam os maus tratos e assassinatos em massa dos
prisioneiros pelos funcionários das empresas, a opinião da maioria dos juizes foi de que a
crueldade e desumanidade era responsabilidade do regime do Terceiro Reich e não do
pessoal da Farben. Dos 22 acusados apenas 11 foram condenados com penas de no máximo
8 anos (mas a maioria saiu bem antes de completar a pena).
5
Após a guerra o General Eisenhower determinou que a Farben fosse desmantelada
em empresas separadas, como um meio de privar a empresa da capacidade de fazer a
guerra. Mas a partir de 1949 plano foi frustrado: em vez disso, a empresa se consolidou em
três das antigas grandes companhias – Bayer, BASF e Hoechst. Em 1955 foi dada a
permissão para que os donos das ações das empresas fossem anônimos e os antigos donos
da IG Farben voltaram a assumir as suas empresas. A fábrica de borracha sintética de
Auschwitz está produzindo até hoje e se tornou a maior fábrica de borracha sintética da
Polônia.
Se em 1915 a BASF já conseguia produzir cinco toneladas de amônia sintética por
dia, em 1916 ela alcançou a produção de quarenta toneladas por dia (na fábrica de amônia
da Oppau, no Reno), a maior parte para fertilizantes. Mas a produção de explosivos a partir
das amônia só ocorreu mais tarde e o cientista químico F. Haber foi uma figura central
neste processo. Sob a orientação de Haber, o “Instituto de Físico-Química Kaiser
Guilherme” passava a colaborar com a indústria, os militares e o governo.
Fritz Haber: o cientista à serviço da guerra
Iremos nos deter por um instante na história deste polêmico cientista químico, uma
vez que ela apresenta os impasses políticos presentes no próprio coração das descobertas
científicas, abalando assim a suposta neutralidade da pesquisa científica.
Segundo J. Corwell ... “a descoberta de Haber foi um poderoso exemplo da idéia de
que a ciência não tinha valores, era neutra e apolítica: o cientista descobria as leis da
natureza e inventava aplicações; o bem e o mal perpetrados por essas aplicações ficavam
na consciência dos outros”. Fritz Haber representa a “capacidade do cientista tomar a
dianteira da guerra, de borrar a distinção entre ciência básica e aplicada” (Corwell, 2003:
6
52). Ele criou os meios tecnológicos para fazer a guerra com gás na Primeira Guerra
Mundial, que matou 13 milhões de soldados.
Haber era de uma família judia que prosperara com a produção de corantes. Com
vinte e quatro anos de idade converteu-se ao luteranismo e abandonou o nome judeu do
meio, Jacob. Durante a Primeira Guerra, Haber pôs seu Instituto à serviço das forças
armadas. À pedido militar ele realizou uma série de descobertas e invenções que
conduziram ao desenvolvimento do gás venenoso como arma de destruição em massa.
Neste período Haber dirigia o “Departamento de Matérias-Primas de Guerra” em Berlim.
Haber defendia as vantagens do cloro como arma de destruição. O gás venenoso foi
produzido numa colaboração entre o seu “Instituto Kaiser Guilherme de Química” e as
empresas IG Farben, afim de aumentar a produção de cloro que era abundante nas fábricas
de corante, entre as quais a BASF, que armazenava o cloro em cilindros de metal. Alguns
químicos morreram nos laboratórios durante as experimentações com o gás tóxico.
Em abril de 1915, a “tropa de gás” comandada por Haber e sua equipe utilizaram o
gás venenoso contra uma divisão argelina do exército francês. Eles estavam munidos de
5.730 cilindros de gás cloro em forma líquida. Em dez minutos os operadores com
mascaras protetoras liberaram todo o conteúdo. Um lençol de 1,5 m de altura de denso gás
verde-amarelado deslocou-se até as fronteiras aliadas. Os soldados foram sufocados e suas
trincheiras tomadas pelo exército alemão.
O uso do gás adiou o fim da Primeira Guerra mas não impediu que os alemães a
perdessem, pois os aliados também passaram a utilizar o gás contra as tropas alemãs. No
fim da guerra, cerca de 22 diferentes agentes tóxicos foram utilizados por ambas as partes,
indo de irritantes pulmonares e epidérmicos a produtos químicos que envenenavam o
sangue.
7
Após o fim da Primeira Guerra, Haber passou a ser visto como um criminoso de
guerra, mas isso não impediu que ele continuasse a prosperar nas suas pesquisas e a ser
reconhecido por tal. Em 1918 ele recebeu o prêmio Nobel pela descoberta da amônia e
continuou a desenvolver suas pesquisas com gás, apesar das restrições do Tratado de
Versalhes. Ele envolveu-se em algumas importantes operações da guerra química: uso do
gás venenoso pelo exército espanhol para sufocar a revolta de Abd el Krim em Marrocos,
um acordo secreto com os soviéticos para produzi o gás, o estabelecimento de uma fábrica
de gás perto de Madri, entre outras. Haber também encorajou a criação de ácido cianídrico
(como pesticida e gás letal) que ficaria conhecido como Zyklon B e seria usado como o
principal meio de matar judeus nos campos de concentração.
A grande ironia é que após a subida de Hitler ao poder e o estabelecimento do
Estado nacional-socialista, Haber foi condenado por ser judeu e expulso da Alemanha,
apesar de suas demonstrações de entusiástico patriotismo durante a Primeira Guerra. Ele se
exilou em Cambridge, na Inglaterra, e morreu na Suíça em 1934, ao sessenta e cinco anos.
Tecnologia de Extermínio: a engenharia de incineração
Outro episódio que representa a relação estreita entre a política do regime fascista
alemão, a indústria e o progresso tecnológico é o grande desenvolvimento das tecnologias
de incineração a partir de 1942, que alcançou níveis de “produtividade” sem precedentes –
a engenhosidade e habilidade técnicas, planejamento e organização cuidadosas e o impulso
para a recompensa financeira individual e empresarial combinaram-se para tornar possível
a rapidez no extermínio em massa de pessoas (Corwell, 2003: 306).
Como resultado da queda do muro de Berlim vieram a tona novos e importantes
documentos que foram reunidos pelos historiadores Jean Claude Pressac e Robert-Jan Van
8
Pelt no ensaio “A Maquinaria de Assassinato em Massa em Auschwitz” (In Anatomy of the
Auschwitz Death Camp, Bloomingtn, 1994, apud. Corwell: 2003). Neste ensaio eles
relatam como a criação do maior crematório da Alemanha fascista em Auschwitz-Birkenau
representa um exemplo medonho do “progresso tecnológico” no Terceiro Reich.
Com a crescente demanda de crematórios pelo governo nacional-socialista, os
engenheiros alemães projetaram um novo sistema de tecnologia de cremação empregando
ar comprimido que, além de mais econômico, era também mais rápido e eficiente. Em 1939
surge um novo modelo utilitário, alimentado à óleo e móvel, produzido pelo engenheiro
Prüfer das empresas “Topf e Filhos”. Este novo modelo mais eficiente incinerava dois
corpos por hora ao invés de apenas um. Estimulados pela grande demanda e pela
concorrência, as empresas Topf reprojetaram um novo modelo para Auschwitz.
Em março de 1941, Himmler tomou a decisão de expandir o campo de Auschwitz
aumentando para 30 mil o número de prisioneiros, assim como de criar um campo em
Birkenau para mais 100 mil prisioneiros. Com esses “recursos humanos” ele forneceria
mais 10 mil trabalhadores escravos para a IG Farben. E, devido a mais essa necessidade de
aumentar a capacidade de incineração, o engenheiro Prüfer projetou um crematório com
capacidade para “despachar” 60 corpos por hora. Os novos crematórios foram necessários
porque eles passaram utilizar em Auschwitz-Birkenau um novo método de assassinato em
massa, mais “eficiente” e mais “produtivo”, o pesticida Zyklon B.
A medida em que aumentava a capacidade dos crematórios também aumentava a
necessidade de especialização: 11 subempreiteros de engenharia trabalharam na construção
dos crematórios e um grande números de engenheiros se envolveu na construção e nos
projetos das fornalhas e das torres de ventilação.
9
Após o fim da Guerra em 1945, Prüfer foi preso pelos americanos e seu patrão, L.
Topf, suicidou-se. No entanto, Prüfer logo foi libertado e, pouco antes de deixar a prisão,
ele conseguiu uma grande encomenda de fornalhas para as forças armadas americanas
(Corwell, 2003: 309).
“Racismo Científico”: as ciências da vida sob o nazismo
O aspecto único e distintivo da ciência nazista é a tentativa de oferecer uma base
científica para a “higiene racial”. O tipo de anti-semitismo surgido na Alemanha após a
Primeira Guerra diferencia-se dos demais pela sua “justificação científica”, o que abalou a
tradicional separação entre ciência e valores, assim como tornou questionável a suposta
neutralidade da ciência e da pesquisa cientifica. O vínculo entre a ciência e o racismo
alcançou, sob Hitler, a sua maior expressão (mas também no stalinismo soviético da
URSS). Segundo Medawar e Pyke, a obsessão de Hitler pelos judeus “...não era baseada
em preconceito religioso nem na inveja à riqueza ou ao sucesso judaico, que tinham
alimentado anteriormente as ondas de anti-semitismo na Rússia e na Polônia, mas na
raça” (2003: 40).
No século XIX algumas idéias desenvolvidas pela biologia, antropologia, medicina
e pelo estudo das raças foram misturadas com tendências racistas e “eugênicas”1, que se
desenvolveram tanto na direita quanto na esquerda alemã. Estas tendências estão presentes
na história de um concurso de ensaios de biologia, promovido em Berlim por volta de 1900,
por Friedrich “Fritz” Krupp, grande industrial alemão do ramos do aço e de armamentos,
com paixão pela biologia.
1 Eugenia entendida como a ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento da
raça humana.
10
O objetivo do concurso era estimular e premiar biólogos que promovessem uma
equivalência entre a história social e política e a influência e herança biológica, através da
manipulação da teoria da evolução para fins e conclusões políticas. O prêmio foi para
Wilhelm Schallmayer, cuja história indica a direção eugênica da medicina na virada do
século.
Schallmayer era psiquiatra e estava convencido da natureza hereditária das doenças
e distúrbios mentais. Ele reivindicava para a profissão médica o poder de decisão entre a
vida de sãos e insanos, normais e degenerados. Para ele os doentes mentais deveriam ficar
confinados em asilos afim de evitar a reprodução e, com isso, a degeneração da raça. Essa
tendência de políticas eugênicas vinha ganhando força na Europa e nos Estados Unidos na
segunda metade do século XX.
As idéias racistas e anti-semitas alemãs foram profundamente influenciadas pelas
idéias do francês Conde Arthur Gobineau desenvolvidas no livro Ensaio sobre a
Desigualdade das Raças Humanas, de 1855. Ele defendia a tese de que as raças são
inatamente desiguais, tendo a raça branca ariana no topo da hierárquica pirâmide racial. As
teses de Gobineau enfatizam a ciência como método próprio para estabelecer as distinções
entre as populações humanas.
Outro entusiasta da teoria da desigualdade das raças foi H.S. Chamberlain, para
quem a raça ariana alemã era superior às demais, assim como é o fundamento de uma
sociedade avançada. Apoiado na idéia de Darwin de que a evolução do homo sapiens
resulta no aumento do cérebro humano, ele preocupou-se em analisar o tamanho de
cérebros como sinal de progresso social (método conhecido como frenologia, ou seja,
estudo do caráter e das funções intelectuais humanas que se baseia na conformação do
crânio).
11
A teoria da evolução de Darwin, apresentada em Origem das Espécies, de 1859, foi
usada (politicamente) como modo de invocar a seleção natural e a sobrevivência do mais
capaz como base do comportamento humano e das características raciais. Na Alemanha, em
nome do darwinismo, surgiram apelos por um intervenção social que controlasse a seleção
afim de evitar a degeneração de grupos humanos.
As políticas de “higiene racial” inserem-se nesse contexto. O termo foi cunhado
pelo médico alemão Alfred Ploetz e refere-se à tentativa de atingir o processo de seleção
natural dos mais capazes pela manipulação da reprodução humana, incluindo as técnicas de
esterilização e a eutanásia. Em 1895 ele publica sua principal obra, O Vigor na Nossa Raça
e a Proteção dos Fracos e, em 1905, funda a Sociedade de Higiene Racial (exclusiva para
nórdicos a partir de 1909), com o objetivo de investigar “os princípios das condições ideais
para a manutenção e desenvolvimento da raça” (Ploetz apud. Corwell, 2003: 78).
Na promoção da higiene racial três ciências, a antropologia, a medicina e a biologia,
tiveram influentes adeptos. O antropólogo H.F.K. Gunther publicou em 1920 sua obra
Higiene Racial do povo Alemão e, durante o regime de Hitler, conseguiu uma cátedra de
antropologia na Universidade de Jena. Ernest Fischer, médico e zoólogo, foi o criador de
novos métodos em antropologia com seu estudo de órgãos e tecidos de diferentes raças
humanas: ele demonstrou que os músculos faciais dos europeus eram muito mais finos do
que os dos povos papuas, “cujas semelhanças [segundo ele] pareciam muito mais com as de
um macaco”.
Vários entre os biólogos tentaram alinhar a disciplina com a política e a ideologia
nazista. Ernest Lehmann acusava os perigos da degeneração racial – ele foi responsável por
dar respeitabilidade acadêmica às visões ligadas com a política eugênica do nazismo. Suas
12
opiniões ofereceram a base “científica” das esterilizações nazistas para aqueles que sofriam
de males hereditários (como a esquizofrenia, cegueira, etc).
A base “médica” e “científica” da idéia de eliminar os doentes mentais foi
estabelecida nos anos seguintes à Primeira Guerra. Sob o regime de Hitler os médicos,
como grupo, superaram outros profissionais liberais em seu entusiasmo pela filiação ao
Partido Nazista (em contrapartida, foi também entre os médicos, só que judeus, que se deu
o maior número de suicídios). Em Suspendendo os Controles sobre a Destruição da Vida
Indigna de ser Vivida, de 1920, Alfred Hoch deu ao regime nazista a “justificação ética”
para a “eutanásia”. Ele defendia a idéia de que os médicos pudessem dar fim a uma
existência “indigna de ser vivida” por sua própria iniciativa. Hoch insistia em que a
sociedade pudesse eliminar uma vida de fosse um fardo e que demandasse desperdício de
recursos públicos.
13
A Bomba Atômica e os impasses éticos na física
1. O nascimento da física nuclear:
A primeira metade do século XX foi consagrada à novas descobertas e
desenvolvimentos que iriam transformar inteiramente a maneira como a natureza é
observada e compreendida. Se, até a virada do século XX, os cientistas encaravam a
natureza como mais ou menos previsível, determinista e macanicista, momentos decisivos
transformariam as suas certezas nas diversas áreas do conhecimento: na Psicologia, com a
publicação de A Interpretação dos Sonhos de Freud em 1915; na Biologia a ressurreição
das experiências de Mendel na genética; e na física, a obra de Max Planck (Corwell, 2003:
94) – e é na física que as novas descobertas trariam grandes mudanças, o que levou
Hobsbawm a afirmar que ela se tornou “a rainha das ciências” na primeira metade do novo
século XX.
A teoria até então dominante na física era a teoria newtoniana. Ela era tida como
objetiva, podendo se submeter à observação adequada – não era ambígua: a distinção entre
objetos e fenômenos era clara. Suas leis eram universais, igualmente válidas no nível
cósmico e microcósmico. Todo sistema era, em princípio, determinista. Entretanto, essas
características da física foram contestadas a partir de 1895. As bases da teoria newtoniana
foram solapadas pelas teorias de Max Planck e Albert Einstein e pela transformação da
teoria atômica que se seguiu à descoberta da radioatividade na década de 1890.
No final do século XIX, Max Planck vinha trabalhando sobre a natureza da radiação
eletromagnética. Em 1900, propôs uma profunda ruptura com as idéias comuns da física –
ele afirmara que a radiação só existe em múltiplos integrais de minúsculos átomos de
energia, chamados de “quanta”. Ou seja, ele supôs que a luz é emitida não em ondas, mas
em minúsculos “pacotes” de energia. Suas descobertas tiveram grandes e profundas
14
implicações para a física, resultando na “revolução do quantum”. Na verdade, suas hipótese
derivaram de uma série de acontecimentos que marcaram a física do século XIX, como a
descoberta dos raios X, da radioatividade, da decomposição beta e dos espectros, entre
outros.
Em 1905, Einstein publicou a sua “teoria especial da relatividade”: ele empregou a
idéia do quantum de Planck para interpretar o efeito fotoelétrico o que revelou que a luz
comportava-se como um enxame de partículas ou “fótons”. A energia máxima que um
elétron emitia dependia apenas do comprimento da onda da luz e não de sua intensidade,
como previa a física clássica e que fora demonstrado por J. C. Maxwell, para quem a luz se
comportava como uma onda.
A física inicia o século XX com duas teorias consistentes, mas distintas, a física
clássica newtoniana e a física das partículas, e a tentativa de conciliar estas duas tendências
permanece não resolvida. Dentre as muitas questões que estavam postas para a física
podemos citar as seguintes: “era a luz um contínuo movimento de onda ou a emissão de
discretas partículas (fótons), como queria Einstein, seguindo Planck?”; “como podia ser a
luz ao mesmo tempo uma partícula e uma onda?”; “como estas duas teorias da luz se
relacionavam, caso se relacionassem?”; “que era de fato a luz?”; “que se passava dentro do
átomo que agora era visto não como a menor unidade possível, e portanto indivisível, mas
como um complexo sistema que consistia em uma variedade de partículas ainda mais
elementares?” (Hobsbawm, 1995: 517).
No “Primeiro Congresso Solvay Internacional de Física”, realizado em Bruxelas,
em outubro de 1911, Einstein terminou sua conferência com uma declaração que ilustra a
história inicial da teoria quântica:
15
“Todos concordamos que a chamada teoria quântica de hoje, embora um projeto útil, não é
uma teoria no sentido habitual da palavra, de qualquer modo não uma teoria que se possa
desenvolver coerentemente agora. Por outro lado, ficou demonstrado que a mecânica clássica (...)
não pode ser considerada um plano geralmente útil para a representação teórica de todos os
fenômenos físicos” (Einstein apud. Corwell: 2003: p.96-7).
No decorrer da década de 1920, as dualidades que perturbaram a física no primeiro
quarto do século foram abaladas por um brilhante golpe da física matemática, a construção
da “mecânica quântica”. O físico dinamarquês Niels Bohr foi responsável por levar adiante
na década de 1920 a teoria do quantum, para além de Planck e Einstein. Tendo como pano
de fundo o modelo de átomo desenvolvido em 1911 por E. Rutherford (que descobriu que o
átomo é composto de um núcleo central com elétrons em sua órbita), ele aplicou a hipótese
do quantum de Planck ao átomo de hidrogênio (o mais leve de todos e que contém apenas
um elétron), para tentar entender a trajetória do elétron em torno do núcleo. Ele ganhou o
Prêmio Nobel em 1922 por suas descobertas neste campo.
Entretanto, muitas questões permaneciam em aberto. Devido à dificuldade de
observação direta no nível subatômico, a mecânica quântica se dedicou à observação do
que acontece aos átomos quando submetidos à certas influências específicas (luz, calor,
campos elétricos e magnéticos). A nova física seria impulsionada por “sofisticados modelos
matemáticos”, como demonstram os trabalhos de W. Heisenberg (que formulou o
“princípio de incerteza”, segundo o qual a velocidade e a posição de uma partícula
fundamental não podem ser determinadas com precisão).
Umas das grandes descobertas deste período, a fissão nuclear, teve como uma das
figuras centrais uma das raras mulheres cientistas do período, a física Lise Meitner. Como
na Áustria a educação para moças terminava aos quatorze anos, ela teve que lutar muito
16
para receber sua educação científica. Ela foi parceira do químico Otto Hahn para o estudo
da radioatividade no “Instituto Kaiser Guilherme de Química”. Sua história revela as
enormes dificuldades por que passavam as mulheres que queriam seguir uma carreira
científica no período. Ela fora impedida pelo reitor de possuir um cargo efetivo no Instituto,
pois “ele não queria saber de mulheres trabalhando dentro do seu laboratório”. Ela
conseguiu instalar seu laboratório numa área em manutenção no porão do Instituto, com a
condição de que não fosse vista em outras partes do prédio e tendo, inclusive, que utilizar a
toalete em estabelecimentos vizinhos (Corwell, 2003:114).
Todos esses desenvolvimentos na física no início do século conduziram à
possibilidade da construção da maior arma de destruição em massa já produzida. As
obscuras implicações da “física nuclear” seriam conhecidas durante a Segunda Guerra com
a construção da bomba atômica.
A ciência que conduziu às primeiras armas nucleares começou como um problema
da “pesquisa básica”. Alguns dos participantes pareciam ignorar completamente as
implicações do seu trabalho, enquanto outros estavam conscientes dos riscos. É o caso do
físico Leo Szilard – ele foi um dos primeiros a ver a possibilidade de uma “reação em
cadeia” de nêutrons liberar a energia contida dentro dos átomos e a temer as conseqüências
políticas e militares desta descoberta.
2. Da ciência pura à ciência aplicada – a construção da bomba atômica:
Em janeiro de 1939, Niels Bohr anunciou no “V Congresso de Física Teórica” a
notícia da descoberta da fissão nuclear, causando grande agitação na comunidade
acadêmica. Szilard ficou atordoado pois ele tinha consciência da possibilidade da
construção da bomba e temia que os alemães nazista também tivessem. Ele tentou por todos
17
os meios fazer com que os cientistas mantivessem sigilo sobre suas descobertas e impedir
publicações sobre o assunto, com medo de que os alemães tivessem acesso a elas – mas foi
em vão. Os jornais americanos publicaram na primeira página a notícia: “físicos discutem
aqui se experimentos explodirão duas milhas de paisagens” (Washington Post) e “uma
minúscula quantidade de urânio seria suficiente para destruir toda a cidade de Nova York”
(New York Times) (Medawar e Pyke, 2003: 249).
Leo Szilard estava alarmado com os perigos eminentes e, junto com Wigner, decide
pedir conselhos a Einstein, que se destacara como um importante pacifista entre os físicos
pouco depois da Primeira Guerra, quando o anti-semitismo começava a se infiltrar nas
universidades e na vida acadêmica.
Em 4 de outubro de 1914, noventa e dois cientistas alemães, entre eles F. Haber,
publicaram o “Manifesto de Fulda”, um documento nacionalista que repudiava a
responsabilidade alemã pela Primeira Guerra, defendia a invasão da Bélgica, negava
supostas atrocidades, insistia em que a cultura e o militarismo eram uma coisa só e que a
“ciência alemã” deveria estar a serviço da guerra. Em contrapartida Einstein, que se
recusou a assinar o documento, assinou um “contramanifesto”, lançado no mesmo mês pelo
médico berlinense G. F. Nicolai, que buscava promover a paz e o internacionalismo.
Einstein tentou fazer de tudo para desvincular a ciências das atrocidades da guerra,
promovendo o pacifismo e o internacionalismo. Ele foi acusado de fazer “ciência judia” e
sua teoria da relatividade foi recusada durante o período em que as universidades estiveram
nas mãos dos nazistas. Criou-se nas universidades alemãs um movimento anti-semita e
anti-relativista, no qual se destacavam os físicos Philipp Lenard e Johannes Stark. Eles
opunham a falsa ciência da “física judia” à autêntica ciência da Deutsch Physik.
18
O encontro de Szilard e Einstein resultou em uma carta que foi enviada ao
presidente americano Roosevelt em 2 de agosto de 1939, advertindo do perigo eminente de
construção de uma bomba atômica. O texto começava assim:
“Alguns trabalhos recentes de E. Fermi e L. Szilard, que me foram comunicados por
escrito, levam-me a presumir que o elemento urânio pode ser transformado em nova e importante
fonte de energia no futuro imediato. Certos aspectos da situação que surgiu parecem exigir
vigilância e, se necessário, rápida ação por parte do governo. Creio portanto que é meu dever
levar à sua atenção os seguintes fatos e recomendações” (Einstein apud. Medawar e Pyke, 2003:
250).
Como primeiro resultado da carta, Roosevelt criou o “Comitê Consultivo sobre
Urânio”. Poucos anos depois foi organizado um departamento do exército americano para
agenciamento e construção de uma usina, com o quartel general estabelecido inicialmente
em Nova York, de onde o nome “Distrito de Engenharia de Manhattan” ou, “Projeto
Manhattan”.
O Projeto Manhattan contou com a colaboração e incentivo de cientistas emigrados,
como Otto Frish e Rudolf Peierls. Eles escreveram o primeiro documento detalhado sobre a
construção e as conseqüências da bomba atômica, o “Memorando Frish-Peierls”, o que
provocou a formação do Comitê MAUD, um órgão britânico reunido para estudar o
desenvolvimento da bomba e que chegou à conclusão de que era perfeitamente possível
construí-la. A partir daí o criador do Projeto Manhattan, Vannevar Bush, pôs em andamento
a construção da primeira bomba atômica americana.
19
Parte II – A Ciência após 1945
A partir deste momento retomamos a questão de Corwell, que nos guiará nesta
exposição: “tem-se os cientistas comportado melhor desde a queda do Terceiro Reich?
Existem margens nítidas entre onde começa e termina a ciência nazista?” (Corwell, 2003:
385). A “neutralidade” da ciência é posta em questão a partir do momento em que ela
revela que também pode ser motivada pelas paixões e pelos interesses econômicos e
políticos.
A Segunda Guerra trouxe grandes mudanças na condução da ciência e da tecnologia
que se tornaram permanentes no pós guerra. As experiências com “cobaias humanas”
ocorreram tanto durante quanto depois do domínio nazista, não sendo uma característica
única da ciência sob o nazismo. Durante a guerra os japoneses tiveram uma rede de campos
nos países ocupados do extremo oriente, onde equipes de pesquisadores faziam
experiências que envolviam patógenos letais e venenos químicos em seres humanas. O
trabalho escravo foi característica também da União Soviética quando construiu o Canal
mar “Branco-Báltico” com mão-de-obra escrava dos culaques, com custo de 150 mil vidas
(Corwell, 2003: 384).
Durante a Segunda Guerra, a situação da ciência nos Estados Unidos era bastante
parecida com a sua situação sob os regimes autoritários, sobretudo no que se refere ao
controle da ciência pelo Estado. Nesse período, o “Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento Científicos” dos Estados Unidos, sob a chefia de Vannevar Bush,
encomendou mais de 2 mil pesquisas. Os projetos envolviam unidades de pesquisa e
indústrias: as empresas como a Du Pont e a General Eletric empregaram milhares de
cientistas e técnicos dos laboratórios universitários MIT e Caltech..
20
A proposta de V. Bush era de que o Estado financiasse a ciência. Em 1944, o então
presidente Roosevelt o encarregou de escrever uma proposta sobre o futuro da ciência e da
tecnologia. Por ocasião do seu falecimento, o texto foi entregue ao presidente Truman,
intitulado “Ciência, a Interminável Fronteira” (julho de 1945). Ele propunha um novo
relacionamento entre o governo e o patrocínio da ciência, a ser dirigido pelo órgão
“Fundação Nacional de Pesquisa”. Esse órgão trabalharia para o interesse do poder militar
americano, mas também para “a prosperidade econômica e o florescimento intelectual e
cultural”.
O financiamento do Estado para pesquisas científicas também trouxe progressos;
por exemplo, na física das partículas, na astrofísica, na astronomia, na exploração espacial e
nos trabalhos em biologia molecular que se beneficiaram da biofísica. A expansão da
biologia para a medicina teve grandes contribuições dos trabalhos com radioatividade,
radio, radar, microscópio eletrônico, técnicas supersônicas e quimioterapia.
Nos campos da biologia e da medicina também podemos perceber em que medida
alguns métodos da ciência nazista não se limitaram à Alemanha nacional-socialista. Entre
1932 e 1972, os Estados Unidos realizaram experiências com a Sífilis de Tuskegee que
envolveu a decisão de não tratar 400 afro-americanos que sofriam da doença no período,
afim de observar o curso da doença2. Entre 1950 e 1969 o governo realizou testes que
envolviam agentes químicos e biológicos, materiais e drogas radioativas em internos de
prisões, doentes mentais e pessoas das forças armadas3. Na década de 50 a Grã-Bretanha
realizou testes nucleares em ilhas australianas, onde pessoal militar foi exposto à explosão
2 Fonte: Encyclopaedia Britannica; Center for Diseai Control and Prevetion; The Associated Press (apud.
Corwell: 2003: p. 388). 3 Fonte: Willian Blum, Rogue State: a Guide to the World’s Only Superpower, Londres, 2002 (apud. Corwell:
2003: p. 388).
21
para que observassem os efeitos da radiação. Também a URSS fez experiência em
prisioneiros e oficiais sobre o efeito da radiação em 1962, nas ilhas Wrangel, além de se
envolverem em experiências para determinar os efeitos da submersão prolongada em
grandes profundidades4.
Globalização e Neoliberalismo
A partir da década de 1970 começou a se desenhar um novo panorama no contexto
histórico mundial, conhecido como “era da globalização”. Ao abandonarem o padrão-ouro
como base do mecanismo de sustentação cambial, os Estados Unidos provocaram um efeito
de liberalização dos controles cambiais que logo se difundiu para as demais economias
desenvolvidas. Estas medidas geraram novos fluxos de capital que, livres do controle e
restrições dos Bancos Centrais, se voltaram para novas oportunidades de investimento no
mercado mundial. Os grandes beneficiários deste processo foram os capitais financeiros e
as empresas transnacionais (Sevcenko, 2001: 26-7).
A grande maioria dessas empresas beneficiadas já existiam desde o final no século
XIX, entre as quais estão as casas bancárias Rothschild e as companhias petrolíferas
(ibdem: 27). Elas já atuavam pelo mundo todo mas, com as mediadas de liberalização dos
anos 70, elas se difundiram sistematicamente por todo o mundo.
Neste novo contexto da década de 70 duas características se destacam: os Estados e
sociedades se tornaram reféns dos poderosos conglomerados multinacionais e a
liberalização de fluxo de capitais provocou a separação entre as práticas financeiras e os
empreendimentos econômicos, impulsionado pela revolução na microeletrônica.
4 Fonte: W. A. Veenhoven et al, Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms: A World Survey,
vol. I, Haia, 1975, p. 31 (apud. Corwell: 2003: p. 388).
22
As mudanças na base tecnológica e na organização dos negócios não teve qualquer
mecanismo de controle, fiscalizações, debates ou avaliações – tudo se passou como se os
órgãos políticos e as instâncias decisórias não existissem. O poder de ação que as grandes
corporações adquiriram fez com que seus interesses prevalecessem sobre os dos sistemas
políticos e que seu poder econômico escapasse aos limites institucionais históricos.
Paralelamente ao processo de globalização, ocorre o fim do Estado de bem-estar.
Até os anos 70, os Estados nacionais controlavam a economia e as grandes corporações,
impondo um sistema de taxação que possibilitava a construção do “Estado de bem-estar
social”. A partir deste momento, com as novas medidas adotadas pelas economias
desenvolvidas e lideradas pelos EUA, as sociedade e os Estados perderam o controle sobre
as grandes corporações. (Sevcenko, 2001: 30-1).
As grandes empresas adquiriram enorme poder de mobilidade, redução da mão-de-
obra (proporcionada também pelos desenvolvimentos tecnológicos) e uma grande
capacidade de negociação, podendo deslocar-se para qualquer lugar onde os salários e os
impostos são menores e onde haja maiores incentivos, pondo os Estados e as sociedades
sob seu poder: “o tripé que sustentava a sociedade democrática moderna foi quebrado”
(Sevcenko, 2001: 31). Agora, as grandes empresas podem fazer com que os Estados ajam
contra a sociedade, submetendo ambos aos seus interesses. Segundo o historiador
Sevcenko, estamos vivemos num “capitalismo sem trabalhadores, sem Estados e sem
impostos” (2001: 32).
O processo de desmontagem do Estado de bem-estar ganhou impulso ao longo dos
anos 80 com a aliança entre o então presidente dos EUA, Ronald Reagan, e a primeira-
ministra da Grã-Bretanha Margaret Thatcher, que efetuaram a consolidação da agenda
23
conservadora a abriram caminho para o neoliberalismo. A singularidade dessa aliança
“Reagan-Thatcher” é o deslocamento dos conteúdos doutrinários da esfera religiosa para a
política, num elogio da tradição puritana e da cultura anglo-saxã. O resultado foi um
capitalismo misturado à idéia de uma missão de liderança civilizadora atribuída pela
providência aos povos anglo-saxões.
Durante o processo de implantação do projeto neoliberal, duas instituições se
tornaram instrumentos decisivos nas mãos das economias desenvolvidas: o “Fundo
Econômico Mundial” (FMI) e o “Banco Mundial”. Criados em 1944 para financiar a
reconstrução dos países arrasados pela guerra e apoiar as nações em processo de
desenvolvimento, essas instituições ajudaram efetivamente apenas os países da Europa e o
Japão, mas levaram os países do Terceiro Mundo a um “endividamento sem fim”. Essas
duas instituições são centrais na implantação/imposição do tratado de “Livre Comércio”
aos países em desenvolvimento – que é, na verdade, um arranjo assimétrico que combina
liberalização e protecionismo a favor dos interesses econômicos ocidentais.
O período dos anos 70 e 80 foi marcado pela crise do petróleo, que deixou os países
do Terceiro Mundo ainda mais debilitados. O FMI e o Banco Mundial exigiram que estes
países subdesenvolvidos realizassem uma série de “reajustes estruturais” em troca de ajuda
– desregulamentação da economia e das finanças, derrubada das barreiras alfandegárias e
comerciais, drástica redução dos gastos públicos e serviços sociais, privatização das
empresas estatais, eliminação das garantias trabalhistas e enfraquecimento dos sindicatos
(Sevcenko, 2001: 53). Essas medidas fizeram com que os recursos e mecanismos de
decisão das ex-colônias retornassem às metrópoles colonizadoras.
Alguns autores chamam esta nova forma de dominação que se estabeleceu a partir
dos anos 70 com as políticas de reajuste estrutural impostas pelo FMI e BM e, mais ainda, a
24
partir de 1994 com o “Acordo Norte Americano de Livre Comércio” e todas as medidas
que lhe seguem , de um “retorno do colonialismo” (apud. Sevcenko, 2001: 94), ou então de
“a segunda chegada de Colombo” (apud. Vandana Shiva, Biopirataria: a pilhagem da
natureza e do conhecimento, 2001: 27):
“Quinhentos anos depois de Colombo, uma versão secular do mesmo projeto de
colonização está em andamento por maio das patentes e dos direitos de propriedade intelectual.
(...) O princípio de ocupação efetiva pelos príncipes cristãos foi substituído pela ocupação efetiva
das empresas transnacionais. A vacância das terras foi substituída pela vacância das formas de
vida e espécies, modificadas pelas novas biotecnologias. O dever de incorporar selvagens ao
cristianismo foi substituído pelo dever de incorporar economias locais e nacionais ao mercado
global, e incorporar os sistemas não ocidentais de conhecimento ao reducionismo da ciência e da
tecnologia mercantilizadas do mundo ocidental” (Shiva, 2001: 24)
As duas principais conseqüências do “livre comércio” são (1) a grande expansão da
liberdade e dos poderes das multinacionais para comercializar e investir em outros países e
(2) a redução significativa dos governos nacionais. As multinacionais ganharam novos
direitos e abandonaram as antigas obrigações de proteção dos direitos dos trabalhadores e
do meio ambiente (Shiva, 2001: 140). Ironicamente, no centro do sistema de livre comércio
está a imposição dos monopólios e dos produtos geneticamente modificados, como é o caso
da soja.
A introdução das monoculturas destrói toda a tradição agrícola local, levando à
desestruturação das práticas culturais das sociedades, que precisaram de anos para
selecionar naturalmente as espécies de sementes mais resistentes e seus métodos de plantio.
As grandes empresas multinacionais que impõem as monoculturas, possuem a patente das
sementes – isto impede que os produtores possam guardar as sementes para a próxima
25
safra, pois eles têm que comprá-las de novo, criando uma dependência total dessas
empresas. Alem disso, elas impõem às pessoas um sistema agrícola que ameaça o meio
ambiente e a saúde humana (Shiva, 2001: 62). Nesse contexto, novas questões estão postas
para a ciência que se torna cada vez mais subordinada aos interesses de lucro das grandes
corporações transnacionais.
As novas tecnologia e seu impacto no meio ambiente
Pouco se sabe sobre o impacto a longo prazo das novas tecnologias sobre o meio
ambiente a sobre as várias espécies vivas do planeta. Um dos maiores perigos tem sido a
enorme gama de produtos químicos sintéticos lançados no meio ambiente, entre os quais os
pesticidas. A bióloga Theo Colborn avalia com seu grupo de pesquisa os impactos dessa
tendência e a afirma:
“As alterações que estamos observando funcionam como uma espécie de experiência em
âmbito global – com a natureza e todas as formas de vida da Terra atuando como cobais ... Novas
tecnologia são concebidas numa velocidade estonteante e postas em prática numa escala sem
precedentes no mundo inteiro, muito antes de podermos avaliar o possível impacto sobre os
sistemas naturais ou sobre nós mesmos.” (Colborn apud. Sevcenko, 2001: 100)5.
Esses estudos evidenciam o novo dilema posto para os recentes desenvolvimentos
científicos e tecnológicos – a criação de uma “ciência responsável”. O maior obstáculo à
sua constituição são as grandes corporações, pois elas se tornaram o principal indutor de
políticas da ciência e da tecnologia, dados os crescentes cortes de financiamento para as
universidades e instituições de pesquisa, que passaram a buscar seus recursos junto às
26
grandes empresas que têm como prioridade apenas a valorização de seus lucros e não o
impacto que estas novas tecnologia podem causar em vidas ou no meio ambiente.
Um exemplo do descaso das empresas com as conseqüências de seus produtos é a
história do geneticista britânico Arpad Pusztai. Ele foi forçado a se aposentar em julho de
1998 por ter encontrado evidências de que a os alimentos com batata geneticamente
modificadas (GM) causam danos em órgão vitais. Mas somente depois de muitos outros
cientistas provarem que ele estava certo é que o governo britânico mudou a sua posição
favorável aos alimentos GM e suspendeu a sua comercialização (Sevcenko, 2001: 102).
A introdução de produtos no mercado sem uma comprovação de seu impacto
lembra as experiências com seres humanos realizadas durante a Segunda Guerra. O fato de
as industrias não informarem aos seus consumidores os riscos de seus produtos tem levado
cientistas a se mobilizarem: Raquel Carson em seu livro de 1962 Primavera Silenciosa,
expõe os riscos dos pesticidas para a saúde do meio ambiente e para a vida, assim como
Ralph Nader denunciou as prioridades de lucro sobre a segurança na indústria
automobilística (Corwell, 2003: 389).
A necessidade de controle ético na ciência também foi reconhecido por um dos
formuladores do Projeto Genoma Humano, James Watson, quando surgiram, em 1992, os
primeiros sinais de futuros problemas políticos e éticos. Watson opôs-se à decisão de
patentear um conjunto de genes cerebrais e renunciou à sua participação no projeto. No
mesmo ano, Bernardine Healey, diretora do Instituto, patenteou quase 3 mil fragmentos de
DNA. A insatisfação de Watson não estava só relacionada à questão das patentes, mas da
5 D. Dumanoski e J. Mayers, Our Stolen Future: Are we Theatening our Fertitity, Intelligence and Survival?
A Scientific Dective Story, Londres, Brown, 1996 (apud. Sevcenko, 2001: 100).
27
sua convicção de que tais questões devem envolver as opiniões dos cientistas e não apenas
de políticos, burocratas e comerciantes.
Nos últimos anos estão surgindo movimentos no meio acadêmico de repúdio às
patentes. Em abril de 2001 cientistas europeus se opuseram à decisão da empresa americana
“Myriad Genetics” de patentear o gene do câncer de mama: a empresa exigia que os
laboratórios lhe enviassem todas as amostras de testes com o gene, mas dezenas de
geneticistas se opuseram à decisão e continuaram a realizar suas próprias pesquisas6.
A engenharia genética e as patentes de vida são a expressão final da mercantilização
da ciência e da natureza à qual deram início as revoluções científica e industrial (Shiva,
2001: 46). A questão das patentes vai ao núcleo das tensões entre os que vêm a ciência
como livre, objetiva e universalista e os que afirmam que a ciência só pode florescer
quando as descobertas são patenteadas e produzem lucro – este é o discurso das grandes
empresas. Nesse sentido, as patentes são hoje as mais importantes ferramentas de controle
do mercado.
A associação entre a indústria farmacêutica americana e a pesquisa nas ciências
médicas, na biologia molecular, na genética, neurociência e bioquímica, tem posto novas
questões. O mapeamento do Genoma Humano não promete apenas uma compreensão do
funcionamento biológico, mas oferece a perspectiva de manipular a estrutura do ser
humano. Ao lado da retórica da cura de milhares de doenças também está a promessa de
grandes recompensa financeiras para quem explorar comercialmente o novo conhecimento.
Esse processo tem fortes ligações com as idéias “eugênicas” dos anos 30: foi em
nome dessa intenção que grupos racistas alegaram fundamentos científicos para seus
programas de discriminação. Exatamente porque a velha eugenia havia perdido sua
28
validade científica, criou-se espaço para um novo programa que prometia dar fundamentos
sólidos ao estudo da hereditariedade e do comportamento humano:
“O programa de biologia molecular, por meio do estudo de sistemas biológicos e de
análise da estrutura das proteínas, prometeu um caminho mais garantido, embora mais lento,
apara o planejamento social baseado em princípios de seleção eugênica mais firmes” (Shiva, 2001:
52).
“Assim, os superbebês geneticamente programados, alimentados pela superpapinha de
vegetais geneticamente modificados e implantados de nanocircuítos, tornariam realidade o velho
sonho do Dr. Mengele e dos ideólogos do Terceiro Reich: criar uma nova raça de senhores,
destinada a dominar os povos escravos” (Sevcenko, 2003: 103).
Século XXI: “a ciência de novo em guerra”
O ataque terrorista contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 teve um
impacto profundo sobre o modo como o governo americano e outros países ocidentais se
relacionam com a ciência e a tecnologia – praticamente todos os aspectos da ciência se
transformaram numa arma potencial na guerra ao terror.
O presidente George W. Bush supervisionou a mudança de prioridade de volta a
sistemas de defesa e uma nova doutrina de ataques preventivos, incluindo uma nova
geração de “minibombas atômicas” de baixa radioatividade. Um mês após os ataques,
ofereciam-se prêmios para projetos que estudassem “respostas humanas, sociais” ao
terrorismo (Corwell, 2003: 397). Atualmente nos Estados Unidos a ciência básica ainda é
em grande parte moldada e administrada pelo patronato do governo e dos militares.
A Fundação Nacional de Ciência (criada por Vannevar Bush), com seu orçamento
de bilhões de dólares, está à disposição do Pentágono, que administra as pesquisas e
6 Fonte: Sunday Times, 13 de outubro de 2001 (apud. Corwell: 2003: p. 388).
29
direciona a liberação de verbas. A concentração de tal poder sobre a ciência e a tecnologia é
perigosa, exigindo que os cientistas insistam numa crescente crítica da orientação, das
escolhas e distorções das novas armas (Corwell, 2003: 403). Esses acontecimentos recentes
impõem a necessidade e a urgência de uma reflexão sobre as questões ligadas à ciência e à
tecnologia.
“Os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a generalizada militarização e
industrialização da ciência e da tecnologia, a expansão da Grande ciência, os obstáculos à
liberdade de informação, ... o desenvolvimento de armas de destruição em massa solaparam para
sempre a idéia de ciência básica impelida por talento individual, divorciada de consideração de
conseqüências e auspícios sociais e políticos” (Corwell, 2003: 399).
Nesse sentido, observar o que foi a ciência sob regime nacional-socialista alemão é
tentar entender, através da história, as possibilidades de seus diversos usos. N. Sevcenko
expõe, na citação a seguir, os dilemas postos pelos recentes desenvolvimentos da ciência e
da tecnologia:
“Não de trata de condenar pura e simplesmente os cientistas e técnicos por falta de
responsabilidade, mas de entender como funcionam as políticas que controlam as decisões sobre as
pesquisas e os processos produtivos” (Sevcenko, 2001: 100)
Não é mais possível aceitar a idéia de que a ciência é isenta de valores, neutra e
apolítica: essa é uma suposição ingênua – “os cientista não têm poder político mas
tampouco existem num vácuo moral social e político”. Muitos órgãos não governamentais e
alguns cientistas vêem tentando promover medidas para criar uma nova ciência, consciente
de suas implicações políticas e sociais. Uma possibilidade de defesa contra os maus usos da
30
ciência é os cientistas se unirem em grandes e pequenas representações não oficiais:
segundo as palavras do físico que se recusou a participar do projeto de construção da
bomba atômica Joseph Rotblat, os cientistas devem ser “seres humanos primeiro e
cientistas depois” (apud. Corwell, 2003: 403).
Na história vemos muitos casos de cientistas preocupados com os maus usos da
ciência (como os físicos A. Einstein e Leo Szilard, a bióloga Theo Colorn, os geneticistas
Arpad Pusztai e James Watson, entre muitos outros), assim como exemplos de tentativas de
utilização da ciência para fins políticos e econômicos – tanto durante como depois no
fascismo alemão. Os desenvolvimentos do último século devem ser olhados de forma a
possibilitar uma compreensão dos atuais dilemas: neste processo, a ciência e a tecnologia
aparecem como fundamentais nas transformações decisivas que estão ocorrendo na vida
dos seres humanos e do meio ambiente.
“[A História] permite uma compressão mais articulada das circunstâncias por meio das
quais chegamos ao ponto em que estamos e, a partir daí, a possibilidade de uma melhor avaliação
das alternativas que se apresentam e que podemos vislumbrar graças à ampliação da perspectiva
temporal” (Sevcenko, 2001: 55).
Já na década de 1920-30 começam a surgir questionamentos a respeito do papel e da
função da ciência e de sua “neutralidade”. Um dos pensadores que se destacam na
percepção de que a ciência e a tecnologia assumiram uma função nova na sociedade
industrial avançada é Herbert Marcuse: para ele a ciência e a tecnologia se tornaram novas
formas de controle e dominação social – “hoje a dominação eterniza-se e amplia-se não só
mediante a tecnologia, mas como tecnologia” (Marcuse, 1969: 182).
31
Ele foi um dos primeiros teóricos das novas formas de dominação tecnológicas e
políticas da sociedade industrial avançada. Esse é o tema central presente em uma de suas
mais importantes obras O Homem Unidimensional: a ideologia da sociedade industrial
avançada, de 1964:
“Em face das particularidades totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional de
neutralidade da tecnologia não pode mais ser sustentada. A tecnologia não pode, como tal, ser
isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera no
conceito e na elaboração das técnicas” (Marcuse, 1969: 19).
Ao mesmo tempo em que Marcuse realiza a crítica “desta” ciência e “desta”
tecnologia, ele abre a possibilidade de um desenvolvimento alternativo e para a constituição
de uma “nova ciência”. É com uma citação sua que encerramos esse estudo:
“O que eu quero realçar é que a ciência, em virtude de seu próprio método e dos seus
conceitos, projetou e fomentou um universo no qual a dominação da natureza se vinculou com a
dominação dos homens – vínculo que tende a afetar este universo como um todo. (...) Assim, a
hierarquia racional funde-se com a social e, nesta situação, uma mudança na direção do progresso
... influenciaria também a própria estrutura da ciência – o projeto da ciência. Sem perder o seu
caráter racional, as suas hipóteses desenvolver-se-iam num contexto experimental essencialmente
diverso (no de um mundo libertado), a ciência chegaria, por conseguinte, a conceitos sobre a
natureza essencialmente distintos e estabeleceria fatos essencialmente diferentes” (Marcuse apud.
Habermas, 1994: 51).
32
Parte II – “Estado Nacional-Socialista” e “Estado intervencionista”
Faremos a seguir um apanhado das várias teorias e interpretações realizadas por
alguns autores a respeito do modo como se estrutura e se organiza o Estado nacional-
socialista.
A relação do regime de Hitler com a ciência e a tecnologia é contraditória. Se, de
um lado, ele reconhece a importância do progresso da ciência e da tecnologia para os
esforços de guerra e para a aplicação na indústria, de outro, ele recusa a modernidade e o
capitalismo. Na teoria e no discurso fascista alemão há um antimodernismo e um
anticapitalismo de direita, enquanto que na prática ocorre o uso sistemático da tecnologia
para o desenvolvimento econômico e militar alemão – uma crítica do capitalismo, anti-
semita mas não anti-tecnológica.
Jeffrey Herf chama este paradoxo de “modernismo reacionário”: para ele, Tomas
Mann captou a essência deste paradoxo ao escrever: “o aspecto verdadeiramente
característico e perigoso do nacional-socialismo era a mescla que fazia de robusta
modernidade com uma postura positiva rumo ao progresso, associada aos sonhos do
passado: um romantismo altamente tecnológico” (Mann apud. Herf, O Modernismo
reacionário, 1993: 14). Ele também utiliza o termo “revolução dúbia”, de D. Schoenbaum
(Hitler’s Social Revolution, 1967), para quem nacional-socialismo é uma guerra ideológica
contra a sociedade burguesa e industrial, empreendida com meios burgueses e industriais,
num processo de aproximação entre o movimento de massa nazista e o Estado e as elites
culturais.
Em seu livro, Herf apresenta algumas das propostas de interpretação do movimento
e do Estado nacional-socialista, com as quais ele concorda em parte, mas com a ressalva de
que deram pouca importância para o aspecto ideológico do movimento. Neste ponto ele
33
está dialogando mais especificamente com as interpretações marxista do fenômeno do
fascismo que, segundo ele, viam neste nada mais do que uma variante do capitalismo. Para
ele esse tipo de análise, tal como a de Nicos Poulantzas, dá a entender que Hitler foi um
simples instrumento dos capitalistas. Vamos extrapolar a interpretação de Herf para
entendermos um pouco mais a interpretação de tipo marxista sobre nacional-socialismo.
Para Nicos Poulantzas, a maioria dos autores marxistas perceberam a “questão
chave” do fenômeno do fascismo ao entenderem que ele é derivado de uma modificação na
função do Estado no interior do modo capitalista de produção (Fascisme et Dictature,
1974: 17-18). Entretanto, ele adverte que, mais do que isso, o fascismo se situa no estágio
imperialista do capitalismo – “imperialismo” tal como definido por Lênin em seu livro
Imperialismo, estágio supremo do capitalismo.
Poulantzas adverte que o fascismo só pode ser entendido tendo a “teoria do
imperialismo” de Lênin como referência, pois ela considera o imperialismo como um
estágio no conjunto do processo capitalista que não é redutível apenas ao âmbito
econômico. Para Poulantzas ... “somente na medida em que consideramos o imperialismo
como um fenômeno que afeta ao mesmo tempo a economia, a política e a ideologia, que
podemos fundar a internacionalização particular das relação sociais neste estágio” (1974:
20). As modificações nos âmbitos econômico, político e ideológico afetam tanto as
formações sociais nacionais quanto as relações sociais internacionais.
No âmbito dos Estados nacionais as modificações impostas pelo estágio imperialista
aparecem na transformação do capitalismo liberal em “capitalismo monopolista”, o que
implica numa nova função do Estado. A esta nova função do Estado dá-se o nome de
“Estado intervencionista”. Poulantzas assinala ainda que, na Alemanha fascista, o Estado
teve um papel decisivo na transição e no estabelecimento do capitalismo monopolista.
34
Este processo teve início no começo do século XX, mas só se consolidou mesmo
depois da Segunda Guerra Mundial. O ritmo acelerado de concentração de capital tal como
aparece na Alemanha do começo do século é próprio ao capitalismo monopolista. Neste
mesmo período, a fusão de “capital bancário” e parte do “capital industrial” produz o
“capital financeiro” nos grandes trustes. Assim como ocorreu a junção das seis grandes
empresas químicas alemãs (IG Farben), também ocorreu a junção dos nove maiores bancos
num cartel. A exportação de capitais também aumentou. Enfim, neste começo de século a
Alemanha foi, depois da França, o país onde o capitalismo monopolista participou em
maior número de cartéis internacionais.
Antes da Primeira Guerra, o desenvolvimento capitalista alemão já apresentava suas
fissuras, oriundas tanto do período de transição do feudalismo para o capitalismo quanto da
natureza de própria revolução democrática burguesa. Esta “revolução” tardia foi feita “do
alto” (revolution d’en haut, (idem: 28)) por Bismarck, em aliança com a burguesia e os
grandes proprietários de terra, numa tentativa de impor a unidade nacional e econômica
alemã. Nos moldes desta “revolution d’en haut”, o papel intervencionista do Estado alemão
foi decisivo na transição para o capitalismo monopolista, com sistemáticas intervenções em
proveito do capital financeiro.
Também para Franz Neumann o regime nacional-socialista agia a favor do capital
alemão. Ao descrever as estruturas de poder do Estado nazista e as perspectivas para a
ciência e a tecnologia ele utiliza a metáfora do “Beemoth” (que dá título ao seu livro ), uma
fera monstruosa e gigantesca representante da anarquia e do caos. Neumann utiliza esta
figura para descrever o Estado nazista como um “não-Estado”: para ele o nacional-
socialismo era ... “uma forma de sociedade na qual os grupos dominantes controlavam o
35
resto da população diretamente, sem a mediação daquele aparato racional ... até então
conhecido como Estado” (Neumann apud. Marcuse, 1999: 31).
Ele vê a Alemanha nazista não como um regime sob o firme domínio de seu
ditador, o Führer, mas como um cartel de poderosos blocos, o “Beemoth”, uma coalizão
policrática de exército, grande capital, serviço público e partido.
As análises de Herbert Marcuse também caminham nesta mesma direção. Em seu
texto Estado e Indivíduo sob o Nacional-Socialismo ele afirma: ... “o nacional-socialismo
liquidou as características essenciais que caracterizam o Estado moderno. Tende a abolir
... a separação entre Estado e sociedade transferindo as funções políticas para os grupos
sociais que de fato estão no poder. Em outras palavras, o nacional-socialismo tende ao
autogoverno direto e imediato dos grupos sociais dominantes sobre o resto da população”
(Marcuse, 1999: 108-9).
Mais adiante, ele afirma que o Estado nacional-socialista está se tornando o órgão
executivo dos interesses econômicos imperialista, uma vez que a política imperialista
ofereceu a solução para os problemas econômicos e políticos da Alemanha após a Primeira
Guerra – a expansão industrial só poderia ser mantida através da transformação do Estado
democrático em um sistema político autoritário. Para assegurar a capacidade industrial e
sua total utilização, todas as barreiras entre a política e a economia, o Estado e a sociedade,
tinham de ser removidas, as instituições que amenizavam as forças de opressão sociais e
econômicas tinham de ser abandonadas: ... “o Estado tinha de se identificar diretamente
com os interesses econômicos predominantes e ordenar todas as relações sociais de
acordo com suas necessidades” (1999: 115).
Como a sociedade alemã não poderia ser reorganizada e coordenada diretamente
pelas forças imperialista, ocorreu uma divisão de poder: para Marcuse o Estado nacional-
36
socialista emerge como uma soberania tripartite da indústria, do partido e das forças
armadas, coordenados por um aparato “burocrático”, que é uma das administrações mais
altamente racionalizadas e eficientes da era moderna (idem: 116). “O Estado nacional-
socialista é o governo das forças políticas, econômicas e sociais hipostasiadas” – eles
convergem em uma meta definida, a expansão imperialista em escala intercontinental.
As análises de Marcuse sobre o nacional-socialismo são tributárias do período em
que ele teve contato intenso o tema, na década de 1940. Devido aos problemas financeiros
pelos quais passava o Instituto de Pesquisa Social (ou Escola de Frankfurt) durante o exílio
nos Estados Unidos, Marcuse se viu obrigado a buscar outra fonte de renda. Ele recebeu
uma proposta de emprego num órgão do governo americano, o “Bureau of the Office of
War Information” (OWI), onde trabalhou como analista sênior de 1942 a 1951 e, em 1952,
foi transferido para o Office of Strategic Services (OSS), onde ficou pouco tempo.
Seu trabalho era desenvolver uma análise da situação vigente na Alemanha e de
como os EUA poderiam produzir uma “contra-popaganda” ao fascismo. Os seus textos para
o governo fornecem uma análise detalhada das condições psicológicas, culturais e
tecnológicas das sociedades totalitárias e de como os indivíduos são manipulados e
controlados por esse aparato. No OSS Marcuse trabalhou com F. Neumann e Otto
Kirchheimer reunindo documentos que forneciam um cenário detalhado das condições
econômicas, políticas e culturais na Alemanha nazista, incluindo estudos sobre a
mentalidade alemã, piadas e propaganda nazistas, tensões entre as elites militares, políticas
e econômicas dominantes, e os que se beneficiavam com a guerra e afins. Eles também
procuravam especificar que forças poderiam fazer um trabalho conjunto para fomentar a
democratização e desnazificação, propondo medidas para eliminar as raízes do fascismo
(Kellner apud. Marcuse, 1999: 39-57). Esse trabalho possibilitou que Marcuse entrasse em
37
contato com um material rico sobre o fascismo. O desenvolvimento de sua teoria deve em
muito a esta experiência. Em suas análises da sociedade contemporânea ele estabelece uma
forma de continuidade entre a forma de dominação no fascismo e na sociedade atual.
Marcuse também reconheceu essa característica em seu texto de 1934 O Combate
ao Liberalismo na Concepção Totalitária do Estado, no qual ele faz uma análise da
transição da economia liberal de mercado à economia de intervenção oligopólica ou estatal,
não no plano estritamente econômico, mas no âmbito da formação social. “Por esse prisma,
a lógica interna da sociedade capitalista conduziria à ordem totalitária”: ele expõe o
parentesco interno entre a teoria social liberal e a concepção totalitária do Estado (Maar
apud. Marcuse, Cultura e Sociedade, 1997: 20-1).
Este tema também está presente em seu livro de 1964 O Homem Unidimensional: a
ideologia da sociedade industrial. A similaridade entre os Estado nacional-socialista e o
Estado “democrático” em sua versão americana não se encontra somente na sua forma e
estrutura de organização, mas também na mobilização e na manipulação do indivíduo e das
massas. A sua desconfiança da neutralidade da tecnologia e da ciência ganha conteúdo
histórico concreto nesses trabalhos.
De modo geral e apesar de suas especificidades, esses autores que apresentamos
estabelecem uma continuidade entre a forma do Estado nacional-socialista e do Estado do
capitalismo monopolista das sociedades ocidentais contemporâneas: a continuidade está no
fato de que esse Estado deixou de ser um Estado do bem-estar social, agindo
completamente a favor do capital financeiro e dos poderosos conglomerados multinacionais
que fazem dos Estados e das sociedades seus reféns. Entramos assim na segunda parte de
nosso trabalho, onde iremos examinar o desenvolvimento das ciências e das tecnologias
após 1945.
38
Bibliografia
CORWELL, John. Os Cientistas de Hitler: ciência, guerra, e o pacto com o demônio. Rio de Janeiro: ed.
Imago, 2003.
HERF, Jeffrey. O Modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de Weimar e no
Terceiro Reich. São Paulo: Editora Ensaios, 1993.
HOBSBAWUM, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
__________________. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
KELLNER, Douglas. “O Marcuse desconhecido: novas descobertas nos arquivos”. In Marcuse, H.
Tecnologia, Guerra e Fascismo. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1999.
MAAR, Wolfgang. “Marcuse: em busca de uma ética materialista”. In Marcuse, Herbert. Cultura e
Sociedade, vol. 1, São Paulo: Paz e Terra, 1997.
MARCUSE, Herbert. O Homem Unidimensional: a ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1969.
_________________ . Tecnologia, Guerra e Fascismo. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1999.
MEDAWAR, Jean & PYKE, David. O Presente de Hitler: cientistas que escaparam da Alemanha nazista.
Rio de Janeiro: Record, 2003.
POULANTZAS, Nicos. Fascisme et Dictature. Paris: Points, 1974.
SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
SHIVA, Vandana. Biopirataria. A pilhagem da natureza e do conhecimento. Petrópolis: Editora Vozes, 2001.