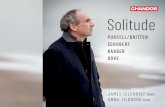Effects of roasting on barley β-glucan, thermal, textural and pasting properties
AURA - uma análise textural - Alexandre Schubert
Transcript of AURA - uma análise textural - Alexandre Schubert
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
ESCOLA DE MÚSICA
PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA
“AURA”: UMA ANÁLISE TEXTURAL
ALEXANDRE DE PAULA SCHUBERT
RIO DE JANEIRO, AGOSTO DE 1999.
ii
ALEXANDRE DE PAULA SCHUBERT
“AURA”: UMA ANÁLISE TEXTURAL
Dissertação apresentada à Escola de
Música da Universidade Federal do Rio
de Janeiro como requisito parcial à
obtenção do título de Mestre, sob
orientação da Drª Marisa Barcellos
Rezende (UFRJ).
RIO DE JANEIRO, AGOSTO DE 1999.
iii
FICHA CATALOGRÁFICA
SCHUBERT, Alexandre de Paula
“AURA”: UMA ANÁLISE TEXTURAL. Rio de Janeiro, UFRJ
– Escola de Música, 1999.
Dissertação. Mestre em Música (Composição)
1. Análise Musical 2. Textura 3. Tese (Mestr.- UFRJ/Escola
de Música)
I – Universidade Federal do Rio de Janeiro
II – Título
iv
RESUMO
Este trabalho procurou realizar um estudo aprofundado dos procedimentos
analíticos de Wallace Berry, pela sua importância e abrangência, na investigação dos
elementos que concorrem para a formação da Textura Musical. A partir deste estudo,
buscou-se a aplicação de seus principais conceitos na análise da peça “Aura”, para
orquestra de cordas, de minha autoria. Nesta análise pudemos avaliar, principalmente
através de seus gráficos, as delimitações das diversas seções, os vários níveis de
densidade, o fluxo textural, os níveis de organização do movimento e da simultaneidade
das partes, a estrutura rítmica, aliados às conceituações dos tipos de textura
característicos de cada seção ou subseção.
Para complementar este estudo, foi realizada uma verificação no comportamento
das alturas presentes em “Aura”, tendo em vista um questionamento referente ao seu
papel na trama textural, aspecto que julgamos relevante e que não foi particularmente
objeto de estudo no trabalho de Berry.
v
ABSTRACT
Wallace Berry’s work on Musical Texture, for its pioneer and sistematic
approach, motivated this present study, wich aims at applying his procedures to the
analysis of “Aura”, for string orchestra, by A. Schubert. In this analysis we could
evaluate, mainly through its graphic aspect, the particularities of each of its sections in
their various density levels, the interlinear independence or interdependence of its
elements, its rythmic structure and above all, the interrelation of textural aspects in the
delineation of form.
Pitch organization was also discussed, through set-theory and observed in relation
to texture, as a complement to Berry’s analytical procedures.
vi
AGRADECIMENTOS
Agradecimentos à Marisa Rezende, que tanto se dedicou para a realização deste
trabalho, mostrando-se não só como orientadora, mas como inestimável amiga na minha
caminhada como músico-compositor.
Agradecimentos especiais para J. Orlando Alves e Pauxy Gentil-Nunes, pela
ajuda nas questões relacionadas ao levantamento dos conjuntos de alturas, no capítulo
IV.
À professora Rosa Zamith, pelas observações relacionadas às Referências
Bibliográficas.
Aos professores Samuel Araújo e Rodolfo Caesar que mostraram outros universos
musicais a serem explorados.
À CAPES.
viii
ÍNDICE
Página
RESUMO iv
ABSTRACT v
I – INTRODUÇÃO................................................................................................... 1
II – ABORDAGEM ANALÍTICA APLICADA À TEXTURA, SEGUNDO
BERRY....................................................................................................................... 6
III – ANÁLISE TEXTURAL DE “AURA”............................................................ 12
1V – OBSERVAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DAS ALTURAS.............. 47
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................ 56
VI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................... 59
VII – ANEXOS......................................................................................................... 62
Anexo 1 – Partitura de “AURA”
Anexo 2 – CD com gravação de “AURA”
1
1
I – INTRODUÇÃO:
O presente trabalho pretende realizar um estudo sobre a Textura Musical, procurando
aplicar ferramentas analíticas, baseadas sobretudo em conceitos extraídos do livro
Structural Functions of Music, de Wallace Berry.
Neste livro, principalmente em seu segundo capítulo ‘Texture’, Berry traça um
panorama dos diversos fatores que compõem a Textura, criando um sistema analítico
próprio, que veremos com detalhes no próximo capítulo e que será essencial para a análise
de “Aura”, peça de minha autoria utilizada como exemplo para a aplicação deste sistema.
Durante muito tempo a abordagem analítica na música esteve centrada na observação
de alguns de seus elementos, como altura e ritmo, visando compreender sua organização
formal, conseqüência também da elucidação de planos temáticos e harmônicos.
No século XX, a contestação da hegemonia das alturas e do ritmo como elementos
preponderantes da organização musical1 abre caminho para que outros fatores, como a
Textura por exemplo, possam também assumir uma função estruturadora do discurso
musical. Textura, nesse sentido, significa a complexa trama sonora, a interação de todos os
eventos musicais, ou no dizer de Wallace Berry:
Textura em música consiste nos seus componentes sonoros; isto é condicionado em parte pelo
número destes componentes sonoros em simultaneidade ou concorrentes, sendo suas qualidades
determinadas pelas interações, inter-relações, as relativas projeções e substâncias das linhas que
compõem os fatores sonoros2 (BERRY, 1987, 184).
A partir desta definição, Berry desenvolve seu sistema, procurando abordar todos os
aspectos que possam interferir não apenas na formação de diferente tipos de texturas, mas
também o caminho, o processo dinâmico do fluxo textural, buscando dados que possam ser
quantificados, para serem feitas as comparações necessárias para a resolução de problemas
referentes aos níveis de densidade, a situações de progressão, recessão e manutenção
1 Em alguns compositores como Penderecki, Lutoslawski, Ligeti, Berio, etc. 2 Tradução livre do autor. “The texture of music consists of its sounding components; it is conditioned in part
by the number of those components sounding in simultaneity or concurrence, its qualities determined by the
interactions, interrelations, and relative projections and substances of component lines or other component
sounding factors.”
2
2
textural, aos diferentes níveis de organização e às relações temporais dentre outros. O foco
da atenção está nos detalhes composiconais, no número de vozes ou partes de um
determinado trecho musical, no número de semitons existentes entre os extremos,
relacionando-o com a quantidade de vozes, nas relações de independência ou
interdependência entre as partes, observando a simultaneidade ou não dos ritmos destas
partes, na distância temporal entre as diversas entradas em texturas imitativas, dentre outros
aspectos. Todos estes aspectos demonstram a complexidade do estudo da Textura, na
medida em que apresenta-se com muitas facetas.
Silvio Ferraz concorda com esta complexidade, referindo-se à textura como sendo a
“sensação produzida pela configuração e pelo dinamismo dos elementos presentes num
determinado fluxo sonoro. Sendo um elemento bastante complexo3, praticamente uma
qualidade, a textura só pode ser parametrizada a partir de elementos complexos como a
densidade vertical/horizontal, a superfície e seu dinamismo (esse último também ligado a
densidade)...” (FERRAZ, 1997, 64). Ele ainda considera a textura como “o primeiro
elemento da percepção musical”(Ibdem). Assim, cria-se uma situação de ambigüidade, pois
apesar de percebermos a Textura globalmente, ou seja, como um somatório de eventos
musicais, devemos decompor estes elementos para compreendermos a sua estrutura.
Outros autores abordam o estudo da Textura a partir de outros referenciais.
Delone limita seu estudo às obras do século XX, demonstrando como as texturas
“clássicas”4 podem apresentar modificações ao incorporarem novas técnicas
composicionais que caracterizam a linguagem musical do nosso século. Ele mantém sempre
uma perspectiva descritiva e superficial, evitando o aprofundamento. Também não fazem
parte de seu estudo propostas analíticas, visando uma maior compreensão dos mecanismos
que interferem na formação de Texturas.
Já Ligeti aborda a Textura associando o fenômeno acústico a fenômenos óticos e
táteis. Na análise de sua obra “Apparitions”, para orquestra, são bastante freqüentes as
referências à “texturas sensíveis” criadas pelos instrumentos de cordas, “texturas delicadas
e ressonantes” que variam com o grau de densidade e complexidade do material básico5.
3 O grifo é nosso. 4 Este termo foi empregado na dissertação de Mestrado “Textura na música do século XX”, de Marcos Vieira Lucas e se refere a Polifonia, Homofonia e Monofonia. 5 Este material é derivado da utilização de “tone cluster”.
3
3
Ele descreve o movimento das vozes sugerindo a criação de redes ou teias, filamentos,
enfim uma análise baseada em sugestões, levando o ouvinte-leitor a uma “viagem” ou
“sonho” provocada pelas sensações auditivas6. Devemos lembrar que o artigo do qual faz
parte esta análise também não tem a finalidade de exposição de um sistema analítico, como
em Berry. A característica deste artigo é a descrição de sua composição através de uma
visão bastante pessoal, o que não invalida o seu trabalho, ao contrário, abre nova
perspectiva de abordagem da Análise e de formas de Análise.
Partindo do mesmo princípio, mas através da utilização de conceitos extraídos de
Thomas Clifton e Laurence Ferrara, Elaine Thomasi Freitas desenvolve seu trabalho
analítico a partir da descrição7 dos eventos musicais das composições analisadas, onde o
aspecto ‘ouvinte’ é um dos fatores essenciais, derivando daí um caráter subjetivo atribuído
à Análise Fenomenológica8.
Encontramos nestas correntes de análise, fundamentos e perspectivas bastante
diferentes.
Uma, representada por Berry, nos traz um sistema, um “método” para a realização da
análise textural. A outra corrente nos dá uma visão pessoal da análise, dando margem à
diferentes interpretações, de acordo com a sensibilidade do ouvinte-leitor. Para cada
música, novas sugestões deveriam ser propostas, o que causaria, no mínimo, uma
pluralidade de termos e dados, por um lado individualizando a análise, mas por outro
prejudicando sua função comparativa.
A análise das texturas, segundo Berry, permite uma abordagem com relativa
independência de sistemas harmônicos tonais, modais, atonais, trazendo uma dimensão de
universalidade que é coerente com o desenvolvimento da forma de pensar de nossa época.
Diferentes tipos de texturas podem ser a base para a definição de novas Formas
Musicais, ou como novo recurso para a utilização de Formas tradicionais.
Mary Wennestrom desenvolve um estudo sobre aspectos formais da Música do
Século XX e ao abordar formas seccionadas, especialmente quando trata da suíte de balé
“Evolutions” de Henk Badings, de construção inteiramente eletrônica, ela declara que “no
6 Ligeti, G. States, events, transformations. Perspectives of New Music, vol. XXXI/1,1993. 7 A descrição é a principal ferramenta para a Análise Fenomenológica 8 Freitas, E. T. As formações não usuais na música brasileira pós-1960. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: UFRJ,1997.
4
4
‘Intermezzo’, a forma é delineada não apenas por uma altura específica ou eventos
rítmicos, mas por características sonoras reconhecíveis, particularmente timbre e textura9”.
(WENNESTRON, 1975, 10) Ao analisar “Music for Brass Quintet” de Schuller, ela
reconhece que o retorno de uma determinada textura marca o início de cada seção10.
Ao realizar um estudo sobre as “Variações” para orquestra, de Stravinsky, Claudio
Spies também encontra nas diferenças dos tipos de Textura o principal meio para a
delimitação das seções. Desta forma, ao verificar a recorrência de uma polifonia a 12 partes
que ocorre em pontos específicos das Variações11, Spies utiliza um dado puramente textural
como um recurso para a estruturação da composição. Aqui a Textura é utilizada como um
recurso “novo” numa Forma tradicional.
Berry aponta também a Textura como um fator para a identificação do estilo pessoal
de alguns compositores e de algumas épocas. Ele afirma que certas mudanças no tratamento
das texturas foram fatores determinantes para a criação de estilos novos12.
Neste trabalho buscou-se especificamente avaliar a aplicabilidade de procedimentos
analíticos sistematizados por Berry (opus cit.) na análise integral da obra “Aura”,
desenvolvida no capítulo III, já que em seu livro estes procedimentos são exemplificados
em pequenos trechos de várias obras. Esta observação, mais abrangente por um lado, e por
outro mais restrita, se consideramos a unidade estilística de uma única composição
permitiu-nos então inferir os limites da aplicação dos conceitos propostos por este autor13,
conceitos estes que serão discutidos em detalhe no capítulo II.
Particularmente interessante foi a construção dos vários gráficos gerais da peça
(capítulo III). Estes permitiram uma visão, literalmente, do conjunto da obra, elucidando
com clareza os desdobramentos de seu fluxo textural.
9 Tradução livre do autor. In this “Intermezzo”, form is delineated not much by specific pitch or rhythmic
events as by recognizable sound characteristics, particularly timbre and texture. 10 Ver Wennestron, M. Form in twentieth century music. In: Aspects of twentieth century music, ed. por Wittlich, G.. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 1975 p 54. 11 Esta polifonia funciona como um refrão, apesar de sempre ser orquestrada de maneira diferente. Para maiores detalhes ver Spies, C. Notes on Stravinsky’s Variations. Perpectives of new music, vol. IV/1, p. 63. 12 Ver Berry, W. Structural functions in music. New York: Dover Editions, p. 200. 13 Embora na introdução de seu livro Berry faça menção a desdobramentos de seu trabalho em teses de alunos seus, não foi possível o acesso a nenhum destes desdobramentos. Tão pouco encontramos na bibliografia específica, uma aplicação mais direta de sua sistemática analítica.
5
5
Considerando-se que a análise textural não privilegia particularmente a organização
das alturas nas peças analisadas, buscamos também discuti-la, no capítulo IV, como um
fator estrutural ao lado da textura.
Por fim, no capítulo V, procedeu-se a uma avaliação geral do trabalho, que, a nosso
ver, permitiu uma visão mais ampla e objetiva da função estrutural da textura nesta peça,
abrindo caminho para a compreensão de outras obras que tenham também na textura uma
força aglutinadora fundamental.
6
6
II – ABORDAGEM ANALÍTICA APLICADA À
TEXTURA, SEGUNDO BERRY:
Berry compreendendo a complexidade inerente ao estudo da Textura procura
aprofundar o estudo dos procedimentos composicionais através da observação dos
diversos aspectos que compõem a trama textural, buscando relacionar os parâmetros
que organizam o discurso musical em diversos níveis.
Para tanto, ele sistematiza a forma de abordagem da Textura, cunhando termos
próprios para a identificação de seus aspectos e propõe uma quantificação destes dados
sempre que possível, expressando-os através de números e gráficos, o que constitui o
cerne de seu trabalho. Ao se referir à definição de tipos de textura ele utiliza a
classificação usual de monodia, polifonia e homofonia, adicionando o conceito de
acordal (referindo-se às texturas formadas por uma sucessão de acordes) e heterofonia
(referindo-se a uma situação de paralelismo14 entre as vozes, com uma menor
diversidade no número de intervalos).
Ele busca, com esta sistematização a observação de processos inerentes ao fluxo
musical, tais como a relação entre progressões e recessões texturais e aspectos formais,
Podemos dizer que questões que implicariam em maior diversidade de
interpretação, como certos aspectos sujeitos à controvérsias, ocupam um lugar mais
passageiro no seu trabalho15.
Para este nosso trabalho, alguns de seus conceitos e instrumentos de medida
foram especialmente adequados e importantes. Estes dizem respeito sobretudo ao
aspecto quantitativo, qualitativo e níveis de organização encontrados nas obras, e serão
comentados em detalhe a seguir.
O aspecto quantitativo está relacionado com a densidade, ou seja, o número de
eventos concorrentes; já o aspecto qualitativo envolve a natureza das interações e inter-
relações destes eventos.
14 Veja adiante as definições de homodirecional e heterointervalar.
7
7
I – Aspecto Quantitativo:
a) Densidade-número
É o número de vozes ou partes em simultaneidade em um determinado trecho. Sua
representação se dá relacionando o número de vozes ou partes pelo número do
compasso (ou pela subdivisão do compasso) em um plano cartesiano.
Exemplo 1
Compassos 1 a 8 de “Aura”
15 Como é o caso da discussão sobre a relação dissonância/densidade e outras que veremos adiante.
8
8
Neste exemplo vemos um aumento no número de vozes acompanhando as mudanças
no número de compassos. Cada voz entra um compasso após a outra.
b) Densidade-compressão
É a razão entre o número de vozes e o espaço vertical que elas ocupam. Ela é
representada pela relação entre o número de vozes ou partes e o número de semitons
existentes entre as extremidades.
No corpo da análise não foi preciso fazer um rastreamento em todos os tempos de
todos os compassos, sendo a densidade-compressão verificada apenas em momentos
de mudanças relevantes16 da música.
As mudanças na distância entre as partes extremas, sem levar em conta o número de
partes envolvidas, é denominado por Berry de “textura-espaço”, ou simplesmente
“espaço”. Este conceito permitiria, por exemplo, estabelecer uma hierarquia que
existiria entre diversos clímaxes de uma mesma peça. Esta relação de textura espaço
não foi um elemento estrutural na peça “Aura”, pois não existiu mudança
significativa no âmbito dos limites entre os extremos, não tendo sido então usada
como parâmetro analítico aqui.
16 Estas mudanças seriam relacionadas a um aumento brusco no número de vozes, trocas de registro, maior ou menor número de semitons entre os extremos em um determinado trecho, dentre outras.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3 4 5 6 7 8
compassos
vo
zes o
u p
art
es
9
9
A densidade não está apenas relacionada com a quantidade de componentes sonoros
ou a distância que existe entre eles, mas também com a natureza dos intervalos que
compõe. Um determinado trecho com quatro vozes a uma distância de vinte
semitons entre suas partes extremas, pode ter níveis de densidade diferentes, de
acordo com o grau de consonância ou dissonância existente entre as vozes. Na peça
analisada, por ser construída com base em conjuntos de alturas associadas a
fragmentos escalares, não existe uma área de maior concentração de dissonâncias, o
que nos levou a não considerar este aspecto como um fator importante.
Exemplo 2:
Compassos 19 ao 22
10
10
comp. 19.1 = 0:1
19.3 = 12:4
21 = 41:8
21.4 = 53:9
22 = 62:9
número de vozes ou partes
número de semitons
O número zero significa ausência de densidade-compressão, ou seja, no momento
existe apenas uma voz ou parte.
II – Aspecto Qualitativo:
a) Independência e Interdependência:
Indica o grau de independência ou interdependência entre as partes.
Isto é representado por números dispostos verticalmente, com uma barra separando-
os. Ao número 1 é atribuído o maior grau de independência17, o número 2 é
relacionado com duas partes ou vozes em relação de interdependência e assim por
diante. Estes gráficos seriam a ferramenta básica para a definição dos tipos de
textura, bem como a projeção das progressões, recessões ou manutenções texturais
(ou seja: o caminho percorrido pela música até seus pontos culminantes e seus
declínios).
17 Berry traz um fator variável para a definição de dobramento, condicionando o grau de interdependência ou independência com a natureza do intervalo harmônico. Se um dobramento for feito à um intervalo consonante, a fusão entre as vozes será maior do que se o dobramento for de um intervalo dissonante (por ex. 2ª, 7ª). Na peça analisada, só existem dobramentos feitos à 8ª, ou seja, com alto grau de interdependência.
11
11
Exemplo 3:
Compassos 67 ao 69
Compassos: 67 68 69
1, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 8, 5, 6, 8 1 1 4 1 4 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2
12
12
No primeiro tempo do compasso 67 temos duas vozes independentes e duas
interdependentes (4 partes), no segundo tempo temos 4 vozes independentes e 2
interdependentes, no terceiro temos duas vozes interdependentes entre si mais
quatro vozes interdependentes entre si e no quarto tempo temos 6 vozes
interdependentes. No compasso 67 temos uma progressão textural seguida de uma
recessão, situação que se repete no próximo compasso. No compasso 69 temos uma
recessão textural. Estas pequenas progressões e recessões representam as flutuações
naturais do discurso musical. Quando observadas em segmentos maiores, apontam
muitas vezes para procedimentos que explicitam o seccionamento das subseções
internas da obra.
III – Níveis de Organização:
Berry cria uma terminologia para a descrição de situações relacionadas com
alguns parâmetros como ritmo, direção do movimento das vozes ou partes que
contribuem para a formação das texturas.
Vejamos as definições:
1) Quanto ao Ritmo18:
a) Homorrítmico
Acontece quando temos em todas as vozes o mesmo ritmo. Cria uma situação de
interdependência entre as vozes ou partes.
18 Berry define três tipos: homorrítmico, heterorrítmico e o contrarrítmico, sendo os dois primeiros discutidos a seguir, e o último, não foi encontrado de forma relevante na análise de “Aura”. Para maiores detalhes sobre este tipo ver pp. 193-194 de Berry W. Structural functions in music. New York: Dover Editions, 1987.
13
13
Exemplo 4: compasso 21– violinos 1 e 2 (com o divisi)
b) Heterorrítmico:
Acontece quando temos nas vozes ou partes ritmos diferentes. Cria uma situação de
independência entre as vozes ou partes.
Exemplo 5: compasso 55
14
14
2) Quanto a direção do movimento das partes19:
a) Homodirecional:
Todas as partes se movimentam em uma só direção.
Exemplo 7: compassos 1 ao 7
19 O aspecto contradirecional, onde existe sempre um movimento contrário entre as vozes, também não relevante na análise de “Aura”.
15
15
b) Heterodirecional:
Cada voz ou parte se desloca em direções diferentes.
Exemplo 8: compasso 66
IV – Outras Considerações:
Com relação ao ritmo, Berry demonstra a importância da distância temporal entre as
partes imitativas. A menor ou maior distância entre as entradas de um cânone, por exemplo,
estariam relacionadas com uma maior ou menor atividade textural.
A forma encontrada para a medição deste parâmetro consiste na contagem da
quantidade de unidades rítmicas20 existentes entre o início de cada imitação.
É interessante a consideração do espaço temporal para o estudo das imitações, pois
sempre é dada uma maior importância ao intervalo entre as entradas, ou seja, nas relações
de altura21.
20 As unidades rítmicas estariam relacionadas com a unidade de tempo (ou sua subdivisão) dentro do compasso. 21 A classificação convencional das imitações refere-se sempre ao intervalo das entradas: imitação a segunda maior, a terça menor, etc.
16
16
Exemplo: compassos 1 ao 7
A distância entre as entradas de cada voz é de quatro semínimas – 4 (q )
Berry também desenvolve um conjunto de discussões que não foram especificamente
empregadas na análise de “Aura”, por não serem pertinentes no contexto desta obra.
No caso de texturas simples, Berry coloca a possibilidade de sua ativação através do
uso da dinâmica, articulação, ritmo, timbre e outros meios. Ele cita o baixo de “Alberti”,
prática de acompanhamento característica do século XVIII e início do XIX, como uma
forma de ativação da textura básica acordal.
17
17
Outro ponto é a abordagem feita ao “ritmo textural”, que pode ser medido a partir da
constatação de eventos texturais marcantes e recorrentes. A distância temporal entre os
eventos representaria o ritmo textural. Na peça analisada, por não existirem eventos
texturais recorrentes e relevantes, este não foi considerado um fator importante. Preferimos
apresentar a estrutura rítmica das seções através do somatório das articulações rítmicas, por
representarem melhor a própria música.
Quanto a natureza do intervalo, Berry faz a classificação de homointervalar,
heterointervalar e contraintervalar22 tratando especificamente das relações intervalares do
movimento das partes. Este aspecto também não foi pertinente para a análise de “Aura”.
Alguns conceitos foram especialmente úteis na avaliação final da análise, tais como
as evidências de recessão textural em momentos cadenciais. Na peça “Aura” este recurso é
amplamente usado, chegando a ser uma característica estrutural da peça a utilização de
mudanças texturais para delimitar o início e o fim das seções.
Por fim, a verificação dos tipos de textura pode ser a principal ferramenta analítica
para a identificação das diferentes seções em várias músicas, como foi caso de “Aura”.
22 Ver pp. 194-195 de W. Berry, Structural functions in music. New York: Dover Editions, 1987.
18
18
III – ANÁLISE TEXTURAL DE “AURA”
Neste capítulo iremos realizar a Análise Textural de “Aura”, peça de minha autoria,
escrita em 1996 para orquestra de cordas.
A peça tem proporção mediana, aproximadamente sete minutos, e tem como uma de
suas características a escrita em nove partes (com divisi nos violinos 1 e 2,violas e
violoncelos), ao invés da usual em cinco partes.
Para a realização desta análise, tive a preocupação de abstrair a minha visão de
compositor da peça, olhando-a como uma terceira pessoa. Devido a isto, reservo-me a não
comentar minhas intenções primárias ao compô-la.
Estrutura Formal de “Aura”:
A B C A’
a b1,b2 c1,c2,c’1,c’2,c3 a’
Seções Subseções Limites
A 1 ao 14
a 1 ao 14
B 15 ao 44.2
b1 15 ao 18
b2 19 ao 44.2
C 44.3 ao 76
c1 44.3 ao 50
c2 51 ao 59
c’1 60 ao 65/66
c’2 65/66 ao 69
c3 70 ao 76
A’ 77 ao fim
a’ 77 ao fim
19
19
Análise Textural: “AURA”
A – comp. 1 ao 14 a – comp. 1 ao 14
Textura: polifonia - contraponto em estilo imitativo (cânone ao uníssono).
1) Independência e Interdependência:
c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 9 1 1 1 1 3 1 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 Observamos uma progressão textural do trecho até os compassos 8 e 9, onde ocorre maior
independência entre as vozes na escrita polifônica. Nos compassos seguintes notamos uma
recessão na atividade textural. No compasso14 temos total interdependência.
2) Densidade-número:
0123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
compassos
vo
ze
s o
u p
art
es
20
20
Há um acréscimo gradativo na quantidade de partes do primeiro até o oitavo compasso,
permanecendo estável o número de vozes até o compasso 14, quando temos então todas as
nove vozes. A distância entre as entradas de cada voz em cânone é de 4 tempos. A última
voz só irá aparecer no último compasso da seção, não sendo esta integrante do cânone.
3) Densidade-compressão:
comp. 2 = 2:2
14 = 48:9
Nesta seção a densidade compressão amplia-se progressivamente entre os dois limites aqui
medidos.
4) Níveis de Organização23:
comp. 1 ao 12 – homodirecional
12 ao 14 – contradirecional
1 ao 14 – heterorrítmico
5) Relação Temporal:
w h h h q q h q q h q q q q q q q q q q . . . segue até o compasso 13 h h
Observando o resultado do somatório dos valores das articulações rítmicas da seção,
verificamos que existe uma repetição do ritmo do terceiro compasso (mínima + 2
semínimas) até o quinto compasso. A partir do sexto compasso temos um fluxo de
semínimas até o compasso 13. No compasso 14 a semibreve (dividida em 2 mínimas, sendo
que a segunda está em trêmolo) delimita a subseção.
21
21
A estrutura rítmica aponta então para um aumento gradativo de articulações rítmicas, do
compasso 1 para o compasso 8, ponto este de maior complexidade textural. A partir deste
momento atinge-se uma estabilização das articulações rítmicas, coincidente com a
estabilização do número de vozes.
B – comp. 15 ao 44.2
b1 – comp.15 ao 18
Textura: acordal imitativa24 e acordal.
1) Independência e Interdependência:
15 16 17 18
4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 9, 9 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1
Existe uma ligeira flutuação na progressão e recessão texturais nos compassos 15 e 16,
havendo um recessão a partir do compasso 17.
Os compassos 15 e 16 revelam uma independência relativa devido ao trabalho imitativo e
contrastam com os compassos 17 e 18 em que as nove vozes estão em relação de
interdependência.
23 Os níveis de organização aqui observados dizem respeito à relações entre vozes quanto a direção, movimento e simultaneidade das articulações rítmicas. 24 Acordal imitativa refere-se aqui a textura formada por dois blocos de acordes (vl I e II x vla e vlc) que guardam entre si uma relação de imitação, realçada pelo glissando ascendente.
22
22
2) Densidade-número:
3) Densidade-compressão:
comp. 15.1.2 = 48:5
15.2 = 64:5
15.3 = 64:9
16.1.1 = 28:5
16.1.2 = 30:9
17.1 = 46:9
17.3 = 42:9
O momento de maior densidade-compressão se dá no compasso 16.1.2 onde temos 9 vozes
em 30 semitons. E o menor encontramos no compasso 15.2 onde temos 5 vozes em 64
semitons.
4) Níveis de Organização:
comp. 15 e 16 – homodirecional
17 e 18 – contradirecional
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
15,2
15,3
15,4 16
16,2
16,3
16,4 17
17,2
17,3
17,4 18
18,2
18,3
18,4
23
23
15 ao 18 – homorrítmico
5) Relação Temporal:
‰ e q k e q ee q k e q h h w
Encontramos uma célula rítmica que se repete, evidenciando o aspecto imitativo desta
subseção.
b2 – comp. 19 ao 44.2
Textura: melodia acompanhada25.
A principal característica desta seção é a existência de três camadas superpostas formadas
por elementos distintos: a primeira com maior articulação rítmica, a segunda com sons
sustentados e a terceira formada pela linha do contrabaixo, pontuando com pizzicati todo o
trecho.
1) Independência e Interdependência:
19 20 21/21.4 � 23 24 25 26 � 29 30 31 32/32.4 � 34 35
1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 37 38 39 40 41/41.3 � 43 44.1
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 A “melodia” é formada por blocos de acordes (textura acordal) em sons sustentados, adquirindo proeminência não por uma questão de contorno propriamente, mas pela “massa instrumental” que lhe traz então destaque. O acompanhamento é feito por uma fluxo de colcheias em um cânone ao uníssono (ou oitava) com uma distância de apenas uma colcheia entre cada entrada, com pontuações em pizzicato pelo contrabaixo.
24
24
Os violoncelos, apesar de estarem escritos na partitura em duas pautas, estão em uníssono
do compasso 41 ao 44.
Do compasso 19 ao 21.4 temos uma progressão textural. Do compasso 21.4 ao 30 temos
uma relativa estabilidade na atividade textural, ainda que aconteçam pequenas flutuações
no número de partes, motivadas pelo caráter fragmentário da linha do contrabaixo. Do
compasso 31 ao 40 temos uma repetição do que ocorre dos compassos 20 ao 30, com
variações na instrumentação das camadas, com exceção dos compassos 37 e 38 onde temos
uma relativa independência em uma das vozes26. A partir do compasso 41 temos uma
recessão textural ocasionada pelo maior nível de interdependência entre as partes,
preparando o fechamento da subseção e da seção B .
2) Densidade-número:
26 Esta independência é rítmica, harmonicamente nós temos esta voz inserida no contexto anterior e posterior.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1919
.420
.321
.2 2222
.423
.324
.2 2525
.426
.327
.2 2828
.429
.330
.2 31
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3131
.3 3232
.3 3333
.3 3434
.3 3535
.3 3636
.3 3737
.3 3838
.3 3939
.3 4040
.3 4141
.3 4242
.3 4343
.3 44
25
25
3) Densidade-compressão:
comp. 19.1 = 0:1
19.3 = 12:4
21 = 41:8
21.4 = 53:9
22 = 62:9
30 = 29:9
31 = 10:4
32.4 = 55.9
37 = 62:9
38 = 62:9
44 = 12:2
Procuramos anotar alguns pontos em que podemos observar o comportamento da
densidade-compressão no decorrer desta subseção. Seu início é marcado pela ausência de
densidade-compressão, devido a existência de apenas uma voz. O maior nível se localiza no
compasso 30, onde em um espaço de apenas 29 semitons encontramos 9 vozes. O maior
espaçamento distribuído nas 9 vozes se dá nos compassos 22, 37 e 38, com uma distância
de 62 semitons distribuídos pelas 9 vozes.
4) Níveis de Organização:
camada 1 – heterodirecional – homorrítmico
camada 2 – homodirecional – homorrítmico
O somatório das camadas é heterorrítmico e heterodirecional.
5) Relação Temporal:
O resultado do somatório rítmico das camadas é igual a um fluxo de colcheias. A distância
das entradas do cânone existente na primeira camada é de uma colcheia.
26
26
C – comp. 44.3 ao 76
c1 – 44.3 ao 50 Textura: polifonia27:
Esta subseção é formada pela superposição de camadas distintas, constituídas por
elementos com contorno fixo e individualizados através do timbre. Estes se repetem cada
vez mais próximos temporalmente até formarem um continuum.
Elementos: a –
b –
c –
27 O conceito de Polifonia ressalta aqui a independência dos vários elementos que formam a subseção, ainda que estruturados em camadas.
Vln. 1
Vln. 2
Vlc.
27
27
d –
1) Independência e Interdependência: A tabela apresentada a seguir leva em conta o perfil independente de cada elemento. A
relação de dependência gerada pela percepção dos mesmos em camadas será levada em
conta na análise global da peça.
44.3 45.1 45.2 46.1 46.2 46.3 46.4 47.1 47.2 47.3 47.4 48.1 48.2 48.3 48.4 49.1 49.2 49.3 50
1 1 1 1 1 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, 2 , 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Todas as partes estão em relação de independência, exceto os segundos violinos que entre
si mantém uma relação de interdependência. Existe uma progressão textural do compasso
44.3 até o compasso 46.1, em 46.2 ocorre uma pequena recessão. A partir de 46.4 temos
nova progressão até 47.2. Em 47.3 temos uma recessão. A partir de 48.2 existe uma relativa
manutenção textural, ocorrendo pequenas flutuações no fluxo textural.
Vla.
Vlc.
Cb.
28
28
2) Densidade-número:
O número de partes oscila entre 2 e 9 e esta oscilação acontece pela natureza do desenho
que abrange uma intermitência entre seus fragmentos.
3) Densidade-compressão:
comp. 44.3 = 55:3
44.4 = 50:4
45.1 = x:2
45.2 = 0:1
45.3 = 7:3
45.4 = 7:4
46.1 = 30:7
46.2 = 17:4
46.3 = 36:7
46.4 = 7:3
47.1 = 7:4
47.2 = 30:7
47.3 = 17:4
47.4 = 36:7
48.1 = 7:4
48.2 = 30:7
48.3 = 17:4
48.4 = 36:8
49 = 36:9
50 = 36:9
A partir do compasso 44, todos estes valores devem ser relativizados pela existência de
uma parte com perfil aleatório28.
28 O primeiro violoncelo tem uma escrita indeterminada, explorando glissandos de harmônicos naturais.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
44,3 44,4 45 45,2 45,3 45,4 46 46,2 46,3 46,4 47 47,2 47,3 47,4 48 48,2 48,3 48,4 49 49,2 49,3 49,4 50
29
29
Nesta subseção encontramos mudanças bruscas nos níveis de densidade-compressão,
ocasionadas pela existência dos elementos acima descritos. Nos compassos 45.4, 47.1 e
48.1 nós temos o maior nível de densidade-compressão da peça, com 4 vozes ocupando o
espaço de 7 semitons.
4) Níveis de Organização:
- Heterodirecional
- Heterorrítmico
5) Relação temporal e os elementos29:
Esta subseção apresenta diversidade rítmica com a utilização de valores menores nas
articulações rítmicas (semicolcheias e fusas). A existência de repetições nas mesmas vozes
nos fez utilizar um sistema de contagem temporal entre as mesmas que é utilizado para as
imitações30 no texto de Berry.
Elemento a – 2 ( q ), 2 ( q ), 1 ( q )
c – 2,5 ( q ), 2,5 ( q ), 1 ( e ),1 ( e )
d – 2 ( q ), 1 ( q )
O elemento b por ter uma característica aleatória não pode ser medido.
Percebe-se neste quadro uma redução da distância temporal em relação às entradas de cada
elemento e também entre os vários elementos acarretando assim um adensamento textural.
29 A relação temporal deixa de ser representada como um somatório das articulações rítmicas das várias partes aqui pela imprecisão gerada pelos trinados (elemento c) e pelo continuum dos violoncelos (elemento b). Este mesmo somatório também não reproduziria a situação polirrítmica do elemento d. 30 A imitação neste caso seria na mesma voz, ao invés da tradicional repetição em outras vozes.
30
30
c2 – comp. 51 ao 59 Textura: homofonia - melodia acompanhada com a interpolação de fragmento de c1.
A melodia assume a característica de um contraponto a duas partes. 1) Independência e interdependência: 51.1 51.3 52 53 54 55.1 55.2 55.3 55.4 56.1 56.3 57� 58 59
1 1 3 4 4 2 1, 1 , 1, 1 1 5 4 6 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O compasso 55 traz um fragmento do material de c1 e pela sua própria natureza é onde se
encontra o ponto de maior independência entre as partes na seção, uma vez que nos outros
compassos temos uma textura de melodia acompanhada31. Do compasso 51.1 ao 52
encontramos uma progressão textural, e de compasso 52 para o 53 temos uma manutenção
textural, seguida de pequena recessão. No compasso 55 temos uma flutuação no fluxo
textural e do 56 ao 57, uma progressão seguida de nova manutenção textural.
2) Densidade-número
31 O acompanhamento é feito por trêmolos em harmônicos artificiais e pizzicati no contrabaixo.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
51
51
,2
51
,3
51
,4 52
52
,2
52
,3
52
,4 53
53
,2
53
,3
53
,4 54
54
,2
54
,3
54
,4 55
55
,2
55
,3
55
,4 56
56
,2
56
,3
56
,4 57
57
,2
57
,3
57
,4 58
58
,2
58
,3
58
,4 59
59
,2
59
,3
59
,4 60
31
31
Devemos considerar a diferença entre o estático da melodia acompanhada com a
diversidade rítmica da interpolação para que o gráfico não seja entendido erroneamente,
com o momento da interpolação sendo tomado como um ápice da atividade da própria
melodia.
3) Densidade-compressão:
.
comp. 51 = 29:6
52.1 = 72:5
52.2 = 34:6
52.3 = 33:6
52.4 = 32:6
53.1 = 44:6
53.4 = 62:5
54.1 = 43:4
54.3 = 5:3
54.4 = 0:1
55.1 = 7:4
55.2 = 30:7
55.3 = 17:4
55.4 = 36:8
56.1 = 0:1
57.1 = 72:7
57.2 = 34:8
57.3 = 46:8
58.2 = 70:9
58.3 = 58:8
59.2 = 60:8
59.3 = 67:9
Sempre que temos as nove partes amplia-se o número da densidade-compressão devido ao
ataque do contrabaixo. A partir do compasso 57, graças a mudanças de oitava no violoncelo
temos também um aumento do espaço entre os extremos.
4) Níveis de Organização:
- Heterorítmico
- Heterodirecional
32
32
5) Relação Temporal:
comp. 52 Р53 Πe e e e q e e e e e e q h (vlas)
57 Р59 Πeeeeee e e e e e e e e ee q h (vln)
c’1 – comp. 60 ao 65/6632 Textura: polifonia. Esta seção apresenta-se em movimento retrógrado em relação a c1. 1) Independência e interdependência: 60 61.1 61.3 61.4 62.1 62.2 62.3 62.4 63.1 63.2 63.3 63.4 64.1 64.2 64.3 64.4 65.1 65.2 65.4 66.1 66.2 66.3 66.4
1 1 1 1 1 1 1 2, 1, 2, 1, 1, 2 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Exceto os segundos violinos que entre si mantém uma relação de interdependência, todas as
outras partes estão em relação de independência. Do compasso 60 ao 64.4 encontramos
uma relativa manutenção textural, havendo flutuações. A partir do compasso 64.4 nós
temos uma recessão textural até o final desta subseção.
32 Os compassos servem de elisão entre c’1 e c’2.
33
33
2) Densidade-número:
O número de componentes sonoros oscila entre 3 e 9 e esta oscilação acontece pela
natureza do desenho que abrange uma intermitência entre seus fragmentos.
3) Densidade-compressão:
Como a subseção é um retrógrado de b1, os números relacionados à densidade compressão
são os mesmos, apenas a tabela deve ser lida de baixo para cima.
4) Níveis de Organização:
- Heterodirecional
- Heterorrítmico
5) Relação temporal e os elementos:
Esta seção tem a mesma característica repetitiva de b1. Após iniciarem-se como um
continuum, seus elementos aparecem cada vez mais distantes temporalmente entre si, ao
contrário de b1. Este distanciamento contribui para uma rarefação textural.
0
12
3
4
5
6
7
8
9
6060
,260
,360
,4 6161
,261
,361
,4 6262
,262
,362
,4 6363
,263
,363
,4 6464
,264
,364
,4 6565
,265
,365
,466
,166
,266
,366
,4
34
34
Elemento a – 1 ( q ), 2 ( q )
c – 1 ( e ), 1 ( e ), 2,5 ( q ), 2,5 ( q )
d – 1 ( q ), 2 ( q )
O elemento b, por ter uma característica aleatória, não pode ser medido.
c’2 – comp. (65-66)33 67 a 69
Textura: polifonia - cânone duplo ao uníssono, baseado no fragmento melódico dos
compassos 52-54.
1) Independência e interdependência:
67 68 69
1, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 8, 5, 6, 8 1 1 4 1 4 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 Observamos uma flutuação no nível de independência das vozes nesta subseção, ocorrendo
em cada compasso uma pequena progressão e recessão textural.
33 Os compassos iniciais (65-66) funcionam como uma elisão entre esta subseção e a anterior, já tendo sido discutidos na subseção c’1.
35
35
2) Densidade-número:
Notamos um aumento gradativo dos componentes sonoros, ampliando duas partes nos compassos 67 e 6834. 3) Densidade-compressão:
34 Este aumento é relacionado com as entradas das partes em cânone.
comp.65.1 = 7:4
65.2 = 29:5
65:3 = 28:5
65:4 = 15:4
66:1 = 29:4
66.2 = 32:5
66.3 = 26:4
66.4 =26:4
67.1 = 26:4
67.2 = 34:6
67:3 = 36:6
67:4 = 33:6
68:1 = 39:6
68.2 = 43:8
68.3 = 38:8
68.4 = 36:8
69.1 = 41:8
69.2 = 39:8
69.3 = 43:8
69.4 = 39:8
O aumento do número das vozes coincide com o aumento do número de semitons entre os
extremos.
5) Relação Temporal:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
67 67.2 67.3 67.4 68 68.2 68.3 68.4 69 69.2 69.3 69.4
36
36
eeeeee q « « Observamos o aparecimento de uma célula repetida nos compassos seguintes e com um
aumento do valor rítmico no seu final (colcheias- semínima).
A distância entre as entradas do cânone é de quatro semínimas
c3 – comp. 70 ao 76 Textura: melodia acompanhada. A melodia, repetição do fragmento melódico dos compassos 57 a 59, assume a
característica de um contraponto a duas partes, iniciando-se no compasso 72.. Os
compassos 70 e 71 cumprem uma dupla função: tanto terminam os desenhos melódicos de
c’2 como introduzem a fórmula de acompanhamento característica de c3.
1) Independência e interdependência: 70 71 72 73 74 75 76 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 2, 2, 9 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 1 5 5 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 No compasso 72 o segundo divisi do violino I e o segundo violoncelo estão em situação de
dobramento a uma distância de duas oitavas.
Os compassos 70 e 71 apresentam o mesmo perfil com relação à independência e
interdependência das vozes. Do compasso 74.2 ao 76 temos um aumento da
interdependência até chegar a uma total interdependência, formando uma cadência e
fechando a seção C.
37
37
2) Densidade-número:
No compasso 72 temos um decréscimo no número de vozes, marcando a entrada da
melodia.
3) Densidade-compressão:
Comp.70 = 50.9 74 = 58:9 76 = 53:9
4) Níveis de organização:
- Heterodirecional
- Heterorrítmico
5) Relação Temporal:
xxxx xxxx xxxx ee « « « q q q q w
Como na subseção anterior, a célula rítmica formada pelas semicolcheias e colcheias, se
repete nos três compassos seguintes. O aumento dos valores nos últimos dois compassos
(semínimas e semibreve), preparam o final da subseção e da seção C.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7070
.3 7171
.3 7272
.3 7372
.3 7474
.3 7575
.3 7676
.3
38
38
A’ a’ – comp. 77 ao fim.
Textura: Polifonia - contraponto em estilo imitativo (cânone ao uníssono).
Esta seção está em movimento retrógrado em relação a a1.
1) Independência e Interdependência: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 6 6 5 4 2 1 4 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nos compassos 81 e 82 temos o maior número de vozes em relação de independência.
Existe uma progressão textural até o compasso 81. Do compasso 82 em diante temos uma
recessão textural.
2) Densidade-número:
39
39
3) Densidade-compressão:
comp. 77 = 29:8
88 = 2:2
4) Níveis de Organização:
comp. 77 ao 78 – contradirecional
79 ao fim – homodirecional
77 ao fim – heterorrítmico
5) Relação Temporal:
q q q q q q q q ... até o comp. 83 q q h q q h q q h h h w
Procedimentos de junção entre as seções:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
40
40
As observações abaixo permitem que se tenha uma visão de continuidade entre os
compassos-limites das várias subseções35.
A a para b1 14 15 8 4 4 1 1 4 1 B b1 para b2 18 19 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b2 para c1 43 44.1 44.3 1 6, 2, 1, 1 2 2 C c1 para c2 50 51.1 51.3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 c2 para c’1
35 A transição de c2 para c’1 já tinha sido avaliada quando da discussão da subseção c’1, porque nesta passagem há um procedimento de elisão entre as subseções.
41
41
59 60 6, 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 c’1 para c’2 65.1 65.2 65.4 66.1 66.2 66.3 66.4 1 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c’2 para c3 69 70 5, 6, 8, 4, 4, 4 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 c3 para A’ 76 77 9 6 2
Na observação geral dos procedimentos de junção entre as seções, percebe-se que há
uma tendência à homogeneização da textura, gerada pela interdependência entre as partes,
ocasionando fechamentos parciais na passagem das subseções a-b1, b1-b2, b2-c1, c3-a’.
Pode-se ainda mencionar uma pequena homogeneização na passagem de c2-c’1 e c1-c2,
perceptível mais pelo contexto em que se encontram do que pelo gráfico propriamente dito.
42
42
Outro aspecto refere-se a utilização de nota comum de ligação entre a-b1 (fá) e b1-b2
(fá#).
De c1 para c2 temos um corte abrupto, ocasionado pelo contraste da queda de nove
vozes para apenas uma e pela mudança textural. Nas outras seções existe um processo de
preparação para a entrada de novo material, onde o antigo se prolonga enquanto o novo
começa a surgir. Este processo ocorre de b2 para c1 e de c’2 para c’3, e de forma mais
contundente na elisão de b’1 para b’2, onde não foi possível definir o limite das seções.
43
43
Gráfico Geral – Independência e Interdependência
A B a b1 b2 c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21/21.4 � 23 24 25 26 � 29
1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 9, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 9, 9, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 1 1 1 3 1 4 3 2 2 2 2 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C c1 30 31 32/32.4 � 34 35 36 37 38 39 40 41/41.3 � 43 44.1 44.3 45.1 45.2 46 47 48 49.1 49.2 49.3
4, 4, 4, 2, 4, 4, 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45
45
c2 c’1 c’2 50 51.1 51.3 52 53 54 55 56.1 56.3 57� 58 59 60 61.1 61.3 61.4 62 63 64 65.1 65.2 65.4 66 67 2, 1, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 4, 6, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 6, 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A’ c3 a’ 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1, 2, 6, 8, 5, 6, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 2, 2, 9, 6, 6, 5, 4, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1, 1 1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 1 5 5 2 2 2 2 3 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
Visão Geral – Independência e Interdependência: Em nenhum momento encontramos as nove partes em total independência; no máximo encontramos 7 partes independentes contra 2 interdependentes. Por outro lado encontramos as 9 partes interdependentes em três pontos: no final de a, no final de b1 e no final de c’3 que correspondem aos pontos de maior homogeneidade da textura, responsáveis pela função de fechamento destas subseções. Quanto à relação progressão/recessão texturais observamos que esta se manifesta de forma gradativa apenas na subseção a e em seu retrógrado a’. Nas outras subseções há uma permanente flutuação, entre pequenas progressões e recessões em b1 e b2, e progressões e recessões mais pronunciadas e abruptas em toda a seção C. Nota-se também que esta seção C revela a maior concentração de partes independentes da peça. Na verdade esta concentração é especialmente expressiva em c’3 já que em c1 e c’1 ela deveria ser relativizada levando-se em conta o conceito de elemento proposto nestas subseções.
44
46
46
Gráfico Geral – Densidade-número
Visão Geral – Densidade-número: A observação do gráfico geral da densidade-número nos permite verificar a concordância da divisão das seções e subseções com as
mudanças na atividade textural. Cada seção e subseção tem seu perfil próprio, deixando transparecer as diversas simetrias que ocorrem. A
subseção a tem seu correspondente simétrico a subseção a’. Na subseção b2 encontramos praticamente uma repetição. Na seção B notamos o
grande contraste caracterizado pelas mudanças bruscas e acentuadas no números de partes envolvidas na trama textural. Aliado a este contraste
ainda percebemos uma simetria entre c1 e c’1.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aa Bb1 b2 Cc1 c2 c’1 c’2 c3 Aa’
15 19 44.3 51 60 65 66 70 77
45
Densidade-compressão:
Não encontramos a necessidade de fazer um levantamento de todos os dados
relativos a Densidade-compressão porque este fator manteve-se bastante homogêneo na
peça como um todo, apesar de encontrarmos pequenas flutuações no decorrer das
seções.
Níveis de Organização:
Observamos uma maior diversidade relacionada com os níveis de organização. A
primeira e última seções (A e A’) são homodirecionais, sendo estruturadas num fluxo
progressivo ascendente ou descendente. A subseção c’1 (c. 60-65/66) também é
homodirecional e as demais subseções e seções são heterodirecionais. Quanto ao ritmo,
este é quase sempre heterorrítmico.
Relação Temporal:
Este é um aspecto bastante relevante, porque a peça foi construída baseando-se
em cânones e a distância de suas entradas passa a ser um fator que afeta os diferentes
níveis de densidade textural.
Nas subseções a e a’ temos a distância de 4 semínimas entre as entradas do
cânone. Em b2 encontramos um cânone no acompanhamento de colcheias, cuja
distância é de apenas uma colcheia. Na seção C, encontramos elementos com perfil
melódico-rítmico próprios em que usamos este sistema de medir as entradas das
imitações para demonstrarmos uma diminuição nas distâncias destes elementos,
acarretando um aumento na densidade, como já foi anteriormente comentado. Em c’2, a
distância das entradas do cânone também é de quatro semínimas.
Ao observarmos o somatório dos ritmos, encontramos diversas similaridades na
construção de algumas seções. Existe uma característica básica de encontrarmos valores
curtos seguidos de outro longo que aparecem dentro de um compasso (Ex. compasso 52,
53) ou dentro de uma subseção (Ex. c3, c. 70-76).
46
48
48
IV – OBSERVAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DAS ALTURAS:
A análise textural de “Aura”, segundo os procedimentos analíticos de Berry,
apoiou-se em alturas, de forma absoluta, quando avaliou parâmetros como densidade-
número e densidade-compressão. Apoiou-se também na organização das alturas em
vozes ou partes quando determinou a relação de independência e níveis de organização
entre elas. No entanto, em se tratando de uma análise textural, estaria fora de seu
contexto discutir a organização das alturas em si, o que vem então a ser objeto deste
capítulo36.
Pode-se dizer que “Aura” é uma peça que se estrutura a partir de sonoridades
baseadas em fragmentos escalares, revelando unidade e variedade por utilizar
recorrentemente o conjunto dó-ré-fá-sol (0 2 5 7) em várias transposições e como
subconjunto de outros conjuntos maiores. Os quadros a seguir relacionam todos os
conjuntos empregados na peça e suas correlações, tanto em suas alturas originais quanto
em suas formas primárias (“prime form”) segundo conceito de Forte. Este quadro geral
possibilita uma visão ampla e comparativa da distribuição e organização das alturas na
obra.
As formas primárias (“prime form”) coincidem, com quatro exceções, com as
formas normais (“normal form”). Estas formas normais consistem, geralmente, nas
transposições das alturas empregadas em cada grupamento, ordenadas de modo a
estarem contidas dentro do menor âmbito intervalar entre suas notas extremas, e com a
menor disposição intervalar a partir da primeira nota37.
As quatro exceções referem-se à:
c. 43 – forma normal: dó – ré – mi – fá – sol (0 2 4 5 7)
forma primária: dó – ré – mib – fá – sol (0 2 3 5 7)
c.57 – forma normal: dó – ré – mib – fá – sol – láb (0 2 4 5 7 8)
forma primária: dó – réb – mib – fá – solb – láb (0 1 3 5 6 8)
c.65.3 – forma normal: dó – réb – mib – mi – fá – solb – láb - sib (0 1 3 4 5 6 8 T)
36 Este capítulo baseia-se no artigo “Questões metodológicas: um estudo de caso”, de Marisa Rezende, em desenvolvimento a partir de discussões com J. Orlando Alves e Pauxy Gentil-Nunes. 37 Para maiores detalhes ver Straus, Rahm ou Forte.
47
49
49
forma primária: dó – réb – ré – mib – fá – solb – láb - sib (0 1 2 3 5 6 8 T)
c.75 – forma normal: dó – ré – mi – fá# – sol (0 2 4 6 7)
forma primária: dó – réb – mib – fá – sol (0 2 3 5 7)
O critério para isolar estes conjuntos respeitou a utilização das alturas, em suas
diversas configurações, no decorrer da peça. Temos, portanto, situações como a que
envolve o trecho compreendido entre os compassos 19 e 25: neste caso, embora a trama
musical explicite camadas distintas (vln I e II x vla e vlc) , o que poderia levar à
utilização simultânea de mais de um conjunto, ambas utilizam o mesmo conjunto em
sua totalidade38.
Este não é o caso do segmento dos compassos 66 e 72. Neste momento, retornam
na peça dois fragmentos melódicos, sob forma de um contraponto a duas partes,
trabalhados imitativamente como um cânone à 8ª (compassos 65-69) e como melodia
acompanhada (compassos 72-74)39.
Fragmento 1
Fragmento 2
38 É também o caso do trecho compreendido entre os compassos 44 a 50, e 60 a 64. 39 Estes já tinham sido introduzidos anteriormente (c. 52-54; c. 57-59), e constituem então a totalidade das passagens construídas a partir da preponderância de um elemento melódico.
Vlns 66-68
Vlns 72-73
Etc.
8ª
8ª
48
50
50
No compasso 66 percebe-se a superposição de dois conjuntos, pelo próprio contorno
dos fragmentos aí presentes: o si-dó#-mi-fá# (0 2 5 7 – dó-ré-fá-sol) no qual se baseia a
subseção anterior, superposto ao conjunto ré#-mi-fá#-sol-sol#-lá-si-dó# (0 1 3 4 5 6 8
10 – dó-réb-mib-mi-fá-solb-láb-sib) responsável pelo fragmento melódico da subseção
que se inicia40. Neste caso, optou-se por incluir no exemplo do quadro geral dos
conjuntos, o somatório dos dois conjuntos, sem particularizar o conjunto que abarca
cada fragmento, até porque o primeiro conjunto está contido no segundo.
Aura – comp. 66
Caso semelhante ocorre com o compasso 72. Poderíamos ter escolhido enfatizar o
conjunto lá-si-ré-mi (0 2 5 7 – dó-ré-fá-sol), evidenciado nas semicolcheias do
acompanhamento, como distinto do conjunto da melodia, lá-si-dó#-ré-mi-fá#-sol (0 2 4
40 Esta superposição é natural ao processo de elisão, que ocorre entre estas duas subseções.
49
51
51
5 7 9 10 – dó-ré-mi-fá-sol-lá-sib). No entanto preferiu-se aglutiná-los, pela mesma razão
acima.
Uma última questão metodológica diz respeito à inclusão, no quadro geral dos
conjuntos, de compassos entre parênteses [(51) 52-54/(56) 57]. Em ambos os casos,
trata-se de uma antecipação de duas notas do conjunto que virá a ser expresso
integralmente nos compassos seguintes.
Como visto nos comentários acima, percebe-se a utilização do conjunto básico (0
2 5 7) mesmo em momentos de sonoridades mais complexas, envolvendo conjuntos
maiores. Da mesma forma, nos compassos iniciais (1 a 13), o conjunto ré-mi-fá#-lá-si-
dó# é apresentado dando ênfase ao conjunto básico lá-si-ré-mi (0 2 5 7) nos seis
primeiros compassos do trecho.
A predominância do conjunto básico (0 2 5 7) é de fato incontestável: ele ocupa
45% do tempo total de “Aura”, como uma sonoridade fundamental, sendo o único
conjunto empregado nas subseções b2, c1 e c’241. E insinua-se ainda, como sonoridade
subjacente, nos trechos baseados em conjuntos maiores, como é o caso das subseções a,
c2, c’2, c3, sendo nestes casos ainda enfatizado por aspectos da trama musical,
conforme comentado anteriormente. Por fim, percebe-se a utilização de conjuntos
maiores nas subseções construídas sobre elementos preponderantemente melódicos,
como a, c2 e c’2 e em regiões de transição como b1, cumprindo com uma função de
contraste em relação à outras subseções estáveis e mais circunscritas.
Estas observações fazem pensar, então, que a predominância da homogeneidade
da sonoridade do conjunto básico em “Aura” acabou por criar um campo ideal para o
desenvolvimento de um trabalho textural na peça.
41 Percebe-se na peça, de modo geral, uma coincidência entre a demarcação de uma subseção e a escolha de novo conjunto a ser explorado. Dois momentos constituem exceção a este procedimento. Primeiro, a entrada de b1 dá-se no compasso 15, utilizando um conjunto já anunciado no compasso 14, fato explicado pela necessidade de existir aí uma passagem atenuada pelo uso de uma sonoridade comum aos dois momentos. No quadro geral a marcação de b1 surge com a mudança de conjunto no compasso 14. E segundo, a marcação de c’2 vem no compasso 65.3 ao invés de 65.2, coincidindo também com a explicitação de novo conjunto, num momento de elisão entre subseções.
50
52
52
A a compassos
1 – 13
B b1 14 – 16
17.1 – 17.2
17.3 – 18
b2 19 – 25
26.1 – 26.3
26.4 – 27
28.1
28.2 – 28.4
Quadro geral dos conjuntos na forma primária (“prime form”)
51
53
53
29 – 30
31 – 36
37.1 – 37.3
38
39.1
39.2 – 39.4
40.1
40.2 – 40.4
41
42
43
C c1 44 – 50
c2 (51) 52 – 54
55
(56) 57
52
54
54
58 – 59.1
59.2 – 59.4
c’1 60 – 65.2
c’2 65.3 – 65.4
66 – 69
c3 70
71
72
73
74.1
74.2 – 74.4
53
V- Considerações Finais
Durante a realização da análise da peça “Aura”, pudemos avaliar a utilização das
ferramentas analíticas propostas por Berry.
Alguns de seus conceitos foram fundamentais para a compreensão dos mais
variados aspectos que envolvem o estudo da Textura.
Encontramos nos gráficos referentes à Independência e Interdependência entre as
vozes ou partes e à Densidade-número, não apenas a melhor representação das diversas
seções que compõem a peça, mas também uma forma de podermos avaliar o fluxo das
mudanças texturais que ocorreram. A partir desta avaliação temos como conseqüência a
possibilidade de verificarmos as progressões, recessões e manutenções texturais,
acrescentando este enfoque para além da simples descrição das texturas. Ao fazermos o
gráfico da Densidade-número, notamos como o número de vozes ou partes podem se
relacionar com o plano estrutural da peça como um todo, na medida em que a redução
ou aumento deste número acarretou sempre num acontecimento relevante, seja na
delimitação das seções, subseções ou mesmo frases, seja no perfil mais ou menos
estável das seções, criando zonas contrastantes, o que caracteriza muitas vezes as
próprias seções.
Outra contribuição refere-se ao sistema de medição das entradas das imitações,
privilegiando a distância temporal das entradas e com isso criando uma nova
perspectiva de avaliação do adensamento ou diluição da trama textural.
Não encontramos em Berry uma solução para os diversos aspectos que envolvem
o estudo da Densidade-compressão. Ele demonstra com clareza a definição básica,
entretanto como há interferência de outros fatores, este aspecto fica sujeito a muitas
nuances para uma avaliação precisa42. Se tomarmos apenas o número de semitons e
relacionarmos com o número de vozes, teremos um nível de densidade-compressão que
será relativizado de acordo com a posição em que as vozes estão localizadas43. Ao
42 Parece-nos que a proposta analítica de Berry é bastante eficaz quando avalia a interação entre dois parâmetros no sistema; no entanto quando um terceiro parâmetro entra em jogo, a leitura quantitativa torna-se quase inviável. 43 Uma concentração de vozes num extremo e apenas uma voz no outro em um trecho musical em que o número de vozes e semitons fosse igual a um outro trecho em que as vozes estivessem separadas uniformemente teriam um níveis de densidade diferente. Como avaliar esta situação usando apenas as relações número de vozes/número de semitons?
56
58
58
verificarmos a natureza dos intervalos (se dissonantes ou consonantes) novamente
teremos um fator que influenciará no nível de densidade-compressão. Apesar destes
problemas terem sido apresentados por Berry, este não apontou nenhuma solução
prática que os resolvessem. No caso particular de “Aura” o fator consonância-
dissonância não foi relevante na sua estruturação formal, não havendo zonas mais ou
menos consonantes, o que facilitou a utilização do sistema de Berry. Entretanto em
vários momentos tivemos a situação de encontrarmos um determinado número de vozes
concentradas em um registro, havendo apenas uma intervenção ocasional de uma voz
em um outro registro44, o que ampliaria a densidade-compressão neste momento, mas se
observado o trecho todo esta intervenção não afetaria na avaliação da densidade-
compressão substancialmente.
Tivemos que complementar e ampliar as definições dos tipos de Textura de Berry
por demonstrarem serem insuficientes para a situação particular da peça analisada. A
primeira complementação necessária refere-se a subseção b1: acordal-imitativa e que
foi explicada no corpo da análise (pág 22). Na subseção b2 tivemos que ampliar o
conceito de melodia acompanhada, também explicada na nota da página 24. A seção
c1, que definimos como polifonia, também tivemos que adaptar, relacionando as vozes
independentes que caracterizam a polifonia com os elementos que formam esta
subseção.
Acreditamos que as alterações que foram necessárias ao sistema analítico de
Berry para a realização desta dissertação, não invalidam seu trabalho. Muito pelo
contrário, a possibilidade de adaptação de seus conceitos para a análise de uma peça
com características próprias, abrem uma perspectiva para que novas análises
proporcionem cada vez mais uma maior compreensão da Música e de seus fatores
formantes e organizadores. Outras peças com características diferentes apontariam para
outras direções na exploração deste universo que é a Textura. Conceitos que não foram
pertinentes em “Aura” podem ser decisivos em outras peças. Não cabe no formato
reduzido de uma Dissertação de Mestrado a análise e discussão de várias peças, pela
natureza complexa do assunto. Preferimos deixar aberto este caminho, para que outros
pesquisadores possam percorrê-lo na busca de possíveis soluções para novos problemas
que com certeza apareceriam na abordagem de um repertório diferente.
44 Ver compassos 51 ao 53.
57
59
59
Finalizando, a possibilidade de utilização de novas formas de organização do
material musical torna-se evidente para os compositores. Mudanças texturais, diferentes
níveis de densidade, conscientização do espaço como fator estrutural, progressões e
recessões texturais como forma de desenvolvimento ou variação, vêm enriquecer a
palheta dos compositores que não necessitam apenas de planos temáticos, harmônicos
ou rítmicos para a organização formal de suas obras.
58
60
60
VI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APPEL, W. Harvard dictionary of music. 2ª ed.. Cambridge, Massachusetts: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1975.
BARROS, A.J. de. Ecletismo no trio nº 2 de Lindembergue Cardoso: uma análise
da multiplicidade de procedimentos composicionais. Dissertação de Mestrado.
Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
BENT, I.D. Analysis. In: The new grove dictionary of music and musicians.
London: MacMillan Publishers Limited, 1980.pp. 340 – 380.
BERRY, W. Structural functions in music. New York: Dover Editions,1987.
BOULEZ, P. Apontamentos de aprendiz, textos reunidos e apresentados por
Thévenin, P.; tradução de Moutinho, S.; Pagano, C.; Bazarian, L. São Paulo:
Editora Perspectiva S.A, 1966.
CONE, E.T. Beyond analisys. In: Perspectives on contemporary music theory.
Ed. por Boretz, B. e Cone, E. T. New York: Norton & Company, Inc, 1982.
CONE, E.T. Strawinsky: the progress of a method. Perspectives of new music, vol.
I/1, 1962. pp 18 – 26.
DELONE, R.P. Timbre and texture in twentieth century music, In: Aspects of
twentieth century music. Ed. por Wittlich, G. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall, 1975. pp. 66 – 207.
FERRAZ, S. Semiótica peirceana e música: mais uma aproximação. Opus, ano IV,
nº 4, Rio de Janeiro, ANPPOM, 1997. pp. 63 – 64.
59
61
61
FERRAZ, S. Análise e percepção textural: o Estudo nº VII, para sopros de Ligeti.
Cadernos de estudo: análise musical, nº 3, São Paulo, Atravéz, 1990. pp. 68 – 79.
FILHO, F.M. Apoteose de Schoenberg. São Paulo: Nova Stella, Edusp, 1987.
FORTE, A. The structure of atonal music. New Haven & London: Yale University
Press, 1973.
FREITAS, E.T. As formações não usuais na música brasileira pós-1960. Dissertação
de Mestrado. Rio de Janeiro:UFRJ, 1997.
HOWARD, J. Aprendendo a compor. Ed. por Bennett, R., tradução e adaptação Costa,
M. T. de R., revisão Sampaio, L. P. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991.
LIGETI, G. [1960] States, events, transformations. Perspectives of new music, vol.
XXXI/1, 1993. pp. 164 – 171.
LUCAS, M. Textura na música do século XX. Dissertação de Mestrado. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1995.
MEYER, L. Stile and music. Philadelphia: University of Pensylvania Press, 1989.
PISTON, W. Orquestración. tradução de Barce, R.; Barber, L. e Perris, A. Madrid:
Real Musical, 1984. pp 377 – 436.
RAHM, J. Basic atonal theory. New York: Schirmer Books, 1980.
SPIES, C. Notes on Strawinsky’s Variations. Perspectives of new music, vol.
IV/1, 1965. pp. 62 – 74.
STRAUS, J. N. Introduction to post-tonal theory. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall,1990.
60
62
62
WENNESTROM, M.. Form in twentieth century music. In: Aspects of twentieth
century music, ed. por Wittlich, G. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
1975. pp. 1 – 65.
61
°
¢
°
¢
Aura
Alexandre Schubert (1970)
para Orquestra de Cordas
Violino 1
Violino 2
Viola
Violoncelo
Contrabaixo
10
A
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
Estático
expressivo e mesurato
pp
poco cresc
&∑
pp poco cresc
&∑ ∑
pp
&∑ ∑ ∑
pp
B ∑ ∑ ∑ ∑
pp
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
?∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
pp
?∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
pp
?∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
fpp
f p mf p
&
fpp
fp
mfp
&
poco cresc
fp p fp mf
p
&
pococresc
fp
p f
p mf
p
B
poco cresc
fp
pf p
mf psub.
B
poco
cresc
fp
p fp mf p
sub.
B
poco cresc
fp
?
p f
pmf
p sub.
B
poco cresc fp
?
p
f pmf psub.
?∑ ∑ ∑ ∑
fpmf
pizz.
p
arco
sub.
w ˙ ˙ ˙.œ w w œ ˙# . w#
œ œœ œ œ# œ
œ#œ
w ˙ ˙ ˙.œ w w œ ˙# . w
œ œœ œ
w ˙ ˙ ˙.œ w w œ ˙# . w
w ˙ ˙ ˙.œ w w œ ˙# .
w ˙ ˙ ˙.œ w w
w ˙ ˙ ˙.œ w
w ˙ ˙ ˙.œ
w ˙ ˙
w w# w w ˙
æææ
˙
‰
œ
J
œ
æææ
˙
‰œ
j
œ
æææ˙
æææ˙
æææ˙#
œ# œœ#
œ w w# w ˙b
æææ
˙
‰œb
J
œb
æææ
˙
‰
œb
jœb
æææ˙
æææ˙
æææ˙
œ œœ œ œ# œ
œ#œ w w# ˙
æææ˙
‰ œ
J
œ
æææ˙
‰
œ
jœ
æææ˙
æææ˙
æææ˙
w#
œ œœ œ œ# œ
œ#œ w ˙b
æææ˙
‰ œb
J
œb
æææ˙
‰
œb
jœb
æææ˙
æææ˙
æææ˙
œ ˙# . w
œ œœ œ œ# œ
œ#œ
˙
æææ
˙
Ó ‰
œ
j
œ
æææ˙
‰
œ
jœ
æææ˙
æææ˙
w œ ˙# . w
œ œœ œ ˙
æææ˙
Ó ‰
œb
jœb
æææ˙
‰
œb
j
œ
æææ˙
æææ˙
w w
w w ˙
æææ˙
Ó ‰ œ
jœ
æææ˙
‰œb
jœb
æææ˙
æææ˙
˙.œ w w
w# ˙b
æææ˙ Ó ‰
œb
jœb
æææ˙
‰
œ
jœb
æææ˙
æææ˙
w w w œ.
‰
æææ˙
=
°
¢
°
¢
18
B
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
24
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&
pppcresc cresc
&
ppp
cresc cresc
&
ppp
cresc
cresc
&
ppp
cresccresc
B ∑ ∑
ppcresc sfz dim.
ppcresc
sfz
B ∑ ∑
ppcresc
sfzdim.
pp
cresc
sfz
?∑ ∑
ppcresc
sfz dim. ppcresc
sfz
?∑ ∑
ppcresc sfz
dim. ppcresc sfz
?∑ ∑
mf
pizz.
&
cresc
&
cresc
&
cresc
&
cresc
B
dim.
ppcresc
sfz dim.
B
dim. pp
cresc
sfzdim.
?
dim. pp
cresc
sfz dim.
?
dim. ppcresc
sfz dim.
?
cresc
æææw#
w# œœ#
œ# œœ
œ œœ œ
œœ# œ
œœ œ
œ œ# œœ#
œ œœ
œ œœ# œ
œ œœ
œœ œ
æææw
‰
œ#
J
˙. œ œœ#
œ# œœ
œ œœ# œ
œœ œ
œœ œ
œ œ# œœ#
œ œœ
œ œœ# œ
œœ œ
œœ
æææw
Œ
œ# ˙ œ œœ#
œ# œœ
œ œœ# œ
œœ œ
œœ œ
œ œ# œœ#
œ œœ
œ# œœ# œ
œœ œ
œ
æææw
Œ ‰
œ#
J
˙ œ# .œ
Jœ#
œ# œœ
œ# œœ# œ
œœ œ
œœ# œ
œ œ# œœ
œ œœ#
œ# œœ œ
œœ œ
æææw
˙# œ
œ# w
˙# œ
œ#
æææw
˙ œ
œ w
˙ œ
œ
æææw
˙# œ
œ# w#
˙# œ
œ#
æææw
˙ œ
œ w
˙ œ
œ
æææw Ó Œ
œœ#
j
œ.
œ.
œ
j
œ#
Œ Œœ
œœ# œ
œ œ# œœœ œ
œ# œ
œ#œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœœ œ
œœ œ
œœ œ
œ œ#œ# œ#
œœ œ
œœ œ
œ œ
œ
œœ œ
œ
œœœ# œ
œ œ# œœ
œ# œœ#œ œ
œœ œ œ
œœ œ
œœ
œœ œ
œ œœœ œ
œœ œ# œ#
œœ œ
œœ œ œ
œœ
œ
œ
œœ
œ
œ# œœœ œ
œ œ# œœ#œ# œ
œœ œ
œœ
œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ œ#
œ# œ#œœ œ
œœ œ
œ œœ
œ
œ œœ
œœ# œ
œœ œ
œ œ# œœ#œ# œ
œœ œ
œ
œ
œ
œœ
œ
œ œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ#
œœ# œ
œ#œ œ
œœœœ
œœœœ
w
˙# . œ
˙. œ w œ# ˙# . w
w
˙. œ
˙. œ w œ# ˙. w
w
˙# . œ
˙. œ w œ# ˙# . w
w
˙. œ
˙. œ w œ# ˙. w
œ#
j
œ.
œ.
œ
j
œ#
Œ Óœ œ
œ
J
œ.
œ
j
œ.
œ.
œ
j
œ#œ.
œ#
j
œ
Œ œ œ Œ
=
Aura - Alexandre Schubert
2
°
¢
°
¢
C
30
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
36
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&∑
ppsfz
dim.
pp sfz
dim.
&∑
pp sfz
dim.
pp sfz dim.
&∑
pp
sfzdim.
pp sfz
dim.
&∑
pp
sfz
dim.
pp sfz
dim.
B
ppppp
B
ppppp
?
ppppp
?
pp
ppp
?∑
&
ppsfz molto expressivo
dim.
&
pp sfzmolto
expressivo
dim.
&
pp
sfzmolto expressivo
dim.
&
pp
sfzmolto expressivo
dim.
B
f dim.
B
cresc
cresc f
dim.
?
cresc f dim.
?
cresc
f
dim.
?
arco
mfdim.
w
˙ œ
œ w
˙ œ
œ w
w
˙b œ
œb w
˙b œ
œb w
w
˙ œ
œ w
˙ œ
œ w
w
˙b œ
œb w
˙b œ
œb w
œœ œ
œ
œœ œ
œ
œbœœ œ
œœ œ
œ œbœbœ œ
œœ œ
œ œ œbœœ œ
œœ œ
œ œbœbœ œ
œœ œ
œbœ œb
œ œ œœœ
œ
œœ
œ
œ
œœ
œ
œ œbœœ œ
œœ œ
œ œbœbœ œ
œœ œ
œb œ œœœ œ
œœ œb
œ œbœœ œ
œœ œb
œbœ œ
œ œ œœ
œ
œ œœ
œ
œ œœ
œ œbœœ œ
œœ œb
œ œbœœ œ
œœ œb
œb œ œœ
œ œœ
œ œbœ œb
œœ œ
œœ œb
œbœ œ
œ œ œ
œœœœ
œœœœ
œ. œb
Jœœ œ
œœ œb
œ œbœœ œ
œœ œb
œb œ œœœ œ
œœ œb
œ œbœœ œ
œbœ œb
œœ œ
œ œ
‰ œ. œ Œ Ó Œœb
œ
J
œb .œb .
œ
J
œŒ Œ
œb
œ
J
œb .œb .
œ
J
˙. œ
˙b .œb wb œ ˙. œ ˙b w#
˙b . œ
˙b . œb wb œ ˙b .œ ˙b w
˙. œ
˙b .œb wb œ ˙. œ ˙b
w
˙b . œ
˙b . œb wb œ ˙b . œ ˙bw
œbœœ œ
œœ œ
œœb œb
œbœ œ
œœ
œb œbœb
œb œœœ œ
œ œœ œ
œbœ œb
œœ
œ
œ œbœbœb
Jœb .
w
œ œbœœ œ
œœ œ œb
œbœb œ
œœ
œbœ œb
œb œbœœ œ
œœ œ œ
œbœ œb
œœ œ œ
œ œbœb œb
j
œb .w
œœ œb
œœ œ
œœ
œb
œbœb œ
œœ œb
œbœb œb
œbœ œ
œœ œ œ
œ œœbœb œ
œœ œ
œ œb
œb œb
Jœb .
œ
Jœ. œ
J
œ# .
œbœœ œ
œœ œ
œ
œbœb
Jœ
œ
Jœ
˙b ˙ œ
œ
œbœ œ
œœ œb œ
œ œb
œb
œb
j
œb .
œ
Jœ. œ
J
œ# .
œŒ Ó
œb œbœb
J
œb .
œb
j
œb
œb .
œ
j
œœb .
œ
J
œb Œœb
Œ ‰œb
j
˙
œ
J
œ# .
=
Aura - Alexandre Schubert
3
°
¢
°
¢
42
D
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
47
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&
f
sul pont.
p fp
&
sul pont.
p
3
fp
p
3
fp
&∑
surd.
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p
Ÿ~~~~~~~~~~
&∑
surd.
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p
Ÿ~~~~~~~~~~
B ∑ ∑
mp
col legno
B ∑ ∑
mp
col legno
3 3 3
?
Glissando de harmônicos naturais
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
?∑
mp
pizz.
5 5
?∑
mp
col legno
&
fpfp fp
cresc
&
p
3
fp
p
3
fp
p
cresc
3 3
&
Ÿ< >~~~~~~~
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pcresc
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
Ÿ< >~~~~~~
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pcresc
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B
cresc
B
3 3 3 3 3 3
cresc
3 3 3 3
?
cresc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
?5 5 5 5
cresc
5 5 5 5
?
cresc
w#
w#Ó
œ
œœ# . œ
Ó Œœ
œœ# . œ
Œ Ó
w
w
Ó Œ œ.
# œ.œ. œ
œ# œ. Œ Ó œ# œ œœœœ. Ó
w
w
Œ ‰
œ#
j
œ
J
˙
Ó ‰
œ#
j
œ
J
œ
w
w
∑ Œ ‰
œ#
j
œ
J
˙Ó ‰
œ#
j
œ
J
œ
w wœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
w wœ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ
J
œ.˙ œ
j
œ. ˙# ˙. œ
œ
J
œ.˙ œ
j
œ. ˙# ˙. œ
œ œ#œ œ#
œ
Œœ œ
œ œœ
Œ
œ
J
œ.˙ œ
j
œ. ˙# ˙. œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ
œœ# . œ
Ӝ
œœ# . œ
Œœ
œœ# .
œ
œœ# .
œ
œœ. œ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
Œ œ# œ œœœœ. Œ Œ œ# œ œ
œœœ. Œ œ# œ œ
œœ œ. œ œ œ
œœ œ.
œ
Œ Œ ‰
œ#
j
œ
J
˙
‰
œ#
j
œ
J
œ œ
‰
œ#
j
œ
J
˙
œŒ Œ ‰
œ#
j
œ
J
˙‰
œ#
j
œ
J
œ œ‰
œ#
j
œ
J
˙
Œœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œœ œ#
œ œ#œ
Œœ œ
œ œœ
Œœ œ#
œ œ#œ
Œœ œ
œ œœ
œ œ#œ œ#
œ
œ œœ œ
œ
œ œœ œ
œ
œ œœ œ
œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
=
Aura - Alexandre Schubert
4
°
¢
°
¢
50
E
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
54
F
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&
ff
ppp
&
ff
ppp
&
ff
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s/surd.
ppp
&
ff
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s/surd.
ppp
B
ff
∑
arco
mf
solo
expressivo f
B
ff
3 3 3 3
∑
arco
solo
mf expressivo
?
ff
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ &
ppp
?
ff
5 5 5 5
&
ppp
?
ff
∑
p
pizz.
&
f
sul pont.
p
∑
solo
mf expressivo cresc f
&
sul pont.
p
3
fp
ppp
&
mp
surd.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~
∑
solo s/surd.
mf expressivo cresc
f
tutti
&
mp
surd.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~s/surd.
ppp
B
tutti
col legno
mp
ppp
B
tutti
col legno
mp
3 3 3
ppp
&
mp
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ppp
?
&∑
?
pizz.
mp
5 5
&
ppp
?
?∑
col legno
mp
∑
œœ# œ
œœ œ
œœœ
œœ œ
œœ œ
œœœ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ
Ó
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
O˙
o
.
.
æææ
Oœ##
œœ# œ
œœ œ
œœœ
œœ œ
œœ œ
œœœ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ Ó
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
O˙
o
.
.
æææ
Oœ##
w
Ó
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
O˙
o
.
.
æææ
Oœ##
wÓ
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
O˙
o
.
.
æææ
Oœ##
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ
œ œ
œ œ# œ œ#œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰œ#
J
œ œ#
‰ œ#
J
œ#œ# œ
œn œ
æææwo
æææwo
æææ˙o.
Œ
œ œ#œ œ#
œ
œ œœ œ
œ
œ œœ œ
œ
œ œœ œ
œ
Ó
æææ˙o
æææwo
æææ˙o. Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ Ó Ó Œ œ#
æææ
O˙
o
.
.
Œœ
œœ# . œ
Œœ
œœ.
Œ
˙ œ
œ ˙œ
œœ>b ˙.
æææ
O˙
o
.
.
Œ Œ œ.
# œ.
œ. œ
œœ. Œ Ó
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
~w
obb
æææ
Oœ
obb
æææ
O˙
o
.
.
æææ
O˙
o
.
.Œ
œ#
j
˙
‰
œ
j
œ
J
œ
Œ ‰ œ#
J
œ# œœœ œb
œb œ
œbœœ œ œ œ
œb œ˙
æææ
O˙
o
.
.Œ
œ#
j
˙‰
œ
j
œ
J
œÓ
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
~w
obb
æææ
Oœ
o
æææ
O˙
o
.
.
˙
Ó Œœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
~w
obb
Oœ
ob O
˙
o
.
.
˙ Ó Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
æææ
O˙
o
æææ
~w
o
æææ
~w
obb
Oœ
obb ˙
O
o
.
.
Ó
æææwo
æææ˙ æææ
˙
æææ˙b
æææ˙b
æææœb
æææ˙n .
Œœ œ#
œ œ#œ
Œœ œ
œœœ
Ó
æææ˙o
æææ˙ æææ
˙
æææ˙b æææ
˙b
æææœb
æææ˙.
Œ
œ œ
Œ
œ œ
œ
Œ Ó Œ
œ
Ó Ó Œ
œ
=
Aura - Alexandre Schubert
5
°
¢
°
¢
60
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
62
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&
tutti
ff
&
ff
3 3
&
ff
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
&
ff
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
B
ff
col legno
B
ff
col legno
3 3 3 3 3 3 3 3
?
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
?
ff
pizz.
55 5 5
5 55 5
?
ff
col legno
&
p
&
3
p fp
3
pfp
3
&
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B
B
3 3 3 3 3 3 3 3 3
?
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
?5 5 5 5
5 5
?
œ#œ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œ#œ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œœ
œ œ.
œ
œ œ.
œ
œ
œ#œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ. œ#
œœ.
œ.
œ.
œ. œœœ.
œ.
œ.
œ#
j
w ˙ œ
J‰
œ#
j
œ
œ#
j
w ˙ œ
J‰
œ#
j
œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œ
œ# œ
œœ œ
œ œ
œœ œ
œ œ
œœ œ
œ œ
œœ# œ
œ# œ
œœ œ
œ œ
œœ œ
œ œ
œœ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# .œ
œŒ
œ œ.œ
œÓ
œ# œœ
œ.Ó Œ
œ#
Œ œ. œ#œœ.
œ.
œ.
Œ Œ œ. œ#œœ.
œ.
œ.
Œ Ó œ. œ#œœ.
œ.
œ.
œ.
‰
œ#
j
˙ œ
J‰ Œ Œ
œ#
j
œ œ œ
J‰ Ó
œ.‰
œ#
j
˙ œ
J‰ Œ Œ
œ#
j
œ œ œ
J‰ Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œ
œ# œŒ
œœ œ
œ œŒ
œœ# œ
œ# œŒ
œœ œ
œ œŒ Œ
œœ# œ
œ# œŒ
œœ œ
œ œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ Œ
œ œ
Œ
œ œ
=
Aura - Alexandre Schubert
6
°
¢
°
¢
G
65
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
H
70
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&
p mf crescdim.
p cresc
&
p fp
3
mf cresc
pp
cresc
&
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mfcresc
dim.
cresc
&
p
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mf pcresc
B
mf
ord.
crescdim.
cresc
B
mf
ord.
cresc
p pcresc
?∑ ∑ ∑
mf cresc
?∑ ∑ ∑
mf cresc
?∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f f
&
f
f
&
fmf
&
f
mf
B
f
mf
B
f
mf
?
f
mf
?
f
mf
f
?
fmf
œœ
œ.Œ Ó
œ# œœ
œ.Ó Œ
œ œ
œ œ# œ# œ#œ œ# ˙# œ œ
Ó Œ œ. œ#œ
œ.
# œ.
œ.Œ Ó Œ ‰
œ#
J
œ œ#
‰ œ#
J
œ#œ# œ
œn œ ˙#œ œ#
œ#
j
˙ œ
J‰ Œ Œ œ œ
œ œ# œ œ#œ œ# ˙ œ œ
˙#
œ œ#
œ#
j
˙ œ
J‰ Œ Œ ‰
œ#
j
œ œ#‰
œ#
j
œ#œ# œ
œn œ ˙œ œ#
˙#œ œ#
Œ œ œ
œ œ# œ œ#œ œ# ˙ œ œ
˙#
œ œ# œ# .œ#
J
œ œ
Œ ‰
œ#
j
œ œ#‰
œ#
j
œ#œ# œ
œn œ ˙œ œ#
˙#œ œ#
˙ œœ œ#
Œœ œ
œ œ# œ# œ#œ œ#
Œ ‰
œ#
j
œ œ#
‰
œ#
j
œ#œ# œ
œn œ
˙. œ œb w#
Œ
˙ œ
œ
˙. œ œ w#
Œ ‰ œ#
J
œ# œœ
œ
˙b œ
œb œœb
œb ˙ œ
œ œ#œ ˙ œ
œœœ
˙b
œb œœœ
œbœ ˙
œ œ#œ#
œœ
˙œœ œ
œ œ
œ
œœb œ
œb œœb œ œ
œ œ
œ#œ œ#
œ œ#œ œ# œ
œœ œ
œ œœ œ
œœ
œ
œœb œ
œb œœb œ.
œ
J
œ#
œ#œ œ
œ œ#œ œ# .
œ
Jœ
œœ œ
œ œœ œ
œ
œœb
œb œœb œ
œb œ œ.
œ
j
œ#œœ œ#
œ œ#œ œ# œ.
œ
j
œœ œ
œ œœ œ
œ œ
œ
˙. œ œ w#œ
‰ œ#
jœ# œ
œœ
˙b . œ œ w ˙. œ œ
=
Aura - Alexandre Schubert
7
°
¢
°
¢
73
I
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
79
vln. 1
vln 2.
vla.
vlc.
cb.
&
cresc
ff
ff p
&
cresc
ff
ff p
&
cresc
ff
ff
p
&
cresc
ff f
f
p
B
cresc
ff
ff p
B
cresc
ff
ff p
?
cresc
ff
f
f p
B
?
cresc
fff
pizz.
arco
f p
B
?
cresc
fff
pizz.
arco
f
∑ ∑
&
&
&
&
B
B
sumindo
B
sumindo
ppp
B
sumindo
ppp
∑
?∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙œ
œœ>b ˙
w>
#
æææ
wn w w
œbœb œ
œbœ
œ œ œ œœ ˙.
˙>
˙
æææ
wb w w#
˙b œ
œbœb œ ˙ œ
œœ œ œ
˙>
˙æææw w# w
˙bœœ œb
œb œ
œb œœœœ œ
œ œ˙>
˙æææwb wn œ
œ#œ œ#
œb
œb œœb œb
œ œœb œ
œ
œœ œ
œ œœ œ
œœ ˙
>˙
æææ
wœ
œ#œ œ# œ œ
œ œ
œbœœ œb
œb œœb œb
œ
œbœœœ œ
œ œœ œ œ ˙
>
˙
æææw œ œ
œ œ
w#
œœb œb
œb œœb œb
œb œ œ
œœb œ
œ œœœ œ œ œ
œ w>
æææw w w
œbœb œ
œbœ
œ œ œ œœ ˙ œ
œ
œ
>
œ>
œ>#
œ
>
æææwb wn
w
˙b . œ œ œ ˙ œ œ œ
>
œ>
œ>#
œ
> æææw
w# w œœ#
œ œ# œ œœ œ
w#
w œœ#
œ œ# œ œœ œ
w# ˙. œ
œœ#
œ œ# œ œœ œ
w# ˙. œ w
œ œœ œ
w# ˙. œ w w
w# ˙. œ w w œ˙.
˙. œ w w œ˙. ˙ ˙
w w œ˙. ˙ ˙ w
w œ˙. ˙ ˙ w
=
Aura - Alexandre Schubert
8