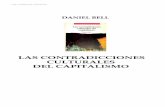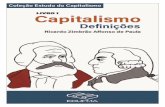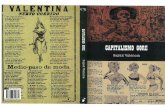AS MUTAÇÕES DA MUNDIALIZAÇÃO OU QUANDO O CAPITALISMO FINANCEIRO DIRECIONA O CAPITALISMO...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of AS MUTAÇÕES DA MUNDIALIZAÇÃO OU QUANDO O CAPITALISMO FINANCEIRO DIRECIONA O CAPITALISMO...
Colombia Internacional
ISSN: 0121-5612
Universidad de Los Andes
Colombia
Costa Lima, Marcos
As mutações da mundialização ou quando o capitalismo financeiro direciona o capitalismo cognitivo:
desafios para a América Latina
Colombia Internacional, núm. 66, julio-diciembre, 2007, pp. 70-94
Universidad de Los Andes
Bogotá, D.C., Colombia
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81206605
Como citar este artigo
Número completo
Mais artigos
Home da revista no Redalyc
Sistema de Informação Científica
Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto
70
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
recibido 04/09/2007, aprobado 04/10/2007
Marcos Costa Lima**
AS MUTAÇÕES DA MUNDIALIZAÇÃO OU QUANDO O CAPITALISMOFINANCEIRO DIRECIONA O CAPITALISMO COGNITIVO: desafios para a América Latina*
THE MUTATIONS OF GLOBALIZATION OR WHEN
FINANCIAL CAPITALISM STEERS COGNITIVE CAPITALISM:
Challenges for Latin America
71
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
ResumenO artigo Procura estabelecer uma especie de “estado da arte”numa discussao sobre estestemas: o que é e como se constituem o avanço científico e a inovação tecnológica?Como isso se associa às disparidades de acesso, em especial à situação desvantajosa dospaíses periféricos? Como a 'dominância financeira' tem colonizado a inovaçãotecnológica? O autor pretende fazer essa revisão a partir, sobretudo,de um ponto de vistaque vincula à escola evolucionista e regulacionista.
ResumenEl artículo se propone realizar una especie de “estado del arte” de la discusión sobre lossiguientes temas: ¿qué son y cómo se producen el avance científico y la innovacióntecnológica? ¿Cómo se asocia ello a las desigualdades de acceso, en especial, con ladesventajosa situación de los países periféricos? ¿Cómo la dominación financiera hacolonizado la innovación tecnológica? El autor pretende hacer dicha revisión a partir,principalmente, del punto vista de las escuelas evolucionista y regulacionista.
Palabras clave: América Latina, países periféricos, ciencia y tecnología, desigualdad.
Abstract
The article proposes a sort of “state of the art” of the discussion of the following themes:What are scientific advance and technological innovation and how have they beenproduced? How do such advances and innovations relate to access inequalities, especiallyin the disadvantaged situation of peripheral countries? How has financial dominationcolonized technological innovation? The author intends to do this review mainly fromthe point of view of evolucionist and regulationist approaches.
Key words: Latin America, peripheral countries, science and technology, inequality.
* Trabalho apresentado no II Seminário Internacional de Filosofia Política: «Realismos y Utopias en América Latina: Frag-mentación y Luchas Democráticas», que ocorreu em San Juan da Costa Rica 13 a 15 fevereiro 2006. Organizado pelaCLACSO (Argentina), pelo DEI (Costa Rica) e a Pontifícia Universidade Javeriana (Colombia). Agradeço a GianginaOrsini Aarón pela leitura atenta do texto.
** Prof ° e Coordenador do programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco,doutor em Ciências Sociais pelo IFCH/UNICAMP e pós-doutor pela Université Paris XIII – Villetaneuse. E-mail: [email protected]
O traço especifico —talvez o maisespecífico— das economias industriais do séculoXX é a aplicação sistemática e generalizada dos
conhecimentos e dos métodos científicos aodomínio da produção.
Nathan Rosenberg
Nenhum saber se forma sem um sistemade comunicação, de registro, de acumulação, de
deslocamento, que é em si mesmo uma forma depoder, e que está ligado, em sua existência e em
seu funcionamento, às outras formas de poder.Michel Foucault
Introdução
É cada dia mais freqüenteler e ouvir nos meios decomunicação que passa-
mos a viver numa sociedade do conhecimen-to, evocando os impactos provocadospelas novas tecnologias de comunicaçãoe informação sobre o crescimento eco-nômico, a organização do trabalho, amundialização da produção, do comér-cio e das finanças.
Os avanços técnico-científicos,de fato, têm sido notáveis, inclusive os dedomínio genético que, por certo, intro-duzirão transformações substantivas nasrelações humanas de uma forma maisgeral. Não obstante, se por um lado o“traço mais específico” das economiasindustriais do século XX do qual falaRosenberg (1993: 3-21), foi a aplicaçãosistemática e generalizada dos conheci-mentos e dos métodos científicos, poroutro, tem sido acompanhado de umaumento do número de pobres nomundo, do agravamento das desigualda-des entre países, regiões e grupos sociais.Do ponto de vista do trabalho, seja nospaíses periféricos, seja nos países cen-trais, vêm aumentando a informalização
a precarização, que refletem as políticasde desregulamentação da legislação tra-balhista. Em relação ao meio ambiente,são crescentes a destruição dos ecossiste-mas, a dilapidação dos recursos naturais.O acesso às grandes descobertas,invenções e inovações não tem sidoacessível à maioria da população mun-dial, na agricultura, nos fármacos, e já sefala mesmo em apartheid digital.Amplia-se, portanto, o processo de divergênciacientífica e tecnológica entre países eclasses sociais.
Nesta 3ª Revolução Tecnológicao novo sistema emergiu da conjunçãoentre a desregulamentação estatal e a ins-trumentalização da ciência no interiordo processo produtivo.Mas é a partir dosanos 90 que o sistema financeiro toma adireção do processo, deixando entreverque sobre a tecnologia incide um prin-cípio cumulativo, no qual ela é concebi-da (desenvolvida e difundida) através depesquisas em ciência básica de longoprazo com significativas repercussõeseconômicas (Coriat 2002).
Para fazer avançar o estoque deconhecimento científico de domíniopúblico —que, teoricamente, paraalguns, é acessível a todos— foi necessá-rio financiar atividades de instituições,como universidades e centros de pesqui-sa e laboratórios; estabelecer agências defomento capazes de apoiar a produção ea difusão do saber. Em suma, tornou-seevidente a noção de que a pesquisa éum fator de competitividade e uma ala-vanca para o desenvolvimento. Contu-do, na medida em que nos paísesindustrializados os resultados das pesqui-sas produzidas em instituições públicasterminavam apropriados por firmasindustriais privadas; em que apenas umseleto número de grandes firmas, e depaíses, tinha condições de enfrentar os
72
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
altos níveis de investimentos em conhe-cimento, o mundo da ciência e da tec-nologia passou a enfrentar cincoproblemas-chave:
1. A apropriação do conhecimento, atravésdos direitos de propriedade intelec-tual que, por um lado, restringem oacesso de países1 e classes sociais à ino-vação, e por outro, internacionaliza aP&D, mas a circunscrevendo aos oli-gopólios internacionais, que passam acontrolar, por exemplo, o patrimôniogenético e a farmacologia, privile-giando a propriedade privada ao usocoletivo do conhecimento2.
2. A modificação do papel do Estado naprodução do conhecimento: a pesquisapública, sob a “consigna” de suavalorização (no sentido de uma uti-lização privada com objetivoscomerciais), passa, então a ser sub-metida às regras da rentabilidade: aprincípio nos Estados Unidos eposteriormente em todos os paísesindustriais, os governos puseram emprática, políticas tecnológicas e deinovação baseadas no aperfeiçoa-mento da oferta, resultando naredução do custo dos investimentospara a iniciativa privada e aumen-tando a quantidade de recursos deinovação constituída pela coletivi-dade em benefício dos interessesprivados. O comportamento doEstado passou, em muitos casos, aser confundido com aquele dosgrandes grupos industriais e finan-
ceiros e os laços fortes de interde-pendência que são criados entreestas instituições justificam, muitasvezes sem a menor transparência, atransferência dos recursos públicospara o capital privado.A formulaçãopelo Estado de uma política de ino-vação, tem se fundamentado, mais emais, na socialização dos custos e naprivatização dos benefícios3.
3. O “dirigismo” da pesquisa cientificapara áreas que não necessariamenterespondem a prioridades civilizató-rias, como o são a medicina para ospobres ou as tecnologias ambiental-mente sustentáveis.
4. A“mercantilização” da ciência, buscan-do áreas e pesquisas de retornofinanceiro breve e altamente lucrati-vas que, entre outros aspectos, signi-fica reduzir o papel da educaçãosuperior, da pesquisa e do conheci-mento técnico, direcionando-asmais para o negócio e menos para aformação.
5. A dinâmica da programação da obso-lescência dos produtos, ou o encurta-mento do ciclo do produto, queentre muitos efeitos perversos,implanta um marketing pesado euma cultura de consumo já denun-ciados na obra de Marcuse e dosfrankfurtianos, e ainda incide drama-ticamente sobre os recursos naturaise no meio ambiente, em geral.Nessa dinâmica, aumentaram drasti-camente as desigualdades de acessoà produção científica e tecnológica,
73
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
1 Forte exclusão dos países em desenvolvimento e composição da ‘triadização’do conhecimento,produzindo uma fratura cien-tifica Norte x Sul, aprofundando a divergência entre as principais zonas econômicas.
2 A este respeito ver a rica discussão introduzida por Hugon (2002) da teorização sobre os bens públicos.3 Mas é preciso esclarecer que não estamos combatendo,aqui a formulação de políticas de geração tecnológica industrial (a exem-
plo das infant industries, capazes de produzir em áreas estratégicas) ou políticas regionais de convergência e de redução das dis-paridades, entre outras.A questão está no momento de definição das prioridades: quem as define? É sobre como evoluir noaspecto da transparência dos processos, do acompanhamento e da avaliação dos resultados, de seu retorno para a sociedade.
sem a qual os países de baixa indus-trialização permanecerão ocupan-do, na divisão internacional dotrabalho, o lugar de produtores decommodities, expressando baixosvalores agregados e submissão aoatraso e à onerosa dependênciadecorrente desta posição. Mas tam-bém crescem as desigualdades derenda e de padrão de consumo nointerior das sociedades afluentes.
A partir da Segunda GuerraMundial, inclusive em decorrência dosinvestimentos em Pesquisa e Desenvol-vimento (P&D) para a tecnologia mili-tar no período do conflito, ocorreu umsubstantivo avanço nas tecnologias detransporte, comunicação e informaçãoe militar, realizados pelos Estados Uni-dos da América, que resultaram em trêscaracterísticas fortes do novo quadrocapitalista: i) ampliou-se o conheci-mento científico e tecnológico atravésdas novas tecnologias de informação ecomunicação (NTIC), que passaram aser entendidas como geradoras de van-tagens competitivas; ii) promoveu-seuma maior integração do espaçoeconômico no âmbito mundial, sejapela queda sistemática das barreirasalfandegárias, seja pela expansão dascorporações multinacionais e pela ins-trumentalização das NTCI; iii) aumen-tou a competição entre as empresasmultinacionais, atuais controladoras dasgrandes fatias do mercado mundial4.
Com a configuração contem-porânea das relações de propriedade edas relações políticas, essa dinâmica
assume como traço essencial a domi-nação financeira, tornando-se, portan-to, necessário aprofundá-la e verificar oseu raio de propagação.
Há mais de trinta anos asfinanças deixaram de ser conduzidaspelos governos, passaram então a serdirigidas pelo mercado, cuja extensãomundial alterava as repercussões dasperturbações econômicas entre os paí-ses e os riscos ligados à instabilidadedos mercados financeiros e a ter grandeimportância, provocando um contágiogeneralizado, com efeitos tão mais dra-máticos naqueles países de baixa indus-trialização e que já acumulavam umelevado endividamento externo. Comoafirma argutamente Michel Aglietta(2003:19),“o risco se tornou um traçomaior das finanças modernas”.
O leitmotiv desse trabalho estána compreensão do processo de con-solidação desse avanço científico asso-ciado à uma imensa disparidade, comtendência à ampliação, da incapacida-de dos países periféricos (late-comers)de terem acesso à mudança, parareproduzir, adaptar e aperfeiçoar astecnologias importadas. Busca aindauma síntese do estado da arte da pro-dução do conhecimento e da tecnolo-gia na OCDE utilizando-nos dosconceitos introduzidos pelas escolasevolucionista e regulacionista paramelhor compreender as teorizações etrajetórias do desenvolvimento nospaíses centrais, como condição pararefletir sobre as alternativas possíveispara a América Latina, na medida emque o processo de mundialização tem
74
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
4 “Cabe destacar que até o final do século XX as mudanças giraram em torno das empresas transnacionais. Em 1985, nãomais que 600 destas empresas, cada uma delas com vendas superiores a 1 bilhão de dólares, geraram a quinta parte dovalor agregado total (exclusive o ex-bloco socialista) dos setores industrial e agrícola”. (Mortimer 1992: 42) (livre tra-dução de Marcos Costa Lima).
reduzido drasticamente as políticasnacionais, sejam industriais ou deregulação (Oliveira 2004).
Para que a análise econômicanão venha a subsumir a dimensão dapolítica, das particularidades histórico-culturais e possibilidades nacionais, daação dos sujeitos políticos, capazes deproduzirem alternativas ao sistemacapitalista vigente, o aporte teórico-analítico introduzido por FrançoisChesnais (2004, 2003) é fundamental.Aí encontramos uma reflexão maduraque, ao articular ao fenômeno da mun-dialização do capital à dimensão dafinanceirização e à produção do con-hecimento, pode iluminar algumas des-tas questões.
Assim sintetiza François Chesnais:O capitalismo contemporâneobusca, indubitavelmente acentuare exercer diretamente um contro-le sobre os lugares como sobre osatores que detêm conhecimentosou um potencial de criatividadetécnica no domínio da produção,do comércio ou da organização .Mas, pergunta ele: “ – Quemexerce o controle, e em função dequais interesses?” (Chesnais 2003)
Portanto, para se compreender adimensão e as implicações desse con-trole, mas também as resistências, con-tradições e desperdícios que elecomporta é relevante definir a princí-pio a configuração específica dasrelações de produção enquanto relaçãode propriedade. E, uma vez entenden-do que os efeitos da privatização dosaber correspondem a um estágio docapitalismo onde o controle do conhe-cimento detém um papel central (atra-vés, entre outros, dos mecanismos da
propriedade intelectual), uma sínteseentre uma teoria crítica do capital cog-nitivo e a crítica do capital patrimonialpode e deve ser esboçada, na condiçãode que a questão da propriedade priva-da dos meios de pesquisa e de pro-dução seja abordada de frente.
Neoclássicos, neoSchumpeterianos,regulacionistas e marxistas:Teoria e Prática
A literatura sobre os processos detransformação do capitalismo após osanos 80 tem enfatizado o papel da tec-nologia para o crescimento “exuberan-te” do processo de globalização. Acrescente intensidade dos fluxos cientí-ficos e tecnológicos internacionais —levada adiante por empresas multina-cionais, hoje conduzidas pelo sistemafinanceiro internacional e por umpapel indutor dos Estados-nacionais nosetor, tem originado uma literaturaabundante sobre o lugar da ciência, datecnologia e da inovação no processode crescimento econômico.
Joseph Schumpeter construiuuma teoria da inovação, tendo-a subor-dinado à sua teoria do empresário ino-vador e ao seu conceito-chave dedestruição criadora, portanto portadora deinstabilidades ao sistema econômico.Para o economista austríaco, o empre-sário seria o indivíduo responsávelpelas decisões de negócios que leva-riam à introdução de novos produtos,processos e sistemas ou à abertura denovos mercados e novas fontes de for-necimento. A liderança criativa exerci-da por este empresário seria a fonte dedinamismo por excelência numa socie-dade capitalista. Na sua distinção entreinvenção, inovação e difusão ele enfati-za, sobretudo, as inovações mais radicaise tanto a invenção quanto a difusão são
75
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
relegadas a um status inferior. Se bemque hoje se dê muito mais importânciaao aspecto de interdependência queexiste entre as três fases, ou momentos,reforçadas inclusive pelos estudosempíricos, para Schumpeter a distinçãolhe ajudava, pois facilitava distinguirentre o empresário de fato criador eaquele mero gerente de rotinas consa-gradas, e só um ato de um empresárioinovador faria com que a invenção pas-sasse de uma simples curiosidade paravir a se transformar em um artefatocomercial.
Em livro clássico sobre a matéria,Christopher Freeman (1988:1-8), umherdeiro de Schumpeter, à guisa de defi-nir toda uma agenda de pesquisa , escla-rece “porque Schumpeter não é obastante”. Reconhecendo ter sido oaustríaco aquele que colocou a inovaçãocomo o principal dinamismo no desen-volvimento do capitalismo e louvar oseu senso de perspectiva histórica, rela-ciona algumas fragilidades presentes nasua obra, a começar pela pouca atençãoque dedicou às regiões periféricas domundo. E que, embora em sua análisetivesse tratado do papel da competiçãotecnológica, ele não a estendeu para ocomércio internacional ou para a difusãointernacional de tecnologia. Conside-rando que Schumpeter tenha sido pio-neiro no estudo do relacionamento entreas revoluções tecnológicas e os longosciclos de desenvolvimento, ele nãodesenvolvera qualquer teoria satisfatóriasobre os períodos de depressão econô-mica. Mais ainda, disse muito poucosobre as políticas governamentais para aindústria, a tecnologia e a ciência, ouainda sobre o relacionamento entre uni-
versidades, instituições de governo e apesquisa industrial. Todos esses, sãotemas que serão desenvolvidos pelaescola neo-schumpeteriana a qual Free-man se filia.
As primeiras análises que os eco-nomistas fizeram sobre os processos deinovação, repousavam sobre algunspressupostos simples. Um primeiropostulado concebia a Pesquisa e oDesenvolvimento (P&D) como estan-do na origem do processo de inovação,ou seja, a inovação teria lugar pela apli-cação prática dos conhecimentos pro-duzidos pelas atividades de P&D. Aquia inovação corresponde a uma filiaçãodireta à ciência.
Um segundo postulado afirma-va que os conhecimentos produzidospela atividade de P&D eram um “bempúblico”, quer dizer, desde que produ-zidos, estavam a disposição de todos.Uma conseqüência deste postulado éque as indústrias não poderiam con-servar para si os frutos da pesquisa.Encontrou-se aí uma justificativa parao apoio publico à pesquisa industrial,que assim diminuiria a distância entrea rentabilidade social da P&D e suarentabilidade privada, reduzida pelasdificuldades impostas à apropriação doconhecimento.
Para os economistas neoclássicos,como Léon Walras (1834-1910)5, funda-dor da teoria do equilíbrio geral, o equi-líbrio de mercado é automático emteoria, portanto,uma crise é não somen-te um acidente de natureza conjuntural,mas logicamente impossível. Os dese-quilíbrios, como as transformações tec-nológicas ou as crises observadas narealidade, só poderiam decorrer de
76
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
5 Walras escreveu em 1874 sua mais importante obra Elementos da Economia Política Pura.
fenômenos externos que entravavam olivre jogo do mercado, suposto comoauto-regulável. As disfunções só pode-riam ser causadas por equívocos come-tidos pelas autoridades publicas.
Hoje, está mais do que eviden-te a insustentabilidade desta con-cepção, que não apenas aceita apremissa do puro mercado, mas tam-bém da hiper-racionalidade dos agen-tes econômicos, os quais atuando deforma padronizada, movidos por seusinteresses individuais, realizariam ointeresse geral. Nesse modelo, as dife-renças institucionais e culturais entrenações não teriam influência sobre osprocessos econômicos, e as diferençasestruturais seriam puramente o frutode investimentos passados.
A teoria do crescimento econô-mico, por muitos anos dominada pelomodelo de Solow, entendia que oritmo de crescimento econômico, nolongo prazo, se mantinha em funçãoda intensidade do progresso técnico,que era visto como uma variável inde-pendente, como um fator exógeno.Seus primeiros estudos empíricosconcluíram que a mudança técnica eraresponsável por um pouco mais dametade do ritmo de crescimento. Mas,como pergunta Boyer (1995), se ocrescimento se explicava pelo progres-so técnico, o que explicaria este últi-mo? A resposta, portanto, estava noesforço de pesquisa científica e tecno-lógica, daí o acento posto sobre opapel da P&D, segundo um modelolinear onde a pesquisa gera a invenção.Esta por sua vez gera a inovação quefinalmente, pela difusão, engendranovos produtos. Nesta lógica linear,reforçar a inovação passaria necessaria-mente por um aumento no esforço depesquisa.
Para Solow (1957), portanto, oprogresso técnico evita a paralisação docrescimento e, para ele, como de restopara a maioria dos modelos neoclássicosde crescimento,o aumento da produtivi-dade total dos fatores é uma tendênciaautônoma, exógena, sem a qual o cresci-mento não poderia manter-se, ou durar.Os conhecimentos científicos e tecnoló-gicos para Solow e seus seguidores eramequivalentes a um bem publico puro, oqual poderia ser apropriado livrementepor qualquer empresa ou nação, e não sequestionavam sobre os motivos da alo-cação de recursos para a P&D, suposta-mente dependentes de decisões públicase não privadas.
Como afirmou Boyer, a macroe-conomia do crescimento e as análisesda mudança técnica permaneciamdomínios de pesquisa amplamente des-conectados.
Após os anos 80, um amplogrupo de economistas se declara insatis-feito com as respostas neoclássicas e suasinsuficiências, sendo o caso japonêsexemplar, pois, chega a revolucionar osetor, alcançando a fronteira técnica eorganizacional dos processos produtivossem dispor de um potencial científicoequivalente àquele dos EUA. Para esteseconomistas, que passam a se interessarnovamente pelas relações entre inovação,crescimento e emprego, debruçando-sesobre questões como da gênese e difusãoda inovação, a inovação é fenômenoendógeno, no sentido em que as empre-sas avaliam a rentabilidade esperada dainovação com relação a um determinadoproduto tradicional, e fazem a opçãoentre contratar trabalhadores, de umlado, ou contratar cientistas e engenhei-ros, de outro, para elaboração de novosprocessos e/ou produtos. Esta escolhadependeria, entre outros fatores, da taxa
77
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
de juros, da maior ou menor probabili-dade de obtenção de sucesso com a ino-vação, bem como do tamanho dapopulação e, portanto, do mercadopotencial.
Essas teorias reencontram o pen-samento de Schumpeter e con-trapõem-se ao modelo neoclássico. Asteorias do crescimento endógeno pas-saram a entender o progresso técnicocomo produto da atividade econômicae em uma dimensão que não havia sidolevada em conta pela escola rival. Asinovações tendem a se concentrarsegundo as tecnologias e formas deorganização complementares, de modoque a maior parte das fases longas decrescimento tiveram por origem umainovação radical, por exemplo, o vapor,a eletricidade, ou a computrônica, quese difundem sobre a forma de diversosprodutos.
Interpretam a história econômi-ca como uma dinâmica cíclica comuma sucessão de fases, às quais os siste-mas cientifico-técnico e sócio-institu-cional estão vinculados.A partir de umaanálise dos produtos portadores de inovaçãode Kondratieff, entendem que,mais quea revolução têxtil (1790/1849) é neces-sário reter a mecanização; mais que asestradas de ferro (1850-1896) é a flui-dez de circulação de objetos, de homense de idéias; mais que o petróleo (1897-1945) é a massificação da produção efinalmente, mais que o automóvel é amassificação do consumo.
Três correntes de análise sobre ocrescimento endógeno e o papel damudança técnica neste processo se des-
tacam:uma ligada às teorias heterodoxas dafirma, a segunda é a abordagem neo-evo-lucionista e a terceira, a regulacionista.Quanto à primeira, as transformaçõestécnicas são o produto de uma estratégiade competição entre as firmas. Estas nãosão passivas com relação à pesquisa cien-tifica e técnica. Elas não esperam que asinovações caiam do céu, ou que estejamacessíveis sobre o mercado de patentes ede marcas. As firmas investem, assimcomo os poderes públicos, no setor depesquisa, mas elas também aperfeiçoamseus equipamentos e processos. Elas ino-vam, também transformando os pro-cessos internos de organização. Estasinovações são comandadas pela compe-tição, por mercados e por estratégias demonopólio. Mas elas também, quandopodem, se opõem às inovações: quandosua posição no mercado, sua existênciaestá ameaçada, elas guardam a inovação,ou se utilizam do poder econômico paraevitar ou impedir a inovação em outrasfirmas. Elas selecionam as inovações.
Na maioria dos casos o contex-to econômico e social geral, ograu de competição sobre osmercados e os contextos geo-estratégicos das firmas são deter-minantes muito mais potentesdo ritmo e da natureza das ino-vações que a alocação indiferen-ciada dos recursos no setor depesquisa. (Mounier 2003: 371)
A escola neo-evolucionista6 tem omérito de fazer avançar a compreensãomicroeconômica da mudança técnica. Se
78
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
6 Os modelos evolucionistas admitem uma diversidade de níveis de performance entre firmas, o que em geral não é acei-to pelos neo-clássicos, mas que são corroborados pelos estudos empíricos. O processo de seleção resulta na conservaçãode certas inovações, como a seleção natural aceita certas mudanças genéticas, por isto a denominação de “evolucionista”que esta abordagem se atribuiu; in Guellec (1999: 54).
as inovações acontecem em “cachos” ouem clusters, como queria Schumpeter, éporque elas têm entre si afinidades e um“ar de família” herdado de sua filiaçãotécnica e cientifica. E estas filiações nãosão frutos do acaso. Os problemas nointerior do campo são sempre pensadose resolvidos no espírito do tempo, dizemrespeito aos contextos científicos e téc-nicos do momento.
As experiências passadas e omimetismo são os princípios da ino-vação. Historicamente, as famílias téc-nicas se organizam ao longo da fonteenergética dominante de uma épocadada. A cada época corresponde um“paradigma tecnológico” que acabapor se impor. Portanto, em determina-do momento da história, o estado datécnica é a sedimentação das geraçõestécnicas anteriores, onde uma predo-mina. Cada novo “paradigma tecnoló-gico” está associado a um processoonde um ciclo econômico longo seexaure, e sua aceitação enquanto novoparadigma vai estruturar a fase deexpansão do próximo ciclo. Assim, adinâmica tecnológica é endógena, poistanto se alimenta dos recursos sociaisquanto dos recursos técnicos e científi-cos existentes, ela acumula e evolui.
Freeman e seu grupo conside-ram que os ciclos longos correspondema uma sucessão de paradigmas técnico-econômicos7, percebidos como elementosessenciais da teoria das ondas longas deSchumpeter.A mudança de paradigma,portanto, significa uma mudança radi-cal do sistema de pensamento que pre-valecia anteriormente em quase todasas indústrias, em matéria de engenharia
e de gestão, no sentido de obter-se gan-hos de produtividade e lucros elevados.O novo paradigma aparece no interiordo antigo, logo demonstrando suamaior eficácia no curso de umadepressão longa. Introduzindo ino-vações radicais e inovações incremen-tais, que produzem verdadeiros novossistemas tecnológicos8, terminando porestabelecer um novo “regime” ou para-digma tecnológico dominante. Noentanto, para que isto ocorra, é neces-sário que ocorra uma crise de ajusteestrutural que implica na substituiçãodos setores dinâmicos da economia,bem como profundas mudanças insti-tucionais e sociais.
Para Carlota Pérez, a depressãolonga é um sintoma de uma imensadesarmonia entre o sub-sistema tecno-econômico e o quadro sócio-institucio-nal, ao mesmo tempo em que a expansãolonga corresponderia a uma interaçãopositiva entre as duas esferas. Ela enten-dia o período de depressão à la Schum-peter, como um processo de destruiçãocriadora, tanto na esfera produtiva quan-to nas esferas sociais e institucionais. Oselementos deste novo regime se consti-tuem progressivamente no interiormesmo do antigo sistema para terminarpor substituí-lo, formando um novoparadigma tecno-econômico a engen-drar um novo regime tecnológico.
Mas deixemos que se expresse aprópria Carlota Pérez (2001: 115-136):
O processo de multiplicação deinovações e sistemas tecnológi-cos, para cima e para baixo dasindústrias que formam o núcleo
79
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
7 A noção de paradigma econômico é atribuída a Giovanni Dosi, a partir da obra de Thomas Kuhn.8 Ver nota de Rosier (2003: 90).
de cada revolução tecnológica,explica o enorme potencial decrescimento que tem cada umadestas constelações de novas tec-nologias. Se trata da abertura deum novo e vasto território para ainovação, a expansão e o cresci-mento.As inovações iniciais mar-cam o descobrimento, enquantoque a plena ocupação do territó-rio corresponde à fase de matu-ridade e esgotamento.
Carlota Pérez faz do custo relativobaixo e decrescente (i), da oferta não limitada(ii), da potencialidade de uma utilização emdiversos domínios (iii), da capacidade dereduzir os custos da produção (iv), as quatrocondições para se definir um bom para-digma. E Freeman (1987) acrescenta anoção de aceitação social do paradigma,pois para ele, se é a tecnologia quedetermina o campo das possibilidades, éa sociedade que a seleciona. Contudo,entendo que seja excessiva esta per-cepção sobre a seleção feita pela socie-dade, quando em geral o processo se dámuito mais pela imposição que pelocontrário, a exemplo da pesquisa militar,ou da forte determinação do marketing.Portanto, as aspirações sociais se encon-tram desconectadas das possibilidades desua realização (Girard 1997).
No interior de cada novo para-digma existe um fator-chave, que cum-pre três funções maiores: um custorelativo pouco elevado e declinandorapidamente, uma disponibilidade apa-rentemente ilimitada em um longoperíodo e uma capacidade para ser utili-zado em inúmeros processos produtivos.Desta forma, o papel do fator-chaveseria determinado por baixo custo dotrabalho e pelo algodão quando da revo-lução industrial; pelo baixo custo do
carvão e do transporte a vapor em mea-dos do século XIX; pelo baixo custo doaço, na terceira expansão longa e pelopetróleo e a industria química naexpansão do após 2ª Guerra Mundial.Nesta interpretação, desde o choque dopetróleo, as novas tecnologias de infor-mação e comunicação, com base nacomputrônica e nos satélites, seriam ocluster dominante a partir dos anos 90,que se transformam gradualmente emfatores-chave (Rosier 2003; Freeman1992; Freeman & Pérez 1988).
Para entender a articulaçãosociedade-técnica, que se põe naseqüência e emergência de uma novaidéia força (chave), convém traduzi-laem termos de comportamentos e von-tades precisas. Assim, Freeman & Soete(1987) partindo do princípio que osnovos paradigmas tomam forma sob aruína dos antigos, o fordismo (tangibi-lidade, centralização, hierarquia, confli-tualidade controlada, padronização,energia, especialização, planificação)estaria sendo substituído por um novoparadigma (técnicas de informação e detelecomunicação, personalização, espe-cialização, intangibilidade, sistema-tização, rede formação continua,flexibilidade).
Esta escola consolidou umamplo campo de reflexão para a teoriaeconômica, aprofundando a dimensãointerna da tecnologia e sua dinâmica,estabelecendo uma ampla articulaçãoentre os atores envolvidos no processode geração de C&T, a partir do concei-to de sistema nacional de inovação, uminstrumento ainda de grande poderheurístico; aprofundando o conheci-mento sobre os subsistemas integradosde inovação, a partir da firma; do siste-ma de aprendizado e da formulação depolíticas. Contudo, tem o pecado capi-
80
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
tal de ao reduzir os papéis do contextoe dos conflitos sociais, ao sobre-deter-minar o fator técnico, cair em determi-nismo tecnológico.
A Escola Regulacionista operacomo que uma síntese e é um prolon-gamento das duas correntes anterio-res. Nela, a mudança técnica trás amarca das relações sociais onde elanasce. Se ela é, como entre os evolu-cionistas, inteiramente impregnada detrajetórias históricas, se trata mais dehistórias sociais que de histórias téc-nicas. A natureza e o ritmo damudança técnica estão intimamenteligados às configurações históricas darelação salarial. O medo das revo-luções sociais sempre esteve na ori-gem das técnicas de substituição decapital pelo trabalho e de técnicas degestão da mão-de-obra. Para a classetrabalhadora a mudança técnica sem-pre aparece como ampliação dosmecanismos de controle, como“moinho de disciplina”. Por exemplo,como vemos em Coriat no seu “Pen-ser à l’ envers” e a explicitação domodelo Ohnista9 de produção comose contrapondo ao modelo fordista(Alain Mounier 2003: 372).
Para Boyer, a corrente regulacio-nista encontra sua origem em uma crí-tica severa e radical do programaneoclássico que, como vimos, postula ocaráter autoregulador das economias demercado. Ela também invalida a teoriamarxista ortodoxa que atribui umpapel central ao Estado no prolonga-mento do capitalismo monopolistaentre as duas guerras.
A nocão de regulação permiteprecisamente de estudar a dinâ-mica contraditória de transfor-mação e permanência de ummodo de produção (1995: 21).
A segunda característica essencialestá na observação da desregulamentaçãoprogressiva dos processos, que fizeramcrer como automático e garantido umcrescimento rápido. Ali onde os econo-mistas viam apenas turbulências de umaeconomia próspera, os regulacionistasviam a entrada em vigor de uma criseestrutural. Os atores econômicos intera-gem a partir de uma série de instituições,de regras de jogo e de convenções, daí oaporte à esta escola tanto da ciência polí-tica quanto do direito, no sentido emque as formas institucionais exercemuma mediação entre forças, ou seja, elasresultam de conflitos entre grupos sociaisarbitrados por processos políticos segui-dos de processos jurídicos10.
Segundo Boyer, nem a inovaçãonem o crescimento exibem tendênciasfirmes no longo prazo, desde que aslongas ondas de Kondratiev – nasucessão de um longo período e logode estagnação, que duram 50 anos, sãoconsideradas problemáticas para a eco-nomia. Em 50 anos a tecnologia, asestruturas industriais, a composição daforça de trabalho e as instituições dei-xam de ser as mesmas, não são constan-tes. Da mesma forma a tecnologia nãopode ser vista como isolada do restantedo sistema econômico e social. Aquestão maior seria, portanto, buscar acoerência e a compatibilidade de um
81
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
9 Takeshi Ohno é considerado o cérebro por trás do modelo toyota e, assim, fala-se de ohnismo como ultrapassagem doparadigma fordista.
10 Ver a moeda como instituição — Aglietta e Orléan.
dado sistema técnico com um padrãode acumulação, ele mesmo definidopara um conjunto complexo de regula-ridades econômicas e com mecanismosque afetam a competição, a demanda, omercado de trabalho, o crédito e aintervenção do estado. Para os regulacio-nistas, existem muitos modos diferentesde desenvolvimento e de regulaçãoobservados na história, não existe umúnico modelo universal.
É interessante verificar como osprogramas de pesquisa evolucionista eregulacionista têm pontos em comum,observação elaborada conjuntamentepor dois dos principaís membros destasescolas: para Benjamin Coriat a teoriada regulação se constitui fundamental-mente para responder a uma questãomuito especifica:“fornecer instrumen-tos e representações capazes de darconta de uma forma particular de crise(a estagflação) e da passagem do cresci-mento à crise.A crise seria vista comoendógena e a partir de uma mesmasérie de conceitos de base, relativizan-do os choques externos” (Coriat etDosi 1995:500).
Para Dosi (1998), o programaevolucionista se constituiu com base emuma contestação das hipóteses neoclássi-cas sobre a racionalidade e sobre o equi-líbrio e centra seu esforço noentendimento da dinâmica econômicaproduzida pelo progresso técnico, apro-fundado em seus micro-fundamentos.As complementaridades entre os doisprogramas estão na identificação e nagênese das micro-regularidades do siste-ma econômico, que podem servir debase a novos regimes de acumulação emgestação a partir da debâcle do fordismo.
Onde a Teoria Regulacionist (TR) é forte,na caracterização da firma enquanto ins-tituição que comporta regras que seimpõem aos agentes individuais, na ava-liação, sobretudo, da formação dos salá-rios e dos trabalhadores em geral, dosistema jurídico e de direitos de pro-priedade na qual a firma esta inserida, aTeoria Evolucionista (TE) pouco acres-centa. Mas onde esta é forte, ou seja, noentendimento da firma enquanto orga-nização,quer dizer, em termos evolucio-nistas, seria a apreensão dos processos deaprendizagem e de seleção, em termosde rotinas, do processo de inovação, aí aTeoria da Regulação é frágil. Podería-mos, portanto, tentar estabelecer umasíntese muito nuclear dos dois progra-mas, afirmando que enquanto a TRaprofunda a dimensão institucional a TEse dedica ao cognitivo.
Em trabalho de síntese feito paraexplicar ao público japonês os aportesda teoria da regulação, e no meu enten-der muito mais próximo da herança deMarx do que aqueles de Boyer, Benja-min Coriat (1994: 120) afirma queuma das premissas básicas da escola iacontra os keynesianos e o neo-clássi-cos11, que trabalham sobre um modelode crescimento abstrato e perfeitamen-te atemporal. Os regulacionistas que-riam por em evidência “uma variedadee uma pluralidade de regimes de acu-mulação observáveis historicamente[…] esta abordagem vale sobretudonaquilo em que ela põe no centro dadinâmica, as contradições da repro-dução do conjunto [da economia], […]um regime de acumulação pode serdefinido também a partir das condiçõesnas quais são obtidos, divididos e difun-
82
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
11 Para Arrow, p. ex, o crescimento da produção se mantém pelo fenômeno da aprendizagem.
didos os ganhos de produtividade. Estamaneira de definir um regime de acu-mulação põe assim no centro da carac-terização a contradição capital/trabalhoe a principio o conflito essencial que oanima, entre salário e lucro”.
Coriat, entendendo que a teoriada regulação não estaria isenta de difi-culdades, considera importante buscaras convergências entre as teorias endó-genas, p. ex, na análise da formação dasmicro-regularidades, na identificaçãodas codificações nos comportamentosdos agentes, mas que isto não implicade forma alguma, a mesma visão erepresentação dos princípios dinâmi-cos do capitalismo e das condições deformação de uma acumulação forte eestável.
Reconhece-se hoje a existênciade uma forte correlação entre o esforçode Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),por um lado, que se traduz em substan-tivos investimentos estatais e privadosna qualificação dos recursos humanos,na criação de laboratórios de pesquisa,no sistema de ensino superior, nas per-formances em termos de crescimentoeconômico, da produtividade, de umpadrão de consumo e bem estar quetem se propagado de forma acentuada-mente desigual.
A constatação da profunda desi-gualdade entre países industrializados,que dão o ritmo do crescimento, e ospaíses periféricos, e entre classes sociais,evidentemente não se explica que par-cialmente pelo nível de divergência acu-mulado ao longo dos anos na produçãodo conhecimento, da tecnologia e dainovação entre estes países,mas por certo,estes aspectos têm exercido um papel
destacado neste processo. Em termos degastos mundiais em P&D, os EstadosUnidos realizaram, em 1999, 39,4% dototal, a União Européia 26,2% e o Japão15%, o que quer dizer que a assim cha-mada Tríade realiza mais que 80% dototal,quando não possui sequer um quar-to (1/4) da população do planeta.
Os Estados Unidos mantém suahegemonia, quer no financiamento,quer na geração de inovações, repre-sentando 29,9% da produção mundialde artigos científicos, seguido de muitolonge pelo Japão, 8,9%; pelo ReinoUnido, 8,0%; pela Alemanha, 6,9% epela França, 5,2%. Não obstante, aUnião Européia dos quinze ultrapassa-va amplamente os Estados Unidosenquanto conjunto, com 33,8% daspublicações da ciência mundial.
Se tomarmos outro indicador,como aquele das patentes, e especifica-mente os depósitos realizados no OfícioEuropeu de Patentes (OEB)12, a UniãoEuropéia aí domina plenamente seusconcorrentes, com 42,6% dos depósitos,mas contra 32,3% dos EUA e 14,7% parao Japão. A França detém 6,3% destaspatentes, mais do que aqueles do ReinoUnido, 5,3%, contudo quase três vezesmenos do que a Alemanha, 18,1%.Segundo o OST —Observatoire des Scien-ces et des Techniques,desde 1995 que a Ale-manha se mantém estável no registro depatentes, ao passo que a participaçãofrancesa diminui (OST 2003: 10).
A maior proporção das atividadesde inovação das firmas é realizada nosseus países de origem. As atividades deinovação das firmas japonesas são estru-turalmente as menos mundializadas eaquelas das firmas européias as mais
83
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
12 Office Européen des Brevets (OEB).
mundializadas. Na Europa, fora o ReinoUnido, os grandes países realizam suasatividades de inovação “em casa”, comoa Alemanha, a Itália e a França. Mas asfirmas dos pequenos países europeus,como a Holanda, a Bélgica, a Suíça,desenvolvem intensas atividades de ino-vação no exterior. Pode-se verificar quedo inicio dos anos 1980 aos meados dosanos 1990 que as grandes firmas aumen-taram a proporção de suas atividades deinovação fora do país de origem, emapenas 2,4%. Para Patel & Pavitt (2000:45), contrariamente a opiniões ampla-mente difundidas, asseguram que o graude internacionalização da P&D não épositivamente associado às atividades deC&T: “Menos de 1% dessas atividadesde inovação das firmas no estrangeirosão localizadas fora dos países da Tríade,o que confirma o fato de que o proces-so de internacionalização das atividadesde inovação é muito mais ligado à Tria-dização do que à Mundialização”.
As políticas científicas e tecnológicas e os sistemasnacionais de inovação
A idéia de uma política específi-ca relativa à organização da ciência anível nacional e a atribuição de recur-sos para a pesquisa é de aplicaçãorecente e vem do pós- 2ª Guerra Mun-dial, muito embora autores como Ber-nal (1939) já desenvolvessem, ao finaldos anos 30, uma reflexão consistentesobre o papel social da ciência (1992).
O Reino Unido cria em 1945 oComitee on Future Scientific Policy e, em1947, o Advisory Council for Social Scien-ce Policy. O Brasil, neste caso, não estatão atrás, pois o Conselho Nacional de
Pequisa (CNPq), órgão nacional para apesquisa e o desenvolvimento da ciên-cia, foi criado em 1951.
Alexander King (1974) afirmouque a OCDE nos inícios dos anos 1960estabelecera o Relatóio Piganiol, a pri-meira apresentação pública do que hojese designa por “política de ciência”.Também para Salomon (1977)13, só apartir da 2ª Guerra Mundial é que asintervenções públicas para a ciência e atecnologia adquiriram uma forma explí-cita, organizada e institucionalizada,dando ao novo campo o reconhecimen-to através de organismos estatais, commecanismos, procedimentos e um corpoburocrático e político especialmentededicado a lidar com a C&T.Tanto Salo-mon como King atribuem as tentativasnorte-americanas e soviéticas antes desseperíodo como de pré-política científica.
No trabalho de Piganiol e Ville-court (1963) (in Ruivo 1998) a políticacientífica deveria corresponder a doisobjetivos maiores: permitir aos cientistasdesenvolverem seus trabalhos de desco-berta de explicações para fenômenosainda incompreendidos e o de permitiràs autoridades públicas e privadas deassegurarem a utilização desses conheci-mentos e de orientar certas investi-gações no interesse do maior número depessoas. Já para Salomon, por políticacientifica ele entende as medidas toma-das por um governo para, por um lado,encorajar o desenvolvimento da investi-gação científica e tecnológica e, poroutro, o de explorar os resultados dapesquisa tendo em vista os objetivos depolíticas gerais (Ruivo, 1998: 65).Vê-seque neste período, a compreensão dapolítica de C&T incorpora sobretudo
84
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
13 Jean-Jacques Salomon (1977).
uma visão “idílica”da produção do con-hecimento, ainda relegando à sua “apro-priação”, um caráter secundário.
Beatriz Ruivo (1998) nos apre-senta duas definições que nos parecemricas para matizar a questão: aquela daCâmara dos Representantes dos EUA ea segunda por C.Tisdell. A primeira éfortemente vinculada à produção:
o termo política de ciência é emsi sujeito a interpretações dife-rentes, mas é mais usualmenteutilizado para referir as políticasde apoio governamental e deencorajamento à ciência e à tec-nologia, de investigação funda-mental à investigação aplicada,ao desenvolvimento de produ-tos. Quando interpretado nosentido de abarcar um vastoleque de atividades, a políticacientífica inclui questões como apolítica de patentes, a políticaanti-monopólios, a política fiscale a política de inovação indus-trial em geral. (Ruivo 1998: 68)
Já Tidell (citado em Ruivo 1998:68), a associa ao sistema educacional e àprodução de conhecimentos, estabele-cendo uma diferenciação entre políticacientífica e política tecnológica:“Na suavasta aplicação, a política científica dizrespeito à educação, à reserva de conhe-cimentos armazenados, sua disponibili-zação e utilização; e à investigação edesenvolvimento.A política tecnológicadiz respeito à adoção e utilização de téc-nicas e sua substituição […] contudo, afronteira entre as duas políticas não émuito bem definida”.
No início dos anos 60 umaabordagem mais sistemática da ino-vação tecnológica será desenvolvida,
com os trabalhos pioneiros de Nelson,Rosenberg e posteriormente Freeman,Pérez, Dosi, entre outros.
Nelson, falando do “tecno-nacionalismo”, dizia que ganhava forçauma “forte crença” na qual as capacida-des tecnológicas das firmas de umanação seriam uma fonte chave de seupoder competitivo e que estas capaci-dades, em um sentido nacional, pode-riam ser construídas por uma açãonacional. Esse entendimento e mesmoo clima da época gerou grande interes-se nos sistemas nacionais de inovação,entre suas similitudes e diferenças, bemcomo na dimensão e na forma queestas diferenças explicam a variedadede performances econômicas.
O conceito, ainda na expressãode Nelson, representa um conjunto deinstituições cujas interações determinama performance da inovação das firmasnacionais. O sistema não representa aquio fato de que as instituições que o cons-tituem ajam coerentemente e de formatranqüila, mas simplesmente que os ato-res institucionais que dele participam,jogam um papel que influencia a perfor-mance da inovação.
Por outro lado, em muitos cam-pos da tecnologia, por exemplo, nocampo farmacêutico e no campo aero-náutico, um número de instituições éou age de forma transnacional. Istolevanta inclusive um problema sobre apertinência do conceito de sistemanacional de inovação, pois num mundoonde as firmas, os mercados, a tecnolo-gia e os negócios são cada vez maismundializadas, faz sentido ainda hoje,se falar em sistema nacional de inovação?
A definição de sistema nacional deinovação, como inicialmente proposta porFreeman (1987), o considera uma redede instituições nos setores publico e pri-
85
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
vado cujas atividades e interações ini-ciam, importam, modificam e difundemnova tecnologia. A relevância das insti-tuições está diretamente relacionada aoreconhecimento de que uma boa partedo conhecimento incorporado no pro-cesso de inovação é tácito e, portanto, seconfigura em pessoas e instituições. Aestrutura institucional científica e tecno-lógica e a rede (network) de relações decooperação que apóiam a inovação numpaís, provêm de uma instancia onde aquestão ‘quem somos nós?’ -o nós repre-sentando as firmas e instituições imersasem numa rede de relacionamentos ativa-das para a inovação num determinadopaís- é de extrema importância. Firmasestrangeiras têm freqüentemente sidopartes desta rede, na base de Investimen-tos Diretos Externos que datam do perí-odo que antecedeu a liberalização e adesregulamentação. Redes de insti-tuições acumulam conhecimento tecno-lógico ao longo do tempo e quantomaiores são seus conhecimentos, maisfácil é descobrir e absorver conhecimen-to novo.A dimensão cumulativa da ciên-cia e da tecnologia provê as bases paracrescentes retornos na acumulação deconhecimento e mesmo a persistenteaglomeração de atividades tecnológicasparticulares em algumas regiões e luga-res, na medida em que não são destruí-dos por mudanças radicais nosparadigmas tecnológicos (Freeman ePerez 1988: 19) ou por fortes políticasadversas e atitudes estratégicas de corpo-rações.
Para entender um sistema nacionalde inovação é essencial entender como oavanço técnico ocorre no mundomoderno e os processos chaves, bemcomo as instituições envolvidas. Segun-do Nelson (1993), as facilidades deP&D, geridas por cientistas e engenhei-
ros ligados a firmas de negócios, univer-sidades e agências de governo são osprincipais veículos através dos quais oavanço tecnológico se processa, emcampos como a química, a eletrônicaou a aviação. Pode-se dizer que até ofinal do século XIX ainda não se enten-dia enquanto sistêmica, a relação entreciência e tecnologia, que veio a provo-car posteriormente mudanças radicaisna natureza das instituições e das pesso-as envolvidas no avanço técnico.A idéiado cientista isolado, do gênio, não temmais lugar e a maioria das empresaspassa a procurar para seus laboratórios,cientistas oriundos das universidades eque trabalham de forma associada..
Para Patel e Pavitt (2000), doScience Policy Research Unite da Universi-dade de Sussex, pode-se definir um siste-ma nacional de inovação como sendo “amaneira com a qual as instituições sãoimplicadas na produção, na comerciali-zação, e na difusão de novos produtos,processos e serviços mais bem sucedidos(i.e. a mudança técnica), mas tambématravés da forma pela qual as estruturasde incitação e as capacidades destas ins-tituições influenciam a taxa de cresci-mento e a direção de tais mudanças”.
Em boa parte dos trabalhos daescola evolucionista, que dizem respeitoaos diferenciais entre taxas de cresci-mento entre países, identificam-se doiscomponentes essenciais nas atividadesprodutoras de conhecimento: a edu-cação-formação e a P&D. Para Lundvall(1988), a inovação está necessariamentevinculada ao aprendizado interativo,admitindo a incerteza e a racionalidadeilimitada dos agentes econômicos, quefazem com que não seja possível postu-lar regras de comportamentos homogê-neos por parte dos agentes econômicos.O ponto focal para ele não é o cálculo
86
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
ou a tomada de decisão, mas a aprendi-zagem interativa, que é gravementeameaçada quando os agentes econômi-cos agem exclusivamente sobre a basedo cálculo e da otimização. As normassociais que existem, segundo ele, nãoforam escolhidas em razão de sua utili-dade, mas principalmente por razõesextra-econômicas e “irracionais”.A ino-vação, que é a criação de novos objetose de novos saberes qualitativamentediferentes, implica não apenas incerteza,mas também uma ruptura com relação auma racionalidade puramente instru-mental e estratégica. A cultura tem umimpacto poderoso e importante sobre osagentes econômicos e, portanto osdiversos sistemas nacionais são produzi-dos por agentes diferentes.
Patel e Pavitt (2000) em estudoonde procuram estabelecer os elos ins-titucionais entre as atividades de P&Ddas firmas e a pesquisa fundamentalfinanciada pelos fundos públicos nasuniversidades e organismos associados,entendem que os estudos empíricosconfirmam a existência de sistemasnacionais de inovação. É neste contex-to que os autores examinam asincidências da globalização das ativida-des das firmas sobre os elos tão privile-giados entre a base cientifica nacional eas atividades nacionais de inovação.
Os estudos que tratam da interna-cionalização da P&D14 têm se baseadoem duas medidas: i) As atividades domés-ticas de P&D financiadas pelas empresase desenvolvidas por firmas estrangeiras,que seria a parte da P&D financiada porfirmas domésticas desenvolvidas fora doterritório nacional (OCDE 1997) e ii)
As estatísticas de patentes, como umaaproximação (proxy) da medida de loca-lização geográfica das atividades de P&D.
Em uma outra pesquisa, baseadana análise sistemática de 359 maioresgrupos mundiais (entre 500 da lista darevista Fortune), e ativas no plano tecno-lógico nos anos 1990, Patel e Vega(1997) revelam que as firmas continuama executar uma proporção elevada desuas atividades de inovação nos seus paí-ses de origem.As atividades de inovaçãodas firmas japonesas são as menos mun-dializadas e aquelas das firmas européias,as mais mundializadas. Na Europa, aparte das atividades tecnológicas dasempresas levadas a cabo fora de seus paí-ses de origem é mais elevada para as fir-mas originárias dos pequenos países(mais de 50% no caso das grandesempresas belgas, holandesas e suiças),que para aquelas originárias dos grandespaíses (um terço no caso das firmas fran-cesas, alemãs e italianas).
Do início dos anos 1980 à meta-de dos anos 1990, as grandes fir-mas aumentaram a proporção desuas atividades de inovaçãodesenvolvidas fora de seu país deorigem em somente 2,4% (Patel& Pavitt 2000: 45).
Os autores assinalam ainda que amaior parte do incremento das ativida-des tecnológicas no estrangeiro foimuito mais uma atividade decorrentedas aquisições de outras empresasestrangeiras, do que efetivamente deuma reconfiguração internacional dasatividades de P&D15.
87
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
14 Despesas e pessoal envolvido em P&D.15 Patel (1995), em pesquisa onde estudou uma amostra de 600 empresas multinacionais, demonstrou que, no final dos anos
1980, cerca de 60% das firmas não desenvolviam atividades tecnológicas no estrangeiro.
A conclusão destes autores é deque os sistemas nacionais de inovação naqual uma base científica forte está ligadaàs grandes firmas nacionais inovadoras ecompetitivas, se mostra um caminhodesejável, seja para o governo, seja para asempresas, seja para a sociedade como umtodo, mas é necessário não esquecer queestes sistemas estão cada vez mais subme-tidos a tensões crescentes provocadas
pela mundialização, que tem acarretado:i) liberalização; ii) desigual nível tecnoló-gico entre países e iii) extensão donúmero de competências que as firmasdevem dominar a cada dia. São todas trêsfontes de desequilíbrio ou de adaptaçõesimperfeitas entre a base cientifica sem oapoio dos fundos públicos e aquelas fir-mas – campeãs nacionais que são apoia-das por estes fundos.
A Colonização do tecnológicopela finança mundializada
François Chesnais (2003) estabe-lece uma diferença importante com aescola evolucionista, ao assinalar a hie-rarquia conquistada e a amplitude dos
meios postos em ação pelos EstadosUnidos da América e pelos segmentosmais poderosos do capital, no sentidode preservar as relações de dominaçãopolítica e social e os modos de vida queo acompanham. Portanto, distancia-se
88
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
Nacionalidade % da participação nas patentes % da participação Variação em % da depositadas nos Estados Unidos nas despesas de participação nas patentes
(1992-1996) P&D no estrangeiro dos EUA depois de 1980-84
Doméstica Estrangeiro
Japão 97,4 2,6 2,1 (1993) -0,7
EUA 92,0 8,0 11,9 (1994) 2,2
Europa 77,3 22,7* 3,3
Belgica 33,2 66,8 4,9
Finlandia 71,2 28,8 24,0 (1992) 6,0
França 65,4 34,6 12,9
Alemanha 78,2 21,8 18,0 (1995) 6,4
Italia 77,9 22,1 7,4
Holanda 40,1 59,9 6,6
Suécia 64,0 36,0 21,8 (1995) -5,7
Suiça 42,0 58,0 8,2
Reino Unido 47,6 52,4 7,6
Todas as firmas 87,4 12,6 11,0 (1997) 2,4
Tabela: A Internacionalização das atividades tecnológicas das empresas
Fonte para os dados de P&D: OCDE (1997), UE (1997) Patel &Pavitt (2000), p. 44.* Se trata da proporção localizada fora da Europa do total das atividades de todos os países europeus
repertoriados nesta tabela.
dos neo-evolucionistas ao colocarcomo central a determinação política esocial do processo de acumulação decapital. A orientação de parte impor-tante do orçamento científico e tecno-lógico dos EUA para fins militares eagora para projetos “totalitários” deapropriação-expropriação do ser vivo“é a manifestação mais evidente, dandoum conteúdo sinistro à sociedade queveria o triunfo do capital cognitivo”.
A reflexão realizada por Orsi eCoriat (2003) ao procurar, na seqüên-cia da crise da bolha sobre a Nasdaq edas inúmeras falências que seguiram aqueda das Bolsas, entender o processode complementaridades construído,principalmente nos EUA, entre umregime de direitos de propriedadeintelectual e um conjunto de regula-mentações inéditas sobre o mercadofinanceiro, que permitiram a pro-moção das chamadas “firmas inovado-ras”, reforça a hipótese de Chesnaissobre o lugar prioritário de análise dofinanceiro e não do tecnológico. Osautores refletem sobre a série demudanças ocorridas nos últimos vinteanos nos direitos de Propriedade Inte-lectual (DPI), promovidas pela Adminis-tração e pela justiça norte-americana.Em primeiro lugar, a abertura dodomínio das patentes para novos ato-res, no caso, as universidades e labora-tórios de pesquisa acadêmicos, queuma nova legislação autorizava odepósito de patentes sobre os produtosde suas pesquisas, quando se tratam deinstituições que são financiadas porfundos públicos.
Para Orsi e Coriat este passo foidado com o voto do Bayh-Dole Act(1980) que introduziu uma série dedisposições novas e complementares. Aprimeira, como já assinalado, foi a auto-
rização para o depósito de patentessobre os resultados de pesquisas finan-ciadas com fundo público. Por outrolado, a possibilidade de cessão dessaspatentes sobre formas de licençasexclusivas a firmas privadas ou de cons-tituir com elas joint ventures, associaçõescujo objetivo será o de tirar partido dosconhecimentos desta forma cedidos,seja para fins de comércio, seja para suaviabilização enquanto produtos comer-cializáveis. O resultado foi a explosãodo número de patentes depositadospelos laboratórios públicos.
O Bayh-Dole Act veio provocaruma mudança fundamental na práticada pesquisa acadêmica, com a formaçãoem todas as grandes universidadesnorte-americanas dos escritórios detransferência de tecnologia (Technologi-cal Transfer Offices), e como conseqüên-cia direta, estas instâncias passam a jogarum papel decisivo na orientação dapesquisa, com uma ação que privilegiaaquelas pesquisas suscetíveis de serempatenteadas no prazo mais curto.Ainda,em numerosos casos, estas açõespoderão incidir no retardamento dapublicação dos resultados científicos,submetendo-se a publicação a depósi-tos de patentes prévios.
Estes novos procedimentospermitidos pela lei alteram completa-mente a natureza do entendimento, dosentido de “bem público” que revestiaaté então a informação científica.
Além dessa medida e também apartir de decisões da Corte de Justiça, odireito de propriedade intelectual elemesmo foi modificado, sendo a alteraçãomais substantiva aquela que consiste emabrir o domínio do patenteamento paraobjetos que até o presente não estavamsujeitos ou mesmo que eram proscritosde qualquer patenteamento. Dois domí-
89
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
nios principais estão em jogo aqui, opatenteamento da vida e aquele dos“programas de computador”.
No domínio dos computadores,a autorização vai incidir sobre o paten-teamento dos algorítmos correspon-dentes à utilização simultânea deequações matemáticas, impactandosobre os elementos de conhecimentogenérico, correntemente utilizados pelacomunidade dos programadores edaqueles que concebem programas decomputadores. Mas é no domínio dasciências da vida onde as implicações sãomais radicais. Como informam Coriat eOrsi, a brecha foi dada pela medida queautorizou a General Electric a patente-ar um micro-organismo, a primeira deuma longa série que conduzirá final-mente ao patenteamento dos genes edas seqüências parciais de genes.
Assim, hoje nos EUA mais de50.000 patentes foram concedi-dos ou solicitados sobre oseqüenciamento ou o seqüen-ciamento parcial de gens […] avia esta aberta para uma verda-deira mercantilização do conhe-cimento cientifico. (Orsi yCoriat 2003: 2)
Um outro aspecto da maior gra-vidade está associado ao fato de que ospatenteamentos atribuídos são de ‘largoespectro’, quer dizer, eles cobrem e pro-tegem não as invenções cuja utilidadeseja confirmada, mas um amplo conjun-to de possíveis aplicações futuras. Destaforma, a Corte de Justiça dos EUA estáautorizando a “brevetagem” do próprio
conhecimento de base (input para futu-ras invenções) , ou seja, protegendo nãoapenas as invenções descritas, mas todasaquelas potencial e virtualmente capazesde derivar da utilização do conhecimen-to patenteado. Estaria então a Corte deJustiça desse país inaugurando uma erade privatização dos fundos comuns dadescoberta cientifica, dessa forma frag-mentadas e apropriadas de forma priva-da pelas firmas.
Outra mudança forte decorren-te da Bayh-Dole Act foi a entrada docapital financeiro no mundo da produçãodo conhecimento, quando em 1984 umaregulamentação da NASD16 permitiu acolocação no mercado e a cotizaçãode firmas deficitárias, sob a condiçãoque estas disponham de um forte“capital intangível”, que se constituibasicamente de direitos de proprieda-de intelectual. Outras alterações dedispositivos legislativos foram realiza-das, como o “prudent man” para per-mitir que os fundos de pensão fossemautorizados a investir uma parte deseus ativos sobre títulos de risco, o queantes era proibido. Com isto, viu-se aentrada no mercado de valores finan-ceiros de um conjunto de firmasnovas, deficitárias, mas julgadas, emrazão de seus ativos intangíveis, comode “alto potencial”.
Foi desta maneira que se criouno mercado norte-americano umacomplementaridade institucional entreos mercados financeiros e os Direitosde Propriedade Intelectual, fazendocom que uma boa parcela da “novaeconomia” encontrasse aqui sua ori-gem. Os resultados nefastos destas
90
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
16 National Association of Securities Dealers, instância que sob a autoridade da SEC (Security Exchange Comissions) está enca-rregada de cuidar da regulamentação e da segurança das transações sobre a Nasdaq.
medidas estão, em primeiro lugar naapropriação do processo do conheci-mento por firmas privadas e, em segun-do lugar pela condução do mesmo porinteresses imediatistas, voltados para amercantilização, que na pratica já temosvisto, de forma inaceitável, seja no casodos fármacos relacionados a AIDS,onde as populações mais necessitadasnão têm acesso aos medicamentosnecessários, seja pelo abandono de pes-quisas em doenças que atingem os paí-ses pobres, de pouco interesse para osgrandes oligopólios.
É a partir deste novo regime deacumulação, sob o comando do siste-ma financeiro e que faz das empresasreféns às normas de gestão e aos níveisde rentabilidade buscados pelos acio-nistas —a “corporate governance”,que se deve analisar o lugar da técni-ca— da pesquisa, do progresso técni-co, da educação, da circulação deinformações, dos sistemas de inovação,da aprendizagem organizacional e dagerência estratégica das organizações,bem como a orientação do consumopara a técnica . Diz Chesnais (2003: 9)que “sem a aplicação dos novos meiostécnicos para fazer crescer o montantede trabalho não pago, os gerentesteriam permanecido na impossibilida-de de satisfazer, mesmo de forma pas-sageira, as exigências dos investidoresinstitucionais em termos de taxa derentabilidade e de montante de fluxosde juros e dividendos solicitados pelocapital acionário”.
Os grandes conglomerados, por-tanto tiram vantagens das Novas Tecno-logias de Informação e Comunicação(NTIC), seja pela reorganização do tra-balho em torno de novos tipos de mate-riais automatizados; seja pelas redes efluxos entre unidades de produção, pelo
aumento progressivo das compras exter-nas e da sub-contratação, seja pela apro-priação de frações de valor produzidosem firmas menores e mais fracas na suacapacidade de negociação.
No mesmo sentido,Veltz (2000)afirma que a questão mais grave às quaisse deparam as empresas hoje, concerne à“contradição de fundo que subordina osprocessos que repousam sobre a mobili-zação subjetiva das pessoas à lógica friados mercados, reais e financeiros”. Ouseja, as empresas descartam as possibili-dades de cooperação interna, de intera-tividade e os aprendizados longos, comas exigências de uma rentabilidade bur-sátil, o que gera uma contradição para afirma, que em ambiente de concorrên-cia oligopolizada e de crescimentomundial lento, quando não interrompi-do pelas crises financeiras, passam a exi-gir renovação constante dos produtos eprocessos, reduzindo assim o período deestabilidade do trabalho, a capacidade deaprendizado individual e coletiva, quesão requisitos da eficiência. Além deestar constantemente exigido por novosprocessos internos, o trabalhador sedepara com a ameaça do stress dodesemprego.
Esta hegemonia do regime deacumulação à dominância financeira tempermeado a pesquisa cientifica e tecno-lógica, pela implantação de uma pon-tuação dos cientistas, pela multiplicaçãode formas de concorrência pessoal e de“financeirização” das recompensas nointerior dos laboratórios públicos e pri-vados, bem como nas redes cooperativas,criando rivalidades que só amesquinhamo conteúdo e a qualidade do avanço daciência.
A consolidação da chamadasociedade da informação e do conhe-cimento marcam, segundo Chesnais
91
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
(2003a), o ponto de chegada de umaimensa acumulação social de conheci-mentos científicos e saberes técnicos,onde em sentido amplo, para o capi-talismo, o que mais importa é fazercrer que “o caráter socializado do tra-balho não seja reconhecido como tal,de formas a que a propriedade priva-da continue a aparecer enquanto qua-dro indepassável da criação, daapropriação e da utilização dos con-hecimentos. Esta sempre foi a apostamaior”.
ReferênciasAglietta, Michel. 2003.“La régula-
tion du capitalisme mondial en débat”.Problèmes Economiques, 28 mai, No. 2.811:15-21.
Aglietta, Michel e André Orléan.1995. La Monnaie Souveraine. Paris: OdileJacob, coll.“Repères”.
Bernal, J. D. 1939. The Social Func-tion of Science. London: Routledge andKegan Paul e MIT Press, 1967.
Borón, Atílio. 1999. “Os novosLeviatãs a polis democrática: neoliberalis-mo, decomposição estatal e decadência dademocracia na América Latina”. En Pós-neoliberalismo II. Emir Sader e Pablo Genti-lle. Petrópolis:Vozes/Clacso.
Boyer, Robert e Michel Didier.1998. Innovation et croissance. Paris: LaDocumentation Française.
Boyer, Robert e Yves Saillard. 1995.Les théories de la regulation. L’état des savoirs.Paris: La Découverte.
Chesnais, François. 2004. La financemondialisée. Paris: Éditions La Découverte.
Chesnais, François. 2003. After theStock market turnabout: questions and hypotheses.Paris: Université Paris Nord-XIII/mimeo.
Chesnais, François. 2003a. “Rap-ports de propriété et formes de captationdu ‘cognitif ’ au bénéfice du capitalismefinancier”. En Sommes-nous sortis du capita-lisme industriel?, ed. Carlo Vercellone, pp.167-179. Paris: La Dispute.
Coriat, Benjamin, ed. 2002. “Lesdroits de proprieté intellectuelle: nouveauxdomaines, nouveaux enjeux”. Revue d’Éco-nomie Industrielle, No. 99.
Coriat, Benjamin. 2000. “Entrepolitique de la concurrence et politiquecommercial: quelle politique industriellepour l’Union européen?”. En PolitiquesIndustrielles pour l’Europe. Elie Cohen eJean-Hervé Lorenzi (Rapport). Paris: LaDocumentation Française.
Coriat,Benjamin.1994.“La théorie dela régulation”. En Ecole de la Régulation et criti-que de la raison économique, comps. FloridaSebai e Carlo Vercellone. Paris: L’ Harmattan.
Coriat, Benjamin. 1990. Penser à l’envers. Travail et organisation dans l'enterprisejaponaise. Paris: Christian Bourgeois Ed.
Coriat, Benjamin e Giovanni Dosi.1995.“Evolutionnisme et régulation: diffé-rences et convergences”. En Les théories dela regulation. L’état des saviors. Robert Boyere Yves Saillard, pp. 500-509. Paris: LaDécouverte.
Dosi,Giovanni.1988.“The Nature ofthe Innovative Process”. En Technical Changeand Economic Theory, eds.G.Dosi,C.Freeman,R. Nelson, G. Silveberg and Luc Soete, pp.221-237. London: Pinter Publisher.
92
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94
Freeman, Christopher. 1992. TheEconomics of Hope. London:Pinter Publishers.
Freeman, Christopher. 1988.“Intro-duction”. En Technical Change and EconomicTheory, eds. G. Dosi, C. Freeman, R. Nel-son, G. Silveberg and Luc Soete, pp. 1-8.London: Pinter Publishers.
Freeman, Christopher. 1987. Techno-logy Policy and Economic Performance: Lessonsfrom Japan. London: Pinter.
Freeman, Christopher e Luc Soete.1991. “Analyse macro-économique et sec-torielle des perspectives d’emploi et de for-mation dans le domaine des nouvellestechnologies de l’information dans laCommunauté Europeènn”. Rapport deSynthèse.
Freeman, Christopher and LucSoete. 1987. Technical Change and FullEmployment. Basil: Blackwell.
Freeman, Christopher and CarlotaPérez. 1988.“Structural Crises and Adjus-tements”. En Technical Change and Econo-mic Theory, eds. G. Dosi, C. Freeman, R.Nelson, G. Silveberg and Luc Soete. Tech-nical Change and Economic Theory. London:Pinter.
Girard, Jean-Pierre. 1997. “Apprro-che évolucioniste des paradigmes techno-logiques”. En Firmes et economie industrielle,eds. Christian Palloix e Yorgos Rizopou-los.Paris: L’ Harmattan.
Guellec, Dominique. 1999. Econo-mie de l’ innovation. Paris: Editions LaDecouverte.
Harvey, David. 2004. Espaços de espe-rança. São Paulo: Loyola.
Hugon, Philippe. 2002. “Les écartsde conaissances scientifiques et techniquesNord/Sud au regard de la théorie des bienspubliques mondiaux”. Revue Tiers Monde.Vol. XLIII, No. 172: 891-913.
King, Alexander. 1974. Science andPolicy.The Intercontinental Stimulus. Oxford:Oxford University Press.
Lundvall, Bengt-Ake. 1988.“Innova-tion as an Interactive Process: from User-producer Interaction to the National Systemof Innovation”. En Technical Change and Eco-nomic Theory, eds. G. Dosi, C. Freeman, R.Nelson, G. Silveberg and Luc Soete. Lon-don/New York: Pinter Publishers.
Mortimer, Michel. 1992. “El nuevoordem industrial internacional”. Revista dela CEPAL. No. 48: 41-63.
Mounier, Alain. 2003. “Capitalhumain et croissance. Développement descroissances où aprauvrissement de la pen-sée”. En Ordre et désordres dans l’économie-monde, ed. Pierre Dockes. Paris: PUF.
Nelson, Richard ed. 1993. NationalInnovation Systems. A Comparative Analysis.New York: Oxford University Press.
Nelson, Richard e Nathan Rosen-berg. 1993. “Technical Innovation andNational Systems”. En National InnovationSystems, ed. Richard Nelson. New York:Oxford University Press.
OCDE. 1992. Technology and Eco-nomy, the Key Relationships. Paris: OECD.
Oliveira, Francisco de. 2004. “AsVias Abertas da América Latina”. En Novahegemonia mundial, comp. Atílio Borón.Buenos Aires: Clacso, pp. 109-118.
93
As mutações da mundialização • Marcos Costa Lima
Orsi, Fabienne e Benjamin Coriat.2003. “Droits de Proprieté Intelectuelle,Marchés Financiers et Innovation. Uneconfiguration soutenable?”. La Lettre de laRégulation, No. 45: 1-5.
OST. 2003. Les chiffres clés de la scien-ce et de la technologie. Paris: Economica.
Patel, Pari. 1995. “Localised Pro-duction of Technology for Global Mar-kets”, Cambridge Journal of Economics. Vol.19, No. 1: 141-153.
Patel, Pari e Modesto Vega. 1999.“Patterns of Internationalisation of Corpo-rate Technology: Location vs. HomeCountry Advantages”. Research Policy, Vol.28, No. 2-3: 145-155.
Patel, Pari e Modesto Vega. 1997.Technological Strategies of Large European Firms,Report for "Strategic Analysis for European S&TPolicy Intelligence", Targeted Socio-EconomicResearch Programme. European Commission.
Patel, Pari e Keith Pavitt. 2000.“Lessystèmes nationaux d’innovation sous ten-sion: l’internationalisation de la R&D desenterprises”. En Conaissance et Mondialisa-
tion. Michel Delapierre, Philippe Moati e ElMouhoub Mouhoud. Paris: Economica.
Pérez, Carlota. 2001. “Cambio tec-nológico y oportunidades de desarrollocomo blanco móvil”. Revista de la CEPAL.No. 75: 115-135.
Rosier, Bernard. 2003. Les théoriesdes crises economiques. Paris: La Découverte,Colection Repères.
Ruivo, Beatriz. 1998. As políticas deciência e tecnologia e o sistema de investigação. Lis-boa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Salomon, Jean Jacques. 1977.“Science Policy and the Development ofScience Policy”. En Science, Technology andSociety, eds. Ina Spiegel-Rosing and Dereckde Solla Price. London: Sage.
Solow, R. M. 1957. “TechnicalChange and the Agregate ProductionFunction”. The Review of Economics and Sta-tistics,Vol. 39, No. 3: 312-320.
Veltz, Pierre. 2000. “Le nouveaumonde industriel”. En Le Débat, Paris:Gallimard.
94
C olombia Internacional 66, jul - dic 2007, Pp 216, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp 70 - 94