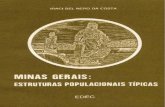sapatos tem sexo? metáforas de gênero em lésbicas de baixa ...
As metáforas no projeto hipermidiático e suas estruturas subjacentes
-
Upload
washington -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of As metáforas no projeto hipermidiático e suas estruturas subjacentes
As metáforas no projeto hipermidiático e suas estruturas subjacentes
Metaphors in the hypermedia project and its underlying structures
Lucas Franco Colusso1
Universidade Federal de Santa Catarina, SC
Alice Theresinha Cybis Pereira2
Universidade Federal de Santa Catarina, SC
Berenice Santos Gonçalves3
Universidade Federal de Santa Catarina, SC
Resumo As metáforas têm sido estudadas por um longo tempo a partir de perspectivas diferentes. Filósofos
tendem a considerar a linguagem de forma literal, assim pensando a metáfora como ferramenta a ser
usada apenas por poetas. Pesquisadores de linguística e cognição veem a metáfora como um aspecto de
comunicação mais importante, enfatizando a interpretação de significados e a compreensão sensorial-
motora das situações. O design, por outro lado, normalmente aplica metáforas no projeto de elementos
gráficos de interfaces, porém, novas aplicações surgem, como as metáforas conceituais corporificadas.
Este artigo apresenta uma análise, atrelando a concepção de metáforas conceituais sobre a dinâmica do
projeto de hipermídias.
Palavras-chave: Metáforas, Metáforas Conceituais, Hipermídia.
Abstract
Metaphors have been studied for a long time from different perspectives. Philosophers tend to consider
the language literally, thinking about the metaphor as a tool to be used only by poets. Researchers in
linguistics and cognition see the metaphor as a more important aspect of communication, emphasizing
the interpretation of meaning and the sensory-motor understanding of situations. Design, on the other
hand, usually applies metaphors in the project of graphic interfaces elements, however, new applications
emerge, such as embodied conceptual metaphors. This paper presents an analysis, linking the concept of
conceptual metaphors to the dynamics of hypermedia design.
Keywords: Metaphors, Conceptual Metaphors, Hypermedia.
2
1. Introdução
As metáforas de interface podem fornecer pistas para que os usuários compreendam os
ambientes virtuais (NORMAN, 1988). Ainda assim, existem dúvidas a respeito de sua
adequação projetual (COOPER 1995, 2007; MANDEL, 1997; PREECE et al.,
(usuários) apresenta tendências no sentido de aproveitar a metafo . A complexidade dos
estudos efetuados possibilita uma melhor visão global dos modos de operação convencionais
da mente humana (LAKOFF, JOHNSON, 1980; HUTCHINS, 1989; TRAVERS, 1996;
FINEMAN, 2004; SAFFER, 2005; ANTLE et al., 2009).
. Por isso, as
metáforas nos fornecem os meios necessários para compreender nossos complexos
dispositivos digitais (SAFFER, 2005). Assim, neste artigo será explicado o caminho que a
Teoria da Metáfora percorre até adentrar nas metodologias de projeto em Design. Iniciamos
com uma visão geral, descrita após revisão bibliográfica: alguns pontos de vista importantes e
o pensamento atual da área em diferentes perspectivas. Ao longo do texto, será usado o termo
"metáfora" para significar uma construção linguística, visual, auditiva, em que uma coisa (a
referência ou fonte) refere-se a outra (o sujeito ou o destino
"uma ferramenta para ver alguma coisa em termos de outra coisa" (BURKE, 1945).
criar a ilusão de um
ambiente familiar para o usuário (como uma mesa de trabalho ou um livro). Desktops (mesas
de trabalho ou áreas de trabalho), por exemplo, podem ter janelas com barras de rolagem que
não são tipicamente associadas com a realidade, mas englobam ainda outro espectro de
metáforas para que os usuários possam utilizar intuitivamente. A representação de objetos e
ações em ambientes computacionais pode assumir a forma de uma metáfora visual,
constituída por elementos figurativos, como ícones, que representam objetos físicos, e são
corporificados à interface através de representações pictóricas por proporcionarem uma
analogia entre as funções que desempenham no mundo real e no meio digital. Porém, outras
visões surgiram ao longo dos anos entre os pesquisadores, como Mandel (1997) quando
. Designers de interface
(1997 33
A função da metáfora no design de interação tem sido criticada e geralmente mal
compreendida, sendo que já foi dita "não somente inútil, mas prejudicial" (COOPER, 1995
,
levando a pensar erroneamente sobre como os produtos funcionam (Fineman, 2004; Lacerda,
2005). Porém, usada corretamente, a metáfora pode ser uma ferramenta de projeto, para
compreender as áreas temáticas, ou como forma de gerar novas ideias sobre assuntos
familiares aos usuários. Mandel (1997) deixa clara sua visão sobre as metáforas visuais: elas,
por si só, não atingem o objetivo de facilitar a apreensão das atividades da interface pelos
usuários. Mandel (1997, p. 33 iceberg (F 1, próxima
página), atribuído a David Liddle, baseado em pesquisas do Xerox PARC4. O gráfico m
: apresentação,
interação e relações entre objetos. Basicamente o papel do designer é de descrever os objetos
com os quais o usuário trabalha, a forma de apresentar isso aos usuários e as técnicas de
interação usadas para manipular os objetos.
4 A noção do que um com , mudou assim que os designers e engenheiros no Xerox Palo Alto Research Center começaram a pensar em computadores não como calculadoras ou ferramentas para programadores, mas sim em
dispositivos de comunicação (SAFFER, 2005 apud HILTZIK, 1999, p. 434).
3
Figura 1: The look-and-feel iceberg. (adaptado)
Fonte: Mandel, 1997: 33.
Segundo Mandel (1997), a ponta do iceberg "aparência", a apresentação de
informação, e isso representar 1
quanto as partes inferiores do iceberg (MANDEL, 1997, p.33 3
-
com
feedback aos usuários em relação as suas ações. A parte mais importante
do iceberg, por volta de 60%, concerne aos aspectos mais críticos da interface de usuário -
objetos, suas propriedades, a relação entre os objetos. Aqui, os designers determinam as
metáforas apropriadas para conectar o modelo mental que o usuário tem do sistema e as
tarefas que ele precisa realizar.
Esta parte do iceberg ,
iceberg, pois
um navio (um software ou produto) pode "naufragar se não prestar atenção nesta área e bater
no iceberg" (MANDEL, 1997, p. 34). Ainda, sobre esta parte, para alguns, aparentemente
inaudita do projeto:
,
inclusive pela maioria dos profissionais do meio, e que afetam
diretamente a interação que será construída com o usuário.
(BRESSANE, 2007, p. 150)
Em se tratando das hipermídias, chegou-se a conclusão de que a habilidade de perceber
estruturas implícitas é importante para a navegação em ambientes hipertextuais (MANDEL,
1997; COOPER, 2007), e que as interfaces devem ser arranjadas segundo metáforas que
facilitem a percepção destas estruturas pelo usuário. Entretanto, atualmente, o que é
costumeiramente chamado de metáfora de interface confunde-se com representação pictórica
(PADOVANI, 2006; MANDEL, 1997; BLACKWELL, 2006), em detrimento de seu papel
mais complexo e importante para o Design de Interface. Hoje, na prática, o projeto em
4
hipermídia não leva em consideração todo o processamento cognitivo de informação por parte
dos usuários, tanto em metodologias da área do Design quanto de tecnologias aplicadas
(informática, sistemas de informação, engenharias), pois as ações dos designers envolvidos
nestes projetos ou de outros profissionais incumbidos desta atividade se concentram na
execução superficial, nas etapas projetuais finais (JOHNSON, HENDERSON, 2002). Neste
trabalho busca-se uma maior compreensão de como as metáforas influenciam a percepção e a
interação, em vias de, assim, auxiliar no projeto de hipermídias.
2. Contexto teórico
A natureza da metáfora tem sido estudada por muito tempo a partir de perspectivas diferentes.
Tradicionalmente, é tratada como parte da linguagem figurada, vista como uma característica
da linguagem. Filósofos prezam a linguagem por ser literal. Segundo Ma & Liu (2008),
alguns estudiosos pensam que a metáfora é simplesmente uma questão de mostrar
semelhanças entre as coisas que se fala com as que se vê ou já se viu. Desde a publicação do
livro Metaphors We Live By, de George Lakoff e Mark Johnson (1980), o ponto crucial sobre
o estudo dos significados é sua abstração e, é por isso, que o foco agora é lado cognitivo.
Pessoas com diferentes línguas podem perceber a realidade de diferentes maneiras.
Entretanto, elas têm muito em comum no processo interpretativo da realidade (LAKOFF,
JOHNSON, 1980). Norman (1988) vai além e cita que a lacuna entre as metáforas e os
objetos podem ser estreitadas pelos aspectos físicos, culturais e semânticos, que reduzem os
possíveis significados (idem, p. 83). Por exemplo:
A menina é uma rosa.
Literalmente, a frase é um absurdo, porque a menina com certeza não é uma planta. Mas as
sugestões de se dizer "rosa" incluem "beleza", "maciez", "pureza", e assim a palavra "rosa"
pode ser significativamente aplicada em sentido figurado e não literal para uma determinada
menina. Burke (1945), George e Lakoff (1980) e Lacerda (2005 apud Vasilescu, 1997)
definem metáfora como sendo uma figura de linguagem que expressa um domínio fazendo
referência a outro não diretamente relacionado, o que pode ser visto abaixo:
Domínio não > Domínio que se
diretamente relacionado deseja explicar
Veículo > Objeto
Segundo Lacerda (2005 apud Vasilescu, 1997) a relação metafórica cria uma categoria
superior que inclui ambos, veículo e objeto, num processo de caráter lógico. As metáforas não
podem ser arbitrárias, elas devem derivar de experiências físicas, culturais e sociais.
Anteriormente, em 1980, com Metaphors We Live By, George Lakoff e Mark Johnson
criaram uma revolução na área da linguística cognitiva5, justamente por conseguir iniciar a
estruturar o processo de imaginação, desde o momento das experiências físicas e sensações,
até o processamento cognitivo, as metáforas conceituais e as reações humanas. Desde então,
muitos pesquisadores têm seguido seus passos, pesquisando no mesmo sentido, acreditando,
assim como Lakoff e Johson (1980), que a metáfora é fundamentalmente uma forma de
pensar do ser humano. No livro supracitado, Lakoff e Johnson (1980) mostram claramente a
sua posição sobre o tema:
Me
–
5 A linguística cognitiva tem estudado a complexidade presente no processo de
identificação e nomeação de objetos, situações e fenômenos (Gibson, 1979).
5
, composta por palavras
e não de pensamento ou ação. (...)
fundamentalmente
metafórico na sua natureza. [grifo nosso] (Lakoff e Johnson, 1980, p.
143).
Lakoff e Johnson (1980) observaram que as pessoas, muitas vezes, falam e pensam sobre
ideias abstratas, empregando as palavras ou imagens com conceitos mais concretos. Ou seja,
as pessoas usam palavras e imagens de fonte concreta para falar sobre um campo-alvo
abstrato. Os dois domínios da metáfora conceitual são o domínio de origem e o domínio de
destino. Chamamos o primeiro domínio de domínio de origem a partir do qual traçamos um
significado metafórico para compreender o outro. O último domínio é o que entendemos desta
maneira. Assim, o domínio de destino é o domínio que tentamos entender, usando o domínio
de origem. Por exemplo, argumento é guerra é uma metáfora conceitual:
Suas reivindicações são indefensáveis.
Ele atacou cada ponto fraco em meu argumento.
Suas críticas foram direto ao alvo. (Lakoff & Johnson, 1980)
Com estas relações, nosso subconsciente passa a vida inteira preenchendo um repertório de
conexões, chamados de esquemas de imagem (JOHNSON, 1987), que são o tipo de estruturas
que demarcam os contornos básicos de nossa experiência. Eles dependem de como o cérebro
funciona, como é a nossa fisiologia e os tipos de ambientes em que vivemos. Eles são um dos
meios mais elementares que temos para a discriminação, a determinação, e diferenciação
dentro de nossa experiência. Seu significado filosófico, em outras palavras, está na forma
como eles unem corpo e mente, interior e exterior, pensamento e sentimento. Eles são uma
parte essencial do significado corporificado e fornecem a base para grande parte da nossa
inferência abstrata, e, portanto, do pensamento metafórico.
2.1 Modelos mentais
Neste contexto, um termo mais comum para a área de Design são os modelos mentais. Na
concepção original, vinda da linguística, diz-se que ao acessar um texto, o indivíduo recorre à
gramática que considera adequada para sua decodificação e a seguir testa a validade lógica
das sua proposições ao encaixá-las em uma estrutura que denomina-se modelo mental. O
modelo mental simula o mundo, ao invés de usar palavras para descrevê-lo. Esta definição
colabora em muito para justificar a aderência de uma maior aplicação das metáforas em
projeto de Design, tendo em vista que os modelos mentais já se caracterizam como um
aspecto importante nas metodologias de projeto de hipermídia. Faz parte do bom projeto de
um objeto (ou produto) dotá-lo de características que sirvam de pistas para a formação do
modelo conceitual correto (Norman, 1988, p. 23). Lacerda (2005), traz o exemplo de alguns
objetos que tornaram-se verdadeiros clássicos do engano ao levarem seguidamente seus
usuários a elaborarem modelos conceituais falsos, como no caso dos aparelhos de
refrigeração e calefação. Normalmente tais aparelhos funcionam por um sistema do tipo
-ou-
alcançado, quando, então, desligam e assim permanecem até alcançarem um segundo limite
de temperatura, B, reiniciando o ciclo. No entanto, muitos usuários quando querem refrigerar
ou aquecer um ambiente, regulam o termostato da interface na graduação máxima, na
esperança de conseguirem mais rápido o efeito desejado.
Essa tendência generalizada de construção de modelos errados deve ser atribuída, ao menos
em parte, à forma como os controles dos termostatos são apresentados aos usuários. Nos
produtos eletrônicos a interface é o meio que o usuário dispõe para construir o modelo
6
conceitual do funcionamento do objeto, ressaltando a necessidade de um projeto criterioso.
Lacerda (2005) afirma que o modelo conceitual de como um sistema funciona é elaborado
pelo usuário a partir do modelo mental que ele próprio cria e se constitui de três partes:
Modelo composto pelos objetos do sistema e suas inter-relações;
Modelo de tarefa – um modelo dinâmico de como o usuário pode interagir com os
objetos de forma a realizar as tarefas;
As metáforas que ajudam os usuários a aplicarem o conhecimento que eles já têm das
coisas à estrutura do sistema e as tarefas.
Esta construção do modelo mental é intimamente ligada à uma compreensão do pensamento
metafórico, dos esquemas de imagem, das metáforas conceituais e do mapeamento
metafórico.
2.2 Metáforas visuais
Como dito anteriormente, é frequente a aplicação das metáforas somente em fases finais de
projeto, ou etapas de desenho de superfície como é visto em diversas metodologias da área de
hipermídia. Johnson (2001) alerta que a proximidade excessiva entre a metáfora e seu objeto
faz com que ela perca a força significativa, citando como exemplo a metáfora da escrivaninha
(desktop) usada para organizar as interfaces gráficas dos microcomputadores atuais. Caso a
metáfora fosse levada ao extremo de a tela parecer uma fotografia de uma escrivaninha real,
ela perderia sua força significativa, dificultando, por exemplo, diferir as áreas sensíveis,
responsáveis pela ativação das diversas funções de um software, de meros detalhes gráficos.
Porém, não se afirma que as metáforas gráficas sejam dispensáveis aos projetos, são apenas
um aspecto menor do que quando aplicadas na concepção dos sistemas, nas fases iniciais do
projeto.
2.2.1 Design de elementos visuais
Ainda que uma metáfora não faça uso de imagens, ícones, sons ou mesmo animações de
qualquer tipo para cria
virtuais, dependentes de uma estrutura mais complexa.
Figura 2: Interface Metro/Microsoft.
Fonte: Acervo pessoal.
Exemplificando, atualmente, no Windows 8, a empresa Microsoft propõe uma interface
diferente das produzidas anteriormente pela empresa, com a metáfora clássica do desktop
(
"Metro" e é claramente inspirado no design
7
clássico suíço, tendo como metáfora, levando em consideração seu codinome, projetos de
sinalização. Em um cenário onde existem soluções como o iBooks, famoso aplicativo da
empresa Apple para leitura de livros, apostilas e revistas - a reprodução exata de uma
biblioteca física, com livros na estante de madeira (figura 3, próxima página), esta dicotomia
é digna de discussão, pois são duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, com
visões totalmente diferente sobre metáforas de interface.
Figura 3: Interface iBooks/Apple.
Fonte: Acervo pessoal.
3. Metáforas conceituais corporificadas
-
-fonte, identificando as consistências na sua respectiva estrutura interna. Por
exemplo, um local de trabalho físico pode ser mapeado para um ambiente virtual de trabalho
utilizando a estrutura de edifícios de escritórios. Metáforas profundas resistem ao
mapeamento6 e dependem das metáforas superficiais para relacio
, ao requerer atenção para partes específicas de um domínio (neste caso as
propriedades topológicas de construções físicas), outras partes são escondidas, como as
propriedades comportamentais, que distinguiriam um prédio de escritórios de um hotel ou de
um prédio residencial (DOURISH, HARRISON, 1996).
Apresentamos como metáforas profundas, as metáforas conceituais corporificadas,
mecanismos cognitivos subjacentes à interação intuitiva em sistemas computacionais de
interação direta (por exemplo, ambientes responsivos, interfaces gestuais e tangíveis). Os
juízos intuitivos são inconscientemente derivados de esquemas corporificados de movimentos
e de metáforas corporificadas relacionadas, que conectam movimentos à respostas do sistema
6 O conceito de mapeamento metafórico apresentado por Travers (1996) – baseado em
Lakoff e Johnson (1980) - - , para criar relações estrutura - , o mapeamento nivela e identifica metáforas como de base ou de superfície, além de estabelecer as relações necessárias
entre elas.
8
(feedbacks e affordances7). Rohrer (2006) descreve algumas utilizações diferentes do termo
corporificação. Nós nos concentramos na definição que se refere às maneiras em que
conceitos abstratos dependem de extensões metafóricas de esquemas corporificados moldados
por processos abaixo do nível da consciência, como explorado por Lakoff e Johnson (1980).
Nos referimos a isso como Metáforas conceituais corporificadas (ou metáforas corporificadas,
para abreviar). Metáforas corporificadas são um mecanismo subjacente a instâncias de
cognição que, muitas vezes, rotulamos como intuição8. Exploramos a teoria da metáfora
corporificada de Lakoff e Johnson (1980) com o objetivo de compreender um mecanismo
cognitivo que os designers possam explicitamente utilizar para apoiar a interação intuitiva em
projeto de hipermídias. Lakoff e Johnson (1980) sugerem que as metáforas são mais
profundas do que simples convenções linguísticas. Ao invés de apenas uma interação de duas
palavras, conformam-se metáforas conceituais, que seriam a interação entre um domínio de
destino e um domínio de origem, envolvendo uma interação de esquemas ou conceitos.
Como tal, as metáforas são estruturas de pensamento sistemático. Johnson (1987), em
trabalho subsequente, argumentou que a metáfora é uma das nossas principais estruturas
cognitivas para ordenar a experiência. Ele alegou que as metáforas surgem
inconscientemente de gestalts experienciais relativas aos movimentos do corpo, à orientação
no espaço e a interação do corpo com os objetos. Ele chamou essas gestalts fundamentais de
esquemas corporificados, que seriam representações mentais de padrões dinâmicos
recorrentes de interações corporais que formariam uma estrutura para se entender e interagir
com o mundo. Metáforas conceituais estendem esquemas corporificados para estruturar e
organizar conceitos abstratos. Então, as metáforas corporificadas seriam baseadas em
esquemas corporificados e operariam inconscientemente e automaticamente.
Metáforas corporificadas estendem os esquemas corporificados pela ligação entre um
domínio de origem, que é um esquema corporificado e um domínio de destino que é um
conceito abstrato. Por exemplo, a posição ereta do corpo humano no espaço cria um esquema
que resulta em várias metáforas espaciais baseadas numa hierarquia vertical (LAKOFF,
JOHNSON, 1980). Os humanos experienciam um mundo físico no qual tijolos adicionados a
uma pilha ou a adição de água a um recipiente resultam em um aumento de nível. Estas
interações com o ambiente físico apoiam a associação acima é mais (em oposição a abaixo é
menos). Metáforas corporificadas baseadas em experiências espaciais são chamadas de
metáforas orientacionais. Uma metáfora orientacional dá uma orientação espacial a um
conceito abstrato. Por exemplo, feliz fica acima e triste fica abaixo. Esta metáfora leva a
expressões idiomáticas, c ú (BUDD, 2003),
o uso da metáfora orientacional ao escutar música se relaciona ao impacto emocional da
pessoa.
Ainda, no campo da música, as metáforas orientacionais são muito usadas para relacionar os
parâmetros de som (por exemplo, volume) em interfaces de equipamentos eletro-eletrônicos
7 Affordances são as propriedades percebidas dos elementos, principalmente, as
propriedades fundamentais que determinam o quanto os elementos poderiam ser utilizados (COOPER, 2007). 8 Intuição é um termo criticado e muitas vezes mal interpretado. Tem sido usado para se referir a tudo, desde um palpite criativo até um discernimento espiritual. O dicionário online Merriam-Webster define intuição como apreensão imediata ou cognição; o poder ou faculdade de obter conhecimento ou a cognição sem pensamento racional evidente e inferência. Os cientistas cognitivistas propuseram recentemente que muito do nosso
pensamento ocorre encoberto na mente (MYERS, 2002). A memória, o pensamento e as atitudes operariam em dois níveis: conscientes e deliberados, e inconscientes e automáticos. A intuição é a nossa capacidade de conhecimento direto, por uma percepção imediata, sem observação ou razão. É pensar sem consciência. Em contraste, o pensamento deliberado é o reflexo crítico, analítico e opera no reino da consciência. Como o sistema de percepção, a intuição opera através de impressões. Julgamentos que
refletem diretamente impressões são classificados como intuitivos (KAHNEMAN, 2003).
9
de reprodução de originais sonoros (LPs, CDs, DVDs), ou em instrumentos musicais, quando
para se aumentar ou diminuir um parâmetro, movimenta-se os botões correspondentes para
direita ou esquerda, respectivamente.
A metáfora ontológica representa um conceito abstrato como algo concreto e físico, como um
objeto, uma pessoa ou uma substância no ambiente (LAKOFF, JOHNSON, 1980).
Compreender nossas experiências, desta forma, nos permite tratar partes de nossas
experiências como objetos que podem ser categorizados, agrupados, quantificados e
qualificados, e mesmo quando as coisas não são objetivamente delimitadas, nos referimos à
elas dessa forma. Por exemplo, com base na metáfora música é substância, podemos dizer:
ú C -se interpretar a música através da
metáfora música é o movimento de um corpo físico (JENSENIUS, 2007
ú É metáfora que focamos neste estudo.
3.1 Interação intuitiva
A interação intuitiva é um dos aspectos de facilidade de utilização. Uma das formas de
ocorrência da interação intuitiva é quando numa hipermídia que faz uso de movimentos ou
gestos, os usuários empreendem ações apropriadas de forma inconsciente ou automaticamente
(ANTLE et al., 2009), ao invés de aprender fazendo tutoriais ou por ordem. Hurtienne e Israel
(2007) entendem intuitividade, no contexto de IHC, como o que ocorre no momento em que
um usuário aplica seu conhecimento pré-existente para engendrar interações efetivas em um
sistema técnico. Os sistemas tangíveis e embutidos podem ser compreensíveis para os
usuários desta forma, através do desenvolvimento de metáforas de interface. Para essas
estrutura básica da nossa experiência do mundo físico (ANTLE et al., 2009). Isso não implica,
necessariamente, um mapeamento direto, que visa duplicar a realidade. Em vez disso,
sugerimos que isso implica que os designers e projetistas de tais mapeamentos devam estar
cientes de como o conhecimento tácito de um domínio de origem física pode ser estendido
por meio da metáfora conceitual para ajudar os usuários a intuir como interagir com um
domínio de destino conceitual mais abstrato.
Assim, exploramos a ideia de que as metáforas conceituais, derivadas de esquemas
corporificados e que operam abaixo do nível de consciência, podem ser utilizadas para criar
relações sistemáticas e previsíveis entre ações humanas específicas e respostas específicas do
sistema. Antle (et al., 2009) nomeia isso como modelos interacionais corporificados e afirma
que eles constituem um princípio de design e que podem ser utilizados para apoiar
objetivamente interações intuitivas através do mecanismo de como as metáforas
corporificadas estruturam a construção de significados nos humanos. Enquanto esperamos
algum benefício para o projeto de hipermídia, não afirmamos que esse benefício seja
isoladamente responsável pelo sucesso de GUIs ou independente de outros fatores que
impactem a facilidade de uso e a qualidade em IHC.
3.2 Metáfora e design de interface de usuário
O uso da metáfora em interface gráfica do usuário (Graphical User Interface - GUI) já foi
amplamente abordado em pesquisas anteriores (COOPER, 1995 E 2007; BLACKWELL,
2006, FINEMAN, 2004, JOHNSON, HENDERSON, 2002; MANDEL, 1997; PADOVANI,
2008; PREECE et al. 2005). Em GUIs, muitos elementos da interface são modelados como
objetos ou ações tomadas a partir do mundo físico. A metáfora é comumente utilizada como
base para representações criadas para auxiliar o usuário a entender funcionamentos abstratos
de sistemas de computador. A metáfora do desktop (figura 4, próxima página), comum em
computadores pessoais, é um exemplo clássico. Nela, elementos da interface são modeladas
como objetos comuns de uma mesa de escritório (por exemplo, pasta de arquivos e cesto de
10
lixo), assim como as ações sobre os objetos (por exemplo, jogar fora os arquivos em um cesto
de lixo, abertura de arquivos).
Figura 4: Antigo desktop Apple.
Fonte: <goo.gl/xrXEC>.
Enquanto a maioria dos livros e artigos de referência de Interação Humano-Computador
incluem passagens sobre a metáfora e dão exemplos de uso no design da interface do usuário,
o foco é quase que exclusivamente na utilização da metáfora na concepção dos elementos
gráficos de interface gráfica de usuário e na compreensão dos modelos mentais de tais
interfaces. Poucos se aprofundam mais no tema (MANDEL, 1997; COOPER, 2007),
dissertando sobre outras maneiras em que as metáforas podem ser usadas no projeto de
hipermídias interativas, incluindo o uso da metáfora nos mapeamentos de interação entre as
ações de entrada (inputs) e as respostas de saída (outputs). Enquanto os dispositivos e as
interfaces tornam-se pervasivos ao cotidiano humano, e são ativados por movimentos
corporais diretos, gestos e manipulações de objetos físicos, é fundamental entender como as
metáforas podem ser usadas em modelos de interação, e este é um esforço feito por este
presente trabalho.
Por já termos feito uso de termos da linguística neste artigo, como a significação de objetos
de interface (i.e. sinais), uma interface de usuário pode de fato ser considerada comunicação
no sentido próprio (JOHNSON, 1987). O designer exibe objetos de interface, como a
linguagem se faz, em um contexto que se expressa através da localização, agrupamento,
ordenação e outros meios para entregar a imagem do sistema projetado. A partir da interface
projetada, o usuário deve inferir o que os artefatos são, como eles são usados, e como eles são
integrados com o contexto (MANDEL, 1997; COOPER, 2007). Designers e usuários
precisam assumir um entendimento comum dos sinais e sua significação, assim como dos
contextos para se comunicar através de uma interface. A interpretação de construções de
interface e sua organização pode, no entanto, desviar-se do que fora pretendido pelo designer
devido às diferenças de esquemas ou modelos mentais. Metáforas em interfaces de usuário
podem ser vistas como um instrumento para garantir um esquema comum entre o designer e o
usuário. Uma vez estabelecidos, tais esquemas comuns podem entregar fielmente um lote de
relações e organizações, que foram adotados no projeto, para o usuário.
O modelo conceitual também pode ser um ponto de coordenação central para todos membros
da equipe projetar e desenvolver um sistema. Os modelos afetam a interface do usuário, a
documentação, e a implementação de um projeto de hipermídia. O modelo conceitual é a
parte mais importante do projeto, e segundo Johnson e Henderson (2002) vale a pena projetá-
lo o mais perfeitamente possível, caso contrário, os usuários possuem pouca chance em
entender a interface gráfica. Esta interface corre o risco de ser baseada em um modelo
conceitual confuso. Embora seja mais uma etapa a ser adicionada no projeto, produz
resultados que economizam custos nas fases posteriores de desenvolvimento evitando
retrabalhos, além de adicionar uma carga cognitiva factível que atua como fator de sucesso no
design de interação.
11
O design da interface do usuário traduz os conceitos abstratos do
modelo conceitual em apresentações concretas, controles e ações
pelo usuário. A interface de usuário deve ser concebida segundo o
modelo conceitual que foi concebido (JOHNSON, HENDERSON,
2002).
No design de interface/ou no design de hipermídia, o modelo conceitual dá ao designer um
alvo claro da interface que deve ser entregue para o usuário.
4. Considerações finais
Este artigo relata um estudo exploratório de referenciais, no qual foram abordados modelos de
interação em hipermídias, a fim de explorar a ideia de que a utilização de metáforas
conceituais no modelo de interação pode fazer a utilização de um sistema mais intuitiva.
Encontramos evidências
opor
omplexo e importante
para o Design de Interface.
O projeto de pesquisa em andamento, cujo este presente trabalho faz parte, visa contribuir
para a compreensão do papel das metáforas e os benefícios potenciais de sua utilização em
projetos de hipermídias, especialmente aquelas que dependem de interação física direta do
usuário com o sistema. Concluímos que os designers que compreenderem a base cognitiva
para a apreensão dos usuários sobre os sistemas serão capazes de alavancar esses mecanismos
cognitivos em seus projetos. As atividades desenvolvidas até agora formam uma área
importante para a Interação Humano-Computador, especialmente no contexto da computação
ubíqua e da mobilidade. É fundamental que sejam verificados, ainda que empiricamente, os
benefícios potenciais de interação com a aplicação da compreensão das metáforas conceituais
em fases iniciais de projeto de hipermídias e, assim, buscar entender a base cognitiva para tais
teses, o que será feito na sequência deste projeto de pesquisa. Acreditamos que este
conhecimento contribui para a compreensão dos desafios e limitações de concepção e projeto
de interfaces que suportam interações diretas entre usuário e dispositivo, e contribui para o
amadurecimento do campo.
5. Referências Bibliográficas
ANTLE, A. N.; CORNESS, G.; DROUMEVA, M. Human&computer-intuition:
Exploring the cognitive basis for intuition in embodied interaction. International
Journal of Arts and Technology, Genève, v. 2, n. 3, p. 235-254, 2009.
BLACK, M. More about Metaphor. In: Andrew Ortony (org.). Metaphor and
Thought. New York: Cambridge University Press, 1986. p. 19-43.
12
BLACKWELL, A. The reification of metaphor as a design too. ACM Transactions
on Computer Human Interaction, v. 13, n. 4, p. 490-530. ACM Press, 2006.
BRESSANE, T. Navegação e Construção de Sentidos. In: Pollyana Ferrari (org).
Hipertexto Hipermídia: as Novas Ferramentas da Comunicação Digital. São Paulo:
Contexto, 2007.
BURKE, K. A grammar of motives. New York: Prentice Hall, 1945.
BUDD, M. Musical movement and aesthetic metaphors. British Journal of
Aesthetics, v. 43, n. 3, p. 209-223, 2003.
COOPER, Alan. The myth of metaphor. V B ’ j - July
1995, p. 127-128. Indianapolis: Que Pub, 1995.
COOPER, Alan. About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis:
Wiley, 2007.
DOURISH, P.; HARRISON, S. Re-Place-ing Space: The Roles of Place and Space
in Collaborative Systems. In: ACM CONFERENCE ON COMPUTER
SUPPORTED COOPERATIVE WORK, 6., 1996, Boston. P … Boston:
ACM Press, 1996. p. 67-76.
FINEMAN, B. Computers as people: human interaction metaphors in human-
computer interaction. 2004. 49 f. Thesis (Master in Interaction Design) - The School
of Design. Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, 2004.
GIBSON, J.J. The Ecological Approach To Visual Perception. Taylor & Francis,
1986. Disponível em < books.google.com.br/books?id=BJGCuje64FcC>. Acesso
em 2 out. 2012.
HURTIENNE, J., ISRAEL, J. Image schemas and their metaphorical extensions:
intuitive patterns for tangible interaction. Proceedings of the Tangible and
Embedded Interaction. p.127-134. Baton Rouge: ACM Press, 2007.
JENSENIUS, Alexander Refsun. Action-sound: developing methods and tools to
study music-related body movement. 2007. 275 f. Dissertation (Ph.D. in
Musicology) – Department of Musicology. Oslo University, Oslo, 2007. Disponível
em <arj.no/research>. Acesso em: 17 set. 2012.
13
JOHNSON, Mark. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning,
Imagination, and Reason. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
JOHNSON, Mark. The philosophical significance of image schemas. In: From
perception to meaning : image schemas in cognitive linguistics. Beate Hampe (org).
Cognitive Linguistics Research, n. 29, p. 15-34. Berlin: Gruyter, 2005.
JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa
maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
JOHNSON, J.; HENDERSON, A. Conceptual Models: Begin by Designing What to
Design. Interactions. 2002, v. 9, n. 1. New York: ACM Press, 2002. p. 25-32.
KAHNEMAN, D. Nobel Prize 2002: Maps of bounded rationality: a perspective on
intuitive judgment and choice. In: Frängsmyr (org.). Les Prix Nobel, Stockholm:
Nobel Foundation, 2003.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metaphors We Live By. Chicago: University
of Chicago Press, 1980.
LACERDA, J. Aspectos Lógicos, Semânticos e de Apresentação na Interação do
Usuário com os Sistemas Digitais. 2005. 174 f. Tese (Doutorado em Engenharia de
Produção) Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
MA, L.; LIU, A. Universal Approach to Metaphors. In: Journal of Intercultural
Communication Studies. v. 1, n. XVII, 2008.
MANDEL, Theo. The elements of user interface design. New York: Wiley, 1997.
MYERS, D.G. Intuition: Its Powers and Perils. New Haven: Yale University Press,
2002.
NORMAN, Donald. The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books,
1988.
PADOVANI, Stefania. Navegação em hipermídia: efeitos do uso de metáforas,
ferramentas de auxílio a navegação e restrição de tempo. In: Estudos em Design
15.1. PUC: Rio de Janeiro, 2008.
14
PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. : Além da interação
homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.
ROHRER, T. The body in space: dimensions of embodiment. In: Body, Language
and Mind. J. Zlatev, T. Ziemke, R. Frank and R. Dirven (orgs.). v. 2. Berlin: Mouton
de Gruyter, 2006.
SAFFER, Dan. The Role of Metaphor in Interaction Design. 2005. 29 f. Thesis
(Master of Design in Interaction Design) – The School of Design, Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, 2005.
TRAVERS, M. D. Programming with Agents: New metaphors for thinking about
computation. 1996. 206 f. Dissertation (Ph.D.) - Program in Media Arts and
Sciences, School of Architecture and Planning. MIT, Massachusetts, 1996.