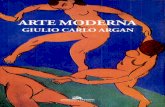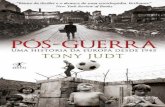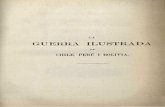Arte da guerra entre os astecas
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Arte da guerra entre os astecas
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
ANTONIO JOSÉ DA COSTA SOARES
A ARTE DA GUERRA ENTRE OS ASTECAS
Palhoça
2013
ANTONIO JOSÉ DA COSTA SOARES
A ARTE DA GUERRA ENTRE OS ASTECAS
Monografia apresentada ao curso de Pós-Graduação lato sensu em História Militar, da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em História Militar.
Orientador: Prof. Renato Jorge Paranhos Restier Junior, Msc.
Palhoça
2013
ANTONIO JOSÉ DA COSTA SOARES
A ARTE DA GUERRA ENTRE OS ASTECAS
Esta Monografia foi julgada adequada à obtenção do tí-tulo de Especialista em História Militar e aprovada em sua forma final pelo Curso de Pós-Graduação lato sensu em História Militar, da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Palhoça, Santa Catarina, 22 de novembro de 2013.
____________________________________________________ Orientador - Prof. Renato Jorge Paranhos Restier Junior, Msc.
Universidade do Sul de Santa Catarina
____________________________________________________
Prof. José Carlos Noronha de Oliveira, Dr. Universidade do Sul de Santa Catarina
AGRADECIMENTOS
Tenho uma dívida de gratidão para com a Professora Karla Leonora Dahse Nunes,
por sua compreensão, atenção e ajuda em todas as fases do curso.
Devo também um agradecimento especial à Professora Heliana Castro Alves, da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que disponibilizou boa parte de seu precioso
tempo colaborando para que eu não me perdesse no labirinto da pesquisa acadêmica.
RESUMO
A civilização asteca iniciou seu percurso na história como uma pequena tribo, e no decorrer
de poucos séculos tornou-se a civilização mais poderosa da América antes da chegada dos
europeus. O êxito do projeto expansionista asteca seria obtido pelo caminho das armas. Vá-
rios fatores contribuíram para que os astecas obtivessem inúmeras vitórias militares sobre os
demais povos mesoamericanos. Sua organização social, privilegiando guerreiros que obti-
nham desempenho meritório em combate, motivava os soldados para a luta. Este desempenho
era quantificado pela quantidade de prisioneiros que pudessem capturar para serem executa-
dos em sacrifícios cerimoniais. Paralelamente, o sistema de dominação asteca baseado na im-
posição de pagamento de tributo fazia com que se evitassem conflitos com alta taxa de des-
truição e mortalidade, de forma que a região conquistada mantivesse seu potencial produtivo,
podendo assim fornecer material e homens para próximas conquistas. Muitas das vitórias as-
tecas foram realizadas com grande contribuição de soldados de regiões previamente conquis-
tadas. Apesar de não terem sido taticamente inovadores, realizaram grandes proezas logísticas
ao deslocar grandes contingentes, dispondo suas forças e as de seus aliados de forma a sempre
obter a superioridade numérica sobre os adversários. A forma de guerrear dos astecas não foi,
entretanto, capaz de conter o conquistador espanhol. Devido ao seu sistema de atribuição de
mérito militar e também às peculiaridades de seu sistema de dominação imperial, os guerrei-
ros astecas estavam habituados a um tipo de combate que privilegiava a captura de prisionei-
ros e que não previa a destruição completa do inimigo. Profundamente ligados a uma forma
de batalha incompatível com o conceito de “guerra total”, foram derrotados diante das eficien-
tes forças espanholas, que foram auxiliadas, entre outros motivos, pela posse de armamentos e
táticas desconhecidas na Mesoamérica.
Palavras-chave: História Militar. História Mesoamericana. Mesoamérica. Guerra Mesoameri-
cana. História Asteca. Guerra Asteca.
ABSTRACT
The Aztec civilization has begun its path in History as a small tribe, and within few centuries
it has become the most powerful civilization of America prior to the arrival of the Europeans.
The success of the Aztec expansionist project was attained by war. Several factors contributed
for the Aztec victories over other Mesoamerican societies. The Aztec social organization priv-
ileged warriors with distinguished performance in combat. The merit in combat was measured
by the number of captives (for the ceremonial sacrifices) a warrior could make in warfield.
This system stimulated warriors to perform well in the field. At the same time, the Aztec
domination system, based on the imposition of tribute payment, avoided conflicts with great
level of mortality and destruction in order to preserve the productive potential of the con-
quered provinces, so it could furnish tribute and personnel for further campaigns. Many of the
Aztec victories were achieved with great contribution of soldiers from previously conquered
areas, which means, foreign soldiers. Even though they were not tactically inventive, the Az-
tecs performed great logistic accomplishments, displaying great contingents over enormous
distances, in such a way that they would always obtain numeric superiority. Though, their
way of fighting was not enough to counter the Spanish conquistadors. Due to their military
merit system and to the peculiarities of their domination system, Aztec warriors were used to
a way of combat focused on taking captives associated to avoiding complete destruction of
the enemy. The Aztecs were very attached to a kind of warfare not compatible with the con-
cept of “total war”, and it contributed greatly to their defeat upon the efficient Spanish forces,
who had tactics and weapons not known in Mesoamerica.
Key words: Military History. Mesoamerican History. Mesoamerica. Mesoamerican Warfare.
Aztec History. Aztec Warfare.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Quadro 1 – Períodos históricos mesoamericanos ..................................................................... 10
Mapa 1 – Lago Texcoco ........................................................................................................... 28
Mapa 2 – Fronteiras do Império Asteca em 1519 .................................................................... 36
Figura 1–Representação asteca da patente e indumentária referentes a número de capturas ... 46
Figura 2 – Técnica de emprego do atlatl .................................................................................. 53
Figura 3 – Líderes militares portando lança asteca e escudo ................................................... 55
Figura 4 – Guerreiros armados de espada asteca e escudo ....................................................... 56
Figura 5 – Soberano de Texcoco portando equipamento defensivo completo ......................... 58
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 9
2 A SOCIEDADE ASTECA .................................................................................................. 17
2.1 A estrutura social asteca ..................................................................................................... 17
2.2 Economia: agricultura, comércio e tributo ......................................................................... 20
2.3 O Estado: Pax Asteca e sistema de dominação .................................................................. 22
3 HISTÓRIA ASTECA .......................................................................................................... 26
3.1 Origens incertas e mito da migração .................................................................................. 26
3.2 Tenochtitlán ........................................................................................................................ 27
3.3 Sob o Jugo Tepaneca: 1345-1428 ....................................................................................... 29
3.4 Independência e Expansão: Itzcoatl (1427-1440) ............................................................ 30
3.5 Primeira grande expansão: Moctezuma I (1440-1468) ...................................................... 32
3.6 Insucessos: Axayacatl (1468-1481) e Tizoc (1481-1486) .................................................. 34
3.7 Segunda grande expansão: Ahuitzotl (1486-1502) ............................................................ 36
3.8 Moctezuma II (1502-1520) ................................................................................................. 38
3.9 Invasão espanhola (1519-1521) .......................................................................................... 40
4 A ARTE DA GUERRA ASTECA ...................................................................................... 44
4.1 O Exército Asteca ............................................................................................................... 44
4.2 Formação e treinamento ..................................................................................................... 49
4.3 Armamento ......................................................................................................................... 51
4.4 Logística ............................................................................................................................. 59
4.5 Guerra florida ..................................................................................................................... 65
4.6 Sacrifícios cerimoniais e captura de prisioneiros .............................................................. 68
4.7 Tática .................................................................................................................................. 70
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 79
5.1 Razões que levaram às vitórias ........................................................................................... 79
5.2 Razões que levaram à derrota ............................................................................................. 81
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 86
GLOSSÁRIO .......................................................................................................................... 88
9
1 INTRODUÇÃO
Durante muito tempo discutiu-se a origem do homem americano. No passado al-
guns estudiosos chegaram a defender a hipótese autóctone, que basicamente diz que o homem
americano originou-se e desenvolveu-se na América. O fato de terem sido encontrados diver-
sos fósseis de Homo sapiens, mas nenhum de seus ancestrais, faz com que não haja evidên-
cias concretas de que o homem tenha evoluído neste continente. Hoje em dia, a teoria autóc-
tone está praticamente descartada.
A hipótese mais amplamente aceita é a da imigração proveniente da Ásia. Há
aproximadamente 70.000 anos, durante a quarta Era Glacial, o nível das águas baixou mais de
100 metros, descobrindo uma “ponte” de terra ligando o nordeste da Ásia ao noroeste da
América, permitindo a travessia de grupos humanos. Com o fim da glaciação e o consequente
degelo, há 12.000 anos, o nível das águas encobriu esta passagem. Esses imigrantes, vindos
em diversas vagas, eram basicamente caçadores seguindo o fluxo dos animais que lhes servi-
am como alimento. Os vestígios comprovados mais antigos da presença do homem na Améri-
ca datam de aproximadamente 12.000 anos a.C., embora haja evidências ainda não comple-
tamente comprovadas de sua presença há pelo menos 40.000 anos (NEVES, 2006, p.45).
Foi na Mesoamérica que as sociedades americanas mais complexas se desenvol-
veram. A Mesoamérica é a região que abarca a maior parte do território mexicano atual, en-
globando Guatemala, El Salvador, e estendendo-se até a fronteira sul da Nicarágua; ponto a
partir do qual a influência das sociedades andinas sul-americanas predomina (DAVIES,
1982). É um conceito não somente geográfico, mas principalmente temporal e cultural, uma
vez que diz respeito às civilizações pré-colombianas estabelecidas neste espaço geográfico
que compartilhavam diversos paradigmas culturais, artísticos e religiosos.
Ainda não se sabe exatamente quando o homem chegou à região do atual México,
mas vestígios apontam sua presença pelo menos desde 21.000 a.C. nas proximidades de onde
hoje se situa a Cidade do México. Neste local, a diversidade vegetal lhe ofereceu uma dieta
muito mais variada do que no norte, uma vez que nesta época animais como o cavalo e o ma-
mute, que lhe serviam de alimento, já estavam extintos. Entre os anos 7.000 e 5.000 a.C., o
homem aprendeu a cultivar o gênero alimentício mais importante da Mesoamérica: o milho. O
cultivo deste alimento propiciou o início do processo de sedentarização dos primeiros grupos
humanos na América. Os primeiros vilarejos surgiram a partir de 3.000 a.C., e por volta de
2.000 a.C. a agricultura já era a principal atividade de subsistência nestas comunidades. O
quadro 1 mostra as principais divisões da história mesoamericana.
10
Quadro 1 –Períodos históricos mesoamericanos 7000-5000 a.C. Domínio do cultivo do milho
2000 a.C. Agricultura como principal atividade de subsistência
2000 a.C. – 1 d.C. FORMATIVO ou
PRÉ-CLÁSSICO
Surgimento de pequenas cidades
Surgimento da cultura olmeca
1-750
CLÁSSICO
Auge da cultura maia
Florescimento de Tikal e Monte Albán
Hegemonia de Teotihuacán
750-950 EPICLÁSSICO Surgimento de cidades-estados descentralizadas
950-1150
P
Ó
S
-
C
L
Á
S
S
I
C
O
PÓS-
CLÁSSICO
INICIAL
Hegemonia Tolteca
1150-1345
PÓS-
CLÁSSICO
TARDIO
Declínio do Império Tolteca
Chegada dos imigrantes astecas
Desenvolvimento de cidades-estados
Fundação de Tenochtitlán (1345)
1345-1521
Hegemonia do Império Tepaneca (1370-1428)
Hegemonia do Império Asteca (1428-1521)
Conquista Espanhola (1521)
Fonte: Elaborado a partir de Santamarina (2005, p. 69)
Os dois primeiros milênios antes de Cristo caracterizaram-se pelo aparecimento
de características que se tornariam presentes em praticamente toda a região mesoamericana:
construção de centros cerimoniais, jogo de bola ritual, sacrifício humano, pinturas de códex e
o calendário religioso. Este período é comumente chamado pelos historiadores de Formativo
ou Pré-clássico. Neste período surgiu a primeira das principais grandes culturas da Mesoamé-
rica, que é a olmeca. Os traços desta cultura foram descobertos através de achados arqueoló-
gicos ao longo de vasta área. Ainda é discutido se estes vestígios são realmente oriundos de
uma civilização, ou se seriam na verdade um padrão cultural adotado por diferentes tribos. De
qualquer modo, a cultura olmeca demonstrou ser não somente original, mas também a primei-
ra cultura com aspectos mais universais do que regionais (DAVIES, 1982).
A período que vai de 1 a 900 d.C. é chamado de Clássico. Neste período, a cultu-
ra, as artes e a ciência mesoamericana atingiram seu ápice. Algumas cidades desenvolveram-
11
se a ponto de se tornarem metrópoles, concentrando grande população urbana. Para a civiliza-
ção maia, que viveu seu apogeu nesta época, esta concentração se deu na cidade-estado de
Ikal, no norte da Guatemala. Na região sul do México, Monte Albán teve grande importância.
No entanto, foi na região central, no Vale do México, que se deu a ascensão de Teotihuacán,
que veio a ser a cidade-estado mais influente do período.
Teotihuacán localiza-se a aproximadamente 50 km da capital mexicana. Tradicio-
nalmente a civilização que controlou a região do Vale do México conseguiu influenciar a
maior parte da Mesoamérica. A influência de Teotihuacán se estendeu por todo o território do
México e parte da Guatemala. Por volta do ano 750 d.C. a cidade foi abandonada em circuns-
tâncias que ainda não são consenso entre historiadores e arqueólogos e a sua hegemonia teve
fim. Apesar de sua queda, a influência de sua cultura, instituições e organização militar seria
enorme sobre posteriores civilizações mesoamericanas.
O período seguinte é chamado Pós-Clássico, iniciando-se aproximadamente no
ano 950, com a ascensão do Império Tolteca; e terminando em 1521, com a conquista espa-
nhola. Este período é caracterizado por sociedades mais militarizadas e expansionistas. A re-
ligião ainda possui enorme influência sobre a sociedade; porém, com o aumento da importân-
cia da atividade militar, uma elite guerreira passa a exercer o papel de classe dominante no
lugar dos sacerdotes. Didaticamente divide-se em dois subperíodos: inicial e tardio.
O Pós-Clássico Inicial compreende os anos de 950 a 1150. Durante este período, o
Império Tolteca teve a sua hegemonia. Sua capital chamava-se Tollán (Tula em espanhol) e
localiza-se a aproximadamente uma centena de quilômetros ao norte da Cidade do México.
Como muitos outros temas da antiguidade mesoamericana, não há consenso entre os estudio-
sos sobre a extensão e organização do Império Tolteca; alguns chegando a conclusões diame-
tralmente opostas. Estudiosos como Wigberto Jiménez Moreno afirmam que as dimensões do
Império Tolteca abrangiam todo o território do México atual; enquanto outros, como Daniel
Brinton, vão ao outro extremo, questionando a própria existência deste Império (apud DAVI-
ES, 1982). Nigel Davies (“The Toltec Ressurgence”) chega a conclusão intermediária, ao de-
monstrar que os toltecas não só existiam, mas também formavam uma sociedade essencial-
mente expansionista; sem no entanto terem atingido as dimensões exageradas defendidas por
Jiménez Moreno.
A arte e a arquitetura tolteca têm temática basicamente militar. Tudo indica que
sua organização social privilegiava uma casta guerreira. Esta organização também caracteri-
zou-se pela existência de um único soberano secular, ao contrário do paradigma mesoameri-
cano de vários soberanos (tipicamente quatro) ligados à hierarquia sacerdotal.
12
No imaginário mitológico asteca, os toltecas foram um povo sábio e detentor de
uma grande civilização. A própria palavra “tolteca” quer dizer em nahuatl (língua asteca) “sá-
bio”, “civilizado”, “grande construtor”. A sociedade tolteca, sem sombra de dúvidas, foi a que
mais motivou, inspirou e influenciou os astecas; e, como será visto adiante, a concepção de
que eram destinados a ser os verdadeiros herdeiros da gloriosa civilização tolteca teve enorme
influência em sua saga.
Após o declínio de Tula (a partir de 1150), inicia-se o período de interesse deste
trabalho: o Pós-Clássico Tardio. É nele que se desenrolam os principais acontecimentos da
história asteca. Compreende a chegada dos imigrantes astecas ao Vale do México, a fundação
de sua capital México-Tenochtitlán (atual cidade do México) em 1345, a ascensão e queda do
Império Tepaneca (do qual os astecas eram vassalos inicialmente), a independência asteca
sobre os seus suseranos tepanecas em 1428, seguida de enorme expansão de seu império, e
por fim, a chegada dos europeus e a subsequente conquista espanhola, em 1421.
Os astecas foram a última das tribos a se instalar na região do Vale do México.
Segundo a tradição oral, a fundação de Tenochtitlán marca o fim de um período nômade, que
durou alguns séculos, e teria se iniciado quando da partida de Aztlán (“local das garças”, em
nahuatl). Teriam partido de Aztlán sob a liderança de um sacerdote chamado Mecitl, para fu-
gir do regime tirano a que eram submetidos pelos chefes locais (LEÓN-PORTILLA, 2000).
Diversos estudiosos debruçaram-se sobre as fontes históricas sem conseguir apontar a locali-
zação exata de Aztlán, ou até mesmo confirmar sua existência. Um desafio constante no estu-
do da antiguidade mesoamericana é saber até que ponto pode-se considerar qual parcela dos
relatos é essencialmente histórica, e qual é mitológica. Mito ou realidade, este local viria a dar
o nome pelo qual este povo seria conhecido: Asteca (azteca em espanhol), seria uma deriva-
ção de aztlaneca, que em nahuatl significa “povo de Aztlán”. No entanto, ainda segundo a
tradição oral, seu deus patrono, Huitzilopochtli, teria ordenado ao seu povo, por intermédio do
sacerdote-líder Mecitl, que deveriam abandonar o nome dos tempos em que eram tiranizados,
e a partir de então deveriam se autodenominar mexicas (MONTORO, 2001).
A etimologia do termo mexica é incerta. Montoro (2001) cita a hipótese de que a
tribo dissidente de Aztlán adotou o nome mexica como uma derivação do nome do influente
sacerdote-líder Mecitl. Davies (1982) sugere que o nome seria uma derivação de meztli (lua),
simbolizando a reflexão do luar nas águas da lagoa de seu habitat original, Aztlán, o “lugar
das garças”.
O gentílico asteca passou a ser intensamente utilizado a partir do século XIX gra-
ças à influência de autores como Alexander von Humboldt e William Prescott, que o utiliza-
13
vam para designar os habitantes do antigo México. Como aponta León-Portilla (2000), o ter-
mo popularizou-se entre o mundo anglo-saxão por desfazer a ambiguidade que poderia existir
na língua inglesa devido a proximidade entre mexica e mexican (méxica e mexicano, respecti-
vamente). Carlos Santamarina (2005) lembra que, por esta razão, na língua inglesa, o uso do
gentílico asteca é majoritário; enquanto no ambiente acadêmico espanhol prefere-se méxica.
Há ainda outras nomenclaturas pertinentes que merecem menção. Carrasco (1977
apud SANTAMARINA, 2005) prefere tenocha a mexica para se referir aos habitantes de Mé-
xico-Tenochtitlán. León-Portilla (1963) utiliza a denominação nahua, para designar o povo
asteca, uma vez que fazem parte da cultura que tem em comum o uso do idioma nahuatl.
Neste trabalho, as expressões Império Asteca e Tríplice Aliança (aliança formada
entre as cidades de Tenochtitlán, Texcoco e Tlacuba em 1428 sob a liderança de Tenochtitlán)
serão utilizadas com igual sentido. Quando houver referência aos povos de qualquer destas
cidades, que formaram o império independente em 1428, será utilizado o termo asteca. Quan-
do se desejar fazer menção específica aos habitantes da cidade de México-Tenochtitlán (mais
comumente chamada somente de Tenochtitlán) será utilizada a palavra méxica. Quando se
estiver tratando do período anterior à formação da Tríplice Aliança, os gentílicos méxica e
asteca serão utilizados como sinônimos; embora neste trabalho haverá preferência por asteca,
para efeitos de maior adequação à historiografia brasileira.
Outro fator que merece destaque é a questão das fontes históricas. O conhecimen-
to da origem das fontes históricas é essencial para qualquer interpretação que se faça da his-
tória da antiguidade mesoamericana. Para quase todas as civilizações mesoamericanas anteri-
ores aos astecas, a arqueologia é o principal guia para a compreensão de seu passado, havendo
escassas ou nenhuma fonte escrita. No caso asteca a lógica se inverte. A conquista espanhola
teve como resultado a destruição de grande parte do potencial arqueológico asteca como con-
sequência de intenso conflito militar, do processo de sistemática eliminação de templos e
imagens religiosas nativas empreendido pelos sacerdotes espanhóis, e, também, da febre es-
panhola por riquezas que provocou o desmantelamento de diversas obras de arte compostas
de ouro e pedras preciosas. No entanto, no que diz respeito à documentação escrita, há relati-
va abundância.
Jacques Soustelle (1961) cita os principais gêneros de fonte escrita. Primeiramen-
te há os documentos dos próprios nativos, escritos através de seu sistema de escrita pictográ-
fica, os chamados códices (ou codex). Estes escritos tinham temática mitológica ou religiosa,
porém muitas vezes possuíam conteúdo secular com narrativas históricas. Infelizmente não há
muitos documentos deste tipo remanescentes. Os nativos também produziram outro tipo de
14
documento escrito logo após começarem a ser alfabetizados pelos clérigos espanhóis. Os
chamados anales eram escritos em sua língua nativa, o nahuatl, porém com caracteres latinos.
Por vezes, estes documentos já eram escritos diretamente em espanhol. Esta produção possui
alto valor histórico, e, segundo Soustelle (1961), seria a fonte de informação mais confiável
sobre a história asteca anterior à conquista. Finalmente, existem os relatos feitos pelos pró-
prios espanhóis. Fruto da primeira leva de colonizadores, pode-se citar as cartas escritas ao
Rei Carlos V pelo comandante dos conquistadores, Hernán Cortés. Afortunadamente, nesta
mesma expedição havia um membro com talento nato para a escrita. Chamava-se Bernal Días
de Castillo, e produziu a esclarecedora História Verdadeira da Conquista da Nova Espanha.
Mais tarde, os religiosos católicos também dariam sua valiosa contribuição histórica, citando-
se principalmente Bernardino de Sahagún, Juan de Zumárraga e Juan de Torquemada (não
confundir com o célebre inquisidor Tomás de Torquemada). Obviamente, estes últimos do-
cumentos apresentam os eventos sob viés completamente eurocêntrico.
Apesar da importância destas fontes, Davies (1987) aponta algumas ressalvas que
devem ser tomadas ao interpretá-las. A primeira é que, a maior parte da informação histórica
deriva da tradição oral nativa. Infelizmente, a tradição oral nem sempre é confiável. A segun-
da dificuldade reside na tradição dos astecas de reescrever sua própria história. Thelma Sulli-
van (1979 apud DAVIES, 1987) afirma que os códices oficiais eram frequentemente destruí-
dos e reescritos para se adequar ao governante e à ideologia predominante do momento. Davi-
es (1987) afirma ainda que a versão asteca dos eventos era periodicamente revisada e servia
mais para criar do que para informar. A terceira dificuldade, muito próxima à segunda, é a
extrema parcialidade dos relatos mesoamericanos de seu próprio passado. Cada sociedade
mesoamericana tentava atribuir a si mesma o passado mais glorioso, o que por vezes resulta
em versões contraditórias de um mesmo evento quando relatado por fontes diferentes. A quar-
ta dificuldade reside no fato de que a maior parte dos relatos da história asteca foram obtidos
no período pós-conquista, e por isso, interpretados segundo os padrões culturais dos espanhóis
ou de nativos hispanizados.
Essas fontes são essenciais para a compreensão da história militar das civilizações
pré-colombianas. Dentre essas civilizações, a asteca foi seguramente a que mais se destacou.
De uma tribo primitiva e nômade, em pouco menos de dois séculos passaram a ser a civiliza-
ção mais poderosa da Mesoamérica, construindo um imenso império, cujas fronteiras eram
próximas às do atual México, em um continente onde não havia cavalos ou animais de carga
que pudessem facilitar o transporte a grandes distâncias. Esta prosperidade e expansão não
viriam gratuitamente, mas pelo caminho das armas. Os astecas, para sobreviver e prevalecer,
15
tiveram que tornar-se exímios soldados e foi desta forma que venceram e dominaram quase
todos os povos que cruzaram seu caminho. A chegada dos europeus na América se dá justa-
mente no auge de sua expansão. Apesar de terem se dedicado de maneira intensa à atividade
guerreira e terem sido vitoriosos em quase todas as suas guerras, os astecas foram derrotados
de forma trágica pelo conquistador espanhol.
Não obstante a historiografia ter diversas abordagens do período que vai desde a
fundação da capital asteca Tenochtitlán em 1345, até a vitória espanhola em 1521; pouco foi
estudado sobre como a guerra era efetuada pelos astecas, e como ela foi responsável tanto por
sua ascensão como por sua queda. Ainda está em aberto a questão de porquê o modus ope-
randi militar asteca foi praticamente invencível contra a maior parte de seus adversários lo-
cais, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se ineficaz diante do invasor espanhol. É justamente
esta lacuna histórica que interessa a este estudo. Como forma de explicar esses acontecimen-
tos, pretende-se aqui analisar a arte da guerra asteca no período citado.
Este trabalho pretende descrever o modo como a guerra asteca era empregada
através da análise de seus aspectos tipicamente militares como os estratégicos, táticos e logís-
ticos. Entretanto, para que a abordagem de sua arte da guerra seja o mais abrangente possível,
antes de analisar-se o modo pelo qual era executada, faz-se necessário o estudo de como era
concebida. Para isso, será efetuada uma abordagem de sua sociedade e de sua história. O es-
tudo de ambos os aspectos mostra-se fundamental, pois, como será visto, se foi o modo como
empregavam a guerra que possibilitou suas inúmeras vitórias, foi a maneira como concebiam
o fenômeno da guerra que contribuiu para a sua derrota.
A finalidade maior desta pesquisa é responder ao problema: como era concebida e
executada a arte da guerra pelos astecas entre o período da fundação de sua capital até a derro-
ta final frente ao conquistador espanhol (1345-1521)?
Para obter tal resposta, foram analisadas tanto fontes nativas quanto europeias.
Dentre os espanhóis, estudou-se as narrativas de Bernal Díaz de Castillo (1963), Bartolomé de
las Casas (1992) e as cartas de Hernán Cortés ao rei espanhol (apud DAVIES, 1987). Dentre
as fontes nativas, procurou-se estudar os códices Vaticanus, Mendonza, Ixtlixóchitl, Telleria-
no-Remensis e Florentino. O estudo destes códices foi possível graças às análises e interpreta-
ções de Nigel Davies (1973, 1982, 1987), Ross Hassig (1988) e Miguel León-Portilla (1962,
1963, 2000). Ainda foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos e demais obras
dos principais pesquisadores da história mesoamericana, incluindo-se Richard Townsend
(1992), Jacques Soustelle (1961) e Carlos Santamarina (2005), além dos autores já citados.
16
Após a pesquisa e coleta de dados foi realizada uma apresentação das principais correntes
historiográficas, que foram confrontadas a fim de que novos conceitos possam ser elaborados.
O presente trabalho é dividido em cinco capítulos.
Após a introdução, o segundo capítulo busca fazer uma descrição do Império As-
teca, a fim de que se possa fornecer um quadro global de sua estrutura social, economia e de
seu sistema de dominação. Como será abordado em capítulos posteriores, os conceitos supra-
citados são fundamentais para a compreensão da estrutura militar asteca.
No terceiro capítulo, será apresentada a cronologia da ascensão e declínio da soci-
edade asteca. O estudo da história asteca torna-se fundamental para a compreensão da impor-
tância que o fenômeno da guerra tinha para desta civilização. Ao mesmo tempo, o estudo de
sua história mostra como ela influenciou a maneira pela qual era concebida e executada a sua
arte da guerra, assunto do capítulo seguinte.
No quarto capítulo serão analiticamente abordados os aspectos da maneira asteca
de se guerrear e de se preparar para o combate, com o intuito de fornecer subsídios para res-
ponder à questão norteadora deste trabalho.
O último capítulo apresenta como considerações finais algumas razões tanto para
o sucesso militar asteca diante dos demais povos mesoamericanos como para sua derrota di-
ante do conquistador espanhol.
Por fim, faz-se necessário ressaltar que o presente trabalho tem também a intenção
de preencher outra lacuna que é o relativo desinteresse da historiografia brasileira pelo estudo
das sociedades mesoamericanas. Apesar da pesquisa histórica e arqueológica ser intensa em
outros países da América ou mesmo da Europa, no Brasil, curiosamente, este assunto não é
amplamente explorado. Assim, ao buscar-se conhecimento sobre o passado do continente
americano, este trabalho busca promover, de certa forma, uma maior identificação da histori-
ografia brasileira, especialmente da historiografia militar, com as suas raízes latino-
americanas.
17
2 A SOCIEDADE E O ESTADO ASTECA
2.1 A estrutura social asteca
No início de sua história, quando eram apenas uma tribo nômade, os astecas ti-
nham uma estrutura social bem pouco complexa. Organizavam-se baseados em um sistema
tribal muito simples, pouco estratificado e igualitário. Não havia indícios de haver divisão
social do trabalho. Os homens eram ao mesmo tempo agricultores, caçadores e quando neces-
sário, guerreiros. O primeiro germe de uma classe dominante foram os sacerdotes, que surgi-
ram como intérpretes da vontade dos deuses, especialmente o deus patrono dos méxica,
Huitzilopochtli (DAVIES, 1982).
Há fortes indícios de que neste período nômade, os astecas, assim como outras so-
ciedades mesoamericanas mais primitivas, eram liderados por um conselho de quatro sacerdo-
tes-líderes (o número quatro era um dos números de grande significado místico para os meso-
americanos). Apesar de pouco antes do término de suas migrações já serem liderados por um
único soberano com caráter mais secular do que religioso, foi somente após a fundação da
capital Tenochtitlán que sociedade asteca começou a adquirir maior complexidade.
Assim como cada cidade do império que viria a ser formado, Tenochtitlán possuía
como centro administrativo um tecpan (palácio) ao redor do qual a maior parte da nobreza
procurava viver. O corpo da cidade era dividido em calpullis (bairro, distrito), que eram for-
mados originalmente por clãs ou grupos com relações familiares interligadas. Com o desen-
volvimento e aumento de tamanho das cidades, perderam esse caráter familiar, passando a ser
a unidade básica de organização onde era possível recrutar pessoas (plebeus) para os trabalhos
públicos e para o serviço militar.
A nobreza asteca era dividida em três níveis: tlatoani, tecuhtli e pilli. No alto da
hierarquia estava o tlatoani, que era o soberano. Cada cidade-estado do império tinha o seu
tlatoani, que era subordinado ao tlatoani de Tenochtitlán, o imperador. O imperador asteca,
diferentemente do que acontecia em alguns impérios da antiguidade, não era considerado uma
divindade; no entanto, em uma civilização, onde a religião e a espiritualidade eram onipresen-
tes, o tlatoani tinha seu papel religioso como representante dos deuses na terra.
Ao contrário do que acontecia nas monarquias europeias, o trono de Tenochtitlán
não era necessariamente hereditário. Nos remotos tempos quando eram nômades, o soberano
era escolhido pela comunidade (o que originou o mito de que a sociedade asteca era democrá-
tica). O aumento da estratificação social e o surgimento de uma nobreza promoveram a mu-
18
dança para um sistema onde o novo imperador era escolhido por um conselho de quatro altos
dignitários. Com o tempo, formou-se uma dinastia (alegadamente possuidora de descendência
tolteca) e a escolha ficou limitada aos membros dessa linhagem real, embora nem sempre o
poder passasse de pai para filho (na verdade, raramente). O poder do tlatoani foi aumentando
gradativamente, de forma que, a época da chegada dos espanhóis, a sociedade asteca já come-
çava a se assemelhar a um sistema de monarquia absoluta (DAVIES, 1987, p. 102).
O Império Asteca tornou-se uma sociedade grandemente dedicada à guerra, logo,
não é de surpreender que, além de suas atribuições civis e religiosas, o imperador dedicasse
grande parte de seu tempo às questões militares. O tlatoani era o comandante em chefe das
forças do império, sendo frequente e desejável que liderasse pessoalmente suas forças durante
os combates. Por isso, por ocasião da escolha, as qualidades marciais do candidato a tlatoani
eram grandemente levadas em conta.
Logo abaixo do tlatoani na hierarquia vinha a alta nobreza, composta pelos tecu-
htli. Tecuhtli é normalmente traduzido como “dignitário”, e se refere ao nobre que possuía
algum posto do mais alto nível administrativo, jurídico ou militar. Estes postos não eram he-
reditários, mas, por ocasião da escolha de um novo ocupante para um posto vago procurava-se
selecionar um membro da mesma família do ocupante anterior. No início eram os habitantes
que escolhiam os ocupantes destes cargos, mas, a medida que a máquina administrativa asteca
se burocratizou, as instituições tornaram-se cada vez menos democráticas e a escolha dos te-
cuhtli passou a ser responsabilidade do tlatoani.
Abaixo do tlatoani, o posto mais importante que um tecuhtli poderia ocupar era o
de cihuacoatl. A tradução que melhor explicaria suas atribuições seria a de “primeiro-
ministro”. Suas funções eram mais civis do que militares. Tinha amplos poderes e prestígio,
estando abaixo somente do próprio imperador. Também fazendo parte da alta esfera do poder
asteca, logo abaixo do cihuacoatl, estava um conselho supremo de quatro dignitários, traduzi-
do pelos espanhóis ora como “conselheiros”, ora como “senadores”. Destes, dois tinham fun-
ções exclusivamente militares: o tlacateccatl, uma espécie de alto general, e o tlacochcalcatl,
responsável pelo arsenal. O cihuacoatl (primeiro-ministro) mais estes quatro dignitários eram
os principais responsáveis pela escolha do governante seguinte, quando o tlatoani morria
(SOUSTELLE, 1961, p. 37-39).
O último nível da nobreza asteca era o dos pillis (nobres). Os pillis eram os des-
cendentes dos tlatoanis ou tecuhtlis que não conseguiam acesso a nenhum dos altos postos.
Normalmente, procuravam viver perto do tecpan (palácio) local. Tinham direito (não necessa-
riamente hereditário) à posse de terra e não necessitavam pagar tributo. Tinham obrigação de
19
servir ao estado, ocupando posições na administração, na hierarquia religiosa e, principalmen-
te, na estrutura militar.
A classe mais baixa de homens livres era a dos maceuallis (plebeus, homens co-
muns), que compunham a maior parte da população. Originalmente, tinham a obrigação de
trabalhar nas terras comunais dos calpullis (bairros, distritos) onde moravam. Com o tempo
houve um processo de acumulação de terras nas mãos dos pillis (nobres), e na época da che-
gada dos espanhóis, muito dos maceuallis trabalhavam para a nobreza. Tinham que cumprir
outras obrigações ao calpulli (distrito) como: realizar pagamento de tributo, trabalhar nas
obras públicas e de manutenção da cidade, e, especialmente, integrar as fileiras do exército
quando convocados.
Por último, havia os tlacoti, ou escravos. A escravidão na Mesoamérica diferia
enormemente do que se aplicava no Velho Mundo. Apesar de dever realizar trabalho para o
seu proprietário, um escravo poderia, por exemplo, possuir bens, comprar sua liberdade, ou se
casar (tanto com uma mulher livre quanto com uma escrava). O status de escravo não era pas-
sado de pai para filho. Itzcoatl, um dos grandes imperadores astecas, teria sido filho de uma
escrava. Normalmente um homem livre se reduzia a esta condição por ser prisioneiro de guer-
ra, ou por ter vendido a si mesmo após ter empobrecido (SOUSTELLE, 1961, p. 74).
Interessante notar que as distinções entre as diferentes classes faziam-se notar
menos pela riqueza do que pelo status. Em uma sociedade onde não havia muitas formas de
acúmulo de riqueza, o enriquecimento não era necessariamente buscado, mas, era função do
poder crescente e das funções oficiais. O que contava mais aos olhos dos nobres era a reputa-
ção (SOUSTELLE, 1961, p.58). Os nobres procuravam se diferenciar dos plebeus menos pe-
los bens que poderiam possuir do que pela posição destaque que assumiam nas grandes ceri-
mônias e festivais que marcavam o calendário religioso ou pela indumentária que ostentavam
(os nobres tinham direito a andar calçados, utilizar roupas de algodão e a portar diversos ade-
reços com plumas coloridas e pedras preciosas; enquanto os plebeus, por lei, somente poderi-
am andar descalços e utilizar roupas de maguey1).
Davies (1982, p.208) compara a ordem social asteca com a da Europa medieval,
devido às poucas chances de promoção e rigidez de sua estrutura; pois, apesar de concordar
que havia algumas chances de ascensão social, julga ser um exagero considerar a sociedade
asteca democrática. Soustelle (1961, p.72), ao identificar alguns mecanismos meritocráticos
na organização social asteca, afirmava que “não havia paredes impenetráveis separando as
1 Planta abundante na região central mexicana. Produzia fibras que, apesar de rústicas, eram extremamente resis-
tentes. Era também matéria-prima de bebidas alcóolicas típicas mexicanas como o pulque e o mezcal.
20
diferentes classes sociais”. Um bom exemplo seria a classe composta pelos cuahpilli, que
eram os “nobres por mérito”. Os cuahpilli, tendo nascido plebeus, alcançavam este status por
desempenho honroso em combate (normalmente associado à quantidade de prisioneiros cap-
turados). A simples existência deste tipo de promoção reflete a existência de certa mobilidade
social. Não menos importante é o efeito que que este tipo de recompensa surtia sobre os ple-
beus. Em uma sociedade onde o mérito militar era uma das poucas oportunidade de ascensão
social e obtenção de status, é mais do que razoável supor que a possibilidade de obter tais
recompensas servia como grande fator motivador para os guerreiros astecas.
2.2 Economia: agricultura, comércio e tributo
As técnicas agrícolas utilizadas na Mesoamérica eram relativamente primitivas. A
inexistência de animais de carga e da utilização da roda como ferramenta1 tinha como conse-
quência a ausência de instrumentos agrícolas como o arado e a carroça. Basicamente, a única
técnica utilizada para aumentar a produção era a utilização intensiva de irrigação, que com-
pensava parcialmente a sazonalidade das chuvas. A mais avançada destas técnicas de irriga-
ção era a chinampa. As chinampas, ou jardins flutuantes, eram pedaços de lama amontoados e
mantidos unidos por galhos, plantas aquáticas e raízes que formavam uma espécie de cesta,
mantendo a porção de terra coesa. Estas porções de terra de dimensões modestas (em média
100x20 metros) mostraram-se altamente produtivas, e foram uma engenhosa solução para as
limitadas opções agrícolas que a capital asteca, uma ilha lacustre com espaço limitado, pode-
ria oferecer (SOUSTELLE, 1961, p. xvii).
Além da produção agrícola da capital, baseada grandemente nas chinampas, Te-
nochtitlán não possuía abundância de matérias-primas básicas necessárias ao desenvolvimen-
to da cidade. Para suprir esta necessidade, a economia asteca recorria ao tributo e ao comér-
cio.
Como será visto, a forma básica de domínio sobre as áreas anexadas se baseava na
imposição de pagamento regular de tributo. O tributo era pago na forma de produtos que iam
desde os mais básicos, como: cacau, feijão, milho, madeira e pedra; até produtos considerados
“de luxo”, como: plumas coloridas, ouro, pedras preciosas, armas e vestimentas de algodão.
Com o crescimento do império, formou-se uma intricada rede de tributos oriundos das mais
1 Em alguns sítios arqueológicos foram encontrados alguns brinquedos com roda, o que demonstra que, apesar de não a utilizarem de forma instrumental, a roda era conhecida.
21
remotas regiões afluindo para a capital, que por sua vez se tornava cada vez mais dependente
desta rede de tributos.
A necessidade de se processar estes itens recebidos como tributo fez com que sur-
gissem profissionais especializados em transformá-los em itens de arte. Os artesãos (amante-
cas), devido à sua habilidade artística, compunham uma classe profissional muito apreciada.
Como foi descrito anteriormente, a demonstração de status era parte integrante da vida social
asteca. Ela era realizada no dia a dia nas vestimentas ostentadas pelos nobres, ou, de forma
mais oficial, na elaborada indumentária necessária às cerimônias religiosas e aos rituais de
combate. Os artesão eram especializados em distintas áreas. Havia os especializados no traba-
lho com plumas, que faziam a decoração dos capacetes, escudos e armaduras dos oficiais mi-
litares. Para a ritualística da guerra mesoamericana, este trabalho era mais do que mera orna-
mentação, mas sim uma forma de demonstrar em campo de batalha que o utilizador daquela
indumentária era um guerreiro de valor. Outros artesãos especializados eram os escultores, os
ourives e os escribas. A importância deles na economia asteca era tão grande que fez com que
obtivessem privilégios (dispensa de trabalhar nas terra ou nas obras públicas, por exemplo)
que os colocavam em um nível intermediário entre a plebe e a nobreza.
Como nem todas as necessidades materiais dos astecas podiam ser satisfeitas pelo
recebimento de tributo, o comércio foi essencial à complementação da economia asteca. Ta-
manha era a importância do comércio, que os pochteca (comerciantes, mercadores) formavam
uma a classe a parte que se aproximava muito da nobreza. Dentre outros privilégios, alguns
deles tinham o direito a adquirir terras e podiam matricular seus filhos em escolas reservadas
à nobreza.
Não há um equivalente exato ao papel desempenhado pelos pochteca em outras
civilizações da antiguidade. Não eram empreendedores privados, mas sim funcionários do
estado. Os lucros de suas viagens pertenciam, ao menos em teoria, ao imperador; embora Da-
vies (1987, p. 148) afirme que eles conservassem parte do lucro. Não eram exclusivamente
mercadores, no sentido estrito da palavra, mas também tinham um forte apelo militar. Os gru-
pos de mercadores andavam sempre armados e tinham capacidade de empreender combates,
se necessário. Além disso, devido às suas inúmeras viagens, tinham grande conhecimento de
geografia e de diferentes idiomas; sendo por isso utilizados em diversas atividades de reco-
nhecimento e inteligência. Em diversas campanhas de conquista, sua atuação foi essencial à
vitória asteca (SOUSTELLE, 1961).
O papel dos pochteca enquanto representantes do império se acentuou com o tem-
po, e, por ocasião da chegada dos espanhóis, desempenhavam também funções análogas às de
22
um corpo diplomático. A agressão ou maus tratos aos comerciantes em viagem seriam consi-
derados causus belli e a cidade agressora sofreria retaliações militares. A posição social deste
grupo era crescente. Alguns estudiosos, destacando-se Soustelle (1961, p. xviii), afirmam que
os pochteca estavam em um processo de ganho de privilégios muito intenso, podendo até
mesmo suplantar a nobreza caso os europeus não tivessem interferido na história mesoameri-
cana. Esta ideia é amplamente questionada por Davies (1987, p.148) ao afirmar que os privi-
légios dos comerciantes teriam um limite, uma vez que sob o governo dos últimos imperado-
res havia um grande processo de intensificação da concentração de poder nas mãos da nobre-
za.
2.3 O Estado: Pax Asteca e sistema de dominação
Dentre outras, as características mais típicas de um império são: a administração
direta das províncias conquistadas graças à nomeação de interventores oriundos da capital, e a
rígida vigilância e controle da província através da presença de guarnições imperiais (DAVI-
ES, 1982, p. 192). Como veremos, estas características, presentes na maior parte dos impérios
clássicos do Velho Mundo, não faziam parte da organização asteca.
Hassig (1988, p.11) desenvolve esta questão ao denominar os principais objetivos
que um estado deve buscar para ser classificado como império segundo a perspectiva teórica
de Clausewitz. São eles: expansão territorial, controle interno das áreas conquistadas e manu-
tenção de fronteiras seguras. Estes objetivos seriam buscados através da posse de exército
permanente, imposição de vontade ao conquistado e fortificações para defesa.
Não há dúvidas que os astecas buscavam o primeiro objetivo (expansão territori-
al), uma vez que buscavam sempre executar campanhas que tinham o propósito de aumentar
sua área de influência. Entretanto, suas conquistas não resultavam em anexação territorial
propriamente dita. O sistema de administração de suas províncias, um aperfeiçoamento do
que já existia em outras sociedades mesoamericanas, baseava-se na obrigação de pagamento
de tributo. A região conquistada se comprometia a efetuar pagamento regular de impostos,
cuja composição e quantidade eram determinadas pelo conquistador. Quando a historiografia
da antiguidade mesoamericana utiliza o termo “vassalo” ou “suserano”, o significado é dife-
rente de quando este termo é empregado na historiografia medieval europeia. No caso meso-
americano, “vassalo” é o estado tributário, ou seja, o que tem a obrigação de pagar tributo; e
“suserano” é aquele que impõe e recebe o pagamento do tributo.
23
O grau de controle que o Império Asteca tinha sobre suas províncias era muito
brando. Quase sempre, após uma vitória militar e consequente estabelecimento do tributo a
ser pago, os astecas mantinham no poder os mesmos soberanos locais. A província geralmen-
te podia manter suas leis e costumes locais, sua organização interna, sua língua e sua religião.
As obrigações da província se resumiam a adotar o culto ao deus méxica Huitzilopochtli (o
que não implicava em abandonar seus deuses locais), a oferecer apoio logístico aos exércitos
imperiais quando solicitado pelo poder central (água, alimento, carregadores, e principalmen-
te, soldados para reforçar as fileiras imperiais) e, principalmente, a pagar regularmente o tri-
buto estipulado. Soustelle (1961, p. xxi) define as províncias astecas como entidades mais
fiscais do que políticas.
A figura mais próxima que os astecas tinham de um interventor ou governador
provincial era o calpixque. O calpixque era um funcionário cuja principal atribuição era regis-
trar e inspecionar o pagamento de tributos da província para a capital. Estes funcionários, re-
presentantes do poder imperial na província, tinham grande importância dentro da estrutura de
poder asteca. Sua tarefa era ao mesmo tempo complexa e relevante. Complexa porque o tribu-
to podia ser pago sob diversas maneiras, como: matéria-prima, manufaturas, artigos de luxo,
mão-de-obra ou soldados; e este fluxo de tributos para a capital, oriundos das mais diversas
regiões, necessitava minucioso controle. Era também relevante não somente devido à depen-
dência cada vez maior que a capital tinha de tal afluência de tributos mas, também, para o
claro estabelecimento de relações de domínio, pois, o pagamento de tributo era símbolo da
submissão ao poder imperial.
O segundo objetivo, o de manutenção de fronteiras seguras, também não era atin-
gido no sentido clássico devido à falta dos meios citados por Clausewitz: exército permanente
e fortificações. Os astecas não mantinham contingentes em províncias conquistadas. Ao con-
trário de outros impérios, como o romano, por exemplo, não havia a constante presença de
guarnições para garantir a imposição da vontade do poder central nem para a proteção das
fronteiras. Apesar de virtualmente todo cidadão asteca receber treinamento militar, não pode
se considerar que era permanente e profissional. Não há indício da existência de guerreiros
dedicados em tempo integral à atividade militar, ao menos em quantidade considerável. O
exército era composto basicamente por cidadãos comuns que, quando não em combate, exe-
cutavam suas atividades produtivas na sociedade; na maior parte dos casos, à agricultura. Na
verdade, como será discutido futuramente, a rápida capacidade de mobilização de grandes
massas humanas constituía um dos principais fatores de força do exército asteca, amenizando
os efeitos da ausência de um exército permanente. Tampouco há indícios de que existiam for-
24
tificações nas províncias com o intuito de proteger as fronteiras. Apesar do estabelecimento
de algumas muralhas e estruturas defensivas em certas localidades, o fato de não haver qual-
quer indício documental ou arqueológico de que eram guarnecidas impede que lhes seja atri-
buído o caráter de fortificação (HASSIG, 1988).
Em resumo, o Estado Asteca caracterizava-se pela: busca de expansão sem reali-
zar o controle territorial direto, manutenção da segurança interna através da influência sobre
os subordinados e obtenção dos objetivos políticos mantendo-se os líderes locais ao invés de
substituí-los (HASSIG, 1988). Pelas características citadas tanto por Davies quanto por Has-
sig, não se poderia definir a organização asteca como um império no sentido clássico da defi-
nição. Soustelle (1961, p. xxii) chega a afirmar que o Império Asteca, na prática, era uma he-
terogênea confederação de cidades-estados com diferente organizações políticas. A denomi-
nação “império” é adotada por falta de outro termo que possa traduzir melhor tal organização
estatal.
O sistema de dominação utilizado pelos astecas, classificado como domínio por
influência, ou hegemônico; oferecia consequências políticas distintas do sistema de domina-
ção clássico, chamado domínio territorial. O domínio territorial, permitindo maior controle
sobre o conquistado, proporciona maior extração de bens e recursos econômicos. Porém, de-
vido a necessidade de substituir as lideranças locais e manutenção de guarnições no local,
oferecia maiores custos de administração e de segurança. O domínio hegemônico, por outro
lado, oferece perspectivas de exploração econômica mais modestas, contudo, com custos ad-
ministrativos consideravelmente mais baixos (HASSIG, 1988, p.17).
Outro paralelo pode ser estabelecido entre ambos sistemas de dominação utilizan-
do-se dos conceitos de Edward Luttwak (1976 apud HASSIG, 1988, p.18) que analisa as rela-
ções políticas em termos de força e poder. Força é a ação física e direta de um estado sobre o
outro. É proporcional à sua disponibilidade no momento, e é consumida na medida em que é
utilizada. Poder é a ação indireta, sendo a força apenas um de seus componentes. É a percep-
ção da habilidade que um estado possui de atingir seus objetivos, utilizando-se da força se
necessário. Tem um caráter fortemente psicológico, e, diferentemente da força, não é consu-
mido com o tempo. De maneira geral, o sistema de dominação territorial possui ênfase na
força, enquanto o hegemônico enfatiza o poder.
Santamarina (2005, p. 37) afirma que para que um sistema de dominação se per-
petue, faz-se necessária a “colaboração” do dominado (através de sua classe dirigente). Por
isso que sistemas de dominação baseados no poder, mesmo oferecendo um grau menos direto
de controle, podem ser considerados politicamente mais eficientes, já que, é o dominado
25
quem realiza o esforço para que os objetivos do dominador sejam alcançados. A percepção
que o dominado tem do poder do dominador (na forma de ameaça de retaliação) ditará a sua
ação. Enquanto os benefícios para a classe dirigente da sociedade dominada forem maiores do
que os custos, haverá “colaboração” e será cumprida a vontade do dominador.
No caso do império asteca, as relações de pagamento de tributo oferecem um ex-
celente exemplo deste conceito. Enquanto as classes dirigentes das províncias conquistadas
percebiam que seus suseranos tinham a capacidade militar de empregar a força, faziam cum-
prir a vontade asteca. Ou seja, o benefício de não serem atacados e destituídos pelos astecas
era maior do que o custo do pagamento do tributo. Este benefício era considerado grande por-
que tinham a percepção de que os astecas poderiam empregar a força, derrotá-los, e fazê-los
perder o status de classe dirigente. Quando os astecas não conseguiam manter o poder, ou
seja, não conseguiam manter a percepção de que poderiam empregar a força de forma vitorio-
sa, esta relação de custo e benefício se invertia. Para a classe dirigente da província, o benefí-
cio de não serem atacados pelos astecas era menor (pois não percebiam seus senhores com
real capacidade de derrotá-los) do que o custo do tributo. Neste segundo caso, ocorreria uma
rebelião contra o poder central.
Uma consequência importante é que, para que o domínio hegemônico se perpetue,
é necessário que o dominador tenha sempre real capacidade de empregar a força. Apesar de
neste sistema o uso da força não ser sempre necessário, caso não seja empregada quando pre-
ciso, o dominador perderá seu fator de dissuasão. Em outras palavras, o dominador perde po-
der. Na Mesoamérica, a forma mais eficiente de manter o poder de dissuasão eram as guerras.
Desta forma, não é surpreendente que os astecas estivessem quase que permanentemente em
estado de guerra, pois, qualquer hesitação em executá-la acarretaria na diminuição de seu po-
der, essencial à manutenção de seu sistema de dominação.
26
3 HISTÓRIA ASTECA
3.1 Origens incertas e mito de migração
A história do povo asteca, de certa forma, é o capítulo final e mais dramático da
história das grandes civilizações mesoamericanas; assim como marca o fim de importante
parte da história do homem nativo americano. Seu início ainda é bastante encoberto de misté-
rio, e dentro dos relatos existentes a distinção entre realidade e mitologia nem sempre é clara.
Atribui-se normalmente o ano de 1111 como a data em que os astecas deixam
Aztlán. A questão da exata localização de Aztlán ainda está em aberto. Os códices indicam a
localização a noroeste da Cidade do México. Já foram levantadas hipóteses de que na verdade
Aztlán poderia ser a própria cidade do México, enquanto outras localizaram Aztlán tão longe
como a mais de 3.000 km de distância, na região da Califórnia. Hoje em dia há relativo con-
senso que esta localidade encontrava-se aproximadamente a meio caminho destes dois extre-
mos.
A tradição oral descreve ainda outros locais por onde os astecas teriam errado, e
inclusive o acontecimento descrito na introdução, quando seu líder, supostamente interpretan-
do a vontade do deus Huitzilopochtli, ordenou que mudassem seu nome para méxica. Esta
história provavelmente é a representação mitológica de uma cisão que houve entre os que
adotaram este deus como divindade suprema e os que não o adoravam como tal. Esta separa-
ção teve como resultado a formação de um grupo mais homogêneo e com uma estrutura de
poder centrada em torno da classe sacerdotal. Por toda a história asteca o culto a Huitzilopo-
chtli e a interpretação de sua vontade seriam parte integrante da ideologia oficial (DAVIES,
1973, p.17). Townsend (1992, p.56) assume a hipótese de que Huitzilopochtli na verdade era
o líder dos méxica nesta época, vindo a ser deificado posteriormente.
Esta tribo, apesar de dominar a agricultura e falar a língua nahuatl (quase que lin-
gua franca no universo mesoamericano) ainda era nômade e considerada como uma das me-
nos civilizadas e mais selvagens pelos seus vizinhos. Era mais uma das chamadas tribos chi-
chimeca, palavra nahuatl com caráter pejorativo que tem o mesmo sentido de “bárbaro” na
cultura europeia. Após a queda de Tula e o declínio do poder tolteca, diversas tribos chichi-
meca ingressaram na região do Vale do México, em um processo análogo às invasões bárba-
ras nos domínios do Império Romano.
Depois deste longo período de migrações, os méxica estabeleceram-se na região
do lago Chapultepec (região central da atual Cidade do México) pouco antes de 1300. Tão
27
logo se instalaram nesta região, encontraram forte hostilidade de alguns de seus vizinhos, que
não apreciavam a presença de tribos semisselvagens nas proximidades de seus domínios. Pas-
sados apenas 25 anos (45 anos, segundo outros relatos), foram derrotados por uma coalizão
composta por guerreiros de Culhuacán e por tepanecas de Azcapotzalco. O líder asteca de
então, Huitzilihuitl, foi sacrificado pelos vencedores e os astecas se dispersaram. A grande
massa dos derrotados procurou refúgio justamente em Culhuacán, onde ficaram a mercê dos
vencedores (TOWNSEND, 1992, p.60).
Os astecas foram então ordenados a habitar uma região de solo vulcânico e infes-
tada de serpentes e outras pragas, chamada Tizaapán. Era tido como certo que ninguém pode-
ria prosperar naquele local, porém, sem outra alternativa, o povo asteca se empenhou ao má-
ximo em sua sobrevivência e prosperidade. Os senhores de Culhuacán se aproveitaram da
tenacidade asteca (que se tornaria célebre) e os empregaram como mercenários em diversas de
suas campanhas militares.
A maneira pela qual os astecas partem dos domínios de Culhuacán é narrada em
um episódio, certamente mitológico, com características bizarras. A liderança asteca teria
suplicado ao soberano de Culhuacán que cedesse a sua filha para ser declarada rainha asteca e
esposa simbólica do deus Huitzilopochtli. A proposta teria sido aceita, e, quando a princesa
passou aos cuidados astecas, teria sido esfolada viva e sua pele usada como vestimenta por
um sacerdote. O soberano de Culhuacán foi convidado para a cerimônia de coroamento da
princesa, mas, ao chegar, viu o sacerdote vestindo a pele de sua filha. Sucedeu-se grande con-
flito militar que resultou na fuga dos astecas e procura de novo lugar para se estabelecer. Sem
desconsiderar de todo a mitologia, Davies (1987, p.24) descreve como mais plausível que os
astecas tenham saído desta região através de casamentos da nobreza asteca com a de Cu-
lhuacán. A partir destes casamentos, as nobrezas passaram a ser interligadas e os astecas con-
seguiram a sua liberdade. A aquisição de linhagem nobre também incutiu a ideia de fazer par-
te da descendência tolteca, pois, por ocasião da queda de Tula, a maior parte da nobreza tolte-
ca havia se refugiado em Culhuacán. Mais tarde, graças a essas ligações, os astecas se deno-
minariam não somente possuidores de parte da linhagem nobreza tolteca, mas sim, como os
únicos e verdadeiros herdeiros de seu legado.
3.2 Tenochtitlán
O lar definitivo do povo asteca acabaria sendo uma pequena ilha no lago Texcoco
(mapa 1). Ao avistar uma águia devorando uma serpente sobre um cacto, os sacerdotes identi-
28
ficaram o sinal que teria sido enviado por Huitzilopochtli para o estabelecimento de seu lar
final. Assim, segundo a história oficial, em 1325 é fundada a cidade de Tenochtitlán, que em
nahuatl quer dizer “lugar do cacto”. Atualmente, há grande consenso entre os historiadores de
que a data de 1345 é provavelmente mais correta (DAVIES, 1973, p. 37). Treze anos depois
seria fundada a cidade-gêmea de Tlatelolco em uma ilha vizinha. Mais tarde, o crescimento
das cidades (especialmente Tenochtitlán) através de sucessivos aterramentos fez com que, em
um processo de conurbação, as duas ilhas se fundissem em uma só grande cidade.
Mapa 1 – Lago Texcoco
Fonte: León-Portilla (2000, p. xxxi)
A história oficial (corroborada por alguns pesquisadores modernos como Town-
send (1992, p.64-65) enfatiza os imensos obstáculos que tal sítio ofereceria à prosperidade de
sua recém-fundada capital. Uma área sem animais de caça, sem grande espaço para a agricul-
tura e com escassez de materiais básicos para manufaturas. Davies (1982, p. 173-174) de-
monstra que o local aparentemente árido, na verdade, apresentava diversas vantagens estraté-
gicas ao seu desenvolvimento. A ausência de animais de caça seria compensada pela abun-
29
dância de peixes e outros animais aquáticos. Ao mesmo tempo em que as dimensões reduzi-
das da ilha ofereciam poucas terras cultiváveis, o ambiente aquático, irrigado por canais, mos-
trava-se ideal para o cultivo intensivo de chinampas (“jardins flutuantes”). A natureza aquáti-
ca da cidade ainda facilitou o transporte através de canoas, tanto entre diferentes pontos da
cidade como para outras cidades localizadas às margens do lago. Em uma região onde inexis-
tiam animais de carga e com estradas precárias, o transporte aquático mostrou-se extrema-
mente vantajoso. Militarmente, a localização insular proporcionou ainda defesa natural contra
eventuais ataques. Em efeito, Tenochtitlán nunca seria atacada por seus adversários (somente
pelos espanhóis). Por fim, até mesmo a falta de matéria-prima para manufaturas teria certo
efeito positivo, pois, forçaria a cidade a buscar o caminho do comércio ao mesmo tempo em
que liberaria mão-de-obra para a atividade militar.
Os habitantes de Tenochtitlán não só conseguiram superar as dificuldades existen-
tes, mas se aproveitaram das vantagens geográficas e fizeram com que a cidade prosperasse
enormemente. Os cronistas espanhóis são unânimes em seu deslumbramento ao ver os edifí-
cios astecas e o tamanho da cidade. Há diversas estimativas sobre a população de Tenochti-
tlán, algumas falam em milhões, porém, exageros a parte, indícios apontam que não era me-
nor que 250.000 pessoas, o que já fazia dela a cidade mais populosa do planeta a época
(SOUSTELLE, 1961).
3.3 Sob o jugo tepaneca: 1345-1428
Tenoch era o sacerdote-líder dos astecas quando Tenochtitlán foi fundada. Duran-
te o período em que esteve a frente de seu povo, os astecas, então uma tribo empobrecida e
frágil, tiveram que aceitar a posição de vassalos de um poderoso vizinho. O Império Tepane-
ca, cuja capital era Azcapotzalco, era o novo poder dominante na região do Vale do México.
Por ocasião da morte de Tenoch, os astecas buscaram uma estratégia diplomática de sobrevi-
vência. Decidiram escolher chefes que fossem pertencentes à sua linhagem nobre, e ao mesmo
tempo persona grata entre seus suseranos. Para a cidade-gêmea de Tlatelolco foi eleito um
dos filhos do soberano tepaneca, garantindo assim sua boa vontade. A escolha do tlatoani
(soberano) de Tenochtitlán recaiu sobre Acamapichtli, filho de uma princesa de Culhuacán.
Vale lembrar que Culhuacán foi o abrigo da nobreza tolteca quando da dissipação de seu im-
pério. Desta maneira, os astecas, ao implantar uma dinastia com sangue culhua, estavam ga-
rantindo, consequentemente, uma linhagem com a almejada descendência tolteca. Esta dinas-
tia viria a governar os astecas até o fim de seu império.
30
Em 1369, assume o trono tepaneca o mais hábil de seus líderes, Tezozomoc. Gra-
ças a seu inato talento político, foi o soberano que efetivamente transformou o poderio te-
paneca em um poderoso império expansionista. Tezozomoc usava sua habilidade diplomática
para angariar aliados e isolar seus inimigos, que eram destruídos um a um.
Neste período de expansão do Império Tepaneca, foram empreendidas inúmeras
batalhas, que, segundo a praxe mesoamericana, mobilizavam não somente seu exército mas
também o de seus vassalos. Foi este o momento no qual os astecas, sob a liderança de Aca-
mapichtli, puderam mostrar seu valor militar, destacando-se nos conflitos para os quais foram
designados e construindo para si a reputação de exímios guerreiros. A partir de então, os te-
panecas passaram a depender cada vez mais de seus vassalos astecas em suas guerras. Quando
da morte do tlatoani asteca Acamapichtli, em 1391 (1396 para Townsend [1992]), os tepane-
cas já dominavam praticamente todo o Vale do México graças à grande contribuição de seus
aguerridos vassalos. Ao mesmo tempo, já estavam lançadas as bases do estado asteca. Graças
ao desempenho militar em prol de seus senhores, progressivamente, os astecas ganhavam sta-
tus especial se comparados às demais províncias. O auge deste favorecimento viria com a
guerra contra Texcoco.
Texcoco era uma importante cidade-estado localizada na costa leste do lago com o
mesmo nome (ver mapa 1). O líder de Texcoco teria desafiado Tezozomoc, não aceitando a
submissão de sua cidade ao poderio tepaneca. O que se seguiu foi a mais dura das guerras que
os tepanecas enfrentaram, tendo durado de 1414 a 1418. Em determinado ponto da guerra, as
forças de Texcoco chegaram mesmo às portas de Azcapotzalco, tendo quase derrotado os te-
panecas (DAVIES, 1973).
Huitzilihuitl, que havia assumido o trono em 1391 (ou 1396), consolidou a reputa-
ção guerreira asteca ao conduzir seu povo na campanha em socorro aos seus suseranos. A
guerra terminou com a derrota de Texcoco e o assassinato de seu soberano diante dos olhos de
seu filho, Nezahualcoyotl (que escapou para o exílio e viria a ter papel fundamental na histó-
ria mexicana no futuro). A participação dos astecas teria sido tão determinante que o líder
tepaneca, Tezozomoc, em reconhecimento, não anexou Texcoco como estado tributário, mas
preferiu cedê-lo como presente aos astecas. Seria o primeiro estado que teria relações de sub-
missão a Tenochtitlán, e o início do caminho do fortalecimento e independência asteca. Para-
lelamente, os astecas consolidariam sua posição especial através de laços familiares ao casar
seu soberano Huitzilihuitl com a filha do soberano tepaneca.
31
3.4 Independência: Itzcoatl (1427-1440)
Em 1416 morre Huitzilihuitl. Seu filho, Chimalpopoca, assume o trono asteca.
Chimalpopoca era fruto da união do rei asteca com uma das filhas de Tezozomoc, logo, era
neto do imperador tepaneca. Devido à ligação familiar, Tenochtitlán passou a ter um status
ainda mais privilegiado do que já havia conquistado, e, como consequência, o tributo que de-
viam pagar a seus suseranos foi substancialmente reduzido.
Apesar de Tenochtitlán estar conquistando gradativamente relativa autonomia, o
ponto crucial neste processo foi a morte do longevo líder tepaneca, Tezozomoc. Logo após
este acontecimento, iniciaram-se várias divergências internas, sendo o tratamento especial
conferido aos méxica um dos temas mais delicados. Um dos maiores opositores a esse favore-
cimento era um dos seus filhos, chamado Maxtla, que acabou assassinando seu irmão mais
velho e usurpando o trono. Tão logo assumiu o poder, não só aboliu a redução do tributo pago
pelos astecas, como impôs pagamento ainda mais severo. A história oficial ainda atribui a
Maxtla a idealização do atentado que culminou com o assassinato do tlatoani asteca, Chimal-
popoca. Davies (1987) e Hassig (1988) contestam esta versão, uma vez que Maxtla teria mais
interesse em manter um soberano asteca enfraquecido e colaborativo (como Chimalpopoca
estava sendo) do que assassiná-lo. Mais provável seria que a própria corte asteca tenha plane-
jado seu assassinato por descontentamento da complacência de Chimalpopoca para com seus
suseranos.
O escolhido para substituir o tlatoani assassinado foi Itzcoatl, que assume o trono
em 1427. Itzcoatl seria enormemente apoiado por dois importantes membros da corte: o gene-
ral Moctezuma Ilhuilcamina (também grafado como Motecuhzoma, ou Montezuma), que no
futuro viria também a ser imperador; e Tlacaelel, que se tornou o estadista mais importante de
toda a história asteca. Estes três líderes, formando na prática um triunvirato, vislumbraram a
oportunidade de se livrar do estado de vassalagem a que Tenochtitlán vinha sendo submetida
até então.
Para atingir seus objetivos, os méxica se aliaram a Tlacopan (Tlacuba, em espa-
nhol) e à sua antiga adversária, Texcoco. Formaram a coalizão que veio a ser conhecida como
Tríplice Aliança. A aliança com Texcoco, em especial, seria fundamental para o sucesso da
campanha. O herdeiro por direito do trono de Texcoco era Nezahualcoyotl, o jovem que anos
antes presenciara o assassinato de seu pai quando da derrota para Tenochtitlán. Nezahualco-
yotl mostrou grande destreza política ao conquistar apoio (ou ao menos a neutralidade) de
32
diversas províncias tepanecas. A mesma habilidade que Nezahualcoyotl tinha para conquistar
aliados, o então soberano tepaneca, Maxtla, tinha para fazer inimigos.
A guerra teve como resultado a invasão de Azcapotzalco pelas forças da Tríplice
Aliança em 1428. A captura e o sacrifício ritual de Maxtla diante de seus súditos marca o fim
do domínio tepaneca e a transmissão de seus domínios para a Tríplice Aliança, também co-
nhecida como Império Asteca.
Nunca é demais ressaltar a importância que os tepanecas tiveram na história aste-
ca. Foi sob a égide de seus antigos suseranos que os astecas consolidaram seu estado e apren-
deram a arte da construção de um império, participando inicialmente como mercenários, e
posteriormente como indispensáveis aliados (DAVIES, 1987, p.34).
Com o desmantelamento do império tepaneca, seus antigos domínios viram-se li-
vres do estado de vassalagem a Azcapotzalco; o que não significou de forma alguma que te-
nham aceitado automaticamente a submissão à Tríplice Aliança. O reinado de Itzcoatl seria
marcado basicamente pela “reconquista” destes antigos estados tributários. Quando morreu,
em 1440, seu império já tinha proporções comparáveis às do extinto Império Tepaneca.
A vitória sobre Azcapotzalco e o subsequente confisco de suas terras promoveria
modificações profundas na estrutura social méxica. A nobreza passou a se interessar cada vez
mais pela campanhas militares que pudessem representar ganhos fundiários para si. Vale res-
saltar que as dimensões limitadas de Tenochtitlán ofereciam poucas áreas agrícolas além das
chinampas, e, também, que a terra era a única forma realmente perene de riqueza na Mesoa-
mérica. O que se viu foi a formação de uma hierarquia que favoreceu a formação de uma elite
militar detentora da posse da terra (DAVIES, 1987). Este fator recompensador foi um grande
motivador que estimulava os nobres a buscar glórias no campo de batalha.
3.5 Primeira grande expansão: Moctezuma I (1440-1468)
Ao morrer, em 1440, Itzcoatl havia não só consolidado a conquista dos antigos
territórios tepanecas, como também havia construído as estruturas político-sociais que possi-
bilitariam a grande expansão do império nos próximos reinados (DAVIES, 1973, p.42).
A decisão sobre quem seria o novo tlatoani não foi difícil. Moctezuma Ilhuicami-
na, mais conhecido como Moctezuma I, já havia provado seu valor como líder em inúmeras
guerras e também como estadista, tendo feito parte, juntamente com Itzcoatl, do triunvirato
que liderou a campanha asteca contra seus antigos suseranos. O terceiro membro, seu irmão
Tlacaelel, continuaria nos bastidores do poder, na função de cihuacoatl (primeiro-ministro) e
33
seria a eminência parda do poder asteca durante ainda vários reinados. Seu prestígio e poder
de influência eram tamanhos que muitos o consideram o verdadeiro idealizador do Império
Asteca. Graças a sua lendária longevidade, pôde exercer sua influência ainda sobre outros
quatro tlatoanis. É descrito pelos relatos nativos como um dos personagens mais importantes
da história asteca.
Moctezuma I por sua vez foi um líder notável tanto como político como soldado,
sendo frequentemente apresentado como um dos maiores tlatoani que o império já teve. Sob
sua liderança, os astecas empurraram suas fronteiras para muito além do Vale do México,
chegando até mesmo até as proximidades da fronteira com a Guatemala.
Surpreendentemente, o início do governo do expansionista Moctezuma iniciou-se
sem grandes campanhas por aproximadamente dezoito anos. Período de paz prolongada para
os padrões astecas. Neste intervalo de tempo seria executada somente a campanha de estreia1.
Este hiato foi utilizado para lidar com a grande fome de 1450 a 1454, para a construção do
maior monumento asteca, o Grande Templo (Templo Mayor) de Tenochtitlán, para a consoli-
dação da aliança com os soberanos de Texcoco e Tlacuba, e principalmente, para a resolução
final de um longo conflito contra um antigo adversário que os astecas tinham muito próximo
de si: os chalcas.
Chalco era mais do que uma simples cidade-estado, mas uma confederação que
abrangia catorze diferentes cidades situadas a aproximadamente meia centena de quilômetros
a sudeste de Tenochtitlán (mapa 1). A rivalidade com Chalco datava de 1376 e somente foi
encerrada com a vitória definitiva asteca em meados da década de 1450, o que levou alguns
historiadores a apelidar este conflito de a “Guerra dos Cem Anos Mesoamericana” (DAVIES,
1973, p. 52). Não foi uma vitória fácil, o que demonstra o acerto de Moctezuma ao decidir
não promover campanhas distantes antes de ter subjugado seu antigo vizinho rival, devido ao
risco de deixar sua capital desguarnecida diante da eventualidade de assédio inimigo.
A partir de então o império estaria livre para lançar-se em campanhas mais afasta-
das. A mais distante foi a campanha de subjugação do povo mixteca, em 1458. Os mixtecas
habitavam uma região ao sul do México que tinha Oaxaca como cidade mais importante. Esta
região era extremamente interessante para os astecas por possuir os melhores artesãos e ouri-
ves de toda a Mesoamérica (como foi visto, estes profissionais e seus produtos eram extre-
mamente valorizados). As mais belas manifestações artísticas mesoamericanas são oriundas
da região mixtecas. Além do mais, suas terras tropicais possuíam os diversos produtos consi-
1O paradigma político mesoamericano do período pós-clássico exigia que, ao assumir o trono, o novo soberano
lançasse uma campanha militar, normalmente de pequenas proporções e contra um adversário frágil, com o único intuito de capturar prisioneiros para serem sacrificados em sua cerimônia de coroação.
34
derados artigos de luxo muito utilizados nas cerimônias astecas como: plumas, ouro e pedras
preciosas. Além desta campanha, Moctezuma I teve outras conquistas sobre outros povos na
região do Vale do México e também na costa do Pacífico.
As campanhas de Moctezuma I, dentre outras razões, tinham grande motivação
econômica uma vez que buscou-se a conquista de regiões que pudessem pagar variadas for-
mas de tributo, desde os produtos alimentícios básicos da região do Vale do México, até os
artigos de luxo e oriundos da região tropical da costa do Pacífico. Este processo de expansão e
aquisição de províncias tributárias intensificou a concentração de poder e privilégio nas mãos
da nobreza militar, uma vez que, os benefícios da campanha eram compartilhados por esta
elite. Estas campanhas tiveram como resultado profundas transformações em Tenochtitlán,
que passou a receber produtos e pessoas das regiões mais remotas, assumindo o cosmopoli-
tismo e as dimensões de uma verdadeira capital imperial. O território dominado pelos astecas
passava enfim a ter dimensões verdadeiramente imperiais, possuindo possessões que se esten-
diam desde a costa do Atlântico até a costa do Pacífico.
3.6 Insucessos: Axayacatl (1468-1481) e Tizoc (1481-1486)
Após o período de grandes sucessos militares promovidos por Moctezuma I, o
Império Asteca enfrentaria o seu outono expansionista durante os dois seguintes curtos reina-
dos que se seguiram. Com a morte de Moctezuma I, em 1468, a escolha mais óbvia para su-
cedê-lo seria o seu influente irmão, o primeiro-ministro Tlacaelel. No entanto, como foi men-
cionado anteriormente, este preferiu continuar nos bastidores do poder e assim permaneceu
nos três reinos subsequentes, influindo na escolha dos imperadores e nos rumos da política
asteca.
O escolhido foi o Axayacatl, líder militar que já havia mostrado seu valor marcial
em diversos combates, porém muito jovem e inexperiente (apenas dezenove anos). Davies
(1982, p.185) especula que Tlacaelel teria trabalhado para que a escolha recaísse sobre este
jovem a fim de estar em melhor posição de influenciá-lo e manipular o poder real.
Axayacatl, logo após executar a sua batalha de estreia, empreendeu a campanha
que se mostraria o seu maior erro e resultaria na mais trágica derrota asteca até então. Axaya-
catl comandou uma expedição para combater os tarrascos, povo que habitava a região noroes-
te do México (ver mapa 2). Assim como o povo méxica, os tarrascos eram extremamente
aguerridos. Um detalhe importante era que estes faziam uso prático do metal em seu arma-
mento, que se mostraria mais eficiente que o equivalente asteca (DAVIES, 1974, p. 146).
35
A campanha foi mal concebida desde o início e os astecas chegaram à área tarras-
ca em considerável desvantagem numérica. Em qualquer combate, a força atacante normal-
mente deve ter comparável superioridade numérica para compensar as vantagens defensivas.
Na guerra mesoamericana, como será abordado mais adiante, a vantagem numérica era fator
ainda mais crucial. Os relatos oficiais apontam que a força asteca, totalizando 24.000 homens,
enfrentou 40.000 tarrascos. O resultado foi o previsível massacre da força invasora com o
regresso de míseros duzentos sobreviventes a Tenochtitlán (DAVIES, 1974, p.150).
A derrota para os tarrascos trouxe como consequência a estratégia defensiva que
os astecas adotariam na fronteira tarrasca durante todo o restante de sua história. Construíram
estruturas defensivas (que não faziam parte do paradigma militar mesoamericano) nas cidades
situadas na região fronteiriça e procuraram conquistar cidades que poderiam ser estratégicas
para a vigilância desta área. De fato, os astecas nunca mais ousaram enfrentar os tarrascos.
Axayacatl viria a falecer em condições desconhecidas, apenas treze anos após ter
assumido o trono, sem ter conquistado grandes glórias para o império. Seu maior feito, se não
tão glorioso, foi ao menos fundamental para a manutenção do status quo de Tenochtitlán: a
supressão da rebelião da cidade-irmã, Tlatelolco. As forças de Tenochtitlán suprimiram a re-
volta, e, como punição pelo que foi considerado alta traição, Tlatelolco perdeu, e jamais recu-
perou, a autonomia e a posição favorável que gozava antes por ser cidade-gêmea de Tenochti-
tlán. Passou a assumir posição subordinada, tendo de pagar tributos a Tenochtitlán, e ainda,
seus nobres perderam todos os privilégios, passando a ser tratados como meros plebeus.
Com grande influência de Tlacaelel, Tizoc foi eleito como o novo tlatoani em
1481. Seu reinado duraria meros cinco anos e seria ainda menos notável do que o de seu ante-
cessor. Sua reputação de mau líder militar vem desde a sua campanha de estreia, contra Me-
tztitlán, quando capturou apenas quarenta prisioneiros e perdeu trezentos, mesmo possuindo
vantagem numérica. Outros insucessos, aliados a seu desinteresse por assuntos militares, cor-
roboraram esta percepção. Os cronistas e historiadores normalmente não são muito generosos
ao descrevê-lo. Hassig (1988, p. 190-198) afirma que, de todos os líderes astecas, era o mais
notável por seu mau desempenho militar e que seu reinado somente contribuiu para erodir a
credibilidade asteca. Durán (1967 apud DAVIES, 1973, p.73) afirma que Tizoc foi mais notó-
rio por sua covardia do que por sua coragem. O único cronista a discordar foi Torquemada
(1969 apud DAVIES, 1973, p.73), que ressaltou que este possuía a patente de tlacatecatl (ge-
neral) antes de assumir o posto de imperador, o que seria incompatível com sua alegada co-
vardia.
36
Apesar destes dois reinados serem vistos como escassos de glórias, seria precipi-
tado afirmar que foram marcados somente por derrotas. Axayacatl conseguiu impedir que a
revolta de Tlatelolco abalasse a liderança de Tenochtitlán. Além disso, tanto ele como Tizoc
obtiveram algumas conquistas militares e territoriais que foram motivadas mais por busca de
aumento do fluxo de tributos para a capital do que propriamente por razões estratégicas. No
entanto, esses pálidos reinados trouxeram como consequência a desmistificação da invencibi-
lidade asteca. Outro resultado foi demonstrar as deficiências que o sistema de escolha de tla-
toani possuía. A presença de um soberano fraco permitiu o aumento de influência do outro
membro influente da Tríplice Aliança, Texcoco, que foi governada por dois soberanos extre-
mamente hábeis, Nezahualcoyotl, e posteriormente por seu filho, Nezahualpilli. Um tlatoani
fraco também interessaria ao ocupante do posto de cihuacoatl (primeiro-ministro), o que apa-
rentemente era a intenção de Tlacaelel, que permaneceu nesta função durante muito tempo.
3.7 Segunda grande expansão: Ahuitzotl (1486-1502)
Com a sua morte, Tizoc foi sucedido por seu irmão Ahuitzotl em 1486. Ahuitzotl,
juntamente com Moctezuma I, é aclamado como um grande conquistador e um dos mais he-
roicos líderes que o povo asteca já teve. Sob seu reinado os astecas presenciaram mais um
período de enorme expansão do império durante o qual sua extensão praticamente dobrou. A
Tríplice Aliança passaria a dominar regiões a mais de 1.100 quilômetros da capital1,distâncias
consideráveis em uma região onde todo o transporte era feito a pé.
Sua campanha de estreia, além de capturar prisioneiros para sacrifícios, teve tam-
bém o efeito de consolidar o poderio asteca na região de Chiapa. A cerimônia de coroação foi
marcada por enorme opulência e uma quantidade de sacrifícios humanos jamais vista. Consta
que, em apenas um dia de festividades, gastou-se o equivalente a um ano de tributos2 (DAVI-
ES, 1973, p.81). A partir de então, cerimônias extremamente pomposas e extravagantes tor-
nar-se-iam padrão em Tenochtitlán. No ano seguinte, em 1487, finalmente é terminada a
construção do Grande Templo, que serviria de palco para estas solenidades. Os cronistas ci-
tam que entre 20.000 e 80.000 sacrifícios humanos teriam sido realizados por ocasião de sua
inauguração. Davies (1982, p.185) contesta estes números, calculando que, provavelmente
1Distância em linha reta. Se for levado em conta o trajeto percorrido a pé, o valor chega facilmente a pelo menos
1.800 km (DAVIES, 1987). 2 Nestas cerimônias de regresso de batalhas, grande parte do espólio conquistado na campanha era distribuído na
forma de presentes, principalmente para a nobreza e soberanos de outras cidades convidados.
37
4.000 prisioneiros sacrificados seja uma estimativa mais próxima da realidade, o que ainda
assim não deixa de ser um número assombroso.
O paradigma do crescente aumento da opulência das cerimônias fez com que
crescesse a demanda por cativos para sacrifícios bem como por tributos para serem distribuí-
dos durante as cerimônias. Para suprir tal demanda, fez-se necessário conquistar novos territó-
rios destinados a pagar tributo. Para celebrar tais conquistas, faziam-se mais cerimônias. Es-
tava assim formado o círculo vicioso da expansão territorial.
Suas primeiras campanhas foram dentro das fronteiras do império. Marchou para
o ainda não conquistado principado de Metztitlán (ver mapa 2). Sua vitória teve múltiplo efei-
to: tapou uma das descontinuidades de territórios conquistados dentro das fronteiras do impé-
rio, desencorajou a rebelião que ameaçava se iniciar nas regiões vizinhas e ainda capturou
considerável quantidade de cativos para os sacrifícios nas cerimônias na capital.
Mapa 2 – Fronteiras do Império Asteca em 1519
Fonte: Davies (1987, p.83)
O movimento seguinte de Ahuitzotl foi voltado para amenizar um problema polí-
tico herdado de seus antecessores: a questão com os tarrascos. A humilhante derrota sofrida
alguns anos antes ainda estava na memória asteca, e, por isso, Ahuitzotl adotou uma estratégia
defensiva. Sem buscar confrontação direta, efetuou campanhas que visaram conquistar diver-
sas cidades que estavam na região intermediária entre o império asteca e os domínios tarras-
cos. Ordenou a construção de fortificações nestas cidades para a vigilância da fronteira recém-
estabelecida. Apesar desta campanha ter objetivos claramente políticos, os objetivos econô-
micos não foram desprezados, pois, consta que o retorno material na forma de tributo foi
considerável.
38
Ahuitzotl efetuou ainda a anexação de Acapulco antes de iniciar a sua mais ousa-
da empreitada: a campanha em direção às distantes terras maias na Guatemala. Na primeira
investida, as forças astecas marcharam em direção ao sul, e, tendo sido apoiadas por sua prin-
cipal colônia meridional, Oaxaca, avançaram rumo a Tehuantepec, conquistando-a sem gran-
de dificuldade. Ahuitzotl efetuou ainda algumas conquistas menores antes de ter de retornar a
Tenochtitlán para lidar com o problema de uma desastrosa enchente, provocada pelo mal con-
cebido plano de transposição das águas de Coyocán com o intuito de abastecer a cidade.
A segunda investida foi sob o pretexto de alegada autodefesa. A confederação de
cidades-estados de Soconusco, na região guatemalteca, estaria bloqueando o fluxo de produ-
tos tropicais de luxo que afluía para a recém-conquistada Tehuantepec, impedindo assim que
esta última pudesse efetuar o pagamento de tributo. Os astecas avançaram rumo a Soconusco,
e, reforçados por forças de Tehuantepec, conseguiram a vitória. Avançaram ainda mais para o
sul (Ayotlán), quando Ahuitzotl decidiu que seria melhor retornar. Estando a mais de 1.000
km da capital, com as tropas cansadas devido aos combates e marchas forçadas e com limita-
ções de ordem logística, a Tríplice Aliança alcançava o seu limite prático de expansão.
Ao término do reinado de Ahuitzotl, a Tríplice Aliança tinha sob sua égide um
território de dimensões inimagináveis até então, e, como resultado, recebia fluxo incessante
de tributo das mais variadas e longínquas regiões. Suas campanhas de conquista podem ser
classificadas de acordo com seus objetivos primários. As campanhas iniciais, na região de
Metztitlán, tinham como objetivo não somente a conquista, mas também a dissuasão contra
eventuais rebeliões na área, e principalmente, a captura de prisioneiros tanto para sacrifícios
como para serem usados como mão-de-obra na construção do Grande Templo. O segundo
grupo de campanhas tinha a meta estratégica de conter um possível avanço tarrasco. Por fim,
as suas campanhas mais ousadas, no extremo sul, tinham como objetivo o controle, seja por
tributo ou por comércio, das ricas regiões possuidoras de produtos tropicais.
3.8 Moctezuma II (1502-1520)
O sucessor de Ahuitzotl foi seu irmão, Moctezuma Xocoyotl, mais conhecido co-
mo Moctezuma II. Quando foi coroado, em 1501, já era um homem maduro (34 anos) e reco-
nhecido por seu valor militar, político e religioso (DAVIES, 1987, p.89).
No nível da política interna, realizou diversas ações conservadoras com o intuito
de realçar os privilégios da nobreza. Dentre essas mudanças, retirou os não nobres dos postos
do governo, substituindo-os por nobres de alta linhagem. A alta nobreza passou a ostentar
39
cada vez mais status não somente pelos postos que passariam a ocupar, mas também pelo ce-
rimonial e pela indumentária cada vez mais elaborados. A julgar pela ritualística da corte (era
considerado crime, por exemplo, olhá-lo diretamente nos olhos) foi o mais absolutista dos
monarcas astecas. As cerimônias realizadas em Tenochtitlán, como a de sua coroação, nunca
haviam sido tão grandiosas, com enorme distribuição de tributos e sacrifício de colossais mas-
sas humanas.
Na política externa, não foi um expansionista. Suas campanhas foram voltadas
principalmente para as lacunas dentro do território asteca, ou seja, cidades-estados que não
haviam ainda sido conquistadas e que se situavam dentro das fronteiras do império. Desta
maneira, aumentou o número de estados tributários sem necessariamente expandir as frontei-
ras. Seria justamente nas proximidades da capital, no Vale de Puebla-Tlaxcala, que os astecas
encontrariam um adversário que se mostraria irredutível.
As cidades-estados localizadas no Vale de Puebla-Tlaxcala tradicionalmente con-
servavam uma tradição de independência com relação aos poderes dominantes. Duas cidades
desta região merecem destaque: Huexotzingo e Tlaxcala.
Quando Tenochtitlán foi fundada, Huexotzingo já controlava um “mini-império”.
Foi a cidade dominante no Vale até ser suplantada por Tlaxcala, no século XV, que por sua
vez também controlava uma confederação de cidades-estados.
Apesar de os astecas manterem um perpétuo estado de guerra contra Tlaxcala,
oficialmente os únicos confrontos ocorridos seriam “guerras floridas”. A guerra florida não
era considerada uma campanha essencialmente militar, uma vez que, os combates eram pré-
arranjados e tinham o objetivo primário de capturar prisioneiros para sacrifícios rituais. León-
Portilla (2000, p. cl) afirma que, caso desejassem, os astecas poderiam ter derrotado os tla-
xcaltecas sem grandes dificuldades, não o fazendo porque preferiam mantê-los como fonte
perene de cativos através de guerras floridas. Davies (1987, p.94) concorda que as guerras
floridas contra Tlaxcala eram interessantes, pois, garantiam cativos sem a necessidade de
campanhas distantes. No entanto, em pelo menos alguns destes combates, os astecas teriam
tentado alcançar alguma vitória estratégica, não obtendo sucesso. Hassig (1988, p.229) corro-
bora esta visão ao apontar que o número de soldados envolvidos em alguns desses embates
era alto demais para o padrão das guerras floridas tradicionais, o que levaria a supor que mui-
tos desses embates mascaravam reais tentativas de conquista.
O início de hostilidades entre Huexotzingo e Tlaxcala surgiu como uma oportuni-
dade para os astecas. Moctezuma II decide apoiar Huexotzingo, que era o contendor mais
fraco, e lança diversas ofensivas contra Tlaxcala. Apesar da enorme obstinação de Moctezu-
40
ma II em subjugar Tlaxcala, as campanhas efetuadas resultaram em desastrosa derrota. Hue-
xotzingo desistiu do auxílio asteca e negociou a paz com Tlaxcala. Os relatos nativos contam
que este fracasso teve grande efeito sobre Moctezuma II. Era nítido o paradoxo de um império
que conseguia gloriosas vitórias em regiões remotas, mas não era capaz de subjugar um ad-
versário próximo. Dentre as razões para tal insucesso, Davies (1973, p.96) argumenta que as
frequentes guerras floridas que Tenochtitlán empreendia contra Tlaxcala, a longo prazo, fo-
ram propícias à formação de guerreiros veteranos em Tlaxcala. Além do mais, o clima de
ameaça constante de invasão do império fez com que Tlaxcala, para sobreviver, investisse
todos os seus recursos no campo militar, tornando-se assim um oponente a não ser subestima-
do.
3.9 Invasão Espanhola (1519-1521)
Em 10 de fevereiro de 1519, a expedição espanhola de Hernan Cortés, composta
de onze navios e 508 homens, deixa Cuba em direção à costa mexicana. A chegada dos euro-
peus seria acusada por diversos relatos que chegavam à Moctezuma de “montanhas que se
moviam no mar”, na verdade, as embarcações espanholas. A partir do desembarque, na atual
cidade de Veracruz, os passos dos espanhóis em território mexicano seriam acompanhados
através da extensa rede de informantes.
Os espanhóis foram recebidos pelos líderes locais em Cempoala, cidade mais im-
portante da região dos nativos totonacas. Tendo acreditado nas promessas de Cortés de livrá-
los do jugo asteca, os soberanos locais prestaram todo o apoio aos europeus e anunciaram não
mais serem vassalos de Tenochtitlán, recusando-se a pagar o tributo e aprisionando o coletor
de impostos asteca. Desta forma, Cortés inicia sua hábil estratégia de incitar a rebelião entre
os vassalos dos astecas, aliando-se militarmente a eles contra o império. No futuro, após a
derrota asteca, seriam estes povos as vítimas da vez.
A expedição avança seguindo caminho rumo a Tenochtitlán, tendo sido bem rece-
bida pelas localidades por onde passava. Em Tlaxcala, os líderes locais desconfiaram das
promessas de libertação e intensos conflitos se desenrolaram nos quais os tlaxcaltecas sempre
saíram perdedores. As lideranças tlaxcaltecas reavaliaram a situação e negociaram a paz, ofe-
recendo ajuda a Cortés contra os astecas. A rápida vitória dos espanhóis sobre Tlaxcala, cida-
de que nem a poderosa Tríplice Aliança havia conseguido subjugar, certamente causou forte
impressão em Moctezuma II.
41
A parada seguinte da expedição foi na cidade de Cholula, localizada no centro do
vale com o mesmo nome, que abrigava importante centro ritual para o culto do deus Quetzal-
coatl. Cholula era não somente tributária, mas também importante aliada de Tenochtitlán.
Moctezuma II, acompanhando a progressão espanhola através de seus informantes, e prova-
velmente consciente das intenções de Cortés, ordenou ao soberano de Cholula que recebesse
bem os visitantes inicialmente, mas que preparasse uma emboscada para liquidá-los. Os espa-
nhóis e os aliados nativos tomaram conhecimento do estratagema e realizaram um verdadeiro
massacre (LÓPEZ DE GÓMARA, 1965 apud HASSIG, 1988 ).
Cortés, seus expedicionários e os nativos agregados ao seu grupo finalmente che-
garam às portas de Tenochtitlán. Ao contrário do que poderia ser esperado, foram recebidos
pelo imperador Moctezuma II com a maior hospitalidade possível. Durante muito tempo esse
comportamento aparentemente paradoxal de Moctezuma foi explicado pela sua grande religi-
osidade. A mitologia mesoamericana tinha Quetzalcoatl como um de seus deuses mais adora-
dos. Segundo a lenda, ele possuía barba e era o soberano de Tula, capital do Império Tolteca.
Sentindo-se responsável pela queda desta civilização e consequente decadência que se instau-
rou, teria abandonado seu reino e partido pelo mar na direção leste com a promessa de retor-
nar para reaver seus domínios no futuro. O fato de os astecas considerarem Tenochtitlán a
nova Tula, adicionado a mais outras coincidências (Cortés, assim como Quetzalcoatl, tinha
barba e também viera do leste, pelo mar), supostamente teriam feito crer a Moctezuma II que
estava diante do próprio deus Quetzalcoatl, tendo, por esta razão, se submetido a Cortés. Da-
vies (1973, 1987) contesta parte destas supostas coincidências afirmando que, ao se estudar as
fontes nativas, não há em nenhuma delas qualquer referência à profecia do retorno de
Quetzalcoatl.
Se em algum momento os nativos imaginaram que os europeus fossem deuses,
provavelmente esta imagem teria se dissipado com os relatos de ambição desmedida pelo ou-
ro e queima de templos que realizavam por onde passavam. O episódio do massacre de Cho-
lula, como descrito por López de Gómara (1965 apud HASSIG, 1988) desmistifica esta ver-
são. Se Moctezuma II realmente imaginasse que Cortés fosse o próprio deus Quetzalcoatl,
jamais teria ordenado que se realizasse uma emboscada contra o mesmo. Ainda, seria difícil
crer que o deus Quetzalcoatl ordenaria um massacre justamente em Cholula, cidade consagra-
da a seu culto. Apesar de alguns especialistas em história mesoamericana, como León-Portilla
(1962), ainda acreditarem que Moctezuma imaginava estar diante de deuses; modernamente, a
maioria dos estudiosos tem contestado veementemente esta suposição. Susan Gillespie (1989)
afirma que toda a história da associação de Cortés a Quetzalcoatl nada mais foi do que um
42
mito criado pelos historiadores nativos astecas na tentativa de dar um sentido à derrocada de
seu povo. Townsend (1992) corrobora esta visão, argumentando que, dada a propensão dos
historiadores astecas a valorizar seus feitos e procurar justificativas para as suas derrotas, esta
versão teria sido mais uma das inúmeras reedições de seu passado. Essa visão, subestimando
fortemente a capacidade de avaliação de Moctezuma II e superestimando sua religiosidade,
parece ter sido resultado da combinação do antigo hábito asteca de reconstrução de seu passa-
do histórico com a influência de preconceitos de uma historiografia eurocêntrica.
É bem mais provável supor que Moctezuma II tenha recebido Cortés com todas as
honras por cálculo político. Graças aos informes que recebia, estava ciente das proezas milita-
res de seus visitantes e avaliou que uma batalha imediata não seria vantajosa; ainda mais le-
vando-se em conta a presença de grande número de nativos não amistosos associados aos es-
panhóis. Provavelmente se comportou de tal maneira para ganhar tempo e para esperar uma
oportunidade mais propícia à reação. Pelos relatos recebidos, talvez imaginasse que uma bata-
lha em campo aberto não seria vantajosa, e, talvez a sua única chance seria uma emboscada
dentro dos muros de Tenochtitlán.
Sob o falso pretexto de ter recebido relatos de que espanhóis teriam sofrido ata-
ques de agentes astecas no litoral, Cortés toma Moctezuma II como prisioneiro em seu pró-
prio palácio. Misteriosamente, Moctezuma não só se submete, como exorta seu povo a não
reagir. Como humilhação final, Moctezuma seria ainda estrangulado pelos espanhóis em seu
próprio palácio1.
Neste ínterim, Hernan Cortés teve que organizar uma expedição à costa mexicana
para combater seus próprios compatriotas. O vice-governador de Cuba enviara uma expedi-
ção, liderada por Pánfilo de Narvaéz, para aprisionar Cortés por ter abandonado Cuba em di-
reção ao México sem autorização. Cortés viajou para o litoral com alguns de seus homens, e,
não só derrotou os enviados do vice-governador, como também os convenceu a se juntar a
ele. Após este evento, Cortés retornou a Tenochtitlán com mais 1.300 europeus.
Na noite de 10 de julho de 1520, durante a ausência de Cortés, inconformados
com o ataque espanhol a uma procissão religiosa, os nativos se rebelam. Os invasores foram
forçados a uma retirada desastrosa, no episódio que seria conhecido como noche triste. Nesta
noite, em que somente 440 espanhóis conseguiram escapar com vida, os habitantes de Te-
nochtitlán tiveram a oportunidade de impor uma derrota definitiva aos espanhóis. Só não lo-
graram êxito, entre outros motivos que serão abordados, por terem empreendido a maior parte
1Esta é a versão dos nativos. Os espanhóis alegaram que Moctezuma teria sido assassinado por um nativo des-
contente, que teria lhe atirado uma pedra na cabeça.
43
do seu esforço na captura de prisioneiros para sacrifícios ao invés de se concentrarem na ani-
quilação de seus adversários.
Os espanhóis se reorganizariam e retornariam a Tenochtitlán fortalecidos, graças
em parte ao apoio logístico recebido pelos nativos de Tlaxcala. Os espanhóis, tendo aprendido
uma dura lição durante a noche triste, evitariam o combate dentro de Tenochtitlán, onde pode-
riam ser encurralados e sofrer ataques de projéteis lançados do alto dos edifícios. Buscaram o
combate em campo aberto, e, na batalha de Otumba, obtiveram esmagadora vitória sobre os
astecas e seus aliados. Os astecas refugiaram-se em sua cidade e os espanhóis levantaram ri-
goroso sítio. Cortés chega empreender admirável esforço logístico ao ordenar a construção de
bergantins1para otimizar o sítio imposto a Tenochtitlán. Em 28 de abril de 1521, Cuahtemoc,
o líder asteca que estava a frente da resistência, é capturado e morto enquanto tentava escapar
da cidade. Seguiu-se enorme massacre e destruição em Tenochtitlán, marcando assim, a der-
rota final do Império Asteca.
1Gênero de pequena embarcação a vela.
44
4 A ARTE DA GUERRA ASTECA
4.1 O exército asteca
Hierarquia Militar
Apesar das diversas descrições feitas por cronistas espanhóis, não existe um relato
completo da organização interna e da cadeia hierárquica do exército asteca. Mesmo sendo
possível fazer distinções entre distintos grupos hierárquicos, como praças, oficiais e generais;
não é possível fazer associações diretas entre os postos dos exércitos mesoamericanos e os
ocidentais. Para Hassig (1988, p.27), qualquer descrição do exército asteca é necessariamente
uma reconstrução conceitual, onde a analogia com patentes militares atuais seria nada mais
que um suporte intelectual para a compreensão da estrutura militar asteca.
Outro fator que deve ser considerado é que, muitas das patentes descritas pelos
cronistas espanhóis não são diretamente correspondentes a uma determinada posição ou fun-
ção dentro da hierarquia militar, mas sim títulos honoríficos que não necessariamente impli-
cavam na posse de determinado cargo.
Um ponto importante a ser considerado é que a cadeia hierárquica militar asteca
não era linear, como acontece nos exércitos ocidentais modernos. Havia diferentes relações
hierárquicas e de lealdade - ao imperador, à cidade, ao calpulli (distrito), entre outros - que se
interligavam. A “patente” militar asteca não representava, por si só, a real posição de um
guerreiro dentro da estrutura hierárquica asteca (HASSIG, 1988, p.27).
Como já foi mencionado anteriormente, a sociedade asteca era rigidamente estra-
tificada. Além do caminho do comércio e do sacerdócio, a única maneira de se alcançar as-
censão social era através de uma carreira militar ilustre. O progresso hierárquico se daria por
mérito em combate, que era quantificado quase que exclusivamente pela quantidade de prisi-
oneiros que um guerreiro capturasse. Em outras palavras, as promoções estavam diretamente
ligadas ao número de cativos que um guerreiro conseguia fornecer para os sacrifícios rituais
das cada vez mais opulentas cerimônias religiosas.
As promoções eram concedidas normalmente em cerimônias realizadas logo após
o regresso das campanhas militares ou em datas específicas do calendário religioso. Nestas
cerimônias também eram distribuídas recompensas materiais pelo desempenho em combate.
Normalmente as recompensas mais valiosas iam para os membros da nobreza. Apesar de mui-
tos autores, como Soustelle (1961), enfatizarem o caráter meritocrático da estrutura militar
45
asteca, vale ressaltar que o avanço na carreira também era grandemente influenciado pela
classe social (HASSIG, 1988, p. 28).
Frequentemente, as recompensas concedidas nas cerimônias eram bens destinados
à demonstração do novo status alcançado. Vinham na forma de incrementos na indumentária
como: capacetes, mantos, insígnias, armas, escudos ornamentados e armaduras. Estes títulos e
recompensas eram concedidos pessoalmente pelo imperador. Diversos códices possuem ilus-
trações que mostram a vestimenta e ornamentos associados a cada posto (figura 1). Cada
guerreiro somente poderia portar os símbolos de status a que fazia jus, sendo punido com a
morte caso descumprisse esse preceito. A indumentária não era encarada pelos mesoamerica-
nos como mera vaidade, mas como indicador visível de status social e de valor militar. O sta-
tus social era a “moeda” mais valorizada na Mesoamérica; e, no caso das sociedades militari-
zadas como a asteca, o status militar tinha importância ainda maior.
O primeiro passo que um jovem guerreiro podia dar para conquistar uma carreira
militar gloriosa seria a demonstração de coragem em campo de batalha. Neste caso, teria tra-
tamento ligeiramente diferenciado dos demais novatos, sendo admitido entre a companhia de
guerreiros mais experientes. Quando este jovem guerreiro conseguia efetuar a sua primeira
captura, além de ganhar o título de “captor” (tlamani), também era nomeado “jovem líder” ou
“jovem capitão” (telpochyahqui). A partir deste ponto já tinha direito a utilizar vestimentas
que o diferenciavam dos demais e que iriam se incrementando à medida que lograsse êxito em
mais combates.
Com a captura do segundo cativo de guerra, o guerreiro iria à presença do impe-
rador para ser promovido e receber mais ornamentos e insígnias. Capturando um terceiro pri-
sioneiro, além do incremento de sua indumentária, se tornava um “líder dos jovens” ou “mes-
tre dos jovens” (tiachcauh) e passaria a residir em uma das escolas de formação de jovens
guerreiros, a telpochcalli, onde desempenharia a função de instrutor (mais detalhes sobre as
escolas militares na seção seguinte).
Com a captura de um quarto prisioneiro, o guerreiro tornava-se “soldado vetera-
no”, ou simplesmente “veterano” (tequihuah), e passava a receber do imperador honras, ar-
mamentos e insígnias elaboradas que exaltariam ainda mais sua distinção. A conquista do
status de “veterano” era um enorme passo, fazendo com que o guerreiro fizesse parte de seleta
elite militar.
Um aspecto interessante é que, a partir da captura do quarto prisioneiro a atribui-
ção de promoções seria ditada não mais pela quantidade de capturas, mas sim pela reputação
militar do prisioneiro. Uma vez que os astecas tinham a oportunidade de combater diversos
46
povos diferentes, classificavam estes povos de acordo com a sua ferocidade e desempenho
militar. Por exemplo, os huastecas e demais povos costeiros eram considerados adversários
muito fáceis e sua reputação era tida em baixa conta. Caso o quinto prisioneiro capturado por
um “soldado veterano” pertencesse a um destes povos, não haveria distinção alguma por este
feito. Mesmo que capturasse mais dez desses guerreiros, não avançaria além do status de “ve-
terano”. Por outro lado, caso o quinto prisioneiro capturado pertencesse a povos com reputa-
ção de grande combatividade (Huexotzingo, por exemplo), receberia grandes honras e recom-
pensas do imperador e passaria a ser considerado “grande capitão” (cuauhyahcatl). Capturan-
do ainda um outro (sexto) prisioneiro desta categoria, o guerreiro atingiria o ponto máximo da
hierarquia militar asteca, o que seria equivalente nos exércitos atuais ao posto de general, e
passava a ser elegível para postos de alto comando como o de tlacochcalcatl (comandante
geral) ou tlacateccatl (general) (HASSIG, 1988, p.40). A figura 1 mostra um extrato do Co-
dex Mendonza (apud TOWNSEND, 1992) que atribui o posto e a indumentária a ser utilizada
para cada número de prisioneiros de guerra capturados por um guerreiro.
Figura 1 – Representação asteca da patente e indumentária referentes ao número de capturas
Fonte: Códex Mendonza (1938 apud Davies, 1992, p.195)
Apesar de as narrativas históricas enfatizarem a atuação da elite guerreira, é im-
portante lembrar que o grosso do exército asteca era composto por plebeus que passavam a
maior parte do ano trabalhando no campo e em sua imensa maioria não possuíam qualquer
47
distinção militar. Sua qualidade de plebeus os obrigava a utilizar vestimentas simples feitas de
fibra de maguey, e os proibia de utilizar sandálias. Tampouco podiam utilizar cotas ou arma-
duras, utensílios exclusivos dos capitães e dos guerreiros que obtiveram alguma distinção em
combate (HASSIG, 1988, p.40). É razoável supor que, os plebeus sem distinção, estando me-
nos bem equipados, tenderiam a ter desempenho mais pobre em combate. Por outro lado,
guerreiros que já adquiriram distinção militar, estando com armamentos mais elaborados e
equipamentos de proteção, tendiam a ter desempenho mais exitoso. Como consequência ga-
nhavam ainda mais distinções e o direito a portar mais equipamentos. Formava-se assim um
padrão que tinha como efeito a elitização cada vez maior de uma classe de guerreiros, e, ao
mesmo tempo, resultava em alta taxa de baixas entre os demais que não conseguiam ingressar
nesta elite.
Havia ainda um título para os guerreiros em idade avançada que não poderiam
mais ir para o combate. Eram conhecidos como os “anciãos” e tinham responsabilidades co-
mo a organização dos acampamentos, motivar os jovens guerreiros e também informar e con-
solar as viúvas quando da morte de seus maridos.
Desta forma, mesmo não sendo uma força permanente e profissional na concep-
ção moderna do termo, o exército asteca possuía complexa estrutura organizacional e sistêmi-
ca.
Ordens militares
Além dos títulos mencionados acima, também faziam parte da elite militar asteca
algumas ordens militares. Dentre elas, as mais conhecidas eram a ordem do jaguar (ocelomeh)
e a ordem da águia (cuacuahtin). Não havia distinção entre estas duas ordens, exceto pela
indumentária utilizada (as armaduras que utilizavam eram estilizações destes animais). Estas
ordens somente admitiam como membros “guerreiros veteranos” (quatro ou mais capturas)
pertencentes à nobreza. Devido à grande ênfase que estas ordens davam à habilidade militar,
um plebeu com reconhecida perícia militar poderia ser recrutado, mas, para isso, teria que
antes ser promovido à cuahpilli (pessoa que conquistou a nobreza por mérito). No entanto,
Hassig (1988, p.45) afirma haver indícios que estes eram tidos em mais baixa estima que a
nobreza hereditária.
Havia ainda duas outras ordens com reputação ainda mais elevada do que as or-
dens da águia e do jaguar. Eram os otomís (ou otontzin) e os cuahchic (“raspados”, ou “cabe-
ças raspadas”). Não há muitos dados sobre estas duas ordens, mas sabe-se que após a quinta
ou sexta vitória um guerreiro poderia ser candidato a tornar-se um guerreiro otomí. Os otomís
48
se caracterizavam por portar escudos com insígnias especiais e costumavam a ir a frente do
restante da tropa nos combates. Já os cuahchic eram os mais temidos e respeitados dos guer-
reiros astecas e se distinguiam por serem os únicos que eram autorizados a raspar completa-
mente a cabeça. Diego Durán (1967 apud HASSIG, 1988) afirma que para ingressar nesta
ordem era necessário já ser membro da ordem do jaguar ou da águia, ter efetuado a captura de
um número muito grande de cativos, e ter executado ao menos vinte feitos heroicos em com-
bate.
Organização
Os astecas, ao marchar para o combate, não o faziam sob comando único e nem
sempre todas as unidades se deslocavam ao mesmo tempo. Em campanhas mais distantes, a
composição do exército asteca era heterogênea, pois ia agregando tropas de outras províncias
à medida que avançava em direção ao seu objetivo.
A frente de todo o exército, ia o imperador que, enquanto comandante-em-chefe,
quase sempre conduzia pessoalmente suas forças para o combate. Acompanhando o impera-
dor, iam dois dos quatro dignitários componentes do Conselho Supremo que tinham a função
de assumir o comando de forças destacadas ou de auxiliar o imperador nas decisões estratégi-
cas. Dois destes dignitários ficavam em Tenochtitlán para organizar reforços, caso solicitados;
ou para preparar pronta resposta a alguma eventual rebelião em outra parte do império (HAS-
SIG, 1988, p. 58).
Em teoria, o exército asteca era dividido em grupos de 8.000 homens (xiquipilli),
mas ainda são desconhecidas as relações de comando nestas unidades. Na prática, a unidade
básica tática, logística e de comando eram as cidades, ou no caso das grandes cidades como
Tenochtitlán, os calpullis (distritos). Os espanhóis chamavam estas unidades de “esquadrões”.
Cada cidade ou calpulli tinha o seu comandante, havendo comandantes subordinados que co-
mandavam grupos de quatrocentas pessoas (HASSIG, 1988, p. 56). Adolf Bandelier (1880
apud HASSIG, 1988) sugeriu a existência de subunidades de vinte homens. Chegou a esta
conclusão devido às representações pictográficas mostrarem cada unidade sendo conduzida
por uma bandeira, cujo símbolo pictográfico é o mesmo do número vinte. No entanto, não há
outras evidências que suportem esta hipótese.
Os guerreiros novatos formavam um grupo a parte. Entre cada quatro ou cinco jo-
vens guerreiros havia um “veterano”. Os “veteranos” observavam o desempenho dos jovens e
somente interferiam caso estes fossem atacados por um guerreiro experiente inimigo (HAS-
49
SIG, 1988, p. 57). Contudo, provavelmente esta conduta somente seria posta em prática em
situações de grande vantagem; pois, parece pouco verossímil que, em uma situação onde a
vitória asteca não fosse garantida, estes “veteranos” se contentassem em somente observar o
desempenho de seus pupilos.
Alguns cronistas espanhóis mencionam ainda uma Guarda Imperial que viveria no
palácio e seria responsável pela segurança do imperador. Os números apontados variam
enormemente, sendo a maior estimativa a de López de Gómara (1965 apud HASSIG, 1988, p.
54) que afirmava que a Guarda Imperial seria composta de aproximadamente seiscentos no-
bres, cada um acompanhado de três homens armados, o que daria um total de 3.000 homens.
Davies (1987) contesta a existência de tal unidade. Para ele, os espanhóis chegaram a esta
conclusão após verificarem a existência de grande quantidade de nobres que morava no palá-
cio e em seus arredores, imaginando assim que compunham uma unidade em permanente
prontidão. A captura de Moctezuma II por Cortés em seu próprio palácio sem a menor resis-
tência de qualquer um deles põe em xeque a hipótese da existência de tal unidade.
4.2 Formação e Treinamento
A formação dos guerreiros astecas, assim como sua educação formal, era feita em
duas instituições: a telpochcalli e a calmecac.
As telpochcalli eram as escolas destinadas à educação dos maceuallis (plebeus).
Havia uma por calpulli (distrito) e alguns nobres também a frequentavam, especialmente
aqueles ligados tradicionalmente à liderança dos calpullis (em oposição aos nobres que vivi-
am no palácio). Eram escolas destinadas a oferecer educação básica aos jovens, e especial-
mente, formação e treinamento militar.
As telpochcalli abrigavam entre quatrocentos e seiscentos alunos, com idades en-
tre quinze e vinte anos. Os alunos dormiam na escola, apesar de poderem fazer as refeições
em casa. Executavam pequenas tarefas na escola como limpeza e corte de lenha. No entanto,
na maior parte do tempo dedicavam-se ao treinamento militar. A disciplina era rígida, e, en-
quanto estivessem na escola, os alunos eram proibidos de se casar (embora fosse tolerado que
tivessem amantes).
O treinamento era ministrado por guerreiros com o título de “líder dos jovens” (ti-
achcauh, três prisioneiros capturados) e “veterano” (tequihuah, quatro ou mais prisioneiros
capturados). Estes instrutores ensinavam a seus alunos técnicas de combate diversas, entre
elas o lançamento de dardos com o atlatl, como portar escudos e a técnica de manejo da espa-
50
da. Nestas escolas, devido à grande quantidade de alunos, o treinamento tinha a tendência a
ser menos individualizado.
Os “líderes” e “veteranos” testavam a aptidão dos alunos levando-os ao combate
na condição de aprendizes e escudeiros. Os alunos não participavam da luta propriamente
dita, mas ajudavam seus instrutores carregando seu equipamento. Somente ao se aproximar
dos vinte anos que os jovens guerreiros iam para a sua primeira campanha, tendo um “vetera-
no” responsável por acompanhar o desempenho de um grupo de novatos.
Além de ministrar instrução militar, a telpochcalli também funcionava como cen-
tro de treinamento. Quando era efetuado o recrutamento dentre os habitantes do calpulli (dis-
trito) antes de uma campanha, os recrutados eram concentrados nas telpochcalli nos dias que
antecediam a marcha para relembrar e praticar táticas e o manejo de armas (HASSIG, 1988).
A outra instituição responsável pela educação asteca eram as chamadas calmecac.
As calmecac eram voltadas prioritariamente para os jovens pertencentes à nobreza, especial-
mente àquela mais relacionada ao tecpan (palácio). Apesar de serem minoria, alguns plebeus
eram admitidos nesta escola quando apresentavam excepcional aptidão para a carreira sacer-
dotal.
Estas escolas, dirigidas por sacerdotes e tendo foco no ensino religioso, abrangiam
todos os aspectos da vida intelectual asteca como: técnicas de oratória, canções, leituras, es-
crita de calendários e códices, etc. Os líderes religiosos, políticos e militares da sociedade
asteca eram formados nas calmecac.
Apesar de serem instituições essencialmente religiosas, as calmecac ministravam
também instrução militar. Por serem escolas de maior prestígio e devido a um número menor
de alunos, o treinamento era mais individualizado, logo, de qualidade superior ao realizado
nas telpochcalli. Seus alunos também tinham a chance de, por vezes, realizar treinamento na
sede das ordens militares da águia e do jaguar. Os poucos alunos plebeus desta escola faziam
parte do grupo destinado à carreira sacerdotal, não recebendo assim esta formação militar
privilegiada. Nota-se, então, um paradigma que fazia com que a nobreza asteca, em geral,
tivesse formação militar muito superior àquela que os cidadãos comuns tinham acesso nas
telpochcalli (HASSIG, 1988).
Além do treinamento superior, outro aspecto fazia com que os nobres tendessem a
ter melhor desempenho no campo de batalha. Como foi visto, era comum que, na primeira
campanha, grupos de novatos fossem supervisionados por guerreiros veteranos. Era praxe
entre os astecas que os pais do guerreiro novato pagassem à guerreiros veteranos para cuidar
de seus filhos em combate e orientá-los na captura de prisioneiros. Quanto mais importantes e
51
ricos na hierarquia social, maiores as chances de poder pagar guerreiros veteranos com mais
experiência e reputação. Desta forma, o jovem nobre, com melhor treinamento e com a ajuda
e orientação de um guerreiro experiente, tinha não somente mais chances de sobreviver, como
também de realizar a sua primeira captura de um prisioneiro de guerra.
É interessante notar que, apesar de todas as limitações, os astecas tinham um sis-
tema de ensino compulsório e universal, sendo que qualquer de seus jovens, independente de
sua classe social, não era privado de educação formal (SOUSTELLE, 1961, p.173).
4.3 Armamento
O conhecimento que se possui do armamento asteca, apesar de proveniente de va-
riadas fontes, ainda é incompleto. Pouquíssimos exemplares podem ser encontrados hoje em
museus. Uma das fontes do conhecimento atual das armas astecas são suas representações
feitas nas pinturas, esculturas e códices. O relato dos cronistas espanhóis também traz muitas
informações sobre a sua eficiência e a maneira como eram usadas. O fato de algumas armas
serem longamente descritas, enquanto outras receberam pouca atenção dos cronistas sugere a
possibilidade da existência de armamentos menos comuns que, fugindo ao interesse dos con-
quistadores, hoje já não são mais conhecidos (HASSIG, 1988, p. 75).
O armamento asteca era produzido na capital, mas, a medida que o império foi
ampliando suas fronteiras, cada vez mais armas eram recebidas como pagamento de tributo de
suas províncias.
Davies (1987) ressalta a baixa inventividade e eficiência do armamento asteca em
geral. A maior parte das armas encontradas no arsenal asteca já seria utilizada por outras soci-
edades mesoamericanas pelo menos desde o período clássico (1 a 750 d.C.). Hassig (1988),
apesar de reconhecer que os astecas pouco inovaram no que diz respeito ao desenvolvimento
de seu armamento, não concorda com a alegada baixa eficiência deste, baseando sua opinião
em testes realizados modernamente, e, especialmente, nos relatos dos conquistadores espa-
nhóis que lutaram contra os nativos.
Para efeito de estudo, o armamento será dividido em: projétil, de choque e defen-
sivo.
52
Armamento projétil
Os principais armamentos lançadores de projéteis dos astecas eram o arco, o atlatl
e a funda.
O arco asteca (tlahuitolli) media aproximadamente 1,5 metro de comprimento, e
sua corda era feita de tendão de animais ou de tira de couro de veado. As flechas (yaomitl)
tinham pontas feitas de espinha de peixe, pederneira ou obsidiana; estas últimas com conside-
rável capacidade de penetração em tecido animal. Durante o combate, os arqueiros astecas
carregavam as flechas em uma aljava (compartimento próprio para alojar flechas que o ar-
queiro traz preso às suas costas). Análises arqueológicas estimam que cada aljava tinha capa-
cidade para aproximadamente vinte flechas. As flechas não eram envenenadas. Flechas incen-
diárias eram utilizadas por vezes contra edifícios (HASSIG, 1988, p. 79).
O arco e flecha não era muito estimado pelos astecas, pois estaria associado às tri-
bos chichimecas (tribos nômades e bárbaras). Davies (1987, p. 184) atesta que este armamen-
to, cuja utilização primária era na caça, era primitivo e possuía pequena acurácia e alcance.
Hernán Cortés (1971 apud DAVIES, 1987) afirmou que as pedras lançadas pelos astecas eram
as suas armas mais perigosas, o que levaria à conclusão de que as flechas e os dardos não
eram muito temidos. Talvez uma outra razão para tal afirmação é a de que as pedras fossem
mais letais devido à imensa quantidade lançada, e não devido à baixa eficácia dos demais pro-
jéteis.
Na falta de informações mais objetivas sobre o arco asteca, Hassig cita dados ob-
tidos por Saxton Pope (1923 apud HASSIG, 1988) utilizando-se o arco e flecha dos nativos
norte-americanos. Foram obtidos alcances que variaram entre 90 e 180 metros (dependendo
do peso da flecha e da tensão na corda).
O atlatl, considerado pela mitologia asteca como um presente de seus deuses, é
um armamento capaz de lançar dardos com mais força e a uma distância maior do que seria
possível somente com as mãos. São bastões de madeira (os ornamentais eram feitos de outros
materiais, como ouro) com aproximadamente sessenta centímetros de comprimento e três ou
quatro centímetros de largura. Uma extremidade do bastão tem uma empunhadura para mane-
jo e a outra tem curvatura em forma de gancho onde a parte posterior do dardo era colocada.
Alguns exemplares tinham diversas ranhuras na parte posterior sugerindo a possibilidade de
se acomodar mais do que um dardo para lançamento simultâneo (HASSIG, 1988). A figura 2
ilustra como era empregado este armamento.
53
Figura 2 - Técnica de emprego do atlatl
Fonte: http://www.taringa.net/posts/info/12622741/Los-Aztecas-y-su-arte-en-la-guerra.html
Os dardos, cujo tamanho variava de 0,5 a 1 metro, eram feitos de carvalho com
penas na parte posterior. A ponta era feita diretamente na madeira do dardo, ou podia ser feita
de materiais como obsidiana, espinha de peixe, cobre ou pederneira. Em tempos de paz, estes
dardos eram utilizados para caçar aves aquáticas.
Existem poucos dados sobre a eficiência do atlatl utilizado na época dos astecas.
Davies (1987, p. 184) considera que o atlatl era utilizado pelos astecas mais por sua impor-
tância ritual do que por sua eficácia, que julga ser muito baixa. No entanto, dados experimen-
tais mais concretos obtidos por Orville Peets (1960 apud HASSIG, 1988) mostram que o lan-
çamento de dardos com o atlatl tem grande força e acurácia para alcances de até 55 metros,
tendo sido obtido um alcance máximo de 74 metros com um atirador pouco experiente. Con-
siderando-se que os dardos utilizados pelos astecas eram menores do que os utilizados nos
testes, e também que os atiradores astecas tinham razoável experiência, acredita-se que os
resultados obtidos pelos astecas seriam consideravelmente superiores aos obtidos nos testes.
Outros dados experimentais também desmentem a avaliação de Davies. Calvin Horward
(1974 apud HASSIG, 1988) calculou que o atlatl lança um dardo com quase 60% a mais de
54
força do que um lançado somente com as mãos. Ainda, Jim Browne (1940 apud HASSIG,
1988) demonstrou que os dardos lançados pelo atlatl tem maior poder de penetração do que
flechas lançadas por arcos à mesma distância. O cronista espanhol Bernal Díaz de Castillo
(1963) relatou que estes dardos podiam penetrar em qualquer das armaduras espanholas e
ainda assim provocar um ferimento fatal. Tanto as informações experimentais quanto os rela-
tos dos cronistas parecem apontar para o fato de que o atlatl era um armamento temido na
guerra asteca.
Por fim, a última das armas projéteis astecas, e não menos importante, era a funda
(tematlatl). As fundas eram feitas de fibra de maguey e eram utilizadas para lançar pedras
sobre os adversários. Estas pedras não eram coletadas no campo de batalha, mas eram previ-
amente selecionadas, tinham seu formato talhado a mão e depois transportadas para o campo
de batalha. Manfred Korfmann (1973 apud HASSIG, 1988, p. 81) afirma que a funda usada
na Grécia antiga conseguia efetuar lançamentos a uma distância superior a 200 metros utili-
zando-se pedras aleatoriamente coletadas. Pedras com formato padronizado e adequado seri-
am lançadas a distâncias ainda maiores.
Bernal Díaz de Castillo (1963), assim como Hernán Cortés, admitia que as pedras
despertavam mais temor entre os conquistadores do que os dardos e as flechas. Cita-se que a
chuva de pedras era tão intensa que mesmo soldados com pesadas armaduras se feriam. Mais
uma vez, é importante ressaltar que tais constatações não apontam necessariamente para a
ineficiência dos demais projéteis. Os estudos sobre o desempenho do atlatl e do arco e flecha
americano apontados por Hassig (1988) demonstram que estes tinham considerável grau de
letalidade. É lógico supor que, uma vez que as flechas e dardos exigiam um processo de fabri-
cação mais lento e trabalhoso, a quantidade destes projéteis empregada em combate era bem
menor do que as numerosas pedras.
Armamento de choque
Armas de choque são aquelas que têm a finalidade de corte, perfuração ou con-
cussão no combate corpo-a-corpo. Eram estas as armas que realmente definiam o combate na
guerra mesoamericana. Os armamentos de choque utilizados pelos astecas eram a lança, a
espada e a clava.
A lança asteca (tepoztopilli) tinha entre 1,8 e 2,2 metros. A sua ponta, de formato
triangular ou ovoide, era afiada de forma a produzir uma superfície cortante em todo o seu
perímetro. A ponta era feita de pedra tão afiada que era utilizada pelos guerreiros astecas para
55
raspar a cabeça (CORTÉS apud HASSIG, 1988). Podiam ser lançadas contra o inimigo, mas
eram utilizadas prioritariamente no combate corpo-a-corpo. Provavelmente também eram
utilizadas para impedir o avanço em velocidade do oponente. O seu tamanho fazia com que
fossem ideais para estocar o inimigo afastado, mas que fossem menos eficazes no combate a
curta distância. Devido a ser usada com muito mais frequência no combate corpo-a-corpo do
que como projétil, a tepoztopilli se assemelhava mais a uma alabarda do que a uma lança. A
figura 3 mostra uma representação da lança asteca oriunda do Codex Mendonza (apud
TOWNSEND, 1992) que dá indícios de seu tamanho e desenho.
Figura 3 – Líderes militares portando lança asteca e escudo
Fonte: Codex Mendonza (1938 apud Townsend 1992, p. 159)
A espada asteca (macuahuitl para os astecas, macana para os espanhóis) era feita
de madeira, normalmente carvalho, e tinha aproximadamente 10 cm de largura e 1 m de com-
primento. Diversas lâminas de pederneira ou obsidiana eram coladas no entorno de toda a
superfície da madeira, formando uma superfície cortante que podia ser contínua ou serrada.
As lâminas tinham formato retangular, ovoide ou pontiagudo. Uma das observações frequen-
tes dos conquistadores era a capacidade que esta espada tinha de cortar a cabeça de um cavalo
com somente um golpe (ACOSTA, 1946 apud HASSIG, 1988, p. 83).
Há ainda relatos da existência de uma modalidade de espada asteca que era em-
pregada com ambas as mãos. As descrições apontam que tinham o tamanho de um homem
(HASSIG, 1988). Devido ao tamanho e ao peso, esta modalidade da espada asteca provavel-
mente diminuía a agilidade do guerreiro que a empregava. Outra desvantagem era a impossi-
56
bilidade de se portar o escudo. O fato de todas as representações gráficas existentes mostra-
rem o guerreiro portando a espada em uma mão e o escudo na outra corroboram a ideia de que
a espada asteca utilizada com duas mãos era pouco difundida. Como exemplo, pode-se notar
na figura 4, oriunda do Codex Mendonza (apud TOWNSEND, 1992), a forma como os solda-
dos astecas portavam a espada e o escudo.
Figura 4 : Guerreiros armados de espada asteca e escudo
Fonte: Códex Mendonza (1938 apud Townsend 1992, p. 90)
A espada asteca era utilizada principalmente com golpes de cima para baixo, efe-
tuando tanto o corte como a concussão. Em virtude da existência de lâminas em ambos os
lados, virtualmente, um golpe de retorno, de baixo para cima, também seria letal. Porém, em
virtude do grande peso das lâminas mais próximas à extremidade da espada, o soldado gasta-
ria considerável energia para contrapor a inércia do movimento de cima para baixo e efetuar
novo golpe de baixo para cima. A maior parte das ilustrações mostra os guerreiros astecas
empunhando a espada de forma a golpear de cima para baixo. Davies (1987, p. 191) confirma
esta visão, ao afirmar que enquanto os astecas tinham que levantar suas espadas acima de suas
cabeças para golpear, os espanhóis podiam despachar um nativo atrás do outro com movimen-
tos laterais de suas espadas mais leves.
Além da espada e da lança, outra modalidade de arma de choque eram as clavas.
Eram armamentos simples, feitos somente de madeira, que tinham a finalidade somente de
concussão e não de corte. Havia também algumas clavas com protuberâncias pontiagudas em
sua extremidade, lembrando vagamente o armamento medieval europeu conhecido como “es-
trela d’alva”. Apesar de simples e pouco especializadas, as clavas eram amplamente utilizadas
pelos nativos, especialmente por aqueles sem distinção militar (HASSIG, 1988).
57
Equipamento defensivo
Os principais equipamentos defensivos astecas eram os escudos, capacetes, e di-
versos tipos de armaduras. Eram utilizados somente por guerreiros que alcançaram algum tipo
de distinção militar, quase que invariavelmente pertencentes à nobreza (figura 5).
Os escudos (yaochimalli) eram feitos de diversos materiais. A versão mais comum
era feita de folhas de palmeira trançadas, podendo em alguns casos apresentar revestimento de
algodão compactado. Relatos de conquistadores também descrevem escudos feitos de outros
materiais como junco, bambu ou variados tipos de madeira (HASSIG, 1988). Tinham formato
circular, medindo aproximadamente 70 cm de diâmetro.
Os escudos eram revestidos por penas, cujas cores e desenho ornamentavam o es-
cudo de acordo com o status ou mérito do portador. Além da função de ornamentação, os es-
cudos dos nobres tinham uma longa franja de penas na parte inferior que, apesar da aparência
frágil, tinha a capacidade de proteger as pernas do portador contra projéteis (SULLIVAN
1972 apud HASSIG, 1988). As características do escudo asteca sugerem que eles foram pro-
jetados prioritariamente para proteção contra projéteis, e não contra golpes de clava ou espa-
da.
Um tipo muito apreciado de escudo era o produzido pelos artesãos astecas (aman-
teca), feitos de madeira resistente, plumas coloridas e ouro. Estes escudos, destinados aos
nobres, além de ricamente ornamentados, eram extremamente resistentes. Segundo relatos dos
conquistadores, apesar de não resistir a flechas lançadas por bestas, eram capazes de conter
flechas lançadas por arcos ou golpes de espada (HASSIG, 1988).
Os capacetes utilizados pelos astecas tinham tanto a função de proteção como a de
ornamentação e demonstração de status e mérito militar. Eram feitos de madeira e osso; e,
invariavelmente, ricamente decorados com plumas. Alguns outros eram feitos com cabeça de
animais selvagens como o lobo, o puma e o jaguar. Era inserida uma armação de madeira no
interior da cabeça do animal, que era forrada com algodão. O capacete era colocado de forma
que a face do portador ficava visível entre os dentes da boca aberta do animal.
Normalmente traduzida como “armadura”, a ichcahuipilli se assemelhava mais a
um tipo de cota. Era feita de algodão compactado e firmemente costurado entre dois tecidos,
que por sua vez eram revestidos por couro. Não tinha mangas, e protegia prioritariamente a
área do torso. Diego Durán (1967 apud HASSIG, 1988) atesta que era tão espessa que mesmo
uma flecha ou um dardo lançado por atlatl não poderia penetrá-la.
58
Sobre a ichcahuipilli (cota de algodão), o guerreiro vestia a tlahuiztli, esta sim, um
tipo de armadura. Possuía mangas e revestia não somente o torso, mas também os braços e as
pernas. Os membros da nobreza meritocrática utilizavam armaduras feitas de peles de ani-
mais, enquanto que as armaduras da alta nobreza eram feitas de densa camada de plumas cos-
turadas a tecido protetor, forrado com algodão compactado. Trajes e equipamentos com plu-
mas eram não só sinais de alto status, mas também mais adequadas ao estilo de combate me-
soamericano. Ofereciam melhor proteção contra projeteis do que peles de animais, além de
ser mais leves e mais frescos.
Outra categoria de armadura, chamada ehuatl, é um tipo de túnica feita de plumas.
Diferentemente da tlahuiztli, não possuía nem mangas nem proteção para as pernas, sendo
portanto funcionalmente inferior. Era utilizada por alguns comandantes provavelmente por
associações religiosas, pois, há inúmeras representações de deuses liderando combates por-
tando esta túnica (MILLER, 1977 apud HASSIG, 1988).
Outros tipos de equipamento de proteção corporal eram os braceletes, caneleiras e
braçadeiras. Utilizados somente pela alta nobreza, eram feitos de madeira, osso ou mesmo
ouro, e revestidos de couro e plumas. Figura 5 – Soberano de Texcoco portando equipamento defensivo completo
Fonte: Codex Ixtlixochitl (apud HASSIG, 1988, p. 89)
59
A figura 5, oriunda do Codex Ixtlixochitl (apud HASSIG, 1988), retrata o sobera-
no de Texcoco, Nezahualcoyotl, portando variado equipamento. Além da espada asteca, des-
taca-se seu traje defensivo. Utiliza túnica (ehuatl) (o que demonstra sua posição de comando),
cota de algodão (ichcahuipilli), capacete, braçadeiras, pulseiras, caneleiras e sandálias. Pode-
se notar também a longa franja de plumas existente em seu escudo ricamente ornamentado.
4.4 Logística
Recrutamento e mobilização
O recrutamento e a mobilização da população asteca eram ditados por dois fatores
limitadores: o ciclo agrícola e o ciclo das chuvas.
O imperador, antes de ordenar a mobilização de seus súditos para uma grande
campanha, deveria levar em consideração os períodos de plantio e colheita. Não se pode es-
quecer que a imensa maioria dos componentes das forças astecas eram plebeus trabalhadores
da terra. Uma grande mobilização em período de safra poderia comprometer seriamente o
abastecimento de alimentos do império.
No Vale do México e na região do planalto central mexicano, o plantio era reali-
zado durante a primavera (do hemisfério norte), normalmente iniciando-se entre abril e maio.
A colheita era realizada durante o verão e início do outono, no mais tardar por volta de outu-
bro. Logo, durante este período a maior parte da população asteca estava envolvida na produ-
ção de alimentos, essencial não somente ao suprimento de campanhas militares, mas, princi-
palmente, à sobrevivência do império. Normalmente os grãos eram armazenados para o uso
durante o ano. O momento quando os armazéns estavam mais cheios era logo após o período
da colheita, por volta de outubro. Assim, o período no qual o exército asteca estava mais abas-
tecido para executar uma campanha era a partir do fim do outono e durante o inverno.
Outro fator limitante à mobilização era a sazonalidade pluvial. O ciclo de chuvas
não influenciava somente a atividade agrícola, mas tinha grande efeito sobre a campanha,
especialmente na fase da marcha. O transporte de grande quantidade de homens e suprimentos
através das precárias e estreitas estradas mesoamericanas poderia se tornar impraticável du-
rante as chuvas. Além da dificuldade imensa que grandes forças teriam para se deslocar em
terreno enlameado; pequenos cursos d’água, que não seriam obstáculo na estação seca, seriam
rios intransponíveis durante a estação chuvosa. O ciclo climático do México central compre-
60
ende um período de seca que se inicia a partir do fim de setembro e se estende até meados de
maio. Logo após, durante o verão, há a estação chuvosa.
A conjunção do ciclo agrícola com o ciclo pluvial faz com que o período ideal pa-
ra o empreendimento de grandes campanhas seja entre o fim do outono até o fim da primavera
do ano seguinte (aproximadamente entre o fim de outubro ou novembro, até junho do ano
seguinte). O festival de Panquetzaliztli, realizado em Tenochtitlán, celebrava o fim do período
de colheitas e marcava o início do calendário de guerras.
Por razões óbvias, esta sazonalidade da guerra asteca se aplicava às campanhas
ofensivas. As defensivas seriam empregadas sempre que necessário. Hassig (1988) lembra
que estas limitações se aplicavam especialmente a grandes campanhas. Pequenas guerras com
necessidades menores de mobilização e suprimentos poderiam ser executadas sem grandes
consequências. Nestes pequenos conflitos, para que houvesse menor impacto sobre a agricul-
tura, eram recrutados prioritariamente os membros da elite guerreira (em sua maior parte, no-
bres, que não trabalhavam no campo). As guerras floridas também não obedeciam necessari-
amente a esta sazonalidade.
A decisão sobre a quantidade de homens a serem mobilizados era de fundamental
importância pois este número definiria a quantidade necessária de armamento, suprimento e
treinamento. O imperador também decidia juntamente com os soberanos das demais cidades
da Tríplice Aliança (Texcoco e Tlacuba) quantos homens estas deveriam fornecer.
A unidade básica de recrutamento era o calpulli (distrito). O calpullec (chefe local
do distrito) era responsável por obter o número de homens estabelecido pelo poder central.
Não se sabe se este número estabelecido era o mesmo para todos os calpulli do império, ou se
era um número proporcional à população do calpulli.
Dependendo das distâncias envolvidas, o recrutamento poderia ser feito no cami-
nho. As províncias tributárias astecas, nestas ocasiões, deveriam não somente oferecer apoio
logístico às tropas de passagem, mas também deveriam fornecer armamento e homens para
engrossar as fileiras astecas como tributo. As campanhas astecas distantes recebiam valiosa
contribuição de tropas locais que, diversas vezes, foram decisivas ao resultado do combate.
Isso explica parcialmente os excelentes resultados que o exército asteca obtinha em localida-
des distantes, ao mesmo tempo em que teve dificuldades para derrotar inimigos próximos,
como Tlaxcala, por exemplo.
Uma questão importante envolvendo a mobilização diz respeito ao tamanho das
forças empregadas. Poucos são os relatos que especificam a quantidade de soldados emprega-
dos em cada campanha e nem todos são necessariamente confiáveis. Davies (1987) afirma
61
que relatos que citam números em torno de 30.000 ou 40.000 soldados são verossímeis, en-
quanto outros, dando números entre 200.000 e 600.000 não podem ser considerados verdadei-
ros devido a limitações logísticas. Para estimar o potencial de recrutamento do Império Asteca
faz-se necessário o conhecimento da quantidade de habitantes que possuía. As estimativas da
população mexicana na época ainda são muito discordantes entre si. Hassig (1988) adota o
número aceito por muitos pesquisadores modernos de que a população de Tenochtitlán estaria
entre 150.000 e 300.000 habitantes, enquanto a do planalto central mexicano estaria entre 1,2
e 2,6 milhões de habitantes. Estes números poderiam gerar um potencial humano entre
260.000 e 570.000 homens aptos para o combate. O fato de tal número provavelmente jamais
ter sido atingido em uma campanha demonstra a preocupação do imperador em manter uma
força de reserva em Tenochtitlán e arredores como prevenção contra um eventual ataque sur-
presa de algum potencial inimigo.
Suprimentos
Os calpullis eram não somente as unidades básicas para o recrutamento de ho-
mens, mas também para o fornecimento de suprimento para a batalha. Nos calpullis (e tam-
bém nas cidades tributárias) havia terras separadas especificamente para a produção de supri-
mentos para as guerras. A cada calpulli e cidade subordinada era estipulada uma quantidade
de mantimentos a ser fornecida ao exército. Os alimentos comumente preparados para as
campanhas eram: milho e derivados (tortilla, farinha, bolo), feijão, sal e chile.
Os calpullis também eram responsáveis pelo fornecimento de armas aos soldados
que recrutavam. Fora do período de guerra, estas armas ficavam armazenadas em um arsenal
do calpulli. O palácio também tinha arsenais próprios, cujas armas eram destinadas aos no-
bres e aos membros das ordens militares.
A solicitação de homens e suprimentos às cidades era feita por mensageiros que
eram enviados dois dias antes da partida do exército. As cidades tributárias no percurso da
marcha deveriam estar preparadas para o fornecimento de comida, água, armamento e homens
quando da chegada do exército imperial. Devido à precariedade da comunicação por mensa-
geiros a pé, nem sempre as cidades conseguiam atender a esta necessidade a tempo.
A crónica mexicana (1975 apud HASSIG, 1988) cita o tempo de cinco dias de
preparação do exército, entre a declaração das hostilidades e o início da marcha, para conflitos
relativamente próximos. Para campanhas contra objetivos mais distantes, o tempo era de oito
dias.
62
Planejamento da marcha
O deslocamento de um número elevado de soldados por grandes distâncias exigia
do império considerável planejamento e organização a fim de se atender às necessidades lo-
gísticas. São estas necessidades, mais do que as táticas, que acabariam por definir a duração e
a rota do deslocamento.
Durán (1967 apud HASSIG, 1988) constata que os soldados plebeus, além do seu
armamento, transportavam para si o máximo de comida que podiam a fim de complementar a
dieta oferecida pelo exército. Os nobres, tendo melhor comida e alojamento do que os solda-
dos comuns, tinham mais equipamento a ser carregado. Além disso, o fato de terem o hábito
de realizar a marcha com mantos e vestimentas ornamentais deixava para outros a tarefa de
transportar seu equipamento, armaduras e armamento. Os jovens alunos das escolas de forma-
ção (telpochcalli e calmecac) normalmente debutavam em combate na função de escudeiros,
transportando parte desse equipamento. No entanto, quem realizava realmente a tarefa de
transporte logístico para as forças astecas eram os tamemes, ou carregadores.
A quantidade de comida a ser transportada era a maior limitação logística imposta
às forças em marcha. Hassig (1988) estima o consumo dos nativos a época em 3.800 calorias
diárias, o que é equivalente a aproximadamente 1 kg de milho por dia. Utilizando os números
descritos nas narrativas das campanhas, sabe-se que havia em média um carregador para cada
dois soldados. Levando-se em conta esta razão carregador/soldado e o peso médio transporta-
do de 23 kg por carregador, o limite teórico de autonomia alimentar da força em deslocamen-
to era de oito dias. Na prática este limite era bem menor, uma vez que a carga transportada
pelos carregadores não era exclusivamente composta de alimentos.
Para contornar esta limitação, o exército asteca contava com o apoio logístico de
seus vassalos ao longo de sua rota. O esforço logístico realizado por estes tributários para
atender às necessidades do exército asteca era enorme. Hassig (1988) calcula que, mesmo
para apenas um xiquipilli (8.000 homens), seriam necessários 7.600 kg de alimentos por dia,
transportados por 330 carregadores. A cidade tributária deveria sustentar este imenso esforço
logístico durante todo o período em que a força asteca estivesse em suas proximidades.
A não obediência às exigências astecas, ou a falha ao atendê-las, era tido como ato
de rebeldia cuja pena era a invasão e saque da cidade. Apesar do alto preço que a passagem do
exército asteca pudesse custar aos soberanos locais, o risco de ter seus domínios saqueados e
destruídos fazia com que todos os esforços fossem empreendidos para atender às demandas
63
imperiais. O soberano que desejasse se rebelar contra as exigências tributárias teria grande
dificuldade para organizar, em pouco tempo, forças para resistir ao avanço de um exército
muito mais numeroso e já mobilizado para o combate.
Desta forma, a marcha para o combate tinha o papel secundário de consolidação
do sistema de dominação estabelecido uma vez que obrigava as lideranças das localidades no
percurso a reafirmar sua lealdade ao Império Asteca.
O planejamento da marcha para o local de combate era frequentemente estabele-
cido mais em virtude de necessidades logísticas do que táticas. O trajeto nem sempre era o
mais curto, mas sim aquele que oferecia as melhores possibilidades de abastecimento. Não
raro, o exército era dividido em forças que seguiam caminhos distintos a fim de evitar que
determinadas áreas fossem sobrecarregadas logisticamente.
O segundo aspecto logístico a ser levado em conta é a necessidade de água. As
tropas astecas normalmente não transportavam água, tendo que planejar seu deslocamento em
função das localidades que poderiam fornecê-la, e, especialmente, em função da existência de
rios e cursos d’água no caminho.
Marcha
As crônicas nativas não especificam exatamente a distância que o exército asteca
avançava por dia. Hassig (1988) compara as velocidades de marcha de diferentes exércitos da
antiguidade, como o exército de Xerxes ao invadir a Grécia (27 km/dia), o de Alexandre, o
Grande (máximo de 31 km/dia) e o de Aníbal (16 km/dia). Baseado nestes exemplos e levan-
do em conta a precariedade das estradas mesoamericanas, estabeleceu uma gama que iria de
19 a 32 km cobertos por dia de marcha para o exército asteca. Levou ainda em conta que um
soldado moderno (Exército Americano) ocupa uma área de aproximadamente 1 m2, o que leva
a uma distância de 2 m entre soldados. O resultado destes cálculos mostra que, mesmo uma
força pequena como um xiquipilli (8.000 homens), disposta em uma coluna, pode se estender
por uma distância de 24 km. Levando-se em conta a velocidade estimada de marcha, o último
homem da coluna iniciaria seu deslocamento somente entre seis e dez horas após o primeiro
ter iniciado.
Esta grande extensão da tropa pode ser minimizada pela criação de mais colunas.
Entretanto, as precárias estradas mesoamericanas, construídas prioritariamente para o comér-
cio, não eram largas o suficiente (entre 4 e 6 m de largura) para a passagem de mais do que
duas colunas por vez. Não há nenhuma evidência documental ou arqueológica de que os aste-
64
cas tenham construído estradas com finalidade exclusivamente militar (HASSIG, 1988). A
mesma fração de tropa apresentada no parágrafo anterior, caso fosse dividida em duas colu-
nas, como parece ser o caso asteca, teria extensão de 12 km e demoraria entre três e cinco
horas para se deslocar; números ainda impressionantes.
A criação de mais colunas, com consequente redução de sua extensão, não só pos-
sibilita o avanço mais veloz como oferece vantagens táticas. Quanto mais colunas uma fração
de tropa possui, mais espessa ela fica, e, portanto, mais resistente a eventuais ataques surpre-
sa. As forças astecas, ao se deslocar em colunas únicas ou duplas, estavam relativamente vul-
neráveis a ataques durante o deslocamento.
As unidades avançavam segundo uma ordem pré-estabelecida. A frente de todo o
exército, iam os sacerdotes portando as imagens dos deuses. Após, com um dia de diferença,
vinham o imperador, os generais, os guerreiros veteranos e as ordens militares. Ainda com um
dia de diferença, marchavam as tropas de Tenochtitlán, separadas por unidades (normalmente
por calpullis). Seguindo a mesma separação de um dia, vinham as tropas de Texcoco, e, logo
após, as das demais cidades. Este intervalo de um dia destinava-se a diminuir o choque logís-
tico a ser imposto às cidades que apoiavam o deslocamento asteca.
Como foi abordado, o imperador (ou o comandante da campanha) tinha a opção
de dividir as tropas por caminhos diferentes que se reagrupariam no local do combate. Esta
divisão trazia claras vantagens logísticas por distribuir o esforço logístico entre mais localida-
des. No campo tático, tal divisão oferecia duas desvantagens. A primeira é a maior fragilidade
que as tropas divididas ofereceriam por estarem menores. A segunda era a diminuição do efei-
to surpresa, pois, as oportunidades de serem detectados pelo inimigo antes de chegarem ao
seu objetivo se multiplicariam.
Taticamente, as vantagens de se dividir as tropas seriam três. A primeira é a dimi-
nuição da velocidade de deslocamento da tropa como um todo pois as colunas seriam meno-
res. A segunda é aumentar a dificuldade do inimigo de estimar o verdadeiro tamanho da força
invasora, uma vez que o seu esforço de inteligência teria que se dividir por mais rotas. A úl-
tima vantagem seria a otimização da vantagem numérica das forças astecas. Caso optassem
por deslocamento sem divisão, as forças astecas atacariam em um só bloco oferecendo um
fronte único. Como somente os homens na frente da tropa estariam realmente lutando, a van-
tagem numérica não estaria sendo devidamente explorada. Com a divisão das forças, o exérci-
to asteca poderia atacar formando diversas frentes, aumentando assim o peso da vantagem
numérica. Na maior parte de suas campanhas, os astecas procuraram explorar essas vantagens
dividindo suas forças.
65
Uma tática defensiva frequentemente adotada contra os astecas era a destruição e
obstrução de estradas. Isto invariavelmente causava atrasos, que tinham como resultado a di-
minuição do tempo que os astecas poderiam permanecer em território inimigo devido à redu-
ção de sua autonomia logística. Outra tática defensiva utilizada era o ataque à retaguarda do
exército em marcha, onde se localizavam os carregadores e a bagagem, na tentativa de destru-
ir os suprimentos. Um ataque deste tipo bem sucedido também teria como resultado a redução
do tempo de permanência do exército invasor asteca em território inimigo, podendo mesmo
impor a sua retirada. Desta forma, o exército asteca, mesmos em sofrer qualquer derrota em
campo de batalha, poderia ser derrotado logisticamente (HASSIG, 1988).
Acampamento
Normalmente os membros das ordens militares chegavam antes à área do acam-
pamento e provinham a segurança do mesmo. As forças astecas e as de seus aliados acampa-
vam geralmente como uma só entidade.
Cada unidade era responsável pela lenha, comida, água e alojamento de seus sol-
dados. Os soldados acampavam em tendas ou cabanas montadas com material transportado
pelos carregadores, ou, por vezes, com material obtido como tributo. A tenda real era cercada
pelas das ordens militares e pelas dos guerreiros veteranos, que estariam prontos a auxiliá-lo
em caso de necessidade.
Postos de sentinela eram estabelecidos ao redor de todo o acampamento. Guerrei-
ros veteranos eram utilizados como batedores para obter informações de inteligência sobre
atividade e forças inimigas, muitas vezes conseguindo capturar inimigos para interrogatório
(HASSIG, 1988).
4.5 Guerra Florida
Um dos aspectos mais peculiares da guerra mesoamericana é a chamada xochiya-
oyotl, traduzida pelos espanhóis como “guerra florida”. A guerra florida era um combate pré-
arranjado entre soberanos que não tinha como finalidade a conquista de um objetivo material
ou a destruição do exército inimigo. Em teoria, o combate era quase que um torneio entre di-
ferentes forças, cujo objetivo principal seria a obtenção de prisioneiros para os sacrifícios ri-
tuais de ambos os contendores, sem a necessidade de declaração de guerra. Como esses con-
flitos visavam idealmente a captura de prisioneiros e a demonstração de valor marcial, não
66
eram empregados armamentos projéteis, sendo os participantes eram nobres e membros da
elite guerreira.
A guerra florida já era conhecida e praticada por diversos povos mesoamericanos
muito antes da formação do Império Asteca. Entretanto, foram os astecas que a difundiram
como prática regular e com número crescente de guerreiros envolvidos. Alguns combates,
como os contra Tlaxcala, apesar de serem relatados oficialmente como guerras floridas, eram
tão frequentes e envolviam tamanha mobilização que há suspeitas de que fossem guerras clás-
sicas. Davies (1987) constata que o motivo da grande utilização da guerra florida entre os
astecas era consequência da expansão das fronteiras de seu império. Era muito mais proveito-
so e econômico capturar prisioneiros em guerras floridas contra adversários próximos do que
ter de fazê-lo em campanhas de anexação a províncias cada vez mais distantes, levando-se
ainda em conta as enormes dificuldades para se realizar o transporte de prisioneiros feridos
por longas distâncias.
Graças a relatos como os de Torquemada (1975 apud DAVIES, 1987), durante
muito tempo a historiografia sempre considerou esta modalidade de conflito como essencial-
mente ritual, cavalheiresca e ligada a aspectos puramente religiosos. Soustelle (1961, p. 101),
por exemplo, afirma que durante estes combates os guerreiros faziam o máximo para não ma-
tar seus oponentes, preocupando-se somente em capturar prisioneiros para agradar aos deuses.
Afirma ainda que estes combates não eram instrumentos políticos, mas sim, um rito essenci-
almente religioso. Townsend (1992, p. 200) corrobora a visão de Soustelle e ainda menciona
o fato de tais tipos de conflitos rituais não serem exclusividade mesoamericana, tendo sido
encontrados diversos paralelos em sociedades tribais ao redor do globo.
Davies (1987) aponta algumas dificuldades práticas que tornam praticamente in-
verossímeis os relatos de que as guerras floridas eram encontros inteiramente rituais e cava-
lheirescos. A primeira dificuldade seria a ausência de uma forma efetiva para sinalizar a todos
os combatentes que o conflito estaria acabado. Mesmo havendo tal tipo de sinalização, é razo-
ável supor que cada contendor hesitaria a ser o primeiro a cessar o combate. A segunda difi-
culdade reside no fato de que, uma vez iniciados os combates, seria muito difícil controlar os
ânimos dos envolvidos e evitar que não houvesse uma escalada crescente da violência. Outras
atividades humanas que a priori não envolvem violência, como as esportivas, por exemplo,
podem evoluir para situações de violência sem controle. Imagine-se, então, a dificuldade para
controlar uma atividade que já se inicia com a utilização de grande dose de violência. As evi-
dências levam a crer que as guerras floridas somente tinham o aspecto completamente ritualís-
67
tico e religioso quando eram empreendidas entre pequenas cidades-estados e com número
baixo de combatentes envolvidos.
Outros pesquisadores, sem desconsiderar o aspecto ritual da guerra florida, bus-
cam outras motivações de ordem política e militar para o estabelecimento desta prática. Has-
sig (1988), apesar de afirmar que a finalidade das guerras floridas não é totalmente esclarecida
ainda, estabelece conexões com fatores políticos. Para Hassig, as guerras floridas inicialmente
eram uma forma de demonstração de força e habilidade militar sem a necessidade de guerras
clássicas de conquista. Um adversário militarmente mais hábil, tendo provado sua superiori-
dade em uma guerra florida, poderia fazer exigências ao adversário mais fraco. O adversário
mais fraco, tendo constatado sua inferioridade militar em uma guerra florida, aceitaria tais
exigências por estimar que sairia perdendo em uma guerra clássica. Em teoria ambos os lados
sairiam ganhando (ou perdendo menos), pois, a relação de dominação estaria estabelecida sem
o alto custo material e humano provocado por uma guerra de conquista. Este arranjo pode ter
funcionado bem entre pequenas cidades-estados com pouca diferenciação de população e ca-
pacidade produtiva. Porém, a medida que as sociedades foram se desenvolvendo de maneira
desigual, a guerra florida teria deixado de ser um mecanismo eficiente para o estabelecimento
prévio de relações de domínio.
Levando-se em conta o sistema de dominação asteca, como descrito por Santama-
rina (2005), é pertinente supor que, além do forte caráter ritualístico do combate asteca, pelo
menos três motivações político-militares estavam presentes na guerra florida.
Primeiramente, o aspecto do treinamento militar certamente era levado em conta
pelos astecas. Através de guerras floridas, seus soldados teriam a oportunidade de treinar e
aprimorar suas habilidades em um conflito de proporções limitadas antes de partir para uma
grande campanha de conquista. Seguindo a mesma linha, estes conflitos também seriam uma
oportunidade para os guerreiros acumularem status marcial por desempenho em combate.
O segundo aspecto é ligado diretamente ao sistema de dominação asteca. Viu-se
no primeiro capítulo deste trabalho que o domínio asteca era fortemente baseado no poder.
Como foi abordado, o poder é a percepção que os adversários têm da capacidade de um estado
empregar a força. Logo, a demonstração de elevada capacidade marcial nas guerras floridas
seria uma forma relativamente econômica do Império Asteca exercer considerável poder de
dissuasão sobre adversários e potenciais províncias rebeldes.
Finalmente, as guerras floridas tinham o efeito estratégico de provocar desgaste
desproporcional ao inimigo com menor potencial de mobilização humana. Citemos o exemplo
hipotético de dois beligerantes, um com um exército de 100.000 homens e outro com um
68
exército de 10.000 homens. Assume-se a hipótese de que cada um deles perca 1.000 homens
em determinado período em decorrência de guerras floridas. Apesar de terem perdido o mes-
mo número de guerreiros, o desgaste sofrido pelo estado mais populoso foi de apenas 1% do
seu exército, enquanto o menos populoso teve um atrito de 10% de suas forças, ou seja, dez
vezes maior. A guerra florida tinha o efeito indireto de manter os adversários e províncias
tributárias dos astecas constantemente enfraquecidos.
4.6 Sacrifícios cerimoniais e captura de prisioneiros
A questão da finalidade dos sacrifícios na sociedade asteca não é fácil de ser res-
pondida. Sacrifícios humanos não eram exclusividade dos astecas nem dos povos mesoameri-
canos, mas um fenômeno mundial. Em todos os continentes do planeta já existiu pelo menos
uma civilização que executava sacrifícios de seres humanos. Davies (1987) assinala que esta
prática é tão disseminada no mundo e apresenta tantas semelhanças entre si, que provavel-
mente é parte integral da psique humana.
As razões para tal prática entre os astecas não são totalmente claras. Explicações
mais clássicas, como a de Soustelle (1961), estabelecem o sacrifício como uma forma de
aplacar a ira dos deuses. René Girard (1972 apud DAVIES, 1987) considera que o sacrifício
era mais do que uma maneira de comprar a boa vontade dos deuses, mas uma maneira de pu-
rificação dos pecados e efetuar a renovação da aliança entre deuses e homens. Nos anos 1970,
um antropólogo chamado Michael Harner causou grande polêmica ao publicar um artigo no
qual afirmava que, basicamente, a finalidade do sacrifício na Mesoamérica seria o consumo
da carne humana para compensar uma dieta com baixa quantidade de proteínas. De fato, após
os rituais de sacrifício, os captores devoravam pedaços dos braços ou das pernas de suas víti-
mas sacrificadas. Contudo, o tronco, a parte com maior quantidade de carne, não era comida,
como seria de se supor que acontecesse caso houvesse uma real necessidade de alimentar-se
de carne humana (DAVIES, 1987). Marshall Sahlins (1976 apud DAVIES, 1987) assinala
ainda que, se o real motivo dos sacrifícios humanos astecas fosse a alimentação, não haveria a
necessidade de se realizar as onerosas e demoradas cerimônias sacrificiais. Os relatos dos
conquistadores que venceram a resistência asteca e entraram nas ruínas de Tenochtitlán cons-
tatam a existência de milhares de corpos intocados de vítimas de sacrifícios, o que dificilmen-
te ocorreria após um sítio prolongado caso os habitantes desta cidade praticassem a antropo-
fagia de maneira habitual.
69
Politicamente, os sacrifícios tinham o efeito de reforçar o sistema de dominação
asteca. O fato de todos os soberanos (inclusive os não amistosos) serem convidados para pre-
senciar estas cerimônias, onde uma enorme massa de inimigos astecas era sacrificada diante
de todos, seguramente, tinha imenso efeito dissuasório. Davies (1973, 1987) contesta esta
visão ao afirmar que estes sacrifícios não impressionariam os soberanos adversários devido ao
fato de o sistema imperial asteca normalmente conservar no poder os líderes locais derrota-
dos. Entretanto, é razoável supor que, mesmo sabendo que poderia manter-se no poder em
caso de derrota militar, a possibilidade de ter uma grande parcela produtiva de seus domínios
sacrificada em honra aos deuses provavelmente faria um soberano pensar várias vezes antes
de desafiar a autoridade asteca.
Independentemente das razões motivadoras, o que diferenciava claramente os sa-
crifícios humanos astecas dos sacrifícios dos demais povos mesoamericanos eram os números
envolvidos. Os sacrifícios cerimoniais astecas passaram por um processo que Davies (1973,
1987) classificou como “inflacionário”. Se inicialmente uma ou duas vítimas eram necessárias
para determinada cerimônia, em algum tempo passou-se a necessitar de mil vítimas para a
mesma finalidade. Este processo inflacionário, além de incentivar o reestabelecimento da tra-
dição das guerras floridas, influenciou o sistema de mérito militar asteca, que passou a conce-
der promoções àqueles que capturassem prisioneiros de guerra.
Dados os impressionantes números relatados de prisioneiros de guerra sacrifica-
dos nos cerimoniais astecas, Davies (1987) levanta a questão de como este número tão eleva-
do de cativos poderia ser obtido em combate. Soustelle (1961), citando a crónica mexicana,
afirma que havia especialistas com cordas que seguiam os guerreiros e amarravam os cativos
antes que pudessem recuperar a consciência. Hassig (1988) afirma que tal afirmação é uma
interpretação equivocada do autor francês por ter se utilizado de uma má tradução da crónica
mexicana. Hassig (1988) afirma ainda não haver evidências de que o exército asteca pudesse
se dar ao luxo de empregar parte de seus homens exclusivamente na tarefa de amarrar eventu-
ais prisioneiros de guerra, sabendo-se que a vantagem numérica era considerada primordial no
combate mesoamericano. Porém, admite que a tarefa de amarrar cativos talvez fosse uma
obrigação secundária de soldados em combate.
Davies (1987) aponta a contradição que há entre o objetivo do exército, que é
buscar a vitória da forma mais eficaz possível; e o objetivo de cada soldado, que é a captura
de prisioneiros em combate individual. Para ele, durante a confusão generalizada do combate,
haveria imensas dificuldades em haver duelos entre guerreiros que proporcionassem a captura
individual de cativos.
70
Para exemplificar tal dificuldade, imagine-se uma situação hipotética onde, na
frente de combate um guerreiro A se engaja com um guerreiro B. Para capturar B, o guerreiro
A deveria golpeá-lo com uma força suficiente para deixá-lo inconsciente, mas não forte o bas-
tante para matá-lo. A promoção era concedida àqueles que capturavam inimigos, e não àque-
les que os matavam (DAVIES, 1987, p. 229).
Mesmo conseguindo dosar o golpe e deixar o inimigo apenas inconsciente, o
guerreiro A estaria somente no início de suas dificuldades. Teria que, de alguma forma, amar-
rar B para evitar sua fuga e depois retirá-lo da cena de combate. Ambas as tarefas exigiriam o
uso das duas mãos, deixando o guerreiro A perigosamente exposto aos companheiros de B;
que tentariam salvá-lo, e, talvez se aproveitar da fragilidade temporária de A para capturá-lo
(DAVIES, 1987, p. 229).
Uma alternativa seria a existência dos soldados, mencionados por Soustelle
(1961), especializados em amarrar prisioneiros inconscientes e levá-los para a retaguarda.
Além das ressalvas a esta hipótese apontadas por Hassig (1988), também parece pouco prová-
vel que soldados armados somente com cordas circulassem livremente pela frente de comba-
te, tornando-se alvos fáceis para o oponente. Uma outra hipótese seria o guerreiro A conduzir
o guerreiro B para a retaguarda, onde este seria amarrado e mantido preso. Hassig (1988)
acredita que esta era a forma como a maioria das capturas individuais era realizada. Davies
(1987), apesar de não julgar este procedimento de todo impraticável, tende a duvidar de sua
eficácia devido à dificuldade de se encontrar a retaguarda em plena confusão do combate e,
também, devido à vulnerabilidade que A apresentaria durante este percurso em que estaria
com as duas mãos sobre B. Por fim, a hipótese apresentada por alguns de que os prisioneiros
teriam seus tendões cortados para evitar a fuga parece completamente inverossímil, conside-
rando-se as grandes distâncias que teriam que percorrer na marcha de volta a Tenochtitlán.
Devido às dificuldades apresentadas, Davies (1987) acredita que a captura de pri-
sioneiros como resultado de duelos individuais na frente de batalha somente se aplicava às
guerras floridas. Para ele, o grande número de prisioneiros capturados era fruto da esmagado-
ra superioridade numérica asteca. Os astecas conseguiriam causar baixas na frente de combate
e nos flancos inimigos de forma a utilizar sua superioridade numérica para envolvê-los em
massa. O envolvimento do exército inimigo provocaria sua rendição, fornecendo assim gran-
de número de prisioneiros de uma só vez. Considerando-se esta teoria como verdadeira, os
astecas deveriam ter algum sistema de atribuição de mérito pelas capturas coletivas obtidas
desta forma.
71
É bem provável que o procedimento citado acima fosse executado com frequência
pelo exército asteca, especialmente nos combates que envolviam grande número de comba-
tentes. Todavia, parece exagerado supor que a captura de prisioneiros se fizesse somente por
este método. Embora a forma como as capturas individuais eram feitas não seja ainda comple-
tamente esclarecida, quase todos os relatos apontam evidências de que os astecas procuravam
executá-las sempre que possível. Diversos códices apresentam ilustrações representando cap-
turas individuais. Outros tantos relatos assinalam que o ensino de técnicas de captura era prio-
rizado nas escolas de formação de guerreiros (telpochcalli e calmecac). É pouco provável que
a elite guerreira, treinando frequentemente suas habilidades de captura nas guerras floridas,
não empregassem estas mesmas habilidades nas guerras convencionais a fim de conquistar
status e promoções. Obviamente, uma guerra convencional de conquista tem objetivos maio-
res do que a simples busca de prisioneiros; o que deve ter levado comandantes a adotar, em
momentos de necessidade, táticas que priorizassem a vitória global do exército (como a citada
por Davies) em detrimento da captura individual de cativos. Entretanto, é inegável que a cap-
tura individual de prisioneiros tinha fundamental importância para a doutrina militar asteca.
4.7 Tática
Comando e controle
Comandar grandes quantidades de homens sem eficientes meios de comunicação
em meio ao calor da batalha não era tarefa fácil para os comandantes astecas. Para tal propósi-
to, eram utilizados comandos por meio de sinalização sonora ou visual. A sinalização sonora
aplicava-se à movimentação das tropas até o momento do engajamento. Após, devido ao in-
tenso ruído do combate, tornava-se impraticável utilizá-la. Como a guerra asteca era sempre
realizada a luz do dia (somente pequenos ataques eram efetuados a noite), a sinalização visual
não apresentava grandes restrições.
A sinalização sonora era obtida por tambores e trompetes para comandar um ata-
que frontal. Quando as distâncias envolvidas não permitiam o uso de dispositivos sonoros,
sinalização com fogo indicava o início do ataque. Sinais de fumaça eram empregados para
maiores distâncias, com o intuito indicar que uma força atacante estaria se aproximando.
Outro meio de comandar unidades eram os estandartes. Os estandartes eram um
meio eficaz de manter a coesão de uma unidade. Graças a ele, os guerreiros poderiam manter-
se em contato com seus companheiros de grupamento, sabendo exatamente a direção do ata-
72
que. Quando era tomado ou deixava de ser visível, a unidade tendia a se dispersar e tornava-se
alvo fácil para a captura por parte dos inimigos. Aparentemente, o uso dos estandartes na
guerra mesoamericana foi uma criação asteca (HASSIG, 1988).
O fato de a elite guerreira e os comandantes utilizarem indumentária elaborada
tornava mais fácil aos guerreiros reconhecerem visualmente seus comandantes. Davies (1987)
afirma que o moral dos nativos era muito dependente da presença física dos comandantes.
Quando estes eram abatidos ou capturados, havia tendência à desordem e à dispersão. Sobre
os inimigos, a indumentária tinha duplo efeito. Se por um lado, as insígnias que demonstra-
vam valor em combate tinham efeito intimidador sobre os adversários; por outro, podia trans-
formar o portador em alvo prioritário.
Díaz de Castillo (1963) se surpreendia com o grau de planejamento e controle so-
bre o movimento das tropas. Os astecas seriam capazes de coordenar a divisão da força em
diversas frações para efetuar ataques a um ou mais objetivos simultaneamente. Como será
visto em seguida, apesar de conseguirem manter razoável nível de controle sobre suas tropas,
as táticas astecas eram quase sempre efetuadas seguindo-se a mesma sequência.
Sequência e tática de combate
A sequência do combate era quase que invariável na Mesoamérica, e os astecas
foram pouco inventivos neste aspecto. Os guerreiros tinham funções distintas, de acordo com
sua posição social e com o seu status marcial. Pode-se classificar os combatentes basicamente
em três categorias.
Primeiramente, havia os membros da elite guerreira. Eram os mais bem equipa-
dos. Portavam cotas, armaduras, escudos, espada asteca (ou por vezes a lança asteca) e tam-
bém o atlatl. Eram os mais bem equipados, protegidos e treinados; e, por conseguinte, os que
tinham mais chances de sobreviver e definir o rumo do combate. A outra categoria era a dos
guerreiros novatos (tanto plebeus como nobres) que não tinham direito a utilizar armadura,
mas portavam escudos para proteção, além da espada asteca, clava ou lança. Por fim, havia o
grosso do exército, cidadãos comuns sem mérito militar que serviam como arqueiros e lança-
dores de pedras (fundeiros). Alguns deste, passavam a combater com clavas a partir de deter-
minado momento da batalha. Na guerra mesoamericana, a conjunção de equipamento e trei-
namento definia as chances de sobrevivência no combate.
Importante ressaltar que os armamentos projéteis conferiam menos status do que
os de choque. A única exceção era o atlatl, que, devido à sua natureza mística, era usado pelos
73
guerreiros veteranos. Os guerreiros que portavam a lança e a espada asteca normalmente eram
os que tinham distinção militar, possuindo status semelhante aos cavaleiros da Europa medie-
val. Os guerreiros sem distinção, devido ao escasso equipamento defensivo e ao inferior trei-
namento, tinham menores chances de sobrevivência; além do fato de que as características de
seu armamento lhes conferiam poucas oportunidades de captura de prisioneiros e consequente
obtenção de promoção que lhes garantisse o direito de utilizar equipamentos defensivos. Já os
guerreiros da elite militar, devido ao seu equipamento protetor e superior treinamento, tinham
maior chance de sobrevivência; ao mesmo tempo em que a sua função no combate lhes ofere-
cia chances de efetuar capturas e obter novas promoções que lhes dariam direito a utilizar
equipamento ainda superior. Ou seja, o sistema militar asteca criava um ciclo que fazia com
que os guerreiros, uma vez obtendo distinção em combate, tivessem cada vez mais chances de
promoções; enquanto os demais, caso não conseguissem distinção em combate, teriam poucas
chances de sobrevivência.
O combate era iniciado com intensa salva de projéteis. O objetivo desta salva ini-
cial era causar o maior dano possível ao inimigo para facilitar o trabalho dos guerreiros com
armas de choque, que definiriam o combate. Nesta fase, a taxa de mortalidade entre os arquei-
ros era alta, uma vez que necessitavam de ambas as mãos para efetuar o ataque, não podendo
assim se defender com o escudo. Há relatos de que em algumas campanhas eles eram protegi-
dos por guerreiros portando escudos, mas aparentemente esse procedimento não era praxe
(HASSIG, 1988).
Esta fase inicial durava muito pouco tempo. Hassig (1988) estima que, mesmo
uma razão de disparo de flechas tão lenta quanto seis flechas por minuto esgotaria a aljava do
arqueiro, com vinte flechas, em pouco mais de três minutos. A quantidade de pedras carrega-
da pelos fundeiros não é conhecida, mas, imagina-se que, devido à alta taxa de tiro, estas se
acabariam ainda mais rapidamente do que as flechas.
As descrições das batalhas dizem que a distância entre exércitos durante este en-
gajamento inicial ficava em torno de 50 a 60 metros, por conseguinte, não utilizando o alcan-
ce máximo dos armamentos projéteis. Hassig (1988) cita quatro motivos para tal. Primeira-
mente, distâncias menores facilitam a pontaria da força atacante e minimizam eventuais pro-
teções naturais do defensor. Segundo, é mais efetivo segurar o ataque até uma distância onde
todos os armamentos projéteis possam ser empregados de uma vez (o atlatl tinha alcance me-
nor). Terceiro, quanto mais próximo, maior o efeito de penetração do projétil. Por último,
iniciando a salva de projéteis em posição mais avançada, a força atacante, dotada de armas de
74
choque, estaria mais próxima para efetuar um ataque sequencial, desfazendo formações ou
desentrincheirando o inimigo.
Era pouco antes do fim completo dos projéteis que a força atacante com armas de
choque avançava, ainda sob a cobertura desta salva inicial. Durante este avanço que o atlatl
era mais usado, e, devido a estar mais próximo do inimigo, era o momento em que era mais
eficaz. Os soldados da elite guerreira normalmente avançavam efetuando o ataque com o
atlatl em uma mão, enquanto na outra carregavam o escudo e a espada, segurada pelo cabo e
apontada para trás. Não há informação sobre a existência de aljava para os dardos do atlatl e
as ilustrações normalmente mostram os atacantes com somente três ou quatro dardos nas
mãos, o que leva a conclusão de que esta fase do ataque seria ainda mais breve do que a ante-
rior (HASSIG, 1988).
Esgotados os dardos do atlatl, os guerreiros veteranos partiam para o engajamento
com as armas de choque. Esta era a fase decisiva do combate. Os arqueiros e fundeiros, com
sua munição esgotada, passavam a não ser mais úteis na linha de frente e deslocavam-se para
a retaguarda. Com os contendores engajados, os atiradores não poderiam mais disparar contra
as tropas devido ao risco de acertar tropas amigas. Alguns dos atiradores entravam no comba-
te com clavas e os demais permaneciam recuados com a função de alvejar atiradores inimigos
e atirar sobre eventuais reforços dos adversários, impedindo, assim, que os astecas fossem
envolvidos (HASSIG, 1988).
A etapa do choque também seguia uma ordem determinada, que, via de regra, ia
dos mais aos menos experientes. Esta ordem tinha o intuito de aplicar um golpe decisivo na
formação inimiga desde o início. As ordens militares eram as primeiras a entrar, e, dentre es-
sas, os cuahchic eram os pioneiros. A ordem militar dos cuahchic era a que tinha os guerrei-
ros mais hábeis e experientes. Estes guerreiros eram conhecidos por lutar individualmente ou
em duplas, não compondo um grupamento sob comando único (HASSIG, 1988). A ordem dos
cuahchic era temida não pela sua atuação global, mas pelo excepcional desempenho individu-
al de seus membros. O fato de guerreiros com perfil individualista serem os mais temidos das
forças astecas sinaliza que, embora a forma como as tropas eram manobradas ditava se o en-
gajamento se daria em situação mais ou menos vantajosa, a partir do engajamento, o combate
tendia a se transformar em uma série de duelos individuais que definiriam o resultado da bata-
lha.
Após a entrada dos cuahchic, seria a vez das demais ordens (otomís, ordem da
águia e do jaguar). Em seguida, os guerreiros “veteranos” entravam liderando as primeiras
75
unidades organizadas, que continham inclusive guerreiros novatos intercalados com outros
mais experientes (HASSIG, 1988).
Esta sequência de entrada em combate era considerada a mais efetiva nas batalhas
empreendidas pelos astecas. O movimento das tropas até o engajamento era estritamente con-
trolado e havia grande ênfase na manutenção da coesão da unidade. Elementos que avanças-
sem mais rápido ou mais devagar que sua unidade estariam mais expostos ao inimigo e ao
mesmo tempo diminuiriam a força do grupamento (HASSIG, 1988).
Uma vez que a unidade se encontrava em contato com o inimigo, somente os ho-
mens que estivessem na primeira fila estariam efetivamente combatendo. Por isso, após o
avanço, as tropas astecas não permaneciam mais em bloco, mas abriam-se de forma a formar
larga frente de combate, engajando com o maior número possível de combatentes. Tentava-se
obter as linhas o mais amplas possível, com profundidade o bastante somente para impedir
que o inimigo conseguisse quebrar a formação. A partir deste ponto da batalha, era mais difí-
cil manobrar de forma realmente efetiva as tropas e o combate dependeria muito do desempe-
nho individual dos envolvidos.
Historicamente, forças militares empregam dispositivos abertos para enfrentar in-
fantaria oponente de natureza similar. A existência de uma tropa mais densa, como a cavala-
ria, poderia facilmente quebrar a formação. Uma vez que não havia cavalos na Mesoamérica,
linhas de frente abertas eram amplamente empregadas.
As formações abertas beneficiam o contendor que possui mais soldados, pois este
tem a capacidade de abrir linhas mais largas, disponibilizando mais homens combatendo efe-
tivamente na linha de frente. Linhas mais amplas permitem que o inimigo seja envolvido e
isolado de ressuprimento e reforços. Para Davies (1987), era essa a maneira utilizada pelos
astecas para realizar capturas coletivas de prisioneiros de guerra. Ainda segundo este autor, a
principal força dos astecas seria justamente conseguir levar o combate para campo aberto,
onde poderiam dispor grandes forças em linhas espaçadas, explorando ao máximo a vantagem
numérica que quase sempre possuíam.
Combate individual
Os guerreiros astecas empregavam na guerra as técnicas que lhes eram exausti-
vamente ensinadas nos centros de formação (telpochcalli e calmecac). O pé esquerdo e o es-
cudo, no braço esquerdo, ficavam à frente. Para efetuar o golpe, o pé direito avançava, proje-
tando o peso do corpo à frente de forma que o golpe descendente com a espada, na mão direi-
76
ta, tivesse a maior extensão possível (HASSIG, 1988). Apesar de ser tecnicamente possível, é
pouco provável que os guerreiros recuassem efetuando golpe reverso ascendente, como suge-
rem alguns autores.
A técnica de emprego da espada era condicionada e limitada pelas limitações tec-
nológicas astecas. Apesar dos relatos de cronistas da capacidade de corte das lâminas de obsi-
diana presentes nas espadas, elas não eram resistentes a golpes diretos contra superfícies resis-
tentes como escudos ou lâminas da espada adversária. Um golpe direto da lâmina sobre o es-
cudo poderia danificá-la e deixar o atacante em desvantagem. Assim, os astecas até golpea-
vam usando a parte com lâminas da espada, mas, para se defender dos golpes, não usavam a
espada, mas sim o escudo. Caso necessitassem utilizar a espada para defender-se de um golpe,
seria no máximo para desviá-lo (e não contrapô-lo diretamente) e com a parte chata (sem lâ-
minas) da espada. Na Mesoamérica, os soldados não esgrimiam como nos clássicos duelos de
sabre da Europa renascentista (HASSIG, 1988).
Os guerreiros armados de lanças ficavam entre os que portavam espadas. A dis-
tância entre eles era de aproximadamente 2 metros, afastado apenas o suficiente para evitar
golpes amigos. Não se sabe exatamente como eram efetuados os golpes de lança. O seu dese-
nho sugere que dificilmente tenha sido empregada em movimentos de varredura lateral, mas
sim em movimentos de trás para frente (HASSIG, 1988). Estes movimentos de espetar teriam
também a função de manter o inimigo afastado, pois, o combate a curta distância seria fatal
para o lanceiro.
Reforços
A prática de envio de reforços era usual na guerra mesoamericana, tendo sido em-
pregada com excelência pelos astecas. Os astecas eram adeptos de duas modalidades de refor-
ços em combate: o tático e o estratégico. O tático diz respeito ao envio de soldados diretamen-
te à batalha que está sendo executada. O estratégico compreende o envio de soldados durante
o desenrolar da guerra.
Os astecas raramente empregavam todas as suas forças de uma só vez em uma ba-
talha. Normalmente mantinham (grandes) reservas estratégicas em Tenochtitlán para se con-
trapor a um eventual ataque de um inimigo oportunista, e também mantinham reservas táticas
no acampamento próximo ao campo de batalha.
Tipicamente, os reforços táticos chegavam a intervalos de aproximadamente quin-
ze minutos. Como foi abordado, os projéteis se esgotavam a uma taxa muito alta e o combate
77
com as espadas tendia a danificar suas lâminas. A chegada de reforços, substituindo os guer-
reiros engajados em combate, permitia que eles se retirassem para renovarem seu estoque de
projéteis, e também para reparar ou substituir seu armamento. A substituição ocorria não prio-
ritariamente para descanso dos soldados, mas sim devido às limitações do equipamento e ar-
mamento (HASSIG, 1988).
Formaturas abertas em amplas linhas facilitavam a chegada dos reforços táticos
pela retaguarda. Os soldados substitutos se aproximavam para a linha de frente passando pe-
los espaços entre guerreiros. Um soldado substituía o outro pelo lado direito, pois o uso do
escudo no braço esquerdo dificultava sua visão nesta direção (HASSIG, 1988).
Os reforços estratégicos eram administrados por dois dos generais do Conselho
Supremo que sempre ficavam em Tenochtitlán para tal tarefa. Enviavam reforços sempre que
solicitados; ou, na ausência de solicitação, sempre que a campanha se estendia além de vinte
dias (HASSIG, 1988).
Emboscadas e estratagemas não-convencionais
Para Hassig (1988) e Soustelle (1961) as emboscadas eram as táticas mais habil-
mente executadas pelos astecas e frequentemente eram bem sucedidas. O tipo de emboscada
mais comum era realizada sobre passagens estreitas, vales ou no espaço entre montanhas, on-
de o elemento surpresa fazia com que a vantagem da força atacante fosse suprema.
O uso de estratagemas não-convencionais também era frequente. Um estratagema
citado em diversas narrativas históricas era a simulação de retirada, fazendo entender ao ini-
migo que este estava em vantagem. Estimulado pela possibilidade de vitória, o inimigo avan-
çava de forma desordenada, desfazendo formações e se afastando da proteção defensiva da
cidade. Em certo ponto, tropas camufladas astecas atacavam o inimigo pela retaguarda, iso-
lando-o do recebimento de reforços e suprimento (HASSIG, 1988).
Importante ressaltar que não há registro nas narrativas históricas de como esses
estratagemas eram coordenados durante a batalha. É razoável a suposição de que, dadas as
limitações existentes, o sucesso destes estratagemas devia-se menos a grande eficiência do
sistema de comando e controle asteca do que a um eficiente planejamento e estrito cumpri-
mento do plano estabelecido. Não menos importante é o fato de que as campanhas onde tais
fintas foram registradas datam dos tempos pré-imperiais, ou, no máximo, de pouco tempo
depois da formação da Tríplice Aliança; o que implica que as forças empregadas eram consi-
deravelmente menores. No futuro, com o crescimento do império, as dificuldades para se co-
78
ordenar tais estratagemas com tropas muito mais numerosas praticamente inviabilizariam a
realização de tais procedimentos.
A conquista de cidades
Caso a batalha não estivesse se desenrolando como desejado para o defensor, ele
tentaria uma oportunidade para se abrigar em sua cidade antes de ser completamente envolvi-
do pelos atacantes. A vitória então somente seria consolidada após a conquista da cidade ini-
miga.
Tipicamente, as cidades-estados mesoamericanas não apresentavam fortificações.
Os custos materiais e humanos da construção de fortificações que envolvessem todo o perí-
metro da cidade, incluindo a área de produção agrícola, seriam impraticáveis. Estas cidades,
dependentes da agricultura, não tinham condições de destinar grande parte de seus homens
para a construção de tal estrutura, ou mesmo para a manutenção de guarnições para sua vigi-
lância. Seria mais acessível fortificar somente a área urbana, mas não seria muito útil para o
defensor se proteger no interior da cidade, deixando a sua fonte de sobrevivência completa-
mente exposta ao inimigo. Por estes motivos, a melhor defesa para uma cidade atacada era o
combate em campo aberto para tentar rechaçar o invasor (HASSIG, 1988).
A capital asteca, Tenochtitlán, não possuía muralhas por dois motivos principais.
Primeiro, sua localização insular lhe oferecia proteção natural. Segundo, mesmo estando en-
gajados em campanhas distantes, os astecas não descuidavam da segurança interna mantendo
consideráveis contingentes preparados para defender a cidade, caso necessário. De fato, Te-
nochtitlán nunca foi atacada ou sitiada por nativos rivais. Os únicos que viriam a atacar esta
cidade seriam os espanhóis. Nesta ocasião, os astecas se viram obrigados a construir estrutu-
ras defensivas.
No entanto, algumas poucas cidades possuíam estruturas defensivas, como mura-
lhas. As táticas normalmente adotadas pelos astecas para conquistá-las eram a destruição das
muralhas, ou, quando isso não era possível, o sítio. Quando sitiavam uma cidade, os astecas
também enviavam tropas para as cidades vizinhas para garantir que não oferecessem ajuda
aos sitiados. Inevitavelmente, os sitiados acabavam se rendendo, mas em condições de nego-
ciação menos desfavoráveis do que se tivessem sido submetidos a uma decisiva derrota mili-
tar em campo aberto (HASSIG, 1988).
Quando invadiam uma cidade, o objetivo dos atacantes não era destruí-la, mas
forçar o inimigo a se render. A natureza do sistema de dominação asteca, enormemente de-
79
pendente da capacidade produtiva do conquistado para o pagamento de tributo, fazia com que
não fosse do interesse dos invasores reduzir uma cidade a cinzas. Normalmente, como é re-
presentado nos códices, o símbolo de que a cidade foi tomada é o incêndio do templo princi-
pal. Neste momento, normalmente os defensores paravam de lutar e os líderes da cidade der-
rotada partiam para a negociação.
A queima do templo principal da cidade representava mais do que um “xeque-
mate” que faria os defensores se renderem cavalheiresca e esportivamente. O templo era o
local mais fortificado da cidade, logo, a sua tomada significava que os invasores teriam a ca-
pacidade de penetrar em qualquer outro edifício da cidade. Nos templos também eram locali-
zados os arsenais, logo, os defensores estariam privados de ressuprimento bélico. Por fim, a
queima do templo significava misticamente que mesmo os deuses deixaram de apoiar os habi-
tantes na tarefa da defesa de sua cidade.
80
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Razões que levaram às vitórias
À luz da análise da história, organização social, técnica militar e do sistema de
dominação dos astecas; algumas hipóteses podem ser analisadas para explicar o êxito militar
dos astecas sobre os demais povos mesoamericanos.
Alguns autores mencionam que as vitórias astecas devem-se à interiorização de
uma crença místico-religiosa que os faria impor às demais civilizações o culto ao deus patro-
no dos méxica, Huitzilopochtli. Esta crença partiria do pressuposto de que os astecas eram os
escolhidos por tal divindade a conquistar os demais povos e reestabelecer na Terra as glórias
do extinto Império Tolteca.
Parece inverossímil que os astecas fossem propelidos a “evangelizar” os demais
povos no culto a Huitzilopochtli, pois esta divindade fazia parte de um panteão de deuses que
era universal na maior parte da Mesoamérica. Muitos dos povos conquistados pelos astecas já
tinham Huitzilopochtli incluído nas suas práticas religiosas anteriormente à conquista asteca.
Entretanto, apesar de não buscarem a imposição do culto ao seu deus patrono, os
astecas sentiam-se especiais por se considerarem seus escolhidos e por estarem destinados à
reconstrução do alegadamente glorioso passado tolteca. Dada a importância que a religião
tinha para essa civilização, esse conceito foi um grande estimulador do desenvolvimento de
virtudes espartanas de resiliência e combatividade, que via de regra produzem excelentes sol-
dados (DAVIES, 1987).
As virtudes acima citadas também eram estimuladas pela estrutura social asteca.
O período Pós-Clássico mesoamericano foi marcado pelo surgimento de sociedades cada vez
mais militarizadas. O Império Asteca formou-se justamente no auge desta tendência, e, a ati-
vidade militar foi essencial à sua formação, expansão e sobrevivência. O resultado deste para-
digma foi a estruturação de uma sociedade dirigida por uma elite guerreira que tinha no méri-
to militar a principal forma de status social. Esta organização social também estimulava gran-
de dedicação à atividade militar e o surgimento de bons guerreiros.
Muitas civilizações obtiveram sucesso militar graças à superioridade de seu ar-
mamento. Definitivamente, este não foi o caso dos astecas. Os astecas praticamente não de-
senvolveram nenhuma arma nova, e, seu armamento era basicamente o mesmo utilizado por
civilizações mesoamericanas de quase mil anos antes. Não tendo desenvolvido nenhuma ino-
vação bélica, o armamento asteca não era superior ao de seus adversários. E mesmo que os
81
astecas fossem capazes de produzir algo superior, talvez não fizesse grande diferença em seu
exército, pois, a maior parte do armamento utilizado pelos astecas não era fabricado por eles
mesmos, mas recebido como pagamento de tributo de províncias conquistadas.
O treinamento asteca é outro aspecto a ser considerado. Davies (1987) contesta a
importância deste aspecto alegando que somente os pertencentes a uma elite recebiam treina-
mento realmente superior ministrado nas calmecac (escolas para os filhos dos nobres). No
entanto, apesar de o treinamento realizado nas calmecac ser mais detalhado e individualizado,
isto não quer dizer, de maneira alguma, que o treinamento nas telpochcalli (escola para os
filhos dos plebeus) fosse deficiente. Mesmo assumindo como verdadeiro o pressuposto de que
somente uma elite teria adestramento realmente válido, ressalta-se que era justamente essa
elite que tinha papel mais importante no combate. Ou ainda, assumindo-se que o treinamento
das telpochcalli fosse superficial, os astecas ainda assim estariam em vantagem sobre os seus
adversários que não possuíam nenhum centro de treinamento. De forma geral, a maior parte
dos estudiosos reconhece a relevância do papel destas instituições no preparo de bons solda-
dos.
As guerras floridas também ofereceram grandes oportunidades de treinamento aos
astecas. Obviamente, pode-se argumentar que eram uma faca de dois gumes, pois, as mesmas
oportunidades de treinamento também seriam fornecidas aos adversários que lutavam as guer-
ras floridas contra os astecas. Esta é, inclusive, uma das explicações para o êxito da resistên-
cia de Tlaxcala frente ao império já que seus guerreiros teriam adquirido alto grau de capaci-
tação ao longo de incontáveis guerras floridas impostas por Tenochtitlán. Contudo, para a
maioria dos demais adversários este incremento no adestramento não compensava o desgaste
que sofriam em suas fileiras; enquanto para os astecas, com um exército muito mais numero-
so, tal desgaste era irrelevante. As guerras floridas foram úteis à sociedade asteca não somente
pelo suprimento de cativos para os sacrifícios, mas também pelo incremento da capacitação
de muitos de seus guerreiros.
O desempenho tático dos astecas teve limitada influência no seu sucesso. Exceto
por algumas fintas bem sucedidas por pequenas frações, os astecas não foram inovadores no
que diz respeito ao emprego tático. Utilizavam-se da mesma sequência e da mesma tática de
combate em linha aberta que outros povos mesoamericanos já utilizavam em épocas muito
anteriores. No campo de batalha, o que contribuiu para as vitórias astecas não foi o desenvol-
vimento ou criação de novas manobras, mas sim a execução com excelência da praticamente
única tática que conheciam, que invariavelmente culminava na formação de grandes linhas
abertas a fim de produzir o efeito de acentuar enormemente sua vantagem numérica. Para Da-
82
vies (1987), foi justamente a capacidade dos astecas de explorar ao máximo sua superioridade
numérica que possibilitou suas diversas vitórias.
É necessário levar em conta que, o superior treinamento asteca e a destreza com
que executavam sua tática tinham influência limitada. Estes fatores se aplicavam às forças
astecas, porém, como foi visto, muitas das batalhas eram combatidas com elevado percentual
de tropas de diversas províncias tributárias, ou seja, tropas estrangeiras. Foi o sistema de do-
minação asteca que permitiu que eles se utilizassem com grande frequência de enorme quan-
tidade de soldados dos povos conquistados para realizar mais conquistas. Para Santamarina
(2005), o império explorou ao máximo a “colaboração do dominado”, transferindo a este o
esforço de atingir os objetivos dos dominadores astecas.
Não se pode deixar de mencionar o eficiente uso que os astecas faziam de seu sis-
tema de inteligência. Graças a uma extensa rede de caravanas de mercadores (com caracterís-
ticas fortemente militares) que circulavam por todo o império, o imperador tinha acesso a am-
pla gama de informações. Estas informações permitiam à liderança asteca saber quais provín-
cias estariam mais propensas à rebelião, qual era a força de seus inimigos, quais seriam as
melhores rotas de acesso a um objetivo, etc. Os estrategistas astecas, ao realizar o planejamen-
to de uma campanha, tinham em mãos uma quantidade de subsídios muito maior do que a de
qualquer adversário.
Por fim, o aspecto da arte da guerra mais habilmente conduzido pela civilização
asteca foi o logístico. A habilidade logística asteca, superando as limitações tecnológicas pre-
sentes na Mesoamérica, permitiu que conseguissem deslocar enormes massas humanas a pé
através de estradas precárias e ainda fossem capazes de derrotar inimigos que lutavam em seu
próprio território. O sistema de domínio asteca impunha o auxílio das províncias conquista-
das, permitindo que tal esforço logístico fosse possível. Para Davies (1987, p. 189), sendo as
táticas astecas rudimentares, o seu principal mérito consistia menos em efetuar grandes ma-
nobras militares em campo de batalha do que em deslocar e dispor grandes massas humanas,
mesmo a enormes distâncias, de forma a obter sempre a vantagem numérica.
5.2 Razões que levaram à derrota
Dada a capacidade asteca de infligir esmagadoras vitórias a seus adversários, é
surpreendente a maneira como o império desabou diante de invasores estrangeiros muito me-
nos numerosos. Diversos aspectos podem ter contribuído para tal destino.
83
Uma explicação comumente dada é a do fatalismo dos indígenas, que teriam su-
cumbido diante dos invasores por considerá-los divindades. O dúbio comportamento de Moc-
tezuma II ao abrir as portas de Tenochtitlán àqueles que viriam a conquistá-la aparentemente
corrobora esta explicação. Sem embargo, o comportamento ambicioso e destrutivo dos espa-
nhóis em seu percurso até Tenochtitlán não condizia com o que era esperado de divindades;
logo, é muito pouco provável que os nativos, especialmente os líderes, fossem ingênuos a tal
ponto. Como discutiu-se em capítulo anterior, tal explicação seria um misto do paradigma
asteca de reconstrução histórica, que buscou explicações para o colapso de sua civilização;
com a influência de uma historiografia eurocêntrica tendencioso a subestimar o desenvolvi-
mento cultural das sociedades pré-colombianas.
Uma explicação muitas vezes ignorada é a influência da época do ano em que os
espanhóis chegaram à Tenochtitlán. Viu-se que o calendário militar mesoamericano era con-
dicionado ao ciclo da agricultura. Os europeus chegaram à capital asteca antes do fim do perí-
odo de colheitas, justamente quando a maior parte da população encontrava-se envolvida com
a atividade agrícola e os armazéns ainda estavam vazios. Os astecas não temiam invasões du-
rante este período porque os demais povos mesoamericanos também estavam submetidos às
mesmas limitações. Os astecas foram pegos desprevenidos diante de um inimigo que não de-
pendia da agricultura.
O recebimento dos invasores em sua capital sem resistência juntamente com a dis-
seminação dos feitos dos poderosos estrangeiros fez com que os povos conquistados perce-
bessem uma fraqueza no império. Sabendo-se que o sistema de domínio asteca baseava-se
enormemente na percepção do poder, graças à essa percepção de fraqueza, diversas províncias
viram a oportunidade de se livrar de suas obrigações tributárias. O fluxo de tributos essenciais
à sobrevivência de Tenochtitlán foi minguando gradativamente. Outra consequência ainda
mais impactante é o fato de que, perdendo aliados e tributários, os astecas contavam com cada
vez menos tropas aliadas disponíveis. Estes acontecimentos, agravados pelo fato de boa parte
de sua população estar ainda envolvida com a atividade agrícola, fizeram com que a maior
vantagem asteca, a superioridade numérica, fosse consideravelmente afetada (HASSIG,
1988).
A ajuda nativa aos espanhóis é frequentemente citada como fundamental à sua vi-
tória. De fato, esta ajuda foi fundamental aos conquistadores, mas não necessariamente pelas
tropas fornecidas pelos aliados. Relatos de cronistas dão conta que estes nativos não se com-
prometiam de todo com o combate, abandonando os espanhóis frente à primeira adversidade
(Davies, 1987). A ajuda de povos nativos mostrou-se mais útil no campo logístico do que no
84
tático. O principal exemplo de apoio logístico foi logo após o episódio conhecido como noche
triste, quando tendo quase sido dizimados, os espanhóis conseguiram refúgio em Tlaxcala,
onde puderam se recompor.
Outra explicação muito difundida é a da superioridade tecnológica espanhola.
Dentre as novidades trazidas pelos espanhóis estariam as armas de fogo, bestas, espadas de
aço e navios a vela; e também animais desconhecidos dos nativos, como cavalos e cães de
guerra. Segundo esta explicação, as armas de fogo e a cavalaria, em especial, seriam os ar-
mamentos que teriam definido a guerra em favor dos conquistadores.
Hassig (1988, p. 236-8) enfatiza o efeito que tanto os canhões quanto os mosque-
tes tinham no combate em campo aberto graças a sua capacidade de desfazer as formações
astecas. No entanto, também afirma que estes armamentos, mesmo tendo proporcionado
imensa vantagem aos espanhóis nas primeiras batalhas, tenderam a tornar-se menos efetivos
gradualmente por dois motivos. Primeiramente, pelo fato de os nativos gradativamente perde-
rem o espanto que tiveram no primeiro contato com estrondosas armas. Os nativos não tarda-
ram a notar que, apesar de produzirem assustador ruído, sua precisão e cadência de tiro deixa-
vam a desejar. Com o tempo, os astecas aprenderam a mitigar seus efeitos e passavam a des-
viar-se da linha de tiro quando percebiam que o disparo era iminente. Em segundo lugar, gra-
ças à ausência de fontes de fornecimento de pólvora e munição, o poder de fogo espanhol não
demorou a tornar-se escasso.
Davies (1987, p. 190-1) enfatiza que o efeito de armamento superior não era deci-
sivo por si só. Como exemplo, cita a Batalha de Otumba, que foi o ponto de inflexão da con-
quista, logo após os espanhóis terem sofrido inúmeras baixas durante a noche triste. Os con-
quistadores foram vitoriosos na Batalha de Otumba, mesmo possuindo quase nenhuma arti-
lharia, somente 33 cavalos debilitados e apenas treze besteiros. Para Davies, a capacidade dos
espanhóis em dominar a batalha em campo aberto se deveria mais à qualidade superior de
armamentos convencionais como a espada. A espada de aço espanhola, mais resistente, leve e
manejável que a asteca; permitia que um conquistador pudesse despachar um nativo após o
outro com ágeis golpes, antes mesmo que o guerreiro asteca pudesse levantar sua pesada es-
pada para aplicar o golpe.
Os navios a vela (bergantins) tiveram sua parcela de contribuição na fase final da
guerra. Eles garantiram a efetividade do sítio imposto a Tenochtitlán, ao bloquear esta ilha e
impedir a chegada de suprimentos por canoas. Apesar do uso de canoas para desembarque de
tropas e mantimentos em algumas campanhas anteriores (HASSIG, 1988), não existem relatos
confiáveis de que os astecas estivessem preparados para a guerra no ambiente naval.
85
As táticas empregadas também ajudam a explicar o resultado do confronto. A
principal tática asteca baseava-se no emprego de formações abertas. No entanto, formações
abertas são ineficazes contra cargas de cavalaria e contra infantaria mais densamente equipa-
da, o que era justamente o caso dos espanhóis. A utilização de formações mais cerradas não
chegou a ser utilizada pelos astecas, talvez por temerem tornarem-se alvos mais fáceis para a
artilharia (HASSIG, 1988). Hassig (1988) afirma que os astecas provavelmente tentaram ado-
tar táticas que minimizassem o efeito da cavalaria e da infantaria mais densa, porém, isto exi-
giria novo treinamento de suas tropas e os astecas definitivamente não tiveram tempo para tal.
Os astecas, apesar de executar muito bem as manobras já conhecidas na Mesoamérica, eram
taticamente pouco inventivos. A inabilidade asteca para adaptar-se ao novo desafio mostrou-
se crucial em campo de batalha.
Davies (1987) acrescenta ainda que, durante a batalha, a disciplina e liderança in-
ferior dos nativos prejudicava decisivamente seu desempenho. Os cronistas espanhóis admi-
ravam enormemente a bravura asteca em combate, mas constatavam que seu moral dependia
fortemente de uma vitória rápida, tendendo a dispersão e a fuga diante de maiores adversida-
des.
Considerando-se ainda a maneira como a vitória militar era definida na Mesoamé-
rica Pós-Clássica, pode-se citar dois grandes fatores influenciadores da concepção asteca do
fenômeno da guerra: a organização social e o sistema de dominação.
A organização social asteca e sua rígida divisão de classes fez com que o desem-
penho em batalha fosse uma das raras alavancas sociais, o que, sem dúvidas, era um grande
fator motivador para o combate. Porém, o sistema de mérito militar, baseado na captura de
prisioneiros de guerra, fez com que, a menos a nível individual, o combate não fosse voltado
para a aniquilação do inimigo.
A arte da guerra asteca, apesar de ter aspectos mais pragmáticos quando necessá-
rio, tinha um forte componente ritualístico. A realização de um combate onde a captura de
prisioneiros valia mais do que a sua morte tinha grande importância ritual e contribuía para a
ascensão social do guerreiro que conseguisse tal façanha. Entretanto, estava longe de ser efi-
ciente. Enquanto os astecas envidavam enormes esforços para capturar um prisioneiro, os
espanhóis eliminavam oponentes em massa sem maiores preocupações. Espanhóis e astecas
combatiam guerras diferentes.
O sistema de dominação asteca, buscando prioritariamente o recebimento de pa-
gamento de tributo ditava um combate que não oferecia nem a aniquilação do inimigo (pois
dependeria de sua mão-de-obra) nem a destruição de suas cidades (para conservar seu poten-
86
cial produtivo). Ou seja, o sistema de dominação, aliado também ao paradigma de ênfase na
captura de prisioneiros, resultou na formação de uma concepção de guerra que não previa a
aniquilação completa do adversário. A prática da guerra total, no sentido clausewitziano, era
inexistente para os mesoamericanos. Sob mais este aspecto, espanhóis e astecas combatiam
guerras distintas.
Vale ressaltar, como atesta Davies (1987), que no séc. XVI a superioridade militar
europeia não se fez valer somente na América, mas também em outros confrontos em diversas
partes do mundo. Os exércitos da Europa renascentista evoluíram sobremaneira nesta era dou-
rada do Velho Mundo. Os europeus, estando mais acostumados a ideia de “guerra total”, ha-
viam construído uma máquina de guerra extremamente eficiente; e os espanhóis, em especial,
não tendo sofrido uma única derrota militar havia pelo menos um século e meio, eram os me-
lhores guerreiros de seu tempo, oferecendo poucas chances aos astecas, que não conseguiram
adaptar-se a um tipo de guerra que desconheciam.
87
REFERÊNCIAS
ADAMS, Richard E. W. Prehistorican Mesoamerica. ed. rev. Norman: University of Okla-homa Press, 1991. BLANTON, Richard E. et al. Ancient Oaxaca. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. CLENDINNEN, Inga. Ambivalent conquest: Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. CONNELL, Evan S. The Aztec treasure house. New York: Counterpoint, 2001. DAVIES, Nigel. The Aztecs: a history. London: Macmillan, 1973. ______. The Aztec Empire. the Toltec ressurgence. Norman: University of Oklahoma Press, 1987. ________. The kingdoms of ancient Mexico. DE LAS CASAS, Bartolomé. A short account of the destruction of the Indies. London: Penguin Books, 1992. DÍAZ DE CASTILLO, Bernal. The conquest of the New Spain. London: Penguin Books, 1963. GILLESPIE, Susan. The Aztecs kings. Tucson: University of Arizona Press, 1989. HASSIG, Ross. Aztec warfare: imperial expansion and political control. Norman: University of Oklahoma Press, 1988. ______. War and society in ancient Mesoamerica. XXX: University of California Press, 1992.
LEÓN-PORTILLA, Miguel. Disquisiciones sobre un gentilico. Estudios de Cultura Náhuatl 31: 307-313, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México D.F, 2000.
______. The broken spears: the account of the conquest of Mexico. ed. rev. e ampl. Bos-ton: Beacon Press, 1962. ______. Aztec thought and culture: a study of the ancient Nahuatl mind. Norman: Uni-versity of Oklahoma Press, 1963. MANN, Charles C. 1491: new revelations of the Americas before Columbus. New York: Vin-tage Books, 2006. MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. Manual de Metodologia de Pesquisa no Direito: atualizado de acordo com as últimas normas da ABNT. São Paulo: Saraiva, 2003.
88
MONTORO, Gláucia Cristiani. Dos livros advinhatórios aos códices coloniais: uma leitura de representações pictoriais mesoamericanas. 2001. 77f. Dissertação (Mestrado)-UNICAMP, Campinas, 2001. ______. Memórias fragmentadas: novos aportes à história de confecção e formação do Códice Telleriano Remensis. Estudo codicológico. 2008. 176 f. Tese (Doutorado)-UNICAMP, Campinas, 2008. NEVES, Walter. Origem do homem nas Américas: fósseis versus moléculas? In: CARVA-LHO, Cláudia Rodrigues; SILVA, Hilton (Org.) Nossa Origem: O povoamento da América: Visões multidisciplinares. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006. p. 45-76. NOVO, Salvador. The war of the Fatities and other stories from Aztec history. Austin: University of Texas Press, 1994. RESTALL, Matthew. Seven myths of the Spanish conquest. New York: Oxford University Press, 2003. RUGGIERO, Romano. Mecanismos da conquista colonial, São Paulo : Perspectiva, 1973. SANTAMARINA, Carlos. El sistema de dominación azteca: el império tepaneca. 2005. 642f. Tese (Doutorado) Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005. SHEETS, Payson. Warfare in ancient Mesoamerica: a summary view. In: BROWN, Kathryn; STANTON, Travis (coords.). Ancient Mesoamerican warfare. Oxford: Altamira Press, 2003. p. 287-302. SOUSTELLE, Jacques. Daily life of the Aztecs. California: Stanford University Press, 1961. THOMAS, Hugh. Conquest: Montezuma, Cortés, and the fall of old Mexico. New York: Touchstone, 1993. TODOROV, Tzvetan. A conquista da américa: a questão do outro. São Paulo: Martins Fon-tes, 2011. TOWNSEND, Richard F. The Aztecs. London: Thames and Hudson, 1992. WOOD, Robert D. A travel guide to archaeological Mexico. New York: Hastings Houses Publishers, 1979.
89
GLOSSÁRIO
Amanteca: Artesão.
Calmecac: Escola destinada primariamente aos nobres.
Calpixque: Coletor de impostos.
Calpulli: Distrito, bairro.
Chichimeca: Bárbaros. Tribos menos civilizadas oriundas do norte.
Chinampa: “Jardins flutuantes”. Porções de terra mantidas unidas por madeira, vime e raízes
de plantas aquáticas. Utilizadas para atividade agrícola nas regiões lacustres do México.
Cihuacoatl: Primeiro-ministro. Principal conselheiro do imperador. Era o segundo da hierar-
quia política asteca.
Cuacuahtin: Ordem militar da águia.
Cuahchic: “Cabeça raspada”. Ordem militar de elite no exército asteca.
Cuahpilli: Plebeu elevado à condição de nobre.
Cuauhyahcatl: “Grande capitão”. Grau obtido após cinco capturas de prisioneiros de guerra,
sendo que um dos prisioneiros deve ser oriundo de região com grande reputação militar.
Ehuatl: Tipo de armadura nos moldes de uma túnica.
Huitzilopochtli: Deus da guerra e patrono dos astecas.
Ichcahuipilli: Equipamento de proteção corporal. Cota de algodão compactado.
Macuahuitl: Espada asteca de madeira com lâminas de obsidiana.
90
Maceualli: Cidadão comum livre. Plebeu.
Nahuatl: Língua nativa falada pelos astecas e diversos outros povos indígenas no México.
Ocelomeh: Ordem militar do jaguar.
Otontzin: Ordem militar de elite do exército asteca. Também conhecidos como otomís.
Pilli: Nobre hereditário.
Pochteca: Comerciante. Mercador.
Quetzalcoatl: “Serpente plumada”. Uma das principais e mais populares divindades da Me-
soamérica.
Tecpan: Palácio.
Tecuhtli: Dignitários. Nobres que tinham altos postos na administração militar, civil ou reli-
giosa asteca. Membros da alta nobreza.
Telpochcalli: Escola destinada primariamente aos plebeus.
Telpochyahqui: “Jovem líder” ou “jovem capitão”. Jovem que capturou seu primeiro prisio-
neiro sem ajuda.
Tematlatl: Funda.
Tepoztopilli: Lança. Alabarda.
Tequihuah: “Guerreiro veterano”. Título conquistado após a quarta captura de prisioneiros
de guerra.
91
Tiachcauh: “Líder dos jovens” ou “mestre dos jovens”. Título conquistado após a terceira
captura de prisioneiros de guerra.
Tlacateccatl: “General”. Um dos quatro membros do Conselho Supremo.
Tlacochcalcatl: Comandante-geral do exército. Um dos quatro membros do Conselho Su-
premo.
Tlacoti: Escravo.
Tlahuitolli: Arco asteca.
Tlahuiztli: Armadura.
Tlamani: Captor. Título genérico concedido ao guerreiro que já capturou algum prisioneiro
de guerra.
Tlatoani: Imperador, soberano.
Yaochimalli: Escudo de guerra.
Yaomitl: Flecha.