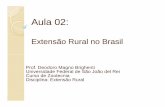ANÁLISE SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS
Transcript of ANÁLISE SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGROEC OLOGIA
EDGAR ALVES DA COSTA JUNIOR
ANÁLISE SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS: O caso do Projeto
“Agrofloresta: Produzir e Conservar”
CONCÓRDIA 2011
1
EDGAR ALVES DA COSTA JUNIOR
ANÁLISE SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS: O caso do Projeto
“Agrofloresta: Produzir e Conservar”
Monografia apresentada como exigência para a obtenção do título de Bacharel, do Curso de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agroecologia - DRS, ministrado pela Universidade do Contestado – UnC Concórdia, sob orientação do professor Valdemar Arl e Co-orientação da professora Fátima Conceição Marques Piña Rodrigues.
CONCÓRDIA 2011
2
ANÁLISE SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS
EDGAR ALVES DA COSTA JUNIOR
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação pela Banca Examinadora para a obtenção do Título de:
Bacharel em Desenvolvimento Rural Sustentável e Agr oecologia.
E aprovada na sua versão final em _______ (data), atendendo às normas da legislação vigente da Universidade do Contestado e Coordenação do Curso de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agroecologia.
_____________________________________________ Nome do Coordenador do Curso
BANCA EXAMINADORA: _________________________ Nome do Presidente _________________________ Membro _________________________ Membro
3
Dedico este trabalho ao meu Pai Edgar (in memorian), mesmo com seu rostinho às vezes bravinho, porque escolhi um caminho do qual ele experimentou por aproximadamente 20 anos e sentiu que os
espinhos incomodaram... O da articulação e mobilização, pelo coração! Obrigado por ter sempre acreditado.
Dedico também a toda a minha família, Márcio, Nei, Hélio, Anderson, Adam, Letícia (quem diria, agora você já tem 12 anos, que orgulho!),
Lena (companheira de grandes aventuras). E Gisele, a mãe de coração. Obrigado a Todos por fazerem parte da minha vida.
A Todos/as meus Amigos/as.
4
AGRADECIMENTO
Obrigado meu Deus! Nessa caminhada de lutas, muitas vezes sozinho nas andanças da
vida. Tu oh meu Deus, sempre foi o meu refúgio e meu maior conselheiro. Obrigado pelos
aprendizados e pelo amadurecimento que a passos lentos, pacientemente, venho
aprendendo a ter.
Quero agradecer a primeiramente a Todo/as que acreditaram em mim.
Em especial agradeço pelas oportunidades de sempre cruzar com pessoas boas em meu
caminho, que me impulsionam a voar.
Agradeço aqui algumas pessoas em especial:
A você companheira Lena Keferstein, pela paciência, pelo apoio e por cobrar resultados
assim. Se não fosse você, seria mais difícil esse caminhar.
Agradeço a vocês queridas professoras, Eliana C. Leite, Fátima C. M. P. Rodrigues, mesmo
reconhecendo nossas limitações, pelas oportunidades e pelas orientações. Foi um prazer
estar com vocês no projeto Agrofloresta Ipanema: Produzir e Conservar. Plantamos
sementes e ficará marcado para sempre.
Agradeço a pessoas queridas que tanto me instruíram e colaboraram para meu crescimento
profissional. A vocês, Ana Rebeschini e Armin Deitenbach.
Agradeço ao meu orientador professor Valdemar Arl pela paciência e pelas orientações.
Agradeço também, a Universidade do Contestado, em nome das professoras Arlene
Aguarezi e Neide Dalmagro.
5
RESUMO
A partir do ano 2003, intensificaram-se ações e apoios voltados à agricultura familiar no Brasil e ao tema da agroecologia. A partir de então, foi formulada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER. O projeto “Extensão Inovadora em Modelos Sustentáveis de Produção: Sistemas Agroflorestais e Manejo de Produtos Florestais Não-madeireiros – CNPq 551944/2007-2”, executado na região de Sorocaba, Estado de São Paulo, partiu da percepção das dificuldades enfrentadas no estabelecimento de um trabalho de extensão rural voltado à agroecologia para que, fosse capaz de gerar a disseminação de experiências e aprendizados de forma eficaz e autônoma, ampliando assim o público potencialmente atingido pelas ações. O objetivo deste trabalho foi analisar se a execução do projeto seguiu os princípios e as diretrizes da política, identificando os problemas relacionados com a execução da ATER descentralizada investigando se o chamado sistema descentralizado gera resultados contínuos e permanentes, buscando a partir disso, propor alternativas para a execução de ATER a partir dos aprendizados obtidos no projeto. Os resultados demonstraram que o processo desenvolvido foi muito rico, no que tange a construção do conhecimento relacionado a sistemas sustentáveis de produção e ATER com a formação de jovens enquanto agentes de extensão rural. Por outro lado, a insuficiência da ATER, a crescente demanda, a falta de estruturas e recursos relacionados e principalmente, a falta de continuidade e monitoramento pós-projeto, enfraquece todo o potencial trabalhado dentro da comunidade.
Palavras-chave: Assistência Técnica e Extensão Rural, Agroecologia, Sistemas Agroflorestais, Construção do Conhecimento.
6
ABSTRACT
Since the year 2003, actions and support targeted at family farmers in Brazil and at the topic of agroecology were itensified. As a consequence, the National Policy on Technical Assistance and Rural Extension – PNATER was formulated. The project "Innovative Extension in Sustainable Production: Agroforestry Systems and Management of Non-timber Forest Products - CNPq 551944/2007-2," executed in Sorocaba, in the state of São Paulo, parted from the perception of the difficulties in establishing a rural extension work aimed at sustainable agriculture, in order to be able to generate the dissemination of experiences and learning effectively and autonomously, thus expanding the public potentially affected by these actions. The objective of this study was to analyze whether the execution of the project followed the principles and guide lines of the policy, identifying problems related to the implementation of decentralized ATER, investigating whether the so-called decentralized system generates continuous and permanent results, thus seeking to propose alternatives to the execution of ATER derived from the knowledge obtained from the project. The results demonstrated that the developed process was very rich with respect to construction of knowledge related to sustainable production systems, to the formation of youth as extension agents. On the other hand, the inadequacy of ATER, the increasing demand, the lack of structures and related funds and especially the lack of continuity and post-project monitoring, weakens the the whole potential developed within the community.
Keywords: Technical Assistance and Rural Extension, Agroecology, Agroforestry, Construction of Knowledge.
7
INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Localização da região de Iperó no Estado de São Paulo e detalhe da distribuição dos lotes e famílias envolvidas no Projeto Agrofloresta, no Assentamento Ipanema, Iperó- SP (Propriedades assinaladas em vermelho no mapa). ................. 33
Figura 2: Fluxograma do projeto ............................................................................... 38
Figura 3: Visita de Troca de Saberes e Experiências. Esq. Paraty/RJ e Dir. Barra do Turvo/SP ................................................................................................................... 40
Figura 4: Áreas com Adubação Verde, sendo demarcadas as parcelas ................... 41
Figura 5: Oficina de Desenho de Sistemas Agroflorestais e detalhe do jogo elaborado (Eco-cartas) .............................................................................................. 41
Figura 6: Áreas Demonstrativas Implantadas............................................................ 42
Figura 7: Números de Atividades Realizadas por Áreas Temáticas .......................... 47
8
INDICE DE TABELAS
Tabela 1: Alguns elementos para a comparação entre tipos de extensão .................. 22
Tabela 2: Matriz Lógica do Projeto ..................................................................................... 44
Tabela 3: Análise FOFA do projeto ..................................................................................... 55
9
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 10
2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................... .................................................. 13
2.1. DEFINIÇÃO DE AGROECOLOGIA E SISTEMAS AGROFLORESTAIS ..... 13 2.2. HISTÓRICO E PRESSUPOSTOS SOBRE ATER ....................................... 15 2.3. A NOVA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER ............. 18 2.4. DESAFIOS E CRÍTICAS DA NOVA ATER .................................................. 22
3. METODOLOGIA DA ANÁLISE ............................ .............................................. 26
3.1. OBJETO DE ESTUDO ................................................................................. 26 3.2. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ..................................................... 26 3.3. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES .................................................................. 29
4. O PROJETO: “EXTENSÃO INOVADORA EM MODELOS SUSTENTÁV EIS DE PRODUÇÃO: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E MANEJO DE PRODU TOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS” ....................... ............................................... 30
4.1. ÁREA DE ESTUDO E PÚBLICO DO PROJETO ......................................... 32 4.2. METODOLOGIA DO PROJETO .................................................................. 34 4.3. RESUMO DO PROCESSO REALIZADO EM CAMPO ................................ 38
5. ANÁLISE ........................................... ................................................................. 44
5.1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PROJETO ................................................... 44 5.2. O CUMPRIMENTO DOS PRINCIPIOS DA PNATER ................................... 48 5.2.1. O Primeiro Princípio .................................................................................. 49 5.2.2. O Segundo Princípio ................................................................................. 50 5.2.3. O Terceiro Princípio .................................................................................. 50 5.2.4. O Quarto Princípio .................................................................................... 51 5.2.5. O Quinto Princípio ..................................................................................... 52 5.2.6. O Sexto Princípio ...................................................................................... 53 5.3. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO............................................................... 54 5.3.1. Forças ....................................................................................................... 56 5.3.2. Oportunidades .......................................................................................... 57 5.3.3. Fraquezas ................................................................................................. 59 5.3.4. Ameaças ................................................................................................... 62 5.3.5. Ambiente Interno (Forças e Fraquezas) ................................................... 65 5.3.6. Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças) ........................................ 66
6. CONCLUSÃO ......................................... ............................................................ 67
BIBLIOGRAFIA ...................................... .................................................................. 69
10
1. INTRODUÇÃO
A partir do ano 2003, intensificaram-se ações e apoios voltados à agricultura
familiar no Brasil e ao tema da agroecologia. Desde então, através de um processo
participativo foi formulada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural – PNATER, (MDA; SAF; DATER, 2004), coordenada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA, a partir da criação da Secretaria de Agricultura
Familiar – SAF e do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural -
DATER.
Com base na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural -
PNATER existem inúmeras ações e diretrizes estabelecidas, voltadas ao apoio da
agricultura familiar e agroecologia, estando entre estas diretrizes a criação de um
sistema descentralizado de ATER. Desta forma, diversos editais são lançados a
cada ano.
O tipo de ATER atualmente desenvolvido, chamado de “descentralizado” pelo
qual apresenta inúmeras vantagens, entre elas a questão do respeito aos valores
culturais, gênero, estabelecido de forma participativa e endógena, entre outros
assuntos pertinentes, ao mesmo tempo, foram identificados problemas em projetos
seguindo o sistema descentralizado de ATER, principalmente pela falta de
continuidade pós-projeto visto que, tal questão está prevista nas diretrizes desse
instrumento que é a própria PNATER.
Esses exemplos de aparentes problemáticas relacionadas a ATER
descentralizada tornam necessário de colocar a pergunta se a ATER
descentralizada gera os resultados esperados, principalmente no sentido de
continuidade pós-projeto e se não, porque não? Analisando esse tema, nos permite
identificar meios para melhorar a execução atual de ATER e com isso atingir as
metas conforme previstas na PNATER.
O projeto “Extensão Inovadora em Modelos Sustentáveis de Produção:
Sistemas Agroflorestais e Manejo de Produtos Florestais Não-madeireiros – CNPq
551944/2007-21”, partiu da percepção das dificuldades enfrentadas no
1 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT), a Secretaria da Agricultura Familiar do
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SAF/MDA) e a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
11
estabelecimento de um trabalho de extensão rural voltado à agroecologia para que,
fosse capaz de gerar a disseminação de experiências e aprendizados de forma
eficaz e autônoma, ampliando assim o público potencialmente atingido por estas
ações, através do processo denominado de construção do conhecimento.
Seu principal objetivo foi trabalhar a criação de uma proposta metodológica
inovadora de ATER, voltado a apoiar a transição agroecológica no Assentamento
Ipanema, que pudesse gerar a efetiva participação e comprometimento dos
envolvidos. Desta forma, foram implantadas áreas modelo de Sistemas
Agroflorestais - SAFs voltados a diferentes finalidades, e exemplos de uso
sustentável de Produtos Florestais Não-Madeireiros (PFNM).
Analisando os objetivos e as metodologias propostas, esse projeto é um bom
exemplo de ATER descentralizada, fato também, que faz parte do edital entre o
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA em parceria com o Ministério da
Ciência e Tecnologia – MCT e o Conselho de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq, como parte das estratégias previstas na PNATER, parece
oportuno usar ele como base na pesquisa sobre os resultados de ATER.
O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é analisar a eficiência do
sistema de ATER com ênfase no projeto, avaliando se os objetivos propostos foram
atingidos e como vem ou não se dando a continuidade por parte do público
beneficiário do projeto. A pergunta chave a ser respondida com base no projeto
acima é: O sistema descentralizado de ATER prevista na PNATER gera resultados
contínuos e permanentes para os beneficiários conforme vem sendo executado na
prática?
Mais especificamente os objetivos desse trabalho são:
1. - Analisar se a execução atual da PNATER segue os princípios e as diretrizes
da política;
2. - Identificar problemas relacionados com a execução de ATER
descentralizada;
3. - Investigar se a ATER descentralzada como vem sendo executada
atualmente traz resultados contínuos e permanentes; e
(SESAN/MDS), por intermédio do CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, no âmbito da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, lançam o Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN- Nº 36/2007: Seleção Pública de Propostas para Apoio a Projetos de Extensão Tecnoló gica Inovadora para Agricultura Familiar .
12
4. - Propor alternativas para a execução de ATER descentralizada.
Visando atingir tais objetivos, este trabalho de conclusão de curso, vai
pesquisar bibliografias e documentos voltados ao tema, assim identificando os
principais problemas ou lições apontadas, como também, descrever o processo de
ATER desenvolvido no trabalho de extensão rural voltado a construção do
conhecimento agroecológico na comunidade do assentamento Ipanema, município
de Iperó, com ênfase no projeto: CNPq 551944/2007-2, do qual se pretende analisar
os principais resultados obtidos com base em análise avaliativa, crítica e propositiva
e assim ao final, propondo alternativas voltadas à assistência técnica e extensão
rural, com base no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural –
PNATER elaborado através de consulta pública pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário – MDA. O trabalho será desenvolvido da seguinte forma:
No capitulo seguinte serão definidos os termos Agroecologia e Sistemas
Agroflorestais antes de ser apresentada uma síntese sobre o histórico da
Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil. Na seqüência, será feita uma
descrição do sistema atual de ATER, denominada de “Nova ATER Pública”, dando
ênfase aos conceitos de Agroecologia e Agricultura familiar, entre outros temas. Este
capítulo será concluído pelos desafios já identificados da nova ATER.
No Capitulo três será apresentada a metodologia da análise, seguida, no
próximo capitulo, da descrição do projeto objeto de análise, bem como, o processo
metodológico desenvolvido em sua execução. O capitulo cinco analisa os resultados
do projeto em comparação com a metodologia prevista e com os princípios da
PNATER para assim identificar no passo seguinte problemas na execução atual de
ATER. Na conclusão serão dadas sugestões para melhorar o sistema atual de
ATER.
13
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, serão definidos através de conceitos a Agroecologia e os Sistemas
Agroflorestais, temas trabalhados no projeto objeto de análise. Em seguida será
apresentado o sistema brasileiro de ATER, começando por sua criação e o
desenvolvimento no passado, explicando em seguida o sistema atual a partir da
nova política de ATER e, terminando com a listagem por alguns desafios e
problemas identificados na literatura.
2.1. DEFINIÇÃO DE AGROECOLOGIA E SISTEMAS AGROFLORESTAIS
Em busca de uma alternativa até então ao modelo desgastante de produção
agropecuária baseada em pacotes tecnológicos na chamada agricultura moderna,
desde os anos 40 no Brasil, surge a Agroecologia, como um contraponto ao modelo
hegemônico de produção das últimas décadas, propondo modelos alternativos e
sustentáveis, com o objetivo de diminuir o impacto ambiental da produção, além de
assegurar uma maior estabilidade e autonomia ao agricultor familiar (EHLERS,
1996).
Caporal apud Kreutz et al. (2007) define a agroecologia como:
[...] base para construção do desenvolvimento rural Sustentável, independente das suas vertentes, que passa a ser entendida como uma ciência ou um conjunto de conhecimentos que ajudam no correto redesenho e o adequado manejo de agroecossistemas na perspectiva de sustentabilidade através de processo educativos e participativos do qual representam uma oportunidade para construir melhores vínculos entre os vários atores e qualificam o conhecimento mútuo.
Para Caporal e Costabeber (2004), a partir da contribuição conceitual sobre o tema,
ela está definida em partes como sendo:
[...] um enfoque teórico e metodológico que, lançando mão de diversas disciplinas científicas, pretende estudar a atividade agrária sob uma perspectiva ecológica. Sendo assim, a Agroecologia, a partir de um enfoque sistêmico, adota o agroecossistema como unidade de análise, tendo como propósito, em última instância, proporcionar as bases científicas (princípios, conceitos e metodologias) para apoiar o processo de transição do atual modelo de agricultura convencional para estilos de agriculturas sustentáveis.
14
Dentro do universo da agroecologia, temos pautados os temas como
agricultura orgânica, permacultura, agricultura biodinâmica, agricultura de base
ecológica, sistemas agroflorestais, entre outros diversos temas.
Nos Sistemas Agroflorestais – SAFs ou “Agrofloresta”, termo comumente
chamado no Brasil, espécies lenhosas, herbáceas e agrícolas são cultivadas juntas,
algumas vezes escalonadas no espaço e no tempo, adotando-se práticas
diversificadas de manejo que geram a conservação dos recursos naturais
(TORQUEDIAU, 1989). Nesse sistema produtivo os benefícios resultam das
interações ecológicas e econômicas (LUDGREN; RAINTREE, 1982 e MACDICKEN;
VERGARA, 1990). Embora as agroflorestas busquem a semelhança com a
natureza, adotando uma estrutura sucessional análoga aos processos naturais
(VIVAN, 2000), no entanto, define como sendo em essência sistemas agrícolas de
produção no qual o homem, os animais e o ambiente se integram (CAPRA, 1996).
De acordo com Podadera et al. (2009), Farrell e Altieri (2002), sistema
agroflorestal é um nome genérico utilizado para descrever sistemas tradicionais de
uso da terra, nos quais as árvores são associadas no espaço e/ou tempo com
espécies agrícolas anuais e/ou animais. Este tipo de sistema apresenta diversas
vantagens ambientais e sócio-econômicas e preenche muitos requisitos da
sustentabilidade (TORQUEBIAU, 1989) tais como o eficiente uso dos recursos
naturais, proteção do solo, da hidrologia e da biodiversidade (FARRELL; ALTIERI,
2002), além de aumento na segurança alimentar para o produtor devido à
diversificação na produção e conseqüente possibilidade de diversificação de renda.
Nesse contexto, os sistemas agroflorestais (SAFs) têm sido estudados e
implantados em diversos locais do mundo e do Brasil, mas ainda em escala
incipiente. Na sua concepção embora haja uma redução da lucratividade por
unidade agrícola, por outro lado há a minimização dos impactos ambientais. De
acordo com Altieri (1989) um dos desafios em sistemas agroecológicos é o
redirecionamento da análise econômica de forma a contabilizar o uso dos recursos
naturais e refletir o real valor da produção na sustentabilidade agrícola.
A mudança de paradigma por parte de agricultores familiares, partindo de
sistemas convencionais de produção para outros com maior diversidade e baseados
em princípios agroecológicos, como os propostos por Altieri (1989), é difícil e requer
ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) efetivas e contínuas. Dessa
forma, primeiramente é necessário construir e implantar de forma participativa
15
modelos de SAFs, ajustar e desenvolver o manejo de PFNM adaptados às
realidades locais e regionais criando assim, áreas demonstrativas em sistemas
sustentáveis que possam servir de modelos replicáveis para pequenos
produtores/agricultores familiares. Simultaneamente, são necessárias medidas de
melhoria do sistema de ATER, para que estes agricultores familiares possam ser
permanente e efetivamente assistidos neste processo de transição.
A Agroecologia vem se constituindo como um enfoque alternativo tanto para
os estudos do desenvolvimento rural como para o estabelecimento de uma nova
forma de ver e entender o desenvolvimento agrícola na perspectiva da
sustentabilidade (CAPORAL; COSTABEBER, 2004).
Tais questões nos levam a concluir que, diante dos desafios impostos pela
sociedade em busca do desenvolvimento sustentável, visando transformar as
práticas convencionais do passado, Caporal (2003) instrui que:
[...] os aparatos públicos de extensão terão que transformar sua prática convencional para que possam atender às novas exigências da sociedade. A crise social e ambiental, gerada pelos modelos de desenvolvimento rural convencionais e de extensão, recomenda uma clara ruptura com o modelo extensionista baseado na Teoria da Difusão de Inovações e nos tradicionais pacotes da "Revolução Verde".
Estas colaborações ajudaram a traçar um retrato sobre a agroecologia
enquanto conceito no Brasil, servindo de referência para os Programas de
Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER que seguem as orientações da nova
Política Nacional de ATER, instituída no âmbito do Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA, que será comentada adiante, da qual é destacada pelos principais
atores, como sendo capazes, se levadas em consideração, de dar sustentação a um
efetivo processo de transição baseada nos princípios agroecológicos. (CAPORAL;
COSTABEBER, 2004).
2.2. HISTÓRICO E PRESSUPOSTOS SOBRE ATER
O desenvolvimento rural no Brasil e suas transformações, a partir dos
governos e suas políticas se iniciaram ainda na fase do Brasil imperial, criando o que
naquela época eram chamados de Institutos Imperiais de Agricultura, no final do
16
século 19 (CNATER, 2011). Desde então, a extensão Rural ou “Extensionismo”
sempre esteve presente nas fases do desenvolvimento agrícola e rural do país.
Os serviços de extensão rural se configuram enquanto política pública no
Brasil, quase 90 anos depois da criação dos Institutos Imperiais de Agricultura a
partir da criação da Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural do estado de
Minas Gerais, a ASCAR. Menos de 10 anos depois, essa associação já estava
presente na maioria dos estados do Brasil, chamada agora de Associação Brasileira
de Crédito e Assistência Técnica – ABCAR (CNATER, 2011). Esta iniciativa criou um
sistema nacional de ATER. Antes da criação da ABCAR a extensão rural teve um
caráter privado ou paraestatal; posteriormente, sendo reconhecida como pública
(MDA; SAF; DATER, 2004).
Dessa forma, o modelo de extensão rural chegou ao Brasil por volta dos anos
40 do século passado, período chamado de pós-guerra, com o objetivo de apoiar a
modernização da agricultura e a industrialização do país (MDA; SAF; DATER, 2004).
Entre as décadas de 1950 e 1960, a extensão rural teve início a partir do crédito
supervisionado, do qual levou conhecimento agrícola e de economia doméstica,
visando o bem estar das famílias. Com isso, esse processo se intensificou a partir
dos anos 60, com a chegada da então chamada revolução verde2 sendo direcionada
ao atendimento frente às demandas ao modelo urbano-industrial3 (CAPORAL;
COSTABEBER, 2004).
Logo após, a partir da década de 70 este tipo de ATER passou a propor
transferência de tecnologias a partir da modernização da agricultura. Este processo
culminou com a massificação do crédito direcionado para a produção de
“commodities” (CNATER, 2011). Neste mesmo período o processo foi estatizado,
2 A Revolução Verde pode ser caracterizada como um paradigma tecnológico derivado da evolução dos conhecimentos da química e da biologia, caracterizada fundamentalmente pela combinação de insumos químicos (fertilizantes, agrotóxicos), mecânicos (tratores e implementos) e biológicos (semente geneticamente melhoradas) que definiram uma trajetória tecnológica baseada no uso intensivo desses insumos. (ALBERGONI; PELAEZ, 2007)
3 Caporal et al. (2009) define como sendo um “modelo de desenvolvimento cuja viabilização necessitava que a agricultura cumprisse funções, entre as quais a de fornecedora de mão-de-obra e de consumidora de serviços e produtos industrializados, como as máquinas, os equipamentos, as sementes híbridas ou melhoradas, os agrotóxicos e fertilizantes químicos sintéticos, além de contribuir, pelas exportações, para o superávit da balança comercial. Esse modelo, que é fruto de decisões políticas, norteou a ação extensionista. Ao mesmo tempo, continua sendo responsável pela concentração da terra, pelo êxodo rural, pela baixa escolaridade no campo, pela redução da biodiversidade, pela poluição, pela contaminação dos alimentos, pela exclusão social, pela desvalorização do trabalho na agricultura, pelo empobrecimento no meio rural, entre outros problemas”.
17
implantando o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural –
SIBRATER (MDA; SAF; DATER, 2004).
Na década seguinte, a agricultura alternativa começou a aparecer a partir do
público beneficiário, do qual era valorizado o pequeno produtor e sua produção
diferenciada, menos dependente de insumos agrícolas. Porém, foi a partir da década
de 90, que o Brasil aprofundou o modelo político-econômico e com isso, o resultado
era o sucateamento do aparato estatal, sendo considerada esta década, como parte
da extensão perdida. O motivo se deu a partir da extinção pelo então presidente
Fernando Collor, do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural
(SIBRATER), pondo fim de vez a garantia e existência dos serviços públicos de
ATER no Brasil por parte do governo federal (MDA; SAF; DATER, 2004).
Diante dessas circunstâncias, na ausência do apoio federal, duas frentes
tomaram forma, voltadas à extensão rural, sendo uma, por parte de alguns estados
e municípios, que reestruturaram tais serviços criando novos meios de apoio ao
setor rural, como financiamentos e operacionalização dos serviços (CNATER, 2011),
e outra, não-governamental, principalmente através de ONGs (Organização Não-
Governamental) com apoio de entidades internacionais, dando inicio aos processos
alternativos de investigação/ação participante (FREIRE, 1983).
Neste mesmo período, os processos de redemocratização do campo e dos
movimentos sociais tomaram forma e se fortaleceram, cobrando do Estado, a
elaboração de política pública direcionada a agricultura familiar e aos povos
tradicionais, respeitando assim, toda a diversidade cultural brasileira. Em 1996 o
Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF foi
iniciado, sendo o primeiro programa voltado ao financiamento da produção da
agricultura familiar (KEFERSTEIN, 2009). Mesmo com esse programa, a crise que
se sucedeu após a extinção do SIBRATER nas entidades oficiais continuou (MDA;
SAF; DATER, 2004).
Após esse tempo de ociosidade, no ano de 2003, a primeira ação realizada foi
à transferência da competência da ATER pública do Ministério da Agricultura e
Abastecimento (MAPA), sob guarda da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) desde o fim da Embrater, para o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA). A seguir foi criado o Departamento de Assistência
Técnica e Extensão Rural (DATER), vinculado à Secretaria de Agricultura Familiar -
MDA (DIAS, 2007, pag. 16), sendo responsável pela elaboração da Política Nacional
18
de Assistência Técnica e Extensão Rural - a PNATER. Ela foi consolidada como
política pública a partir do ano de 2004, porém, somente foi instituída em Janeiro de
2010.
A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER foi
criada como uma proposta alternativa ao atual modelo de assistencialismo ocorrido
até final dos anos 80, após o modelo de extensão rural anteriormente adotado, cair
em quase extinção, principalmente no que se refere aos agricultores familiares que
ficaram sem acesso a informação, assessoria técnica, pesquisa, entre outras
questões.
Tanto para Kreutz et al. (2007) como para Lisita (2005), a extensão rural
passou por três fases. A primeira (1948-1960), chamada de “humanismo
assistencialista”, voltada à organização dos serviços de extensão rural oficial no
Brasil com intuito de aumentar a produtividade agrícola e, portanto, a renda das
famílias. A segunda (1964-1980), chamada de “difusionismo produtivista”, que
procurou estabelecer o que chamamos de modernização ou aprimoramento voltado
à produção industrial a partir dos pacotes tecnológicos modernizantes; e a última, já
por volta dos anos 80 até os dias atuais, tida como uma alternativa de se fazer
extensão rural, diante agora de uma possível percepção de crise no modelo de
desenvolvimento agrícola, chamado de “humanismo crítico”, trazendo uma nova
consciência crítica aos modelos das fases anteriores, usando métodos como
planejamento participativo, ente outras coisas.
2.3. A NOVA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER
A Lei de ATER nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, institui a Política Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e o Programa Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária
(PRONATER). A PNATER define os princípios e diretrizes que estabelecem as
formas como esta política deve ser implementada, inclusive, citando em seu
conteúdo, a questão da oferta de uma extensão pública, gratuita e de caráter
continuado (BRASIL, 2010), a partir de um processo descentralizado (MDA; SAF;
DATER, 2004). O PRONATER, por si só, estabelece ainda a forma de contratação
19
desses serviços através da dispensa de licitação e da realização das conferências
Nacional de ATER, tendo a primeira prevista para acontecer ainda em 2011
(CNATER, 2011).
São os beneficiários dessa nova Assistência Técnica e Extensão Rural
conforme estabelece a PNATER: Populações tradicionais de agricultores familiares,
assentados da reforma agrária, indígenas, extrativistas, povos da floresta,
ribeirinhos, quilombolas, pescadores, seringueiros, entre outros povos definidos
como beneficiários da Secretaria da Agricultura Familiar – SAF, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA (BRASIL, 2010).
A implementação da PNATER tem o objetivo maior de promover a
universalização do conhecimento no campo. Além disso, o objetivo deste tipo de
ATER pode ser mais bem evidenciado a partir de autores pioneiros nesta discussão:
(...) Ela tem o objetivo de alcançar um modelo de desenvolvimento socialmente eqüitativo e ambientalmente sustentável, adotando os princípios teóricos da Agroecologia como critério para o desenvolvimento e seleção das soluções mais adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada agroecossistema e do sistema cultural das pessoas envolvidas no seu manejo (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p.64).
Os serviços de ATER foram resgatados enquanto política pública voltada ao
meio rural, buscando aumentar sua abrangência, melhorando sua qualidade, com
inclusão social e produtiva (CAPORAL, 2009), segurança e soberania alimentar, a
partir do fortalecimento da agricultura familiar e da reforma agrária, promovendo com
isso o novo tipo de desenvolvimento rural, agora tido como sustentável, dando
prioridade à superação da extrema pobreza. (CNATER, 2011)
O elemento mais marcante da PNATER foi a sua clara opção pela
agroecologia como modelo sustentável de produção agrícola. Ficou evidente a
busca do desenvolvimento rural ou de sistemas de produção sustentáveis no meio
rural, assim contribuindo para a segurança e soberania alimentar, entre outros
elementos voltados ao desenvolvimento rural sustentável. No entanto, a lei n°
12.188/2010 não utiliza o termo agroecologia em sua nova redação, fazendo
referência apenas a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica.
Com isso, a ATER ganha uma nova dimensão, o seu papel é modificado, se
tornando uma lei institucionalizada no Brasil, passando a atuar agora com foco
voltado ao desenvolvimento rural sustentável, integrando o manejo adequado dos
recursos hídricos, atrelado a preservação do meio ambiente.
20
Além disso, a Lei 12.188/2010, que institui a lei de ATER em seu segundo
artigo no item um, fortalece a Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, como
sendo: “[...] serviço de educação não formal, de caráter continuado no meio rural,
que promove processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização [...]”
(BRASIL, 2010). Esta questão da continuidade é ainda evidenciada no artigo
terceiro, enquanto princípio da ATER que esta seja gratuita, com qualidade e de fácil
acessibilidade aos serviços de ATER. Mais adiante na lei, no artigo quarto, é
configurado como objetivo, o novo compromisso nesta continuidade, pois tem como
objetivo “[...] assessorar as diversas fases das atividades econômicas [...]” (BRASIL,
2010).
A lei de ATER reforça ainda que a forma de aplicação estão baseadas em
metodologias participativas, com enfoque multidisciplinar e intercultural e a
democratização da gestão da política pública (BRASIL, 2010), com ênfase em
processos de desenvolvimento endógeno, e de um paradigma baseado nos
princípios de agroecologia (MDA; SAF; DATER, 2004).
Chama à atenção no documento da PNATER o reconhecimento da
pluralidade dos agentes que trabalham com ATER, convocados a compor um
“sistema nacional descentralizado de ATER pública”, coordenado pelo
DATER/SAF/MDA e articulado por mecanismos de gestão social e financiamento
misto (várias instâncias governamentais, parcerias, fontes internacionais etc.). Isto
representa ao mesmo tempo o reconhecimento da incapacidade do Estado prover
exclusivamente os serviços e a diversidade que hoje caracteriza a extensão rural no
país. Este reconhecimento aponta para dois objetivos distintos: reestruturar o
aparato estatal e apoiar a iniciativa não governamental.
Neste sentido, a concepção da Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural – PNATER está fundamentada em aspectos considerados básicos
para promoção do desenvolvimento rural sustentável, pretendendo ser estabelecida
de forma sistêmica, articulando recursos humanos e financeiros a partir de parcerias
eficazes, solidárias e comprometidas com o desenvolvimento e fortalecimento da
agricultura familiar em todo território nacional, (MCT; CNPq; MDA; SAF; MDS;
SESAN, 2007).
Nesse sentido, visando facilitar entendimento quanto a essa nova face da
ATER no Brasil, a partir da colaboração de Caporal (2003), parece ser adequado
21
adotar-se o conceito de “Extensão Rural Agroecológica”, no que tange a execução
da política nacional, como sendo:
[...] um processo de intervenção de caráter educativo e transformador, baseado em metodologias de investigação-ação participante que permitam o desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos do processo buscam a construção e sistematização de conhecimentos que os levem a incidir conscientemente sobre a realidade, com o objetivo de alcançar um modelo de desenvolvimento socialmente eqüitativo e ambientalmente sustentável, adotando os princípios teóricos da Agroecologia como critério para o desenvolvimento e seleção das soluções mais adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada agroecossistema e do sistema cultural das pessoas implicadas em seu manejo.
Assim, podemos concluir que, para que o estado venha a assegurar a
abrangência e mecanismos de acesso às políticas públicas, especialmente junto aos
setores menos favorecidos do campo, a extensão rural pública continua sendo vista
como uma ferramenta fundamental para, tanto pela sua capilaridade, como pela
possibilidade de que, por meio desse mecanismo, o Estado possa alavancar
estratégias de desenvolvimento rural sustentável, com objetivos orientados pela
busca de equilíbrio social e sustentabilidade ambiental, objetos esses que não são
garantidos pelo mercado.
Quanto ao novo serviço público de extensão rural, espera-se que este seja
voltado àqueles setores da agricultura em que se encontram as famílias rurais que
não podem pagar por serviços de assistência técnica.
A Tabela 1 resume as diferenças entre a nova ATER descentralizada e a
extensão rural convencional, dando uma sintetizada naquilo anteriormente
comentado sobre o processo que diferencia os tios de assistência técnica, voltado
ao modelo convencional de produção e o novo paradigma de modelos voltados a
agroecologia e agricultura familiar.
22
Tabela 1: Alguns elementos para a comparação entre tipos de extensão
Indicadores Extensão Rural convencional Extensão Ru ral Agroecológica
Bases teóricas e Ideológicas
Teoria da Difusão de inovações. Conhecimento científico em primeiro lugar.
Desenvolvimento local. Agricultor em primeiro lugar. Resistência dos camponeses.
Principal objetivo
Econômico. Incremento de renda e bem estar mediante a transferência de tecnologias. Aumento da produção e produtividade.
Eco-social. Busca de estilos de desenvolvimento sócio-economicamente equilibrado e ambientalmente sustentável. Melhorar as condições de vida com proteção ao meio ambiente.
Compreensão sobre meio ambiente
Base de recursos a ser explorada para alcançar objetivos de produção e produtividade. Aplicação de técnicas de conservação.
Base de recursos que deve ser utilizada adequadamente de forma a alcançar estabilidade nos sistemas agrícolas. Evitar ou diminuir impactos ao ambiente e aos estilos de vida.
Compreensão da agricultura
Aplicação de técnicas e práticas agrícolas. Simplificação e especialização.
Processo produtivo complexo e diversificado, em que ocorre a co-evolução das culturas e dos agroecossistemas.
Agricultura sustentável
Intensificação verde. Aplicação de tecnologias mais brandas e práticas conservacionistas em sistemas convencionais.
Orientação agroecológica. Tecnologias e práticas adaptadas a agroecossistemas complexos e diferentes culturas.
Metodologia Para transferência de informações e assessoramento técnico. Participação funcional dos beneficiários.
Para recuperação e síntese do conhecimento local, construção de novos conhecimentos. Investigação-ação participativa.
Comunicação De cima para baixo. De uma fonte a um receptor.
Diálogo horizontal entre iguais. Estabelecimento de plataformas de negociação.
Educação Persuasiva. Educar para a adoção de novas técnicas. Induzir ao cambio social.
Democrática e participativa. Incrementar o poder dos agricultores para que decidam.
Papel do Agente Professor. Repassar tecnologias e ensinar práticas. Assessor técnico.
Facilitador. Apoio à busca e identificação de melhores opções e soluções técnicas e não Técnicas
Fonte: Caporal (2003)
Como citado, atualmente a demanda por ATER é crescente, visto como um
serviço contemporâneo, apontado pela PNATER, dando a acreditar como sendo o
grande indutor do desenvolvimento rural sustentável.
2.4. DESAFIOS E CRÍTICAS DA NOVA ATER
Em trabalho realizado através de levantamento bibliográfico sobre ATER e
Sistemas Agroflorestais (SAFs), relacionados em duas vertentes. Um direcionado a
técnica ou manejo propriamente dito dos sistemas agroflorestais e outro, relacionado
23
à Assistência Técnica e Extensão rural. Do total de 105 trabalhos levantados, 20 %
apenas tratavam da questão de ATER e os demais, 80% se referiam a técnica,
conceitos, manejo, etc. relacionados aos SAFs (PODADERA, et al. 2009).
Desta forma, podemos concluir que, existem poucos trabalhos relacionados à
questão da nova ATER, principalmente da execução no Brasil. Um motivo por isso é
que a lei instituindo a PNATER foi somente implementada em Janeiro de 2010.
Porém, foram identificados alguns desafios e problemas em relação à execução da
mesma.
A própria PNATER considera que diante dos resultados negativos dos
modelos de desenvolvimento agrário anteriores a exemplo da Revolução Verde e
seus pacotes tecnológicos, e ainda dos problemas enfrentados na fase difusionista
de ATER, existe o desafio de apoiar estratégias de desenvolvimento sustentável,
pois necessitam de política renovada e duradora (MDA; SAF; DATER, 2004).
Além disso, no ano de 2011, o documento base para a preparação da
primeira Conferência Nacional de ATER, prevista para acontecer ainda em 2011
(CNATER, 2011), aponta o que é chamado de novos e grandes desafios a serem
enfrentados, entre eles:
- Universalização dos serviços de ATER, voltado a atender a demanda de
aproximadamente 4 milhões de famílias, permitindo a essas famílias o acesso a
políticas públicas através da inclusão social e produtiva;
- O redesenho da sistemática dos serviços de ATER, que garantam a
continuidade das atividades, a qualificação dos seus quadros técnicos, gestão e
controle social e;
- A definição das estratégias de qualificação e ampliação dos quadros
técnicos, garantindo uma abordagem de diálogos e contraposição de idéias,
conforme estabelecido na PNATER, propiciando ainda, a diminuição das
desigualdades e garantindo a sucessão das famílias no campo.
Outro ponto que merece destaque pela PNATER é o desafio de estimular a
constrição de sistemas produtivos sustentáveis, tendo agroecologia como pano de
fundo, buscando ainda, processos de envolvimento organizado do público
beneficiário (CNATER, 2011).
Para Kreutz et al. (2007)
[...] o desafio da extensão rural Brasileira é deixar que a sua competência técnica e seu crescente comprometimento político com a agricultura familiar a transformem de um organismo voltado à assistência técnica aos
24
agricultores, em uma unidade que planeja, juntamente com os atores locais, o processo de desenvolvimento.
O mesmo autor considera ainda que as empresas oficiais possuem limitações
para a operacionalização por falta de processos pedagógicos construtivistas, cultura
imediatista, estrutura institucional insuficiente e despreparo para trabalhar com os
saberes locais e na consolidação de redes de parcerias.
Nos poucos trabalhos que existem, fazendo uma análise crítica da execução
da nova ATER, os problemas seguintes são destacados:
Diesel, Neumann e Garcia (2007), em recente trabalho que analisa o porquê a
nova ATER “não sai do papel”, examinam e discutem as possibilidade e dificuldades
que vem sendo encontradas na implementação dessa política nacional. Apesar dos
esforços por parte do DATER (Departamento de Assistência Técnica e Extensão
Rural), responsável pela implementação da política, observa enorme força de inércia
que faz com que esses serviços ainda sejam realizados através de práticas
difusionistas antigas, com metodologias obsoletas, mostrando-se ineficientes e
inadequadas no que se refere à nova extensão rural (CAPORAL; RAMOS, 2007).
Dando seqüência, existem algumas dificuldades que são apontadas a
exemplo do perfil dos profissionais que atuam dentro das organizações
principalmente oficiais por falta de uma base metodológica e de dialogo e construção
participativa com a base (DIESEL, NEUMANN E GARCIA, 2007). No entanto,
Pacífico e Caporal (2011), demonstram que no período de 2004-2005, o DATER
desenvolveu um processo de capacitação dos extensionistas, sendo a primeira
etapa, o horizonte de nivelamento dos conceitos, visando dar aos profissionais da
área embasamento teórico que norteiam a ATER.
Souza apud Diesel, Neumann e Garcia (2007), com referência à adoção da
PNATER no nordeste do Brasil apontam uma aceitação diferenciada entre estados,
a falta de conhecimento sobre a política e o forte fator, chamado por eles de política
ideológica. Podendo isso estar relacionado pela clara opção em alguns estados por
modelos convencionais de desenvolvimento, a exemplo do agronegócio. Diesel,
Neumann e Garcia (2007), consideram ainda, que “em organizações favoráveis à
nova política, problemas administrativos e financeiros podem impedir o
desenvolvimento das ações segundo a nova política de ATER”.
Na análise realizada por Diesel, Neumann e Garcia (2007), no projeto
executado pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2004 ainda foram
25
identificados os seguintes problemas: insegurança na parte metodológica e por
complexidade do processo metodológico na aplicação prática; falta de autonomia
dos profissionais dentro das entidades para implementar a nova ATER, limitando
ações participativas e endógenas; baixa receptividade por parte dos agricultores em
vista do modelo alternativo de produção; restrição de envolvimento por falta de
projeção de continuidade; e falta de material didático principalmente voltado à
extensão rural (PODADERA et al., 2009). Diesel, Neumann e Garcia (2007)
destacam ainda, que “[...] nas organizações mais consolidadas [...] salienta-se a
proliferação das demandas pontuais (de origem dos agricultores e de organizações
externas) que levam à fragmentação e descontinuidade da ação extensionista”.
Outro ponto importante está no fato de que não existe ao certo uma análise
ou monitoramento do processo que vem sendo realizado a partir da execução desta
política considerada por um lado descentralizada, a exemplo da inexistência de um
sistema de avaliação e monitoramento (DIAS, 2007), mesmo que, diversos
resultados vêm mostrando um avanço na produtividade e importância da agricultura
familiar no que representa no PIB para o Brasil (IBGE, 2010), principais públicos-
alvo da Política de ATER.
26
3. METODOLOGIA DA ANÁLISE
A falta de monitoramento oficial, conforme destacada no capitulo anterior, faz
necessárias análises da execução de ATER por incentivos independentes, como
este trabalho. Neste capitulo será apresentada a metodologia utilizada para fazer
esta análise.
3.1. OBJETO DE ESTUDO
O presente trabalho de pesquisa foi executado a partir do projeto “Extensão
Inovadora em Modelos Sustentáveis de Produção: Sistemas Agroflorestais e Manejo
de Produtos Florestais – UFSCAR-CNPq 551944.2007-2”, que teve como
proponente a Universidade Federal de São Carlos, através do seu Campus no
município de Sorocaba – Estado de São Paulo.
Este projeto fez parte do Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - Nº
36/2007 - Seleção Pública de Propostas para Apoio a Projetos de Extensão
Tecnológica Inovadora para Agricultura Familiar, como parte das estratégias do
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA em parceria com o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Edital CNPq 036/2007).
O projeto foi executado entre dezembro de 2007 a maio de 2011 em duas
regiões do Estado de São Paulo - a área modelo, a Região do Vale do Ribeira, e a
área foco, os Assentamentos da Floresta Nacional (FLONA) de Ipanema, região de
Sorocaba, município de Iperó/SP.
3.2. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS
Para a análise de ATER a partir do projeto definido acima, foram resgatados
os materiais produzidos pelo projeto “Extensão Inovadora em Modelos Sustentáveis
27
de Produção: Sistemas Agroflorestais e Manejo de Produtos Florestais – UFSCAR-
CNPq 551944.2007-2”;
O resgate dos materiais do projeto foi realizado a partir do banco de dados
existente e disponível para consulta, através do acesso gerado na plataforma do
projeto (disponível em Googledocs.com®), além de acervos digitais disponíveis on-
line para imagens (Picasa®) e vídeos realizados no projeto (Youtube®). A partir
destes documentos foi feita a descrição do projeto no capitulo seguinte e também a
extração de parte dos dados para a análise.
Também foram sistematizados os cadernos de monitoramento participativo de
Sistemas Agroflorestais introduzido junto aos monitores do projeto para verificar as
atividades por eles relatadas. O caderno de monitoramento ou “diário do monitor” foi
um instrumento aplicado durante o decorrer do projeto e foi preenchido pelos
participantes denominados como monitores multiplicadores. Nestes cadernos, existe
uma série de informações sobre as atividades realizadas que foram consideradas
pelos monitores, além de uma análise final sobre as atividades desenvolvidas no
decorrer do projeto, e uma avaliação por parte desses, sobre o processo do qual
participaram. Estas informações serviram para a descrição das atividades
desenvolvidas pelo projeto como também para a análise dos resultados do mesmo.
Além disso, o relatório final do projeto 551944/2007-2, sistematizado pela
equipe proponente, a Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba,
ainda na fase de estágio curricular obrigatório por parte do discente, foi que deu
base para verificar os principais resultados que foram alcançados pelo projeto.
Para avaliar os resultados do projeto no que se refere à percepção na
comunidade e possível continuidade depois do seu término, foram aplicadas
entrevistas semi-estruturadas.
De acordo com Podadera (2009), a metodologia de entrevistas semi-
estruturadas é baseada em algumas perguntas-chave pré-determinadas. Desta
forma, este instrumento facilita criar um ambiente de diálogo, permitindo à pessoa
entrevistada se expressar livremente sem as limitações criadas por um questionário
guiado.
O objetivo dessas entrevistas foi verificar junto aos beneficiários do projeto
observando como se deu o desenvolvimento do projeto, as fases que participaram,
assim como os pontos fortes e fracos observados. O objetivo maior dessas
entrevistas foi saber se o processo desenvolvido ao longo de aproximadamente três
28
anos junto aos beneficiários, de alguma forma, está surtindo efeito no que se refere
à continuidade dentro da comunidade e por iniciativa dos próprios participantes, a
exemplo da ampliação da proposta agroecológica desenvolvida no projeto na
propriedade, da manutenção das áreas enquanto Unidades de Demonstração que
foram implantadas como referência na comunidade, e na consolidação dos
monitores formados enquanto agentes de ATER.
As entrevistas foram aplicadas conforme questionário abaixo, através de
visitas nas propriedades. As entrevistas foram divididas em dois momentos, um
voltado aos 06 jovens monitores que passaram por um processo de formação
continuada, e o outro direcionado a nove famílias com participação direta das
atividades do projeto, totalizando 15 das 40 famílias do projeto, representando
37,5% dos participantes.
Desta forma, as perguntas utilizadas nestas entrevistas foram:
Entrevista com os Agricultores (as) Familiares Participantes do Projeto
1 – Você participou de algum projeto nos últimos 02 anos voltado a Agroecologia e aos Sistemas Agroflorestais? Qual projeto?
2 – Em caso afirmativo, participou de quais atividades (Reuniões, cursos, visitas de intercâmbios, mutirões para implantação de áreas demonstrativas)?
3 – Desenvolveu algum experimento na unidade familiar referente a este projeto? Recebeu Unidade Demonstrativa?
4 – Recebeu diretamente alguma colaboração do projeto como assistência técnica, mudas e/ou sementes, insumos?
5 – Como ou que o foi desenvolvido em sua área a partir dos aprendizados e trocas obtidas? Implantou experimento? Aumentou Unidade demonstrativa, etc?
6 – O que você considerou de pontos positivos dentro deste projeto?
7 – O que você considerou de pontos negativos no projeto desenvolvido?
8 – Você continua experimentando ou trabalhando com o que aprendeu sobre agroecologia neste projeto? Sim, Não e Por quê?
Quadro 1: Roteiro das entrevistas com os agricultor es familiares.
29
3.3. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
As informações resgatadas do projeto serão analisadas com base em uma
análise avaliativa, crítica, e propositiva.
Primeiramente será verificado se a metodologia e as atividades previstas na
proposta do projeto foram aplicadas de fato em sua execução, comparando a
proposta do projeto com as atividades desenvolvidas.
Em seguida, será analisado se o projeto foi de encontro com os princípios
estabelecidos na Lei de ATER nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, para então,
demonstrar que ele é um bom exemplo para a análise de ATER.
As duas avaliações citadas servirão como base para a análise crítica principal
do projeto e da execução da nova ATER. Nesta etapa os resultados do projeto,
obtidos através dos documentos sistematizados, os cadernos de monitoramento dos
monitores, o relatório final como também as entrevistas aplicadas, serão analisadas
através do método SWOT/FOFA4 (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e
Ameaças) para demonstrar os pontos fortes e fracos do projeto e apresentar
algumas possíveis explicações pelos problemas identificados, analisando se eles
foram específicos do projeto ou se são gerais da execução atual de ATER para
assim propor alternativas para o melhoramento da mesma.
4 “A análise SWOT (FOFA, em português) é um sistema utilizado para verificar a posição estratégica de uma instituição; corresponde à sigla em inglês para Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) e foi desenvolvida pela universidade de Harvard durante as décadas de 1950 e 1960 (OLIVA, 2007). Nesta análise são considerados dois ambientes de interferência na realidade analisada: o interno (Forças e Fraquezas) e o externo (Oportunidades e Ameaças)” (RAMOS et al., 2008).
30
4. O PROJETO: “EXTENSÃO INOVADORA EM MODELOS SUSTEN TÁVEIS
DE PRODUÇÃO: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E MANEJO DE
PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS”
A descrição e análise deste trabalho estão sendo feitas a partir das atividades
e resultados que foram obtidos durante a execução do projeto “Extensão
Inovadora em Modelos Sustentáveis de Produção: Sist emas Agroflorestais e
Manejo de Produtos Florestais Não-madeireiros - 551 944/2007-2 –
MDA/CNPq/UFSCar Sorocaba”.
Este projeto foi apoiado pelo Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN – N°
36/2007: Seleção Pública de Propostas para Apoio a Projetos de Extensão
Tecnológica Inovadora para Agricultura Familiar. Este edital foi publicado no âmbito
da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e se destinou a grupos
de extensão das Instituições de Ensino Superior Públicas, Comunitárias e
Confessionais, e as Instituições Públicas de Assistência Técnica e Extensão. Ele
pretendeu que:
[...] as ações apoiadas por este Edital forneçam opções econômicas e sociais para a geração de renda para as famílias beneficiadas, permitindo a sucessão das gerações nos seus territórios originais, contribuindo para a inclusão social das famílias e melhorando a qualidade de vida no campo (MCT; CNPq; MDA; SAF; MDS; SESAN, 2007).
O edital financiou despesas de custeio, despesas de capital e bolsas de
trabalho e estudos por um prazo máximo de 30 meses, mas excluiu o financiamento
de despesas de rotina e exigiu que as instituições a ser financiadas tivessem a
capacidade e infra-estrutura de recursos humanos e materiais para realizar as
atividades propostas (MCT; CNPq; MDA; SAF; MDS; SESAN, 2007).
O projeto partiu da percepção das dificuldades enfrentadas no
estabelecimento de um trabalho de extensão rural voltado à agroecologia para que,
fosse capaz de gerar a disseminação de experiências e aprendizados de forma
eficaz e autônoma, ampliando assim o público potencialmente atingido por estas
ações, através do processo denominado de construção do conhecimento. Seu
principal foco foi trabalhar a criação de uma proposta metodológica inovadora
de ATER (como exigido no Edital CNPq 036/2007), voltada a apoiar a transição
agroecológica no Assentamento Ipanema, que possibilitasse gerar a efetiva
participação e o comprometimento da comunidade.
31
No sudeste do Brasil, especialmente em áreas de floresta estacional e
cerrado, existiam poucas experiências com sistemas agroflorestais. Além disso, na
maioria dos casos, os projetos eram implementados com apoio público ou privado.
No entanto, as atividades acabam quando da conclusão dos projetos. A principal
idéia do projeto proposto foi envolver pequenos agricultores assentados da reforma
agrária na experiência e gestão das suas propriedades, incentivando-os a se
organizarem e se tornarem autônomos na pesquisa de novos projetos e do
planejamento da produção e comercialização de seus produtos, associada ao
manejo ecológico.
Os objetivos propostos pelo projeto foram:
• Estabelecer um sistema participativo de gestão;
• Gerar mecanismos para disponibilização e apropriação do conhecimento
pelos atores envolvidos, em SAF (sistemas agroflorestais) e manejo de PFNM
(produtos florestais não-madeireiros) e;
• Contribuir para os sistemas de ATER (assistência técnica e extensão rural)
com modelos aplicados a realidades locais, em sistemas sustentáveis de uso
da terra.
Após a conclusão do projeto e em decorrência do mesmo, esperava-se que
as condições de qualidade de vida e segurança alimentar das famílias dos
agricultores familiares do assentamento melhorassem substancialmente, com a
possibilidade de replicação das áreas pilotos do projeto que foram implantadas.
Além disso, esperava-se que o projeto tivesse representado o início das
ações de recuperação e, adequação ambiental do assentamento, o que certamente
permitiria sua melhor integração com a Unidade de Conservação, a Floresta
Nacional de Ipanema/ICMBIO, onde se encontra inserido. Os resultados do projeto
poderiam incentivar também agricultores familiares de municípios vizinhos, a iniciar o
processo de transição do paradigma de produção baseado em monocultivos para
modelos de produção sustentável.
32
4.1. ÁREA DE ESTUDO E PÚBLICO DO PROJETO
O presente projeto foi realizado em duas regiões do Estado de São Paulo - a
área modelo, localizado na Região do Vale do Ribeira, e a área foco, nos
Assentamentos no entorno da Floresta Nacional (FLONA) de Ipanema, região de
Sorocaba, município de Iperó/SP. Como apoio à capacitação foram inseridas ações
incluindo as experiências localizadas em Paraty-RJ, obtidas através do projeto
PRODETAB, realizado em 2006 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(Convênio UFRRJ/Embrapa 017/2001 – Banco Mundial).
Na região do Vale do Ribeira foram utilizadas como áreas modelos as regiões
e propriedades envolvidas no projeto “Recuperação e Conservação Ambiental
através do Desenvolvimento Agroflorestal em Comunidades e Assentamentos no
Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema – Estado de São Paulo - PDA 081 MA”,
inseridas nas regiões de Cajati, Cananéia e Barra do Turvo.
Na região de Iperó, o foco foi o Assentamento Ipanema, situado no entorno da
Floresta Nacional de Ipanema (Figura 1). O assentamento localiza-se entre as
latitudes Sul de 23º 25' e 23º 27' e as longitudes Oeste 47º 35' e 47º 40', com
altitudes entre 550 e 971 metros. A área é atravessada em sua parte sul pelo
Trópico de Capricórnio, localizando-se assim em uma zona de transição, de tropical
para temperada (PODADERA, 2009). Segundo Fávero et al. (2004), e de acordo
com a metodologia de Köeppen, apresenta condições climáticas tipo Cfa –
subtropical quente, constantemente úmido, com inverno menos seco - ao sul,
limitando com Cwa – subtropical quente, com inverno mais seco - ao norte.
Reconhecido oficialmente como área de assentamento rural em Dezembro de
1995 através da Portaria 342 de 14/11/1995 (INCRA), o Assentamento Ipanema
abrange uma área de 1.768,71 hectares, sendo que 1.235,14 ha desse total se
encontram no interior da FLONA de Ipanema, na área conhecida como Área I. O
restante, com 533,57 hectares, conhecido como Área II, se situa em sua zona de
amortecimento, em área do Ministério da Agricultura. As áreas ciliares estão
demarcadas em sua maioria fora dos lotes, junto com as áreas de Reserva Legal
coletivas, constituindo áreas comuns do assentamento (INCRA, 2005). Na ocasião
da ocupação pelo Movimento Sem Terra- MST essas áreas já se encontravam em
diferentes graus de degradação.
33
A ocupação da área ocorreu em 1992, quando cerca de 800 famílias
(pertencentes ao MST) ocuparam a área do Ministério da Agricultura, dando início
aos Projetos de Assentamento (PAs) Ipanema I e II. O Decreto nº 530, que
estabeleceu a FLONA de Ipanema ocorreu logo após essa ocupação (MMA; IBAMA,
2003). Os seus 151 lotes têm em média nove hectares de área agricultável,
totalizando 1.368,48 ha. As atividades principais são pecuária, fruticultura,
horticultura e produção de cereais e mandioca, e alguns lotes produzem alimentos
orgânicos (INCRA, 2005).
Figura 1: Localização da região de Iperó no Estado de São Paulo e detalhe da distribuição dos lotes e famílias envolvidas no Projeto Agrofloresta , no Assentamento Ipanema, Iperó- SP (Propriedades assinaladas em vermelho no mapa). Fonte: Podadera (2009)
Área I
Área II
34
O objetivo inicial do projeto era de trabalhar três áreas de demonstração,
sendo constituídos por agentes multiplicadores da comunidade, monitores bolsistas,
bolsistas de extensão e monitores alunos de pós-graduação, totalizando como
público beneficiário direto nove famílias. Como a proposta do projeto envolve o
elemento do efeito multiplicador, procuramos desde o início do projeto, ainda em sua
participação, deixar que o interesse da comunidade sobressaísse.
Através de registro do projeto, nas primeiras reuniões de divulgação o número
de interessados chegou a totalizar 80 pessoas. Após, as reuniões de sensibilização
e os esclarecimentos quanto as limitações do projeto e da necessidade de
comprometimento de cada família, os interessados em participar do projeto
diretamente foram de 44 famílias no total (27 na área I e 17 na área II).
Desta forma, o trabalho foi realizado com aproximadamente 40 famílias
direta e indiretamente. Desse total, 11 famílias foram selecionadas para receberem
unidades de demonstração e experimentação implantadas ou manejos
estabelecidos em grupo. As demais famílias foram incorporadas nas diversas
atividades ou processos de formação, como visitas de intercâmbio, mutirões e trocas
de experiências, entre outras diversas ações que foram sendo estabelecidas para o
conjunto dos participantes.
4.2. METODOLOGIA DO PROJETO
O projeto buscou promover a difusão dos sistemas agroflorestais (SAFs),
através de técnicas de extensão inovadora, a fim de estimular os pequenos
agricultores familiares para o trânsito da agricultura tradicional convencional para a
agroecologia (ALTIERI,1989 e FARRELL & ALTIERI, 2002) com base em sistemas
agroflorestais que asseguram o aumento da diversidade de produtos e renda,
associados à sustentabilidade ecológica (CAPORAL; COSTABEBER, 2000). O foco
então proposto foi de implantar áreas modelo de sistemas agroflorestais - SAFs,
voltados a diferentes finalidades, e com exemplos de uso sustentável de Produtos
Florestais Não-Madeireiros (PFNM).
O projeto fez uso das contribuições metodológicas vindas de enfoques
centrados no desenvolvimento local ou endógeno. Nesse sentido, foram utilizadas
35
orientações metodológicas baseadas em Investigação e Ação Participante – IAP
(FREIRE, 1983), onde é recomendado como método de intervenção em
determinada comunidade, um enfoque capaz de combinar pesquisa científica,
educação de adultos e ação política de modo a buscar assim, a construção do
conhecimento capaz de elevar o poder dos grupos sociais, transformando-os em
protagonistas dos processos de desenvolvimento em busca da sustentabilidade.
Como normalmente acontecem, projetos de ATER são limitados em recursos,
tempo, assim como pessoas, este não fica fora da estatística. Foi fundamental que o
processo de monitoria proposto fosse assegurado e assim, viesse a alcançar mais
resultados, em menos tempo, com maior fluxo de informação junto à comunidade
trabalhada e conseqüentemente as famílias trabalhadas.
O processo de monitoria proposto consistiu no envolvimento de
multiplicadores (agentes locais de desenvolvimento), também chamados de
monitores, para o acompanhamento dos restantes participantes. Os monitores foram
definidos como Agentes multiplicadores nos quais o projeto direcionou um processo
de discussão sobre questões agroecológicas, incluindo questões de equilíbrios
ecológicos, sociais, econômicos e culturais e a partir disso, o processo de
capacitação é direcionado para boas práticas no melhor planejamento da unidade
familiar etc.
Estes agentes também acompanhariam as chamadas Unidades
Demonstrativas5 (UD), espaços onde se concentrou a aplicação prática do processo
agroecológico, fossem eles em SAFs, fosse com M-PFNM. Foi proposto que nessas
unidades, em primeiro momento, na área do monitor, seriam demonstrados
processos seguros a serem trabalhados dentro da proposta do projeto. Essas áreas
seriam potencializadas, destinando assim, forças em sua preparação, formação e
acompanhamento para que estas viessem a servir de referências e que fossem
apropriadas pelos protagonistas.
Uma das estratégias em ATER adotada para o projeto foi de identificar
famílias localizadas em pontos chaves da comunidade, para que estes futuramente
5 Área acompanhada pelo monitor, aplicando aquilo que veio apreendendo dentro da proposta do projeto, nas oficinas de formação realizado no projeto, no que condiz a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e aos processos agroecológicos, além de, aplicarem aquilo que vem sendo construído de forma participativa a partir daquilo que os beneficiários demandam e que estejam alicerçadas aos objetivos do projeto (UFSCAR, 2011).
36
pudessem servir como Unidades Demonstrativas (UD´s) e as famílias participantes
viessem a atuar como multiplicadores locais (UFSCAR , 2011).
Como sabemos a agroecologia não é um modelo que se dá pronto, todavia,
podemos direcioná-la a processos construídos de forma participativa, e que assim,
haja uma melhor compreensão das funções que esta nos proporciona. O trabalho
nessas unidades era então para acontecer em forma de mutirões ou de dias de
campo para que assim, pudessem ser mais bem aproveitados os momentos de
trocas de experiências e uma construção focada na participação.
Ao lado disso, o objetivo também foi estimular jovens agricultores a se
tornarem agentes multiplicadores locais, a fim de integrá-los em instituições de
assistência técnica rural, ao mesmo tempo em que, eles seriam apresentados a esta
nova metodologia de trabalho de pesquisa e ação participativa, conforme prevê a
PNATER. O projeto buscou promover ainda, a formação de agentes de ATER
(Assistência Técnica e Extensão Rural) em modelos de sistemas de produção rural
sustentável, pois pretendia contar com a parceria dos principais órgãos que atuam
em ATER no Estado de São Paulo.
Procurando evitar erros cometidos por projetos anteriormente executados, o
projeto incluiu na metodologia proposta o resgate de conhecimentos e experiências
em sistemas de produção ou desenvolvimento rural sustentável, semelhantes
(Sistemas Agroflorestais e Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros) na
Região do Vale do Ribeira/SP e Paraty/RJ, organizá-los de modo a torná-los
acessíveis a todo e qualquer cidadão, em especial aos agricultores familiares da
região, e de outras regiões do Estado que possa ter estas experiências como
referência.
Objetivou ainda, promover uma troca de conhecimentos entre agricultores
familiares das três regiões envolvidas, de modo que as experiências das áreas
modelos (Vale do Ribeira e Paraty) pudessem ser aproveitadas na área foco
(Sorocaba - Iperó) facilitando o início da implantação de modelos alternativos de
produção, baseados em critérios agroecológicos, na mesma.
Para a melhor execução do projeto, as atividades sempre procurariam levar
em consideração o planejamento participativo (MDA; SAF; DATER, 2004), a partir do
estabelecimento de um diálogo e intervenção que procurasse aproximar e facilitar a
compreensão dos agricultores no que se refere à proposta do projeto. Para que isso
fosse possível, foi pensada num sistema participativo de gestão do projeto,
37
denominado de Conselho Gestor (CG), buscando com isso, a integração dos
diversos parceiros e o atendimento às demandas de cada um em particular, para
que pudesse garantir um eficiente sistema de coordenação e comunicação, através
de um adequado suporte administrativo e operacional, que possibilite um perfeito
contato entre a entidade proponente e as demais que executarão determinadas
atividades e o próprio monitoramento do projeto. Neste CG, também seria reforçado
o processo de monitoramento (tarefas do monitor) que seria realizado, e seriam
indicados os nomes dos monitores.
Em busca do alcance do exposto, o projeto foi dividido em duas etapas
principais que seriam trabalhadas:
O foco trabalhado na primeira etapa seria direcionar a atenção para aqueles
que queriam estar mais comprometidos com os trabalhos e participar ativamente do
projeto, para que, como forma de transformação, eles pudessem contribuir como
agentes multiplicadores em relação à recuperação propriamente dita das áreas
alteradas, bem como, a melhor conservação dos recursos naturais nos lotes e no
assentamento, estabelecendo assim, um sistema mais autônomo de geração do
conhecimento dentro da própria comunidade.
Nesta etapa, incluíram as visitas de intercâmbios; os processos iniciais de
capacitação a exemplo da formação dos agentes multiplicadores, e do processo de
construção do conhecimento para o estabelecimento de Sistemas Agroflorestais e
do Manejo de Produtos Florestais Não-madeireiros. Todos seriam essenciais e
serviriam como processo condutor para as atividades que se seguiriam.
Na segunda etapa, o exercício daquilo que seria construído com a
comunidade ao longo desse tempo tomaria forma e com isso, seria aplicado na
prática o conhecimento construído de forma participativa. Desta forma seria possível
verificar a importância do trabalho dos agentes multiplicadores, da organização local
e o comprometimento das famílias para a implantação das unidades demonstrativas.
Além disso, poder-se-ia observar principalmente a independência ganhando forma a
partir de novas iniciativas que se sucederiam.
Abaixo apresento o fluxograma (Figura 2) que demonstra a metodologia
desenvolvida no decorrer do projeto conforme acima descrito.
38
Figura 2: Fluxograma do projeto
4.3. RESUMO DO PROCESSO REALIZADO EM CAMPO
Toda a estratégia interna do projeto foi criada para ser desenvolvida de forma
participativa pelos atores principais, os agricultores e suas famílias, as
universidades e instituições locais e regionais de assistência técnica envolvidas.
Com este objetivo, no primeiro encontro foi estabelecido o Conselho Gestor
do projeto que compreendeu todas as instituições envolvidas e os membros locais
da comunidade.
A partir da análise da participação nas reuniões, dos pontos chaves da
comunidade e dos jovens que demonstrariam mais interesse, etc. o Conselho Gestor
selecionou seis jovens, estudantes do ensino médio, para atuarem como
39
"multiplicadores" locais. A tarefa deles era de acompanhar acompanharia em torno
de 05 unidades familiares cada um e disponibilizar alguns dias para o trabalho em
sua Unidade Demonstrativa. Esses jovens receberam uma bolsa pelo projeto. A
equipe, bem como, todos os jovens monitores foi treinada para aplicar metodologias
participativas e de pesquisas que foram realizadas através de oficinas de formação.
O projeto a partir da atividade inicial, da formação do conselho gestor, da
identificação e início da formação dos agentes multiplicadores procurou construir de
forma participativa dentro do assentamento, os diagnósticos iniciais, onde dentro do
projeto, a comunidade/assentamento, ajudou a formar a linha de base, traçando um
retrato local onde o projeto estaria sendo desenvolvido.
Esta linha construída com os atores envolvidos deu a base de como deveria
acontecer o processo de monitoramento em conseqüência dos trabalhos sendo
desenvolvidos e, para avaliar as mudanças que aconteceriam ao longo do projeto a
partir do retrato inicial (UFSCAR , 2011).
O trabalho de monitoria consistiu em motivar, capacitar e fortalecer os
monitores para atuarem como agentes multiplicadores de desenvolvimento em sua
comunidade.
Durante este período, conforme o projeto foi ganhando forma, iniciaram-se as
parcerias com novos projetos e atores que foram sendo envolvidos no decorrer
desse processo.
Visitas de intercâmbio foram promovidas pelo projeto permitindo assim, que
os participantes compartilhassem experiências reais com outros agricultores, com
intuito de observar a organização comunitária e a produção em sistemas
agroflorestais mais consolidados.
Desta forma, aconteceram duas visitas de intercâmbio, sendo uma na cidade
de Paraty/RJ e outra na cidade de Barra do Turvo/SP (Figura 3). Cerca de 60
(sessenta) produtores e/ou membros da família participaram destas visitas.
Observou-se que estas atividades permitiram alcançar um resultado positivo na
medida em que estas foram muito encorajadoras, favorecendo a discussão sobre o
caso real de produção e outros sistemas de comercialização. Além das 40 famílias
que participam do projeto, outros mostraram interesse em participar mais ativamente
no projeto após estas trocas de experiências.
40
Figura 3: Visita de Troca de Saberes e Experiência. Esq. Paraty/RJ e Dir. Barra do Turvo/SP Fonte: UFSCAR (2011)
Diagnósticos dos sistemas agrícolas locais realizados através do Diagnóstico
Rural Participativo (DRP) indicaram que muitos agricultores estavam interessados
em aumentar a diversidade de espécies em suas propriedades, especialmente
através da introdução ou aumento da produção de árvores de frutas. No entanto, a
maioria deles não sabia sobre a produção e a utilização de espécies frutíferas
nativas, e habitualmente, citaram apenas exóticas, apesar da ocorrência natural de
muitas das nativas no entorno de suas propriedades (COSTA JR et al., 2009) . Do
total de espécies indicadas, 66,6% foram para a produção de frutos, 16,7% para
produção de madeira, e 16,7% para a produção de produtos florestais não-
madeireiros.
Após a realização das visitas de intercâmbios e o diagnóstico realizado, os
agentes multiplicadores, monitores da universidade e facilitadores (equipe de
projeto), realizaram em conjunto com os agricultores locais, dias de campo, a fim de
estabelecer as unidades demonstrativas (UD).
Foram demarcadas, mais de 60 UDs (parcelas de 100m2), do qual num
primeiro momento procurou-se melhorar as condições das áreas degradadas para
posteriormente, implantar os sistemas agroflorestais (Figura 4).
41
Figura 4: Área com Adubação Verde, sendo demarcadas as parcelas Fonte: UFSCAR (2011)
De acordo com o desejo dos agricultores visando diversificar a produção e
buscar maior equilíbrio ecológico, a equipe técnica sugeriu a utilização de espécies
nativas. Os agricultores reagiram positivamente, contudo, afirmaram não conhecer
tais espécies.
Devido à solicitação por parte dos agricultores e dos monitores e da falta
desses materiais, foi preparado um material didático ilustrativo (jogo de cartas) com
espécies divididas por grupos de uso, sendo esses: espécies de frutas nativas,
madeiras, melíferas e funcionais, além de, estarem divididas por tempo de produção:
curto, médio e longo prazo (Figura 5). Este material foi preparado para o seminário
de planejamento dos modelos de sistemas agroflorestais a serem implantados. Este
material foi construído por um estudante de biologia, com orientação da equipe do
projeto.
Figura 5: Oficina de Desenho de Sistemas Agroflores tais e detalhe do jogo elaborado (Eco-cartas) Fonte: UFSCAR (2011)
42
Posteriormente, foram realizadas as oficinas de planejamento dos SAFs que
foi de importância para a geração e construção do conhecimento e só depois,
passamos a fase de aquisição e produção das mudas das espécies levantadas pelo
diagnóstico e seguimos com a implantação das áreas demonstrativas e a difusão e
divulgação dos resultados em diversos eventos que se sucederam.
Nesta oficina as espécies foram definidas, bem como também, o arranjo
estrutural dos sistemas agroflorestais. Tudo isso foi discutido para que a composição
e estrutura dos SAFs representassem as expectativas dos agricultores. Isto foi
baseado no princípio de que o projeto é um processo voltado para facilitar a
"construção" do conhecimento dentro da comunidade, incentivando assim, a geração
de experiências e inovações em seus sistemas de produção tradicionais.
O resultado da oficina de planejamento apresentou as espécies
representadas conforme o tempo de produção de curto, médio e longo prazo
citadas. A maioria das espécies de curto prazo foi de espécies agrícolas (exóticas),
no entanto, notamos também um número interessante de espécies nativas de médio
e longo prazo. Isso demonstra que o conhecimento dos agricultores sobre as
espécies nativas apresentou uma melhora de qualidade, mostrando que a estratégia
de usar o material didático aliado a esta metodologia de inovação foi eficiente.
Figura 6: Áreas Demonstrativas Implantadas Fonte: UFSCAR (2011)
Após este workshop, a implantação das unidades demonstrativas foi
inicializada (Figura 6). Ao todo, foram implantadas seis unidades demonstrativas nas
áreas dos monitores do projeto e ainda, quatro áreas experimentais foram
instaladas.
Ainda, nesta etapa, foi possível verificar que as parcerias que foram
estabelecidas com as entidades locais e regionais foram validas a partir da
43
participação não só na primeira etapa, como nessa também. Além disso, as
parcerias estabelecidas com novos projetos resultaram num trabalho que foi aquém
do processo local, ou seja, partimos para uma construção e envolvimento regional
para fortalecimento da agroecologia dentro do estado com novas propostas a partir
daquilo que veio sendo trabalhado. Um exemplo disso, foram as diversas atividades
realizadas em rede junto a Articulação Paulista de Agroecologia – APA e diversos
eventos a exemplo do I Fórum Paulista de Agroecologia, realizados em parceria com
diversas instituições.
A continuidade vem sendo realizada, do qual atualmente, se configura na
estruturação do Núcleo de Agroecologia APETÊ-CAAPUÃ6 na UFSCAR – Campus
Sorocaba e as estratégias em rede, a exemplo da animação da Articulação Regional
Sorocabana de Agroecologia, que realizou na região o I Semana de Agroecologia da
UFSCar e I Fórum da Articulação Sorocabana de Agroecologia, realizado entre 16 –
18 de Novembro de 2011, como objetivo de organização, rede e animação da
Articulação Paulista de Agroecologia, integrante da Articulação Nacional de
Agroecologia – ANA.7
6 MDA/SAF/CNPq – Nº 58/2010 Seleção pública de propostas de pesquisa científica e extensão tecnológica para Agricultura Familiar no âmbito da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 7 Articulação Nacional de Agroecologia - http://www.agroecologia.org.br/
44
5. ANÁLISE
Neste capítulo será analisado o projeto apresentado no capítulo anterior,
começando com a sua execução, continuando com a análise do seguimento dos
princípios de ATER e terminando com uma análise crítica do projeto e
conseqüentemente da ATER como vem sendo executada.
5.1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PROJETO
Na tabela seguinte será apresentada uma síntese das atividades e objetivos
específicos trabalhados pelo projeto, além dos resultados obtidos. É com base nesta
tabela, que estará sendo analisando se o projeto cumpriu a proposta estabelecida.
Tabela 2: Matriz Lógica do Projeto (continua)
OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES METODOLOGIA RESULTADOS
ESPERADOS RESULTADOS OBTIDOS
1- Estabelecer um sistema participativo de gestão do projeto
1.1. Diagnóstico das ações/atores nas áreas
Metodologias participativas, encontros, revisão bibliográfica
Auto-conhecimento da equipe e dos atores envolvidos
03 reuniões divulgação do projeto;
02 reuniões gerais para definição dos participantes;
1.2. Formação do Conselho Gestor
Reunião com todos os atores;
Seleção das áreas-piloto e agentes multiplicadores
- Atores envolvidos no Conselho/ clareza de papéis de cada ator;
- Conselho Gestor Formado
CG Instalado 30 dias depois.
32 reuniões com parceiros;
06 Reuniões CG;
07 Reuniões Câmara Técnica (envolvia parceiros principais);
Média Participantes/Reunião = 15
1.3. Nivelamento dos atores envolvidos
Identificação dos agentes multiplicadores Oficinas - teórico práticas
“Todos os atores envolvidos “falando” mesma linguagem”
12 Oficinas de nivelamento (06 ofic. Jovens, 3 reuniões na comunidade, 1 oficina de mapeamento participativo, 01 Oficina Desenho de SAFs, etc.).
2-
2.1. Formação de agentes multiplicadores
Dinâmicas sócio-ambientais
Monitoramento das áreas-piloto
Pessoal treinado em técnicas e dinâmicas participativas bem como no uso dos instrumentos de monitoramento
06 monitores multiplicadores capacitados (04 deles formados Técnicos em Agroecologia (COTUCA/UNICAMP/PRONERA8);
10 Alunos de Graduação;
03 Alunos de Pós-Graduação.
8 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA)
45
Tabela 3: Matriz Lógica do Projeto (conclusão)
2- Gerar mecanismos para disponibilização apropriação do conhecimento pelos atores envolvidos, em SAFs e manejo de PFNM (produtos florestais não madeireiros)
2.2. Sistematização do conhecimento - etapa 1 (Vale do Ribeira/Sorocaba – Iperó)
Revisão bibliográfica pesquisa a campo
Resgatar e organizar o conhecimento sobre SAF e manejo de PFNM no Vale do Ribeira (área modelo)
Capítulo Livro: Difusão SAFs;
107 trabalhos resgatados
Biodiversidade VdR;
Análise Bibliográfica.
2.3. Adequação/ transformação da linguagem de publicações elaboradas no Vale do Ribeira e sistematização do conhecimento - etapa 2 (Sorocaba e região)
Viagens ao Vale, Dias de Campo, Registros fotográficos e filmagens, elaboração dos manuais e cartilhas pelos atores envolvidos com orientação da equipe técnica
Produção de manuais, cartilhas e mídias pelos atores envolvidos sobre os resultados do projeto e apresentação de trabalhos científicos em eventos
03 trabalhos resgatados;
SAFs Caso 1;
SAFs Caso 2;
Difusão de Sistemas Agroflorestais no Vale do Ribeira;
18 trabalhos publicados
3- Contribuir para o sistema de ater com modelos aplicados à realidades locais, em sistemas sustentáveis
3.1. Formação de agentes multiplicadores e de ATER
Vide atividade 2.1. Equipe Multidisciplinar engajada no projeto;
06 Agentes Multiplicadores;
10 bolsistas graduandos;
3.2. Implantação de área piloto SAF e PFNM
Construção participativa de modelos de Saf e implantação no campo
Seleção dos PFNM
Construção participativa de modelos de M-PNMF
03 unidades demonstrativas implantadas e monitoradas
06 Unidades Demonstrativas Implantadas;
05 Unidades Experimentais Acompanhadas;
Outras Iniciativas
3.3 Sistematização dos modelos e suas ferramentas voltadas para ATER e estratégias de difusão e divulgação
Documentário e vídeo sistematizando todas as experiências do projeto
Cartilhas
Publicação de trabalhos científicos e de divulgação
Fornecimentos de subsídios (práticas sistematizadas) para agentes de ATER existentes ou novos
Blog do Projeto;
Vídeo realizado e disponível;
Elaboração de 03 materiais didáticos (Cartilha Artesanato SEMEARTE, ECOCARTAS, Jogo Agroflorestal para planejamento de SAFs. (Google Docs).
3.4. Construção participativa de indicadores de sustentabilidade para os modelos de SAF e M-PFNM implantados
Oficinas, dias de campo
Workshop do projeto
Divulgação dos erros/acertos e principais aprendizados em ATER-Florestal decorrente do projeto
Cartilha Monitoramento de Sistemas Agroflorestais;
09 Regiões do Estado praticando Monitoramento Participativo;
Livro em Construção;
Difusão e Construção do Conhecimento.
Fonte: adaptado de UFSCAR (2011)
46
Da tabela acima, como também da descrição das atividades no capitulo
anterior, pode-se concluir que todas as atividades e resultados previstos pelo projeto
foram atingidos. Na maioria dos casos, foi desenvolvido muito mais do que
inicialmente havia sido planejado.
Um exemplo para isso é o envolvimento das famílias, visto que, a proposta
original tratava-se de um número bem inferior de famílias a serem trabalhadas
durante o decorrer do projeto. Ao todo participaram do projeto 40 famílias, sendo
que dessas, a metodologia previa três monitores multiplicadores, 01 unidade de
demonstração e 03 famílias para acompanhamento e repasse dos aprendizados por
cada monitor, tendo esse conjunto chamado de Área Piloto do projeto.
Devido à expectativa gerada ainda na fase de divulgação do projeto,
relacionado ao número de pessoas interessadas e de jovens querendo atuar como
multiplicadores, o conselho gestor, decidiu dividir as bolsas previstas para os
monitores para assim, possibilitar a participação dos demais. Ao final, foram
implantadas 06 unidades de demonstração e 05 unidades chamadas experimentais
(Atividade 3.2 da tabela acima).
Além disso, com o passar do tempo o projeto tomou forma, e com isso,
diversas foram às atividades que se realizaram além do processo local que não
haviam sido previstos (Atividade 3.4 da tabela acima). Por exemplo, parcerias9 com
entidades que tiveram projeto aprovado no âmbito de edital semelhante voltado a
agricultura familiares as diversas atividades realizadas em parceria com a
Articulação Paulista de Agroecologia – APA. Essas atividades demonstraram o forte
potencial de diálogos, trocas e conexão entre projetos e redes dentro do estado.
Abaixo, é apresentado um gráfico (Figura 7) que demonstra a quantidade das
atividades desenvolvidas, sistematizadas por tema da Tabela 2. A sistematização foi
feita da seguinte maneira:
• Divulgação do Projeto: Atividades relacionadas à quantidade de vezes
em que o projeto foi divulgado de modo geral;
• Reuniões na Comunidade: Reuniões com intuito de divulgação e
sensibilização do projeto;
9 A respeito do: “Projeto Fomento à rede de pesquisa participativa e ATER agroecológica através da formação de agentes agroflorestais no âmbito da Articulação Paulista de Agroecologia” financiado através do Conselho Nacional de Pesquisa Científica com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (CNPq - Edital - 24/2008 - 576846/2008-2)
47
• Nivelamento Metodológico: Atividades com relação ao nivelamento das
etapas e metodologias previstas no projeto;
• Oficinas / Formação / Capacitação: Atividades de formação da equipe
do projeto, dos monitores multiplicadores;
• Eventos / Congressos / Oficinas: Trata-se de eventos regionais,
congressos, fóruns, relacionados ao tema em que o projeto apresentou
trabalhos;
• Intercâmbios ou troca de Experiências: Estas trocas compreendem
atividades na região, outras regiões e estados, entre pessoas em atividades a
exemplo dos mutirões realizados;
• Reuniões Planejamento da Equipe: Atividades para planejamento,
discussão e balanço dos resultados e estratégias futuras entre a equipe do
projeto;
• Parcerias / Conselho Gestor: As atividades constam do número de
reuniões realizadas no CG e na câmara Técnica do projeto e ainda, reuniões
ou atividades realizadas com parceiros em relação ao projeto.
• Levantamento e Diagnósticos: Atividades relacionadas a visitas em
campo, nas Unidades Demonstrativas, levantamentos, etc.
• Ações Regionais: Atividades que foram realizadas em parcerias com
entidades, participação em oficinas, organização de eventos, etc.
Figura 7: Números de Atividades Realizadas por Área s Temáticas
48
Esse gráfico comprova que nenhum tema foi negligenciado, que cada objetivo
do projeto, como por exemplo, os diagnósticos iniciais realizados ou os intercâmbios,
foi trabalhado intensamente e que até para as famílias participando somente
indiretamente teve um número enorme de atividades, possibilitando um aprendizado
profundo, assim como efeitos multiplicadores.
O número de atividades relacionadas ao conselho gestor e com os parceiros
foram fundamentais para que a execução do projeto fosse transparente e objetiva
indo de encontro aos resultados que eram esperados.
Os processos constantes de capacitação e formação dos monitores
multiplicadores junto à equipe do projeto contribuíram não só para o conhecimento
deles, como também, para que todas as ações pudessem ser realizadas na prática
junto à comunidade.
Quando comparado a proposta inicial do projeto com o processo de ATER
desenvolvido, podemos concluir que o projeto cumpriu todas as atividades previstas
e teve um potencial efeito de mobilização, articulação e multiplicação, graças a
clareza dos papéis entre os participantes, o comprometimento dos atores e
parceiros, possibilitando com isso, gerar fluxo de informação e construção do
conhecimento local.
5.2. O CUMPRIMENTO DOS PRINCIPIOS DA PNATER
A escolha do projeto como um dos projetos apoiados pelo Edital CNPq
036/2007, sendo que a aderência da proposta à PNATER era um dos pontos
principais dos critérios de análise e julgamento de mérito e relevância, já demonstra
que ele foi considerado como dentro das exigências da PNATER. Em seguida, é
comprovada com alguns exemplos que isso realmente foi o caso, comparando os
princípios definidos na lei instituindo a PNATER com a metodologia e execução do
projeto.
Os princípios da PNATER são:
I. Desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização dos
recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;
49
II. Gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência
técnica e extensão rural;
III. Adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar,
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a
democratização da gestão da política pública;
IV. Adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque
preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção
sustentável;
V. Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e
VI. Contribuição para a segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2010).
5.2.1. O Primeiro Princípio
O primeiro princípio da PNATER é o desenvolvimento rural sustentável, que
pode ser entendido conformo definido pelo CONDRAF (2004) como sendo “[...] um
processo dinâmico e multidimensional, portanto, necessariamente articulador e
conciliador de setores econômicos, atores sociais, práticas culturais e realidades
ambientais diversas e diversificadas”.
Assim, entendemos que a agroecologia, que inclui todos esses aspectos, é a
responsável pela busca desse desenvolvimento rural sustentável como já
referenciado anteriormente em prol da sustentabilidade.
A proposta do Edital CNPq 036/2007 previa na linha temática o uso de
técnicas de manejo em sistemas de produção sustentável de base ecológica. Um
dos pontos reveladores do projeto foi a proposta de construção de conhecimento
voltada a valoração de espécies nativas locais, buscando com isso a diversificação
da produção, a partir da introdução de novas espécies, visando seu uso e manejo
dentro da comunidade, ao mesmo tempo em que propôs modelos alternativos,
baseado no uso dessas espécies em comunidades rurais no entorno de unidades da
conservação onde estão inseridos.
Dessa forma, de acordo com a descrição do projeto, da metodologia utilizada
e da proposta clara de trabalhar modelos sustentáveis de produção a partir da lógica
da agroecologia com base na técnica dos sistemas agroflorestais, podemos então
50
concluir que o projeto foi de encontro com esse primeiro princípio (MDA; SAF;
DATER, 2004).
5.2.2. O Segundo Princípio
O princípio II diz que a nova ATER pública deve ser gratuíta, com qualidade e
acessível à agricultura familiar. Um projeto vai de encontro a esses princípios,
principalmente, na consolidação de política pública, quando o estado através dessa
iniciativa gera a possibilidade da participação e inclusão desse tipo de público.
O projeto, em nenhum momento, observado sua limitação de infra-estrutura,
recursos e seu caráter universitário, foi excludente, permitindo assim a partir de um
acordo pré-estabelecido dentro da comunidade com comprometimento e autonomia
dos participantes, que todos os interessados pudessem participar sem custo. Das
150 famílias instaladas no assentamento Ipanema, quarenta optaram por participar
diretamente das atividades. Acredita-se assim que houve dentro do assentamento
um fluxo de informação suficiente para que as demais recebessem algum benefício
de ATER indireto.
5.2.3. O Terceiro Princípio
O terceiro princípio, também sendo considerado como um dos principais
nessa nova política de desenvolvimento rural sustentável traz as metodologias
participativas, a sua construção endógena, o seu enfoque multidisciplinar,
interdisciplinar e intercultural, colocando com isso a nova ATER pública a
desempenhar um papel educativo, construtivo, animando e facilitando os processos
de diálogos junto às comunidades (MDA; SAF; DATER, 2004).
O projeto, conforme pode ser verificado na proposta desenvolveu a partir de
uma equipe multidisciplinar (a participação da universidade e sua diversidade)
diversas atividades que procuraram, ainda na construção da proposta do projeto,
51
proporcionasse diálogos e nivelamentos para que o projeto pudesse atender as
exigências do edital assim como principalmente a demanda da comunidade.
Desta forma, a proposta por si possuiu caráter multidisciplinar e
interdisciplinar, uma vez que utilizou conceitos e critérios ecológicos (ciências
biológicas) num sistema de produção (ciências agrárias). Por outro lado, os sistemas
agroflorestais uma vez implantados foram avaliados em relação a indicadores
ambientais, sociais e econômicos, o que novamente traduz a inter e
multidisciplinaridade do projeto. A equipe foi composta por engenheiros florestais,
agrônomos, biólogos, economistas, educadores, além de estudantes de graduação,
de nível médio, técnicos e extensionistas.
No início do projeto, com base nesse foco, foi desenvolvida uma proposta
com base em projetos anteriores com o mesmo tema de ouvir agricultores,
extensionistas e entidades de ATER como forma de conselhos para que o projeto
fosse mais bem executado. Com base nisso, como observado nas Atividades 2.2 e
2.3 da Tabela 2 foi realizado um levantamento na região do Vale do Ribeira, no
estado de São Paulo, que tem histórico de aproximadamente 20 anos com projetos
sócio-ambientais, servindo de área modelo para o projeto desenvolvido.
A preocupação desde o início do projeto em estabelecer um sistema
participativo de gestão, conforme previsto na Atividade 1.1 da Tabela 2, incluindo os
diversos atores envolvidos, demonstrou o comprometimento com esse princípio III.
Isto pode ser observado também com base na Figura 7, a quantidade de atividades
relacionadas a Parcerias / Conselho Gestor / Parceiros, os Levantamentos e
Diagnósticos, as Reuniões na Comunidade atrelada às oficinas de nivelamento
demonstram o cumprimento do princípio.
5.2.4. O Quarto Princípio
O quarto princípio que se refere à agricultura de base ecológica, já está sendo
levado em consideração dentro do primeiro princípio que se refere ao
desenvolvimento rural sustentável atrelado aos princípios da agroecologia.
Como a proposta do projeto sugere uma agricultura a partir da prática de
sistemas agroflorestais, que sempre são na base ecológica, além da sua proposta
52
com base no planejamento da propriedade como um todo, inserindo as práticas
agroecológicas, acredita-se que tal princípio foi atingido.
5.2.5. O Quinto Princípio
O princípio V exige que, dentro das práticas de projeto como também
assegurado na nova política de ATER, deve ser levado em conta equilíbrio de
participação onde possibilita, sem nenhum tipo de discriminação, que as diferenças
entre gênero, geração raça e etnia, sejam igualitárias sem restringir o acesso das
pessoas ou manifestações (MDA; SAF; DATER, 2004).
No projeto, como já comentado anteriormente, foi aberta a participação de
todos que tinham interesse. Através da lista dos participantes do projeto foi possível
verificar que, mesmo tendo os homens como titular da maioria dos lotes do
assentamento, obteve-se uma porcentagem considerável de 30% de mulheres em
relação aos homens. Todavia este dado foi na base da lista dos participantes
titulares sem levar em consideração que o projeto trabalhou com famílias inteiras.
Além disso, a participação de pessoas mais velhas da comunidade foi
essencial para a construção do mapeamento participativo a partir do conhecimento
acumulado, proporcionando assim uma troca através da proposta de formação da
juventude integrante do projeto. Como a proposta do projeto foi baseada na
formação de jovens secundaristas desde então a preocupação com a geração ou
sucessão familiar na comunidade esteve presente.
A comunidade é dividida em duas áreas. A partir do diagnóstico inicial
realizado na comunidade foi possível observar diversas lideranças divididas por
grupos internos, além da presença de diversos grupos religiosos. Diante dessas
informações e em comum acordo com o conselho gestor, o projeto aproximou todos
esses grupos para que fossem assim representados.
Pode-se concluir então que dentro desta perspectiva foi possível proporcionar
a participação com respeito a esse princípio na execução e geração de resultados
desse projeto.
53
5.2.6. O Sexto Princípio
O último princípio previsto na política nacional está na contribuição de
projetos de desenvolvimento rural sustentável que tenham ênfase na segurança
alimentar e nutricional das famílias. O Edital CNPq 036/2007 também teve como
exigência dos projetos a serem contratados, a meta de auto-suficiência na produção
de alimentos e conseqüentemente geração de renda das famílias participantes.
Os sistemas agroflorestais, conforme conceituado anteriormente têm uma
preocupação com a diversificação da produção e da renda tanto a curto, médio
como em longo prazo. Além disso, essa diversificação da produção faz parte dos
princípios da agroecologia, principalmente no que se refere à utilização de produtos
locais e regionais. A própria metodologia de implantação dos SAFs teve essa
preocupação quando observado o planejamento estratégico que foi estabelecido
(vide 4.3.), voltado à inserção de novas espécies dentro dos sistemas de produção
praticados pelas famílias.
Um exemplo disso pode ser resgatado pelo trabalho de Cardoso-Leite et al.
(2010) apresentado em Montpellier, França, quando no primeiro diagnóstico
realizado para saber o conhecimento e uso de espécies para SAFs, foi verificado
que as famílias citaram pouquíssimas espécies, na maioria, exóticas de médio
prazo. Após as metodologias estabelecidas no projeto, ao final foi trabalhado com
uma lista de aproximadamente 60 espécies, composta agora na maioria por nativas
de curto, médio e longo prazo.
As espécies consideradas novas pelos agricultores foram sugeridas a partir
do conhecimento dos mais antigos, de entrevistas com extensionistas e profissionais
locais, do levantamento da flora no entorno na comunidade e das espécies já
registradas como geradoras de renda, assim buscando, tanto a diversificação de
alimentos como também de renda.
Conclui-se então que, diante dos princípios estabelecidos em conformidade
com o edital do projeto e com as metodologias estabelecidas, em prol da
diversificação da produção, o projeto atendeu tais exigências.
No que se refere aos princípios estabelecidos na lei 12.188, de 11 de Janeiro
de 2010, e de acordo com a redação mais detalhada da PNATER em 2004,
54
podemos concluir que o projeto cumpriu aquilo que está previsto e pode ser
considerado como um bom exemplo de um projeto de PNATER.
5.3. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO
A metodologia adotada para verificar o cenário de resultados do projeto foi o
método SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) ou FOFA ((Forças,
Fraquezas, oportunidades e Ameaças), ferramenta metodológica e participativa
capaz de ajudar a identificar as principais potencialidades e fragilidades que podem
ser utilizadas em diversos setores.
A tabela abaixo (Tabela 3) foi gerada com base nas informações das
entrevistas semi-estruturadas que foram aplicadas junto aos monitores
multiplicadores, que se trata de jovens bolsistas da própria comunidade, escolhidos
através do Conselho Gestor, como também, aplicadas com algumas famílias que
participaram diretamente do projeto. Também foram utilizadas as informações dos
documentos regatados do projeto, dos cadernos sistematizados de monitoramento e
do relatório final.
Com base nos resultados das entrevistas que ajudou a formular a análise
FOFA abaixo, foram entrevistas 15 famílias, sendo que, desses, seis (06) foram
monitores que receberam apoio direto do projeto (recursos, insumos, etc.) e as
demais famílias (09), se tratavam de agricultores que participaram diretamente das
atividades (mutirões, intercâmbios, atividades gerais, etc.).
O resultado em síntese apontado demonstrou que, das 15 famílias
entrevistas, todas (100%) reconheceram o projeto que foi desenvolvido, sendo que
desse total, 11 (73%) receberam algum tipo de apoio direto. Dos que continuam
experimentando, apenas 05 (33%) vêm fazendo algumas “coisas” relacionadas à
agroecologia. Desse total, 12 (80%) apontam a falta de continuidade como um
problema.
55
Tabela 4 : Análise FOFA do projeto
AJUDA ATRAPALHA
FORÇAS FRAQUEZAS
INT
ER
NA
S
Crescente interesse dos agricultores em participar do projeto (expectativas);
Transparência que o projeto veio ganhando na sua execução;
Planejamento participativo levando em conta as considerações dos assentados;
Participação das mulheres e da Juventude nas atividades do projeto;
Geração de materiais didáticos;
Fortalecimento de iniciativas pré-existentes;
Interação dos jovens como agentes Multiplicadores / transformadores.
Receio das famílias que tem uma situação fundiária ainda indefinida de suas áreas junto a FLONA Ipanema, principalmente da inserção de árvores nativas;
Agricultores com dificuldades em entender mais sobre o projeto.
Estrutura de transporte pelo projeto prejudicado (falta de veículos);
Estruturação de projetos;
Ausência de recursos financeiros para a construção de cercas nas áreas a serem recuperadas;
Falta de atendimento das expectativas devido à demanda de participação no projeto.
Falta de continuidade interna por desestímulo.
OPORTUNIDADE AMEAÇAS
EX
TE
RN
AS
Abertura para discussão entre as famílias, sobre espécies nativas a serem trabalhadas na recuperação das áreas;
Diversificação de arranjos com espécies nativas, levando em consideração espécies frutíferas e algumas exóticas de interesse das famílias;
Construção do conhecimento da comunidade;
Novas Iniciativas que foram acontecendo;
Inserção da Universidade junto a comunidade;
Participação ativa dos parceiros no planejamento das etapas do projeto.
Riscos para as áreas em recuperação, devido uso indevido de fogo por vizinhos;
Falta da consolidação da juventude enquanto agentes de ATER, principalmente os jovens monitores que se formaram no decorrer do projeto no Curso do PRONERA/UNICAMP;
Falta de vocação da Agroecologia na Região de Sorocaba;
Falta de continuidade enquanto as ações atuais de projetos de modo geral;
Necessidade de acompanhamento e monitoramento de projetos antes, durante e depois buscando uma proposta de continuidade.
Os comentários a seguir serão tratados de modo geral divididos em duas
categorias: Aquilo que ajuda e que atrapalha. Assim, primeiro são comentadas as
forças e oportunidades e na seqüência as fraquezas e ameaças. Após essa análise
será por fim aplicada a leitura do método FOFA, ou seja, avaliando questões
56
relacionadas ao ambiente interno (forças e fraquezas) e em seguida analisando
aquelas relacionadas ao ambiente externo (oportunidades e ameaças).
5.3.1. Forças
Podemos verificar pela Tabela 3 com referência as Forças, que existem
informações voltadas a questões metodológicas, de participação, ligados aos
princípios da PNATER e que muito tem a ver com aquilo que foi previsto no projeto
enquanto exigência do edital. Como as quatro primeiras forças, a exemplo de
planejamento participativo, transparência, gênero, entre outros assuntos, já foram
examinadas em detalhe, principalmente no item 5.2.. Isto posto, não será feita nova
abordagem, e sim, somente fazendo referência aos demais casos isolados.
Com referência a geração de materiais didáticos, podendo considerar
inovadora, por valorizar o conhecimento local, estimular os aprendizados sobre usos
das plantas nativas regionais e a construção participativa com a integração da
comunidade no processo e principalmente, pelo projeto ter previamente observado a
falta de materiais voltados ao tema, merece destaque o jogo de cartas ou Eco-cartas
(COELHO; CARDOSO-LEITE, 2010) (ver item 4.3.), desenvolvido para o projeto por
intermédio dos integrantes da equipe. Este material foi de extrema importância para
trabalhar a construção do conhecimento junto à comunidade e em busca do
estabelecimento de sistemas agroflorestais.
No que corresponde ao fortalecimento das iniciativas pré-existentes, pela
análise do relatório (UFSCAR, 2011), este processo se deu, ainda na proposta de
elaboração do projeto objeto de análise, quando, na tentativa de inovar na proposta
de extensão, o foco foi realizar um levantamento das iniciativas ou projetos
anteriormente desenvolvidos e com isso, tirar lições e aprendizados, buscando
fortalecer ou de alguma forma, dar continuidade a propostas parecidas. Para o
projeto, isto foi no sentido de enriquecer ou melhorar áreas de SAFs já trabalhadas e
que, por falta de continuidade ficaram sem acompanhamentos.
A interação dos jovens aconteceu assim que o projeto iniciou o processo de
formação, unindo as iniciativas existentes, consolidando um processo de formação
participativa com diversos outros agentes. Além disso, alguns dos jovens que já
57
estavam estudando agroecologia no colégio técnico em Itapeva/SP
(UNICAMP/INCRA/PRONERA) tiveram seus trabalhos de conclusão de curso com
temas que foram trabalhados dentro do projeto, recebendo assim, elogios por parte
dos seus orientandos e ajudando a gerar novos produtos para o projeto, além de
gerar novos materiais didáticos.
Ainda com base nesta interação dos jovens na comunidade, vale a seguinte
transcrição de um deles que mostra este sentimento:
Adquiri muito conhecimento, como observar o lugar quando aplicar um diagnóstico, a preparação do solo com poda e adubação verde, como fazer um croqui, o papel do monitor, aprendi a ouvir as pessoas na pratica. Aprendi a preparara área, recuperar o solo, preparar muvuca de sementes e mudas, enfim aprendi bastante coisa que foi muito importante para mim e procurei passar tudo isso para os monitorados.
Outro monitor comentou: “Eu acho que foi muito bom o método de fazer
mutirões, visitas de campo, troca de experiências, foi muito bom ver que a
concepção de um agricultor mudou após conhecer esse “novo modelo agrícola”.
Com isso, concluímos então o forte potencial multiplicador e mobilizador do
projeto, conforme previsto na PNATER. A partir de uma proposta metodológica que
está baseada na autonomia, no comprometimento, nas trocas de saberes e idéias e
sem dúvida, no processo paciente de construção do conhecimento.
5.3.2. Oportunidades
No que tange as oportunidades, questões relacionadas à “abertura para
discussão sobre novas espécies”, o destaque para “construção do conhecimento”
“diversificação de espécies” e “novas iniciativas”, pode-se concluir que:
O planejamento participativo e o processo estabelecido de construção do
conhecimento10, permitiram uma aproximação maior das famílias para a valorização
dos produtos da natureza, que antes não existia pela falta de conhecimento próprio
e principalmente, pela resistência das famílias pela sua situação indefinida junto a
10 Imagens podem ser acessadas através do link: https://picasaweb.google.com/agroflorestaipanema)
58
Floresta Nacional de Ipanema - ICMbio11, conforme destacado por COSTA JR. et. al.
(2009):
[...] A baixíssima ocorrência de citações diretas de espécies nativas locais reflete a falta de tradição dos assentados com o bioma local, considerando o fato de serem provenientes de diversas regiões do país, e muitos terem vindo da cidade [...] [Foi] detectada em diversos momentos a insegurança dos agricultores inserirem “plantas nativas” e “árvores” nas áreas produtivas de seus lotes, havendo o receio generalizado da perda da terra para os órgãos ambientais, o que é reforçado por sua situação fundiária ainda indefinida e a proximidade com a FLONA Ipanema.
Desta forma, não somente no que se refere à abertura das famílias pela
opção por plantas nativas, mas, também, pela diversificação da produção a partir
das áreas de monoculturas praticadas por eles. Não obstante, cabe ainda distinguir,
que o projeto optou pela agroecologia no desenvolvimento do trabalho e o que pode
ser analisado pelo relatório, é que o planejamento foi ao encontro do “olhar” para a
propriedade como um todo. Com isso, facilitou o diálogo no que se referiu ao
“receio” das famílias.
Pelos dados do projeto, quando comparado o número de famílias ou atores
inicialmente previsto pelo projeto, o aumento de 09 famílias para 40, ou ainda, mais
especificamente, 03 unidades de demonstração para 11 por iniciativa dos
participantes, reflete as novas iniciativas que se sucederam durante o projeto.
O projeto possibilitou a geração de pesquisa, fazendo valer esta relação
universidade e projetos de extensão, destacando assim, a apresentação em
diversos eventos e congressos, trabalhos relacionados à agroecologia no Brasil e
também no exterior. Aproximadamente 18 trabalhos foram apresentados nesses
eventos (Atividade 2.3. da Tabela 2). Além disso, a interação da extensão
universitária, gerando conhecimento e produtos diretos na comunidade, é de forte
relevância.
O papel da universidade, do ensino, pesquisa e extensão, da sua inter- e
multidisciplinaridade, articulados e integrados no que se refere ao desenvolvimento
rural sustentável, buscando formar redes e permitindo a integração de agentes de
ATER, agricultores familiares, e organizações fazem parte das orientações
estratégicas da política nacional para a Nova ATER. (PNATER, 2004). Concluindo
assim, que esta inserção teve reconhecimento por parte dos atores envolvidos.
11 Detalhes em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2191.
59
No que se refere à “participação ativa dos parceiros”, cabe destaque ao
Conselho Gestor formado com entidades parceiras da comunidade, como
universidade, entidades públicas de ATER (Estadual e Federal), órgão ambiental e a
representação de diversas lideranças, divididas por associações da comunidade,
que tiveram participação garantida. Com isso, o projeto ganhou transparência e
acima de tudo, nivelamento com referência à proposta metodológica. Foi através das
parcerias, que muitas ações foram potencializadas e factíveis de serem alcançadas.
Quanto às parcerias externas, a integração com novos projetos resultou num
trabalho que foi aquém do processo local, ou seja, para uma construção e
envolvimento regional para fortalecimento da agroecologia dentro do estado com
novas propostas a partir daquilo que foi sendo trabalhado. Um exemplo disso foram
as diversas atividades realizadas em rede junto à Articulação Paulista de
Agroecologia – APA e os diversos eventos a exemplo do I Fórum Paulista de
Agroecologia, 2010, realizados em parceria com diversas instituições.
5.3.3. Fraquezas
A leitura das fraquezas, levantadas com base nas entrevistas e no relatório,
nos permite observar, além de casos isolados, que, para o projeto, a questão da
estrutura e falta de recursos prevaleceu entre a maioria. Paralelo a isso, outra
questão a salientar, se refere à continuidade pós-projeto, fator esse tido como
relevante, principalmente por parte dos jovens formados pelo projeto como agentes
locais.
O “receio das famílias” colocado como fraqueza foi comentado ao mesmo
tempo em oportunidades (abertura para novas espécies), quando justamente o
projeto, através de diagnóstico prévio aplicado, conseguiu visualizar tal problema, no
que se refere a uma das áreas do assentamento que ainda tem sua situação
indefinida no que tange à titulação dos lotes. Devido a esta questão, muitas famílias
no momento que compreenderam que os sistemas agroflorestais envolviam o uso de
plantas nativas, se mostraram resistentes e acharam que poderiam perder suas
60
terras para o órgão ambiental12. Tal questão também nos leva a concluir que faz
parte deste projeto em específico e não é um problema relacionado a ATER de
modo geral.
Quanto o assunto relacionado à estrutura do projeto e à falta de recursos,
cabe a seguinte reflexão: Na maioria das vezes o recurso de um projeto de ATER é
pouco apoiado através dos editais e um sistema de ATER descentralizado é
custoso, porque existem necessidades que são centralizadas pela exigência de
veículos, transportes, infra-estrutura para atendimento, entre outras questões.
No presente edital, mesmo o projeto sendo direcionado a ATER, que tem
suas especificidades quanto à execução, porque demanda tempo, recursos para
locomoção, necessidade de insumos para estabelecimento das práticas
agroecológicas, e antes de tudo, pelo caráter mobilizador e participativo que
demanda atividades de sensibilização, nivelamentos, etc., não foi previsto tal apoio.
Com isso, o projeto teve limitações.
Na proposta inicial, em conversa com a coordenação do projeto, haviam sido
previstos, por exemplo, veículos (duas motos), para facilitar a interação junto à
comunidade, visto que, a entidade proponente fica numa cidade e a comunidade em
outra. Após a elegibilidade do projeto, no momento da revisão e contratação pelo
agente financiador, esta estrutura básica foi desconsiderada. O que da a entender
que as entidades interessadas, já devem prever essa estrutura para atendimento no
que se refere a ATER. No projeto, conforme verificado, a estrutura utilizada no que
se refere a veículos, foi dos próprios integrantes da equipe, com alguma ajuda de
combustível, pagos pelo projeto. Tal questão reflete a problemas identificados em
projetos como esse. (DIESEL, NEUMANN E GARCIA, 2007)
No que se refere à continuidade, um ponto considerável é o curto período de
tempo de projetos voltados à questão do desenvolvimento sustentável.
Normalmente, esses projetos são apoiados por no máximo 1 – 2 anos em média e
este tempo, claramente é pouco para estabelecer um “sistema sustentável”. Como
exemplo, para modelos agroecológicos como os Sistemas Agroflorestais – SAFs ou
mesmo do manejo de Produtos Florestais, não é possível verificar e acompanhar
parte do processo de desenvolvimento porque eles são sistemas de longo prazo,
fato que, o recurso acaba e o projeto também.
12 Ver: Costa Jr. et al. (2009).
61
Além disso, o curto período de tempo fica condicionado à efetiva necessidade
de organizar melhor os grupos ou a comunidade, para que se possa discutir e
construir de forma participativa, através de reuniões, diagnósticos, capacitações que
vem a ser necessárias. Após isso, é realizada a implantação de áreas e na maioria
das vezes, a continuidade desse processo fica sem acompanhamento e a
consolidação das propostas pode ficar prejudicada, muitas vezes pelo tempo para
apropriação do conhecimento por parte dos beneficiários, como também, pelo
comprometimento ou autonomia.
Esta questão vai de encontro a outro ponto levantado pelas fraquezas
“Agricultores com dificuldades para entender mais sobre o projeto”. Isto, pelos
relatos, teve muito a ver com a questão do entendimento sobre os papéis,
principalmente da entidade proponente, que foi tida muitas vezes como entidade de
ATER, mesmo que, nas reuniões de nivelamento, do conselho, sempre ser
esclarecida a posição da universidade enquanto colaboradora neste processo de
extensão. Tal questão pode estar atrelada, possivelmente, a carência ou falta de
ATER na comunidade, em quantidade suficiente a todos, mesmo que, durante o
decorrer do projeto, entidades como o Instituto de Terras do Estado de São Paulo -
ITESP13 e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA14, ligadas
diretamente à extensão pública estadual e federal conseqüentemente, fizeram parte
de todas as fases do projeto e com cadeira permanente no conselho gestor.
Algumas observações importantes feitas pela comunidade merecem ser
destacadas no que se refere à continuidade interna. (texto transcrito do vídeo final
do projeto15):
"Vocês vão começar este projeto, mas não vão embora, de repente, né?"
“Depois do projeto, vocês não vão abandonar a gente, né?”
Tal fato demonstra ao mesmo tempo para o projeto, insegurança das famílias
em relação a projetos anteriores e ainda, dependência e falta de autonomia em
relação à unidade familiar.
Ainda com base neste assunto, um fator que pode ser evidenciado é na
leitura do Item 4.2., quando no projeto, um dos pontos inovadores, também foi de
chamar a atenção das famílias para o comprometimento e autonomia, trazendo eles,
13 Ver: http://www.itesp.sp.gov.br/br/ 14 Ver: http://www.incra.gov.br/portal/ 15 Disponível em: http://projetoagroflorestaipanema.blogspot.com/
62
para uma reflexão no decorrer do projeto, para a não dependência e que muitos dos
aprendizados realizados, poderiam ser apropriados e aplicados em cada
propriedade, independentemente do apoio ou não de entidades ligadas a ATER.
Nesta perspectiva, cabe o exemplo tirado na leitura do relatório: “[...] um quintal
agroflorestal, por exemplo, se planejar, diversificar, possibilitar quantidade de
alimentos a mesa, visando à soberania e segurança alimentar, e se isso é bom,
porque nós mesmos não podemos fazer?” (UFSCAR, 2011).
Diante desta perspectiva, pode-se concluir que as fraquezas internas têm
muita relação com a falta de recursos e apoio a projetos de extensão rural. Mesmo
que, durante toda execução do projeto ser reforçada a parte do comprometimento de
cada um, existe uma preocupação pela falta de continuidade do projeto, se a
comunidade será capaz de apropriar todos os aprendizados e conhecimentos
gerados, para continuar a praticar a agroecologia como alternativa a produção
convencional, buscando a sustentabilidade ambiental, econômica, cultural e social,
independente da presença física de projetos ou apoios tidos como ATER, ou se
ficarão a mercê, na espera, por novas oportunidades.
Finalizando esta questão por aqui, vale a avaliação feita por um dois
participantes:
Com o fim do projeto, toda a construção coletivamente realizada passa por um processo de enfraquecimento, devido à falta de acompanhamento, e corre o risco de novamente se perder com o tempo. Acredito que nós quanto projeto (eu como monitor), deixamos a desejar em não conseguir desenvolver mecanismos de continuidades dos processos na própria comunidade. Mas que possivelmente se esbarraria novamente na falta de apoio financeiro por parte do governo, pois neste processo seria necessária verba para liberação e locomoção de agentes disseminadores, assim como materiais que auxiliariam nas discussões e organização.
5.3.4. Ameaças
A questão da continuidade tem a ver tanto quanto a questão interna da
comunidade (Ambiente Interno), buscando alternativas para tal, como tem ligação
direta com a aplicação da lei de ATER (Ambiente externo) no que tange a
distribuição de recursos, para que ATER atenda a demanda da agricultura familiar,
63
possibilitando o acesso a Nova ATER pública, contínua e de qualidade, conforme
apontado na política, e anteriormente, discutido no item 5.3.
Uma ameaça que no decorrer do projeto virou realidade, conforme relatos e
informações, além de fotos do banco de imagens do projeto, teve a ver com os
riscos de incêndios e/ou outros riscos nas áreas do projeto, pondo a perder parte do
trabalho realizado nas UDs. Isto ocorreu ainda na execução do projeto, quando foi
solicitado apoio ao cercamento das áreas em recuperação, tanto para impedir
acesso de pessoas buscando prevenir estes riscos, como por da prevenção da
entrada de animais da vizinhança nas áreas e o projeto não tinha recursos previstos
para tal. Este fato, ainda pode ser preocupante, visto que, nas UDs, o projeto
investiu aproximadamente R$2.800,00 entre insumos, mudas, diárias para plantios,
etc. (UFSCAR, 2011).
A ameaça mais transparente ao projeto, na conversa com os monitores
multiplicadores da comunidade (06 bolsistas), tem a ver com a consolidação destes,
enquanto agentes de extensão rural. Dos seis (06) monitores, quatro (04) estudaram
e se formaram através do Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária –
PRONERA16, além de toda a formação que passaram pelo projeto. Estes jovens
formados, juntamente com os dois (02) que apenas concluíram o ensino médio
normal, ao final do projeto, estão na seguinte situação:
Jovem I: Permanece na comunidade, maneja sua UD, ainda se coloca como
monitor;
Jovem II: Permanece na comunidade, trabalha próximo do entorno da
comunidade como diarista em serviços não ligados a agricultura;
Jovem III: Permanece na comunidade e trabalha na manutenção de jardins,
etc., em condomínios no entorno das cidades;
Jovem IV: Saiu da comunidade, mudou para outra, trabalhou na cidade e
recentemente está sendo contratada por uma ONG para trabalho externo a sua
comunidade.
Jovem V: Saiu da comunidade, vive e mora na cidade, atuando em metalurgia
e;
16 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA - é uma política pública de educação envolvendo trabalhadores(as) das áreas de Reforma Agrária. O PRONERA é um programa articulador de vários ministérios; de diferentes esferas de governo; de instituições e movimentos sociais e sindicais de trabalhadores (as) rurais para qualificação educacional dos assentados da Reforma Agrária. (INCRA, 2004).
64
Jovem VI: Saiu da comunidade para estudar antropologia, dando continuidade
à formação agora na tentativa do ensino superior.
Dos 06 jovens, apenas um permanece atuando como agricultor em sua
comunidade; 02 estão vivendo na comunidade, porém, não atuando na área
agrícola, 02 saíram da comunidade, vivendo nas cidades e trabalhando com outras
áreas e apenas 01, pode ser considerado um caso excepcional, por ter justificado
sua saída, para dar continuidade nos estudos. A expectativa para este último será
seu retorno ou não para a comunidade no futuro.
Com relação aos jovens, apenas recentemente, a coordenação do projeto
informou que uma ONG está interessada em contratar um dos jovens para atuar
com projetos ambientais na região, não diretamente na comunidade.
Segue mais alguma transcrição das entrevistas e avaliação por parte dos
monitores sobre esta questão (a e b): “Acho que o processo deveria continuar para
que daqui há alguns anos fosse visto um SAF já produzindo [...]” e “Por ser um
projeto de fins “revolucionários”, na agricultura daquela comunidade, eu sugiro que
tenha mais acompanhamento do projeto com os assentados”.
Com isso, podemos concluir que no que tange a consolidação dessa
juventude enquanto agentes de ATER na própria comunidade onde vivem, mesmo
para esses que se formaram no PRONERA, não aconteceu. Neste sentido, vem à
preocupação com a consolidação de políticas públicas, visto que, este processo de
formação e qualificação também é assegurado na PNATER na parte das
orientações estratégicas (PNATER, 2004), como também, no artigo 4°, parágrafo XII
da lei de ATER 2010. (BRASIL, 2010).
No que se refere ao “acompanhamento e monitoramento”, esta ameaça foi
detectada pela sistematização do relatório do projeto (UFSCAR, 2011), constando
que se os órgãos financiadores, a exemplo do próprio Ministério do Desenvolvimento
Agrário – MDA, responsável pela implementação da política de ATER, gerasse um
acompanhamento dos projetos financiados, haveria uma forte possibilidade da
identificação de boas e prósperas experiências, com potencial de continuidade. Para
o projeto, este monitoramento foi realizado apenas pela equipe do projeto no que se
referia aos sistemas de produção sustentáveis trabalhados.
Através de informações obtidas junto à coordenação do projeto, a pessoa
contratada para avaliar os resultados da chamada pública, apenas encaminhou uma
65
entrevista estruturada por e-mail, para que a própria equipe fizesse esta avaliação,
não chegando a realizar uma visita na comunidade para avaliar tais resultados.
Desta maneira, conclui-se, que é importante que este monitoramento
aconteça e que assim, os atores locais sintam-se de alguma forma, tendo a chance
de potencializar suas ações a partir de novos e continuados apoios no que se refere
à extensão. Para Dias (2007), a falta de um sistema de monitoramento e avaliação é
de suma importância para dar melhor embasamento à política, principalmente àquilo
que vai de encontro à execução propriamente dita.
No cenário aplicado através do método SWOT/FOFA, nos permitiu fazer uma
análise qualitativa a partir das informações obtidas pelas entrevistas, conversas com
a coordenação do projeto, relatório final e demais documentos pertinentes. Desta
forma, podemos dividir a conclusão desta análise em dois ambientes: Externo e
Interno.
5.3.5. Ambiente Interno (Forças e Fraquezas)
Pode-se considerar que diante de todo o processo participativo, de
investigação e ação participante, com valoração de aprendizados futuros e
presentes, realizado e reconhecido pelos atores, do qual propiciou a troca de
experiências, formação e construção do conhecimento, gerou com isso materiais
didáticos que colaboraram na interação da juventude enquanto multiplicadores locais
na comunidade difundindo a agroecologia.
Ao mesmo tempo, a situação indefinida das famílias, a dificuldade na
autonomia e auto-gestão por parte da comunidade e podemos dizer a insuficiência
de ATER, está diretamente ligado com a questão da demanda, quando da chegada
de um projeto com esse foco (extensão), o que reflete em necessidade de estrutura
e também de continuidade, podendo assim, se tornar um fator agravante pela
expectativa gerada.
66
5.3.6. Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças)
O processo trabalhado com a inserção da universidade atuando com foco na
extensão universitária, somado à forte participação dos parceiros, ao
comprometimento da comunidade e ao nivelamento de saberes e metodologias, com
inter- e multidisciplinaridade levou a um processo de construção do conhecimento,
demonstrando a importância da diversificação de produtos e renda atrelada a
preservação e boas práticas de manejo ecológico, possibilitando com isso, a
geração de aprendizados e experiências que possam subsidiar outras iniciativas.
Por outro lado, diante de todo o processo trabalhado, do conhecimento
gerado, a continuidade do processo fica comprometida, possivelmente por falta de
um monitoramento e avaliação no decorrer da execução do projeto. A falta de
consolidação da juventude formada enquanto agentes multiplicadores de ATER na
própria comunidade, mostra o desafio no âmbito geral, da necessidade do
acompanhamento para consolidação de determinadas políticas públicas, a exemplo
da própria PNATER.
Quanto ao fato da vocação da agroecologia na região, o que poderia ser uma
ameaça, mais recentemente, vem se consolidando a partir dos resultados e das
possibilidades geradas pelo apoio nesse projeto, para um trabalho regional.
A universidade, a partir da equipe atuante neste projeto, vem consolidando e
estruturando dentro do seu campus, com apoio de editais semelhantes, o Núcleo de
Agroecologia APETE-CAAPUA, que tem tanto eixos voltados à difusão da
agroecologia e do conhecimento dentro da universidade, como também, para a
região, a partir de práticas pontuais ligadas a extensão rural e a articulação da
agroecologia.
No mês de novembro de 2011, entre os dias 16 a 18, a universidade, com
diversos parceiros, realizou a I Semana de Agroecologia UFSCar Sorocaba e I
Fórum da Articulação Sorocabana de Agroecologia, mostrando a tendência e
possibilidade futura de continuidade enquanto ações no âmbito da articulação.
67
6. CONCLUSÃO
O projeto que serviu de base para análise, demonstrou potencial mobilizador
e articulador a partir de uma série de atividades que foram realizadas em 30 meses
de execução. O processo foi proposto a partir da chamada específica voltada a
inovação em ATER proposta através da parceria entre o Ministério da Ciência e
Tecnologia – MCT, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome -
MDS e o Ministério do desenvolvimento Agrário – MDA, deixando bem claro seu
caráter do “âmbito da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural”.
Analisando as etapas trabalhadas no projeto objeto de análise, verificou-se
que este foi ao encontro àquilo que previa o edital CNPq 036/2007, assim como
também, quando comparado aos princípios estabelecidos na Lei de ATER n°
12.188/2010.
Diante deste cenário, pode-se verificar que os problemas relacionados à
execução da ATER, com base no projeto analisado, vão ao encontro da insuficiência
de ATER, recurso financeiro muito limitado e conseqüentemente, pouca estrutura
para atendimento da demanda.
A falta da consolidação de políticas públicas a exemplo da inserção dos
jovens formados em programas reconhecidos nacionalmente, a exemplo do
Programa Nacional de Reforma Agrária – PRONERA, unindo à falta de continuidade
através de ações concretas de ATER junto à comunidade e ainda, a falta de um
monitoramento de meio-termo e fim, coloca a execução da ATER numa incerteza de
consolidação de resultados e da política.
No que tange a geração de resultados contínuos e permanentes pela ATER, o
presente projeto analisado, mesmo com todas as ações que ainda continuam agora
tidas como mais pontuais, no entanto, para a comunidade, a garantia dessa
continuidade não foi dada.
Com base no exposto e naquilo que foi avaliado, minhas sugestões buscando
uma maior eficiência do sistema são:
Os projetos que envolvam Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER),
possam ser minuciosamente avaliados, para que não haja, através destes projetos,
geração de muitas expectativas junto a comunidades rurais, para que não aconteça
uma dependência por parte de recursos, insumos, materiais, etc. Importante
68
salientar o fortalecimento nos projetos, da autonomia e comprometimento dos atores
envolvidos.
Que os recursos financeiros voltados à estruturação nos projetos com esse
caráter de ATER, possam ter assegurados tais itens a exemplo de veículos,
materiais didáticos, insumos e manutenção, etc., quando justificado.
Que possam existir monitoramento e avaliação tanto no meio quanto no fim
dos projetos, para que através disso, possam ser identificadas ações concretas e
que estas não se percam ao longo do tempo. Desta forma, este monitoramento vai
permitir que projetos com alto potencial possam ser identificados e então,
continuados.
Diante desses resultados, com base num projeto desenvolvido localmente,
seguindo aquilo que prevê a Nova Lei de ATER, se coloca a pergunta de como será
que a execução de ATER vem se dando em projetos semelhantes no Brasil ou como
eles conseguem evitar tais problemas? Esta pergunta fica no sentido dos problemas
que foram identificados no âmbito desta experiência.
69
BIBLIOGRAFIA
ALBERGONI, L.; PELAEZ, V. Da Revolução Verde à Agrobiotecnologia: ruptura ou continuidade de paradigmas. Revista de Economia , Curitiba, v. 33, n. 1, p. 31-53, Janeiro/Junho 2007.
ALTIERI, M. A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/FASE, 1989.
BRASIL. Lei N° 12.188, de 11 de Janeiro de 2010. In stitui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, altera a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. Diário Oficial da União , Brasilia, Ano CXLVII, n. 7, 12 Janeiro 2010. Seção 1, p. 1.
CAPORAL, F. R. Bases para uma Nova ATER Pública. Revista Extensão Rural , Santa Maria, v. Ano X, p. 85-117, 2003.
______. Bases para uma Política Nacional de Formação de Ext ensionistas Rurais . 1. ed. Brasilia: [s.n.], 2009.
______. Extensão Rural e Agroecologia: temas sobre um novo desenvolvimento rural, necessário e possível. Brasilia: [s.n.], 2009.
CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável: perspectiva para uma nova extensão rural. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável , Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 16-37, Janeiro/Março 2000.
______. Agroecologia: alguns conceitos e princípios . MADA; SAF; DATER-IICA. Brasilia, p. 24. 2004.
CAPORAL, F. R.; RAMOS, L. F. Da Extensão Rural Convencional à Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável: enfrentar desafios para romper a inércia . DATER. Brasilia, p. 23. 2007.
CAPRA, F. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cuprix, 1996. 256 p.
CARDOSO-LEITE, E. et al. Agricultural Extension in Agroforestry and Empowerment of Rural Communities in Southeastern Brazil. ISDA 2010 Agriculture and Food, Abstracts and Papers , Montpellier, 2010. 624-633.
CNATER. 1a Conferência Nacional sobre Assistência Técnica e Extensão Rural: ATER para a agricultura familiar e reforma a grária e o desenvolvimento sustentável do Brasil rural - documento base . CNDRS; MDA; Brasil. Brasilia, p. 24. 2011.
70
COELHO, S.; CARDOSO-LEITE, E. Elaboração de Matérial Didático sobre Espécies Florestais para Produtires Rurais. Anais do 61 Congresso Nacional de Botânica , Manaus, 2010.
CONDRAF. Resolução N° 48 de 16 Setembro de 2004: pr opõe diretrizes e atribuições para a rede de Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável - CDRS, nos diferentes níveis de atuação. Diário Oficial da União , Brasilia, 23 Setembro 2004. Seção 1 página 113.
COSTA JUNIOR, E. A. et al. Estratégias Inovadoras em ATER Voltados à Transição Agroecológica e ao Desenvolvimento de SAFs: o caso do assentamento Ipanema, Iperó/SP. Revista Brasileira de Agroecologia , Brasilia, v. 4, n. 2, p. 4332-4336, Novembro 2009.
DIAS, M. M. As Mudanças de Direcionamento da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) Face ao Difusionismo. Revista Oikos , Viçosa, v. 18, n. 2, p. 11-21, 2007.
DIESEL, V.; NEUMANN, P. S.; GARCIA, J. V. Por que a "NOVA ATER" não sai do Papel? Uma Análise da Visão dos Alunos do Projeto R esidência Agrária . XLV Congresso da SOBER: "Conhecimentos para Agricultura do Futuro". Londrina, p. 15. 2007.
EHLERS, E. Agricultura Sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 1996.
FARRELL, J. G.; ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Porto Alegre: Guaíba Agropecuária, 2002.
FÁVERO, O. A.; NUCCI, J. C.; BIASI, M. Vegetação Natural Potencial e Mapeamento da Vegetação e Usos Atuais das Terras da Floresta Nacional de Ipanema, Iperó/SP: conservação e gestão ambiental. RA'E GA - O Espaço Geográfico em Análise , Curitiba, v. 8, p. 55-68, 2004.
FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 7ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
IBGE. Censo 2010. IBGE, 2010. Disponivel em: <www.censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 Outubro 2011.
INCRA. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA: manual de operações. Brasilia: MDA, 2004.
______. Transição Agroecológica no Assentamento Ipanema . Iperó. 2005.
KEFERSTEIN, L. D. An Analysis of the Rural Credit System in Brazil: w inners and losers . Eberhard-Karls-Universität. Tübingen, p. 71. 2009.
KREUTZ, I. J.; PINHEIRO, S. L. G. A Extensão Rural e os Desafios da Perspectiva Agroecológica. Revista Brasileira da Agroecologia , Brasilia, v. 2, n. 1, p. 75-79, Fevereiro 2007.
71
LISITA, F. O. Considerações sobre a Extensão Rural no Brasil, Embrapa Pantanal. ADM - Artigo de Divulgação na Midia , Corumbá, Abril 2005. 1-3.
LUNDGREN, B. L.; RAINTREE, J. B. Sustained Agroforestry. In: ISNAR, B. Agricultural Research for Development: potentials and challenges in Asia. The Hague: Nestel, 1982. p. 37-49.
MAC DICKEN, K. G.; VERGARA, N. T. Agroforestry: Classification and Management. New York: John Wiley & Sons, 1990.
MCT; CNPQ; MDA; SAF; MDS; SESAN. Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - N° 36/2007: seleção pública de propostas para apoio a projetos de extensão tecnológica inovadora para agricultura familiar. CNPq, Brasilia, 2007. Disponivel em: <www.cnpq.br/editais/ct/2007/docs/036.pdf>. Acesso em: 20 Agosto 2011.
MDA; SAF; DATER. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural . Brasilia. 2004.
MMA; IBAMA. Floresta Nacional de Ipanema: plano de manejo da fl oesta nacional de Iapnema . Brasilia. 2003.
PACÍFICO, D. A.; CAPORAL, F. R. Formação em Agroecologia: avaliação das ações do DATER/MDA . XXVIII Congresso Internacional da ALAS. Recife, p. 23. 2011.
PODADERA, D. S. Participação no Projeto "Extensão Inovadora em Mode los Sustentáveis de Produção: sistemas agroflorestais e manejo de produtos florestais não madereiros" Financiado pelo CNPq (55 1944/2007-2). UNESP. Registro, p. 41. 2009.
PODADERA, D. S. et al. Difusão dos Sistemas Agroflorestais na Mata Atlântica: estudo de caso - o Vale do Ribeira de Iguape. Revista Brasileira de Agroecologia , Brasilia, v. 4, n. 2, p. 2541-2545, Novembro 2009.
RAMOS, L. P.; MORTARA, S. R.; QUEIROZ, O. T. M. M. Aplicação da Ferramenta SWOT (FOFA) no Planejamento Escolar . 16º Simpósio de Iniciação Científica da USP. São Paulo. 2008.
TORQUEBIAU, E. Sustainability Indicators in Agroforestry. In: HUXLEY, P. A. Viewpoints and Issues on Agroforestry and Sustainab ility . Nairobi: ICRAF, 1989.
UFSCAR. Extensão Inovadora em Modelos Sustentáveis de Produ ção: sitemas agroflorestais e manejo de produtos florestais mão- madereiros - relatório final . Sorocaba, p. 78. 2011.
VIVAN, J. L. Diversificação e Manejo em Sistemas Agroflorestais. Anais do III Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais , Manaus, Novembro 2000. 32-41.