Anais do II Coloquio Vertentes do fantastico na Literatura
Transcript of Anais do II Coloquio Vertentes do fantastico na Literatura
ANAISANAISANAISANAIS
3, 4 e 5 de maio de 2011
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Câmpus de São José do Rio Preto
IBILCE – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”
3, 4 e 5 de maio de 2011
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Câmpus de São José do Rio Preto
IBILCE – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas
ANAIS
APOIO:
Departamento de Letras Modernas
Programa de Pós-Graduação em Letras
Diretor José Roberto Ruggiero Vice-Diretor Maria Tercília Vilela de Azeredo Oliveira Chefe do Departamento de Letras Modernas Peter James Harris Programa de Pós-Graduação em Letras Coordenação: Giséle Manganelli Fernandes Vice-coordenação: Susanna Busato Grupo de Pesquisa “Vertentes do Fantástico na Literatura” (CNPq) Líder Karin Volobuef (UNESP-Araraquara) Vice-líder Roxana Guadalupe Herrera Alvarez (UNESP-SJRP) Comissão organizadora do evento: Coordenadora Geral: Profa. Dra. Karin Volobuef (UNESP - Araraquara) Presidente: Profa. Dra. Roxana Guadalupe Herrera Alvarez (UNESP - SJRP) Vice-presidente: Profa. Dra. Norma Wimmer (UNESP - SJRP) Coordenação geral da Programação: Prof. Dr. Álvaro Luiz Hattnher (UNESP - SJRP) Secretária Geral: Profa. Dra. Maria Celeste Tommasello Ramos (UNESP - SJRP) Vice-secretária: Profa. Dra. Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP - SJRP) Organizadores dos Anais:, Profa. Dra. Maria Celeste Tommasello Ramos (UNESP - SJRP), Profa. Dra. Maria
Claudia Rodrigues Alves (UNESP - SJRP), Prof. Dr. Álvaro Luiz Hattnher (UNESP - SJRP)
Suporte acadêmico: Márcio Santana da Silva, Soraya Maria Xavier Bastos e Elton Luiz Jitiako (UNESP - SJRP) Assessoria administrativa: Helena Luiza Buosi de Biagi (UNESP - SJRP)
Colóquio “Vertentes do fantástico na literatura” (2. : 2011 : São José do Rio Preto, SP).
Anais [do] II Colóquio “Vertentes do fantástico na literatura “/ UNESP - IBILCE ; [organizadores dos Anais: Álvaro Luiz Hattnher, Maria Celeste Tommasello Ramos, Maria Claudia Rodrigues Alves]. – São José do Rio Preto : UNESP - Câmpus de São José do Rio Preto, 2011.
|1 CD-ROM ; 4 3/4 pol. ISBN 978-85-61152-33-8
1. Literatura fantástica. 2. Mito na literatura . 3. Contos de fadas.
I. Ramos, Maria Celeste Tommasello. II. Alves, Maria Claudia Rodrigues. III. Hattnher, Álvaro Luiz. IV. Título.
CDU: 82-344
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do IBILCE UNESP - Campus de São José do Rio Preto -
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO, 6 1. Adalberto Luis Vicente, 8
2. Adriana Lins Precioso, 17
3. Alexandra Britto da Silva Velásquez, 24
4. Amanda Lopes Pietrobom, 35
5. Ana Carolina Bianco Amaral, 41
6. Ana Maria Zanoni da Silva, 52
7. André Luis Rosa e Silva & Carlos Vinícius Teixeira Palhares, 63
8. Andrea Santurbano, 74
9. Angela das Neves, 84
10. Antônio César Frasseto & Alessandra Moreno Maestrelli, 100
11. Antônio Donizeti Pires, 109
12. Arnaldo Franco Junior, 123
13. Breno Anderson Souza de Miranda, 134
14. Breno Rodrigues de Paula, 145
15. Bruno da Silva Soares, 155
16. Cesar Augusto Sinicio Marques, 162
17. Cristiano Mello de Oliveira, 169
18. Denise Loreto de Souza, 183
19. Elaine Cristina Prado dos Santos & Maria Luiza Guarnieri Atik, 192
20. Emerson Ferreira Gomes, João Eduardo Fernandes Ramos & Luís Paulo de Carvalho
Piassi, 200
21. Érika Bergamasco Guesse, 209
22. Fabiana Rodrigues Santos & Luís Paulo de Carvalho Piassi, 220
23. Fernanda Aquino Sylvestre, 230
24. Fernando Henrique Crepaldi Cordeiro, 240
25. Isis Milreu, 259
26. João Eduardo Fernandes Ramos & Luís Paulo Piassi, 270
27. João Olinto Trindade Junior & Flavio García, 281
28. Juliana Vilar Rodrigues Cardoso, 289
29. Karin Volobuef, 296
30. Karla Duarte Carvalho, 304
31. Karla Menezes Lopes Niels, 314
32. Kelli Mesquita Luciano, 326
33. Lígia Maria Pereira de Pádua, 334
34. Luciana Morais da Silva, 346
35. Lúcio De Franciscis dos Reis Piedade, 354
36. Luís Francisco Martorano Martini, 364
37. Luiz Gonzaga Marchezan, 371
38. Maira Angélica Pandolfi, 379
39. Márcio Henrique Muraca, 386
40. Maria Celeste Tommasello Ramos, 392
41. Maria Cláudia Rodrigues Alves, 403
42. Maria de Fatima Alves de Oliveira Marcari, 416
43. María del Carmen Tacconi, 425
44. Maria Imaculada Cavalcante, 436
45. Maria Lucia M. Carvalho Vasconcelos & Marlise Vaz Bridi, 447
46. Matheus Victor Silva, 453
47. Mauro de Sousa Ribeiro, 458
48. Nanci do Carmo Alves, 469
49. Norma Domingos, 475
50. Norma Wimmer, 486
51. Patrícia Maia Quitschal & Luís Paulo de Carvalho Piassi, 492
52. Regiane Rafaela Roda, 501
53. Rodrigo de Freitas Faqueri, 509
54. Roxana Guadalupe Herrera Álvarez, 519
55. Silvana Augusta Barbosa Carrijo, 529
56. Stanis David Lacowicz & Antonio Roberto Esteves, 540
57. Thiago Miguel Andreu, 551
58. Tristan Guillermo Torriani, 561
59. Valdemir Boranelli, 572
60. Vitor Celso Salvador, 582
61. Viviane de Guanabara Mury, 589
62. Wanderlan da Silva Alves, 599
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
6
APRESENTAÇÃO
O II Colóquio “Vertentes do fantástico na literatura”, realizado de 03 a 05 de
maio de 2011, na UNESP – IBILCE – São José do Rio Preto – SP, foi mais uma das
realizações do Grupo de Pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura (cadastrado no
CNPq e liderado pela Profa. Dra. Karin Volobuef) que já havia organizado o I
Colóquio, em 2009, na UNESP – FCL – Araraquara – SP e preparado a publicação de
dois livros Dimensões do fantástico: mítico e maravilhoso (2011) e Vertentes do
Fantástico na Literatura (no prelo). No II Colóquio, dois especialistas no estudo do
fantástico na literatura convidados proferiram as conferências “Lo fantástico como
problema de lenguaje” (Prof. Dr. David Roas, da Universidad Autónoma de Barcelona)
e “A literatura fantástica: alguns marcos referenciais” (Profa. Dra. Maria Cristina
Batalha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), além da apresentação de vinte e
dois trabalhos de pesquisa de membros do Grupo, distribuídos em sete Mesas-
Redondas, cento e vinte comunicações orais e dezesseis painéis de pesquisadores de
diversos estados brasileiros vindos de cidades e países diversos, que vão de Rondônia
ao Rio Grande Sul, no Brasil, e chegam à Argentina.
Os membros do Grupo de Pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura são
docentes de Universidades Brasileiras como a UNESP (Campus de Araraquara, Assis e
São José do Rio Preto), USP, UFPA, UFU, UFCG, UNEMAT, MACKENZIE, UERJ e
UNISUAM.
Todas as pesquisas apresentadas durante o evento foram voltadas a aspectos
conceituais que envolveram tanto o fantástico na acepção tradicional (baseada na
definição de Todorov), quanto as perspectivas nascidas da reconfiguração ocorrida no
séc. XX das vertentes sobre as obras fantásticas (neo-fantástico, realismo mágico,
Fantasy, etc.). Além de tratarem de variadas manifestações estéticas – como o gótico, o
mito, o macabro, o maravilhoso, o popular, o infantil, etc. foram também discutidos
aspectos como intertextualidade, tradução, recriação, ensino, leitura, entre outros. Além
disso, os trabalhos apresentados giraram em torno de um multifacetado leque de temas,
gêneros e obras: da Divina comédia à literatura contemporânea; do legado mítico e
lendário às ghost stories e à ficção científica; do fantástico em sala de aula ao fantástico
em transmedia storytelling, ou seja, construções narrativas que se manifestam em
múltiplos suportes textuais, e nas quais cada novo texto representa contribuição inédita
e valiosa para o todo. Entre os autores analisados estiveram os grandes mestres do
macabro e do insólito, mas também escritores das mais variadas tonalidades estéticas:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
7
John Barth, Angela Carter, Dante Alighieri, Aloysius Bertrand, Italo Calvino,
Guimarães Rosa, Honoré Balzac, Mia Couto, Machado de Assis, Maria Rosa Lojo,
Virgílio, Jorge Luís Borges, Julio Cortázar, Murilo Rubião, Edgar Allan Poe, Franz
Kafka, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Júlio Verne, entre outros.
O evento foi marcado pela curiosidade intelectual, o espírito de diálogo e a
generosidade no intercâmbio acadêmico de todos os trezentos e vinte e oito inscritos de
várias regiões geográficas brasileiras e do exterior. O II Colóquio reafirmou-se, como
em sua primeira edição, como meio de diálogo entre todos os pesquisadores
participantes, fato que marcou seu sucesso acadêmico e que levou à fixação da
realização de sua terceira edição, que acontecerá em 2013, na UNESP–FCL–Assis – SP.
A Comissão Organizadora, presidida pela Profa. Dra. Roxana Guadalupe
Herrera Álvarez, e composta também pelos Profs. Drs. Norma Wimmer, Maria Celeste
Tommasello Ramos, Maria Cláudia Rodrigues Alves e Álvaro Luiz Hattnher (todos da
UNESP – IBILCE – São José do Rio Preto) entende que o trabalho exigido na
organização do evento foi recompensado pelos resultados obtidos pois o intercâmbio de
idéias foi bastante profícuo e o terceiro livro do Grupo já está sendo organizado pela
reunião dos trabalhos de pesquisa apresentados nas conferências e mesas-redondas. Tal
livro contará, portanto, com o texto integral das conferências do Prof. Dr. David Roas e
da Profa. Dra. Maria Cristina Batalha, que não comparecem, desta forma, nestes Anais.
Estes Anais receberam para publicação sessenta e dois textos, dos cento e
quarenta e dois trabalhos que integraram a programação das mesas e sessões de
comunicação. Todos eles efetivamente apresentados por ocasião do colóquio e
posteriormente remetidos a nós por seus autores. Como anunciado previamente, dada a
natureza desta publicação, a Comissão Organizadora aceitou todos os textos que
estavam minimamente dentro das normas, uniformizou neles o título, as entradas para
resumo e palavras-chave, a entrada da nota de apresentação dos autores, o espaço
simples em todas as citações e eventuais e evidentes desconfigurações de alinhamento
de parágrafos e de tipo de letra advindas do envio em forma de arquivo atachado ou da
reunião dos arquivos, e não procedeu a nenhuma outra revisão dos arquivos enviados,
sendo o conteúdo de cada um deles de inteira responsabilidade de seus respectivos
autores.
Maria Celeste Tommasello Ramos Maria Cláudia Rodrigues Alves Álvaro Luiz Hattnher Organizadores dos Anais
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
8
ENTRE DOIS MUNDOS: O SONHO E O PESADELO EM GASPARD DE LA
NUIT DE ALOYSIUS BERTRAND
Adalberto Luis Vicente*
RESUMO
Entre os “pequenos românticos” franceses, Aloysius Bertrand ocupa lugar de destaque como “inventor” de um gênero poético de bastante prestígio na história da poesia francesa, o poema em prosa. Integrando a linhagem artística do romantismo francês, esse criador de nova forma de expressão poética inspirou-se nos costumes, lendas e mitos da Idade Média para compor cenas de uma vivacidade e de uma poeticidade raras. Bertrand dedica uma seção do seu Gaspard de la Nuit, intitulada “La Nuit et ses prestiges”, à criação de um clima de inspiração fantástica pela presença de fantasmas, gnomos, bruxas, seres lendários, além de personagens e cenas associados ao horror, vinculados, com freqüência, ao sonho e ao pesadelo. O objetivo deste trabalho é analisar de que modo a própria estrutura narrativa do sonho e do pesadelo conformam certos poemas de Gaspard de La Nuit. PALAVRAS-CHAVE: poesia francesa; Aloysius Bertrand; sonho; pesadelo.
Aloysius Bertrand produziu sua obra no período romântico, época que viu
florescer o gênero fantástico na França. O poeta, nascido em Dijon, é também o criador
de uma forma moderna de poesia, o poema em prosa. Desconhecido em sua época, o
“petit romantique” de Dijon tornou-se modelo para poetas do quilate de Baudelaire e
Mallarmé, que adotaram o poema em prosa como forma de expressão poética. Neste
trabalho, detenho-me em dois textos terceira parte de Gaspard de la Nuit, que tem por
título “La nuit et ses prestiges”. Trata-se dos poemas: “La Chambre Gothique” e “Un
Rêve”, bastante característicos do modo como Bertrand configura seus textos a partir do
sonho e do pesadelo.
* Doutor em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de São Paulo. Professor assistente doutor na
Faculdade de Ciências e Letras – UNESP, campus de Araraquara, área de Língua e Literatura Francesa.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
9
Como lembra Max Milner, na introdução à sua edição de 1980 de Gaspard de
La Nuit, “é raro assistir ao nascimento de um gênero literário” e “mais raro ainda poder
relacioná-lo com um escritor particular” (BERTRAND, 1980, p. 7), como é o caso de
Louis Bertrand, “inventor incontestável do poema em prosa francês” (BERTRAND,
1980, p. 7). Escritos a partir de 1827, mas publicados em 1842, um ano após a morte do
autor, em uma edição precária que não vendeu mais do que 20 exemplares, foi preciso
esperar que Baudelaire evocasse os poemas em prosa de Bertrand como a principal
fonte de inspiração para compor os Petits poèmes en prose ou Spleen de Paris (1869)
para que seu nome do poeta fosse salvo do limbo a que o condenou a marginalidade
provincial e econômica. Na carta-prefácio dos Petits poèmes em prose, Baudelaire diz
ter uma confissão a fazer:
“Foi folheando, pela vigésima vez ao menos, o famoso Gaspard de La Nuit de Aloysius Bertrand, que me veio a idéia de tentar algo análogo e de aplicar à descrição da vida moderna, ou melhor, de uma vida moderna e mais abstrata, o procedimento que ele aplicou à pintura da vida antiga, tão estranhamente pitoresca” (BAUDELAIRE, 1958, p. 6).
Como se pode notar, Baudelaire está interessado em reter de Bertrand o
procedimento, a escritura poética em prosa, pois vê nela um instrumento apto para
exprimir a vida moderna. O autor dos Petits poèmes en prose, no entanto, rejeita o
medievalismo, os mitos e as lendas, o aspecto fantástico e grotesco dos textos de
Bertrand, que não se afinam com seu projeto de poesia moderna. No entanto, para certos
críticos, como Marvin Richards III, o poema em prosa de Bertrand é mais moderno do
que o de Baudelaire, pois este ainda mantém intacta a estrutura diegética da prosa: em
geral, Baudelaire conta uma história, com um narrador estável em primeira pessoa e
alterna tons líricos e prosaicos. Bertrand, ao contrário, tende a dispersar a diegese, a
fragmentá-la, a reduzi-la ao mínimo, a sugeri-la mais do que explicitá-la. Além disso,
Bertrand, antecipando a experiência de Um Lance de dados, dá grande importância ao
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
10
branco da página. Em nota deixada ao editor de Gaspard de La Nuit, Bertrand faz
algumas recomendações a respeito da forma como livro deveria ser impresso. Na
referida nota, dirige-se ao paginador afirmando: “paginar como se o texto fosse poesia
[...], o senhor paginador colocará grandes brancos entre as alíneas ou couplets como se
fossem estrofes” (1980, p. 9).
Em 1865, Mallarmé escreve ao editor de Bertrand, Victor Pavie, pedindo uma
cópia do Gaspard de La Nuit. Na missiva, afirma Mallarmé:
J’ai comme tous les poètes de notre jeune génération [... ] un culte profond pour l’oeuvre exquis de Louis Bertrand [. . .] je souffre de voir ma bibliothèque, qui renferme les merveilles du Romantisme, privée de ce cher volume qui ne m’abandonnait pas quand je pouvais l’emprunter à un confrère (apud RICHARDS III.
Recebida a cópia do livro, Mallarmé volta a escrever a Victor Pavie,
agradecendo e sugerindo uma nova edição do Gaspard, que seria prefaciada com
poemas dedicados a Bertrand, escritos pelo próprio Mallarmé e seus amigos:
Ce monument [. . .] à Louis Bertrand serait d’autant plus naturel qu’il est vraiment, par sa forme condensée et précieuse, un de nos frères. Un anachronisme a causé son oubli. Cette adorable bague jetée, comme celle des doges, à la mer, pendant la furie des vagues romantiques, et engoufrée, apparaît maintenant rapportée par les lames limpides de la marée [... ] Mais comme on rêve, en parlant de ceux qu’on aime! ( apud RICHARDS III)
Como se pode notar é a forma condensada e preciosa de Bertrand que interessa a
Mallarmé, recriada poeticamente pela imagem do anel jogado ao mar e que remete,
evidentemente, à concepção do poema como um “bijou”, uma jóia. No leito de morte,
Bertrand disse a seu amigo Victor Pavie que era preciso refazer o Gaspard de La Nuit,
eliminar algumas partes, tornar alguns poemas ainda mais sintéticos. A comparação
entre versões diferentes de alguns poemas publicados anteriormente em jornais,
comprovam a tendência de Bertrand a enxugar o mais possível o texto, a dar-lhe uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
11
forma estruturalmente refinada e a segmentá-lo na forma de alíneas. O desconhecido
poeta de Dijon torna-se assim um dos mais importantes representantes da linha
formalista do romantismo francês, ao lado de Théophile Gautier et do Victor Hugo de
Les Orientales.
Em geral, os poemas em prosa de Bertrand constituem uma sucessão de cenas
isoladas, unidas mais por recursos formais de natureza poética (aliterações, assonâncias,
anáforas, simetrias sintáticas) do que por uma ligação lógica do discurso. Trata-se,
como a define Max Milner de uma “estética do lacunar” (1980, p. 8).
Há uma forte ligação entre poemas em prosa de Bertrand com a pintura. O livro
tem como subtítulo “fantasias à maneira de Rembrandt e Callot”. No entanto, o que
mais nos importa aqui é que a coletânea foi projetada pelo autor para ser ilustrada e este
deixou um projeto de ilustração. As ilustrações sugeridas por Bertrand para a terceira
parte do livro, “La nuit et ses prestiges”, confirmam a idéia de que, para Bertrand, a
composição do poema se fazia de modo análogo a uma sucessão de quadros. No projeto
de ilustração, o livro III parece sob a rubrica “FANTASTIQUE MOYEN-AGE”. É
preciso notar que elementos fantásticos não aparecem nos poemas do autor antes de sua
primeira estada em Paris, entre 1828 e 1829. Na capital, Bertrand frequentou os salões
de Victor Hugo, Charles Nodier e Émile Deschamps. Era o momento em que Hoffmann
começava ser traduzido, a literatura fantástica ganhava espaço no cenário do
romantismo e o Dictionnaire de l’Académie oficializada a palavra fantástico na língua
francesa, definindo-o como: ‘quimérico, ele (o fantástico) significa também o que só
aparenta ser corporal, sem realidade” (apud BERTRAND, 1980, p. 12). Ao termo
fantástico, Bertrand apõe a expressão idade média, uma vez que a fonte de inspiração
mais importante para compor o livro como um todo é a Dijon medieval.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
12
Mas voltemos ao projeto de ilustração. Bertrand sugere ao ilustrador do Gaspard
algumas gravuras e as associa aos poemas. “La Chambre Gothique”, o primeiro poema
da terceira parte, é o texto para o qual o autor projetou o maior número de ilustrações, a
saber: a terra sob a forma de uma flor cujo cálice tem, no lugar dos pistilos e estames, a
lua e as estrelas; um gnomo que bebe o óleo de uma lâmpada; uma fada que embala
numa couraça uma criança morta; um cavaleiro que molha sua mão enluvada na pia de
água benta; um esqueleto de um soldado alemão preso no madeiramento; um espírito
sob a forma de uma vela que vai apagar-se.
Como se pode notar, para cada alínea do poema corresponde um quadro. Assim,
o poema teria um equivalente visual, formado pelas gravuras correspondentes a cada
alínea. Essa possibilidade de um correspondente visual ao poema é bastante reveladora
do processo de criação poética de Bertrand: o assunto do texto é fragmentado em alíneas
independentes, marcadas pela separação visual do branco da página. Assim, a estética
lacunar de Bertrand tende a eliminar a narração, o encadeamento lógico, as relações
causais. O material fantástico de que serve Bertrand, sonhos, sortilégios, malefícios,
gnomos, feiticeiros, fantasmas, criaturas de pesadelo não diferem muito o material
imaginário que lhe forneceu sua época. A originalidade de Bertrand está, sobretudo, na
forma como trabalha esses materiais dentro de uma estética lacunar.
A questão se coloca então é como essa estrutura lacunar contribui para criar
certos efeitos que se poderiam chamar genericamente de fantásticos. Neste trabalho em
particular, interessa-nos como tal estrutura pode gerar um “equivalente do sonho”. Max
Milner já havia apontado que tal equivalente é produzido, em Bertrand, pela falta de
uma “certa ligação lógica do discurso” (1980, p.41). No entanto, a estrutura lacunar dos
poemas não tem apenas função poética, é também utilizada por Bertrand para simular a
estrutura do relato de sonho, para dar ao leitor a impressão de que está penetrando em
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
13
um universo similar ao do sonho. Vejamos como isso se dá a partir de uma visada
estrutural das narrativas de sonho.
Segundo Guy Laflèche (1999, p. 119), a narrativa de sonho tem um uma
estrutura simples e pode ser melhor entendida quando comparada à estrutura da
narrativa factual:
História factual: Hé = Si + E1 + E2 + E3 + ... En + Sf
História de sonho: Hr = [Si] + Ex + Ey + Ez + ... Ei + [Sf]
A história factual é caracterizada por uma situação inicial (Si) que vai se
transformando a cada acontecimento (E) segundo leis temporais e causais, até se chegar
à situação final (Sf). Na história de sonho, a situação inicial e final é inexistente ou
pouco marcada (em geral uma breve referência espacial ou temporal), e os
acontecimentos (que podem constituir uma sequência) se sucedem de forma frouxa ou
sem ligação evidente. O pesadelo seria caracterizado por um acontecimento ou
sequência de acontecimentos que, em razão de sua carga emotiva, desperta o sonhador,
retirando-o bruscamente do mundo onírico, portanto eliminando a situação final.
O poema “La Chambre gothique” apresenta como epígrafe a frase latina “Nox et
solitudo plenae sunt diabolo” (BERTRAND, 1980, p. 78) atribuída aos Pais da Igreja. A
frase ecoa o título geral da terceira parte do Gaspard de la Nuit, “A noite e seus
prestígios”. Na primeira parte, composta de duas alíneas, o eu poético observa a noite
pela janela e seu murmúrio constitui uma comparação altamente lírica entre o céu e a
flor. Trata-se, portanto, daquele tipo de “fantástico” que é característico da linguagem
poética e que se fundamenta na analogia, na metáfora. No entanto, o eu poético fecha a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
14
janela e afirma estar com sono, o que prepara o a segunda parte do poema, na qual o
aspecto gótico do quarto se manifesta.
Na segunda parte do texto, a noite manifesta seus prestígios. Entre eles estão os
seres fantasmagórios, lendários e maléficos que povoam o quarto obscuro e que o autor
evoca pela figura do gnomo, do esqueleto do soldado e de fantasmas (a ama, o
antepassado que desce do quadro). Cada um desses elementos ocupa uma alínea,
estando, portanto, isolados, constituindo um quadro independente. Uma breve referência
temporal à meia noite, na primeira alínea, marca a situação inicial do poema e um
aposto define-a como a hora “blasonada dos dragões e diabos”. Blasonner, em francês,
significa, descrever, mas também interpretar os brasões segundo as regras da heráldica.
Portanto, a palavra sugere que a meia noite traz, com suas ilusões, visões de seres
sobrenaturais e que tais visões dever ser interpretadas segundo regras que não são mais
aquelas válidas sob a luz diurna. Temos a seguir uma sucessão de quatro aparições: o
gnomo, a ama que embala uma criança morta, o esqueleto do soldado alemão preso no
madeiramento e por fim, Scarbo, o anão do pesadelo, o Smarra de Bertrand. As três
primeiras alíneas são introduzidas pela expressão “si c’était”. A conjunção condicional
seguida do verbo no imperfeito cria uma atmosfera de dúvida: ilusões que brotam da
escuridão? imagens oníricas? Não temos certeza. Na última alínea, no entanto, o verbo é
colocado no presente, “mais c’est Scarbo qui me mord le cou” (1980, p. 35). A presença
de Scarbo, personagem de três outros poemas de Bertrand, que o define como o anão do
pesadelo, marca a presença do horror que caracteriza essa forma onírica. O fim brusco
do poema com a imagem de Scarbo que morde o pescoço do eu poético e que cauteriza
a ferida com o dedo avermelhado na fornalha sugere o despertar abrupto que caracteriza
o pesadelo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
15
Como se pode notar, Bertrand eliminou de seu poema todo encadeamento
narrativo, lógico. Apenas uma anáfora de caráter temporal une cada uma das visões,
cujo isolamento na página simula a disjunção de cenas que constituem, segundo
Laflèche, o relato de sonho.
Há, no entanto, casos em que o simples isolamento da imagem em alíneas não é
suficiente, como se pode notar no poema “Un Rêve”. O título, em que o substantivo
“ revê” vem acompanhado pelo artigo definido, parece remeter a um único sonho. No
entanto, o poema é constituído pela fragmentação de três sequências oníricas em três
alíneas. A frase final “et je poursuivais d’autres songes vers le réveil” confirma que se
trata de sequências de sonhos que podem se estender até o despertar. Esse poema ilustra
de modo exemplar o modo como Bertrand utiliza a tensão entre construção e dissipação
do conteúdo onírico. Na primeira alínea o autor apresenta numa sequência simples,
marcada pelo travessão, três espaços distintos: uma abadia ao clarão da lua, uma
floresta, e Morimont, a praça de execuções de Dijon. Na segunda alínea, outras três
sequencias ecoam a primeira, o toque fúnebre de um sino ao qual respondem soluços
lúgubres numa cela, gritos cheios de lamento e a procissão dos penitentes negros que
conduzem um condenado ao suplício. A terceira alínea finaliza cada uma das
sequências: trata-se de um monge que expira na cela de uma abadia, uma moça que se
enforca nos ramos de um carvalho e, horror dos horrores, o próprio eu lírico sendo atado
pelo carrasco à roda das execuções em Morimont. Fecham-se assim as três sequências
oníricas apresentas pelo autor de modo sintético e fragmentado, mas que, por ocuparem
posições simétricas dentro das alíneas, apresentam-se de modo altamente elaborado e
construído. Com esse procedimento, Bertrand parece sugerir, que os sonhos noturnos
contínuos são construídos a partir de sequências fragmentárias, aparentemente sem
nenhuma ligação, mas que acabam por ser reconstruídas na mente do sonhador. Embora
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
16
unidas pelo tema da morte, a relação de independência de casa cena onírica permanece
intacta.
Os exemplos acima analisados são representativos do fascínio que o sonho
exerce no imaginário de Bertrand e também do modo como o poeta reelabora
poeticamente o conteúdo onírico. No entanto, essa técnica de escritura, fundamentada
em uma estética lacunar, é também é utilizada em textos em que o sonho não constitui o
tema privilegiado. Neste caso, a utilização dessa forma cria uma espécie de
“impregnação onírica” que causa no leitor um estranhamento e constituem um dos
elementos originais da obra de Bertrand.
Referências bibliográficas BAUDELAIRE, C. Petits poèmes en prose (Le Spleen de Paris). Introduction, notes, bibliographie et variants par Henri Lemaître. Paris: Classiques Garnier, 1958. BERTRAND, A. Gaspard de La Nuit. Édition présentée, établie et annotée par Max Milner. Paris: Gallimard, 1980. LAFLECHE, Guy. Matériaux pour une Grammaire narrative. Montréal: Presses universitaires de Montreal, 1999. RICHARDS III, M. The Demon of Criticism: Mallarmé and the Prose Poem. Disponível em http://tell.fll.purdue.edu/RLA-Archive/1995/French-html/Richards,Marvin.htm. Acesso em 20/06/2011.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
17
A PARÓDIA DO MITO DO LABIRINTO EM “A CASA DE ASTÉRI ON” DE
JORGE LUIS BORGES
Adriana Lins Precioso†
RESUMO
A tradição literária consagra a figura de Teseu como o grande herói que, auxiliado por Ariadne, consegue entrar no labirinto, matar o inimigo e dele sair. A narrativa mitológica delineia a configuração do herói, constitui seus passos de vencedor e estabelece sua superioridade frente ao seu oponente: um monstro com corpo de homem e cabeça de touro. Jorge Luis Borges, encantado pela temática do labirinto, o faz dispersar em diferentes formatos ao longo da coletânea de contos curtos intituilada O Aleph (1949). Todavia, é no conto “A casa de Astérion”, que Borges atualiza o mito e o reinventa por meio de uma versão paródica, subvertendo os valores instituídos pela enunciação clássica, cedendo a voz ao Minotauro e proporcionando ao leitor um mergulho na visão dos vários acontecimentos através do olhar e dos sentimentos dessa personagem. A figura do labirinto pode representar duas funções literárias: uma temática e a outra estrutural; ambas exploradas e desenvolvidas no texto. A proposta deste trabalho é buscar as relações de contrariedade estabelecidas junto ao processo intertextual do texto-base que é o mito com o texto ressignificado da contra-história que é o conto. O aporte teórico dessa análise se pautará no percurso de geração de sentido estabelecido pela semiótica greimasiana. PALAVRAS-CHAVE: Paródia; Mito do Labirinto; Jorge Luis Borges.
O mito do labirinto
A tradição conta que Minos foi escolhido por Posseidon para governar Creta e
recebeu um lindo touro branco que emergiu do mar como forma de apoio do deus,
contudo, ele deveria ser sacrificado. O rei, todavia, sacrificou outro touro no lugar e
como condenação Posseidon fez com que sua esposa Pasífae se apaixonasse pelo animal
† Doutora em Teoria da Literatura, na Universidade Estadual Paulista – UNESP - IBILCE – Campus de São José do Rio Preto - Professora Doutora na UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Sinop na área de Literatura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
18
gerando assim o Minotauro (monstro metade homem – metade touro). Para confinar o
Minotauro em um lugar longe da população, Minos convocou Dédalo para que ele
construísse um espaço para alocar o monstro. O engenheiro, então, construiu o
Labirinto. Anos depois, o jovem Teseu chega à Atenas depois de descobrir ser filho do
rei Egeu. O desejo de ser herói o fez oferecer-se como um dos quatorze jovens virgens
que cumpriu a condenação de Minos por ter perdido seu filho em terras atenienses e sob
os cuidados de Egeu. Teseu, então, com o auxílio da jovem Ariadne, consegue entrar no
labirinto, matar o Minotauro e sair com vida.
Outras versões atribuem uma dupla paternidade a Teseu, sendo ele filho de
Posseidon e Etra, sem que Egeu soubesse a sua verdadeira origem, o rei de Atenas
sempre pensou que Teseu fosse seu filho legítimo. Daí a explicação para a força e a
determinação do jovem herói.
O processo de reinvenção na literatura mobiliza deslocamentos de retorno,
recuperando, assim, as figuras míticas consagradas pela tradição. A figura do labirinto e
seus personagens apresentam configurações e funções diferenciadas ao longo do tempo.
Jorge Luis Borges e sua paixão pelo labirinto
O escritor argentino Jorge Luis Borges apresenta como traço distintivo de sua
poética, uma obsessão delirante por labirintos em suas inúmeras facetas. Para Tavares:
A ideia de um espaço infinitamente divisível é a matriz abstrata de uma das imagens preferidas de Borges: o labirinto. O que aterroriza o indivíduo que vaga no labirinto é, mais do que a morte às mãos do Minotauro, a possibilidade de nunca sair dali, de passar o resto da eternidade vagando sem descanso por uma arquitetura sem sentido...” (2005, p. 265)
Os textos borgianos parecem explicitar em seu processo de construção,
elementos muito semelhantes aos labirintos, são, em sua maioria, enigmas textuais,
habitados por seres imaginários em universos insondáveis. Já as temáticas parecem
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
19
refletir a metáfora do labirinto, pois discutem filosofia, matemática, metafísica,
mitologia e teologia.
O Aleph (1949) é uma compilação de dezessete contos curtos que apresentam a
imortalidade, o tempo, o infinito, a metafísica, como temas, tudo isso relacionado com
textos clássicos, como: A Divina Comédia, de Dante Alighieri, O Castelo, de Franz
Kakfa e Os Lusíadas, de Camões. Dentre os contos dessa obra, encontra-se o texto “A
casa de Astérion”, escolhido para esta análise.
A atualização do mito: a paródia
Um dos processos de revisitação do mito e sua atualização é a paródia. De
acordo com Hutcheon,
... a paródia é, neste século, um dos modos maiores da construção formal e temática dos textos. E, para além disto, tem uma função hermenêutica com implicações simultaneamente culturais e ideológicas.
A paródia é uma das formas mais importantes da moderna auto-reflexividade; é uma forma de discurso interatístico. (1985, 13)
Assim, o interesse contemporâneo pela paródia tangencia tanto a auto-
representação como a intertextualidade. Hutcheon afirma que desse “centro de interesse,
surgiu uma estética do processo, da actividade dinâmica da percepção, interpretação e
produção de obras de arte” (1985, p. 12).
Segundo Sant’Anna (1988, p. 12), “O dicionário de literatura de Brewer, por
exemplo, nos dá uma definição curta e funcional: ‘paródia significa uma ode que
perverte o sentido de outra ode (grego: para- ode)”. Tal como Hutcheon, Sant’Anna
associa a paródia com a intertextualidade: “Modernamente a paródia se define através
de um jogo intertextual.” (1988, p. 12). Desse modo, ao subverter o sentido de um texto,
a paródia precisa dialogar com um texto-base. Seu procedimento dialógico traz a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
20
“Intertextualidade [que] é a retomada consciente, intencional da palavra do outro,
mostrada, mas não demarcada no discurso da variante.” (DISCINI, 2004, p. 11)
O conto “A casa de Astérion” faz a retomada do mito do labirinto pelo viés
paródico, ou seja, há uma perversão dos valores instituídos pela tradição mitológica. A
debreagem da enunciação do texto é enunciativa (eu / aqui / agora), assim, o nível
discursivo propõe um sentido de subjetividade, tal como observa-se no início da
narrativa:
SEI QUE ME ACUSAM DE SOBERBA, e talvez de misantropia, e talvez de loucura. Tais acusações (que castigarei no devido tempo) são irrisórias. É verdade que não saio de minha casa, mas também é verdade que suas portas (cujo número é infinito) estão abertas dia e noite aos homens e também aos animais. (2001, p. 75)
Em tom de um de desabafo, Astérion declara: “Não em vão foi uma rainha
minha mãe” (p. 76) e “O fato é que sou único” (p. 76). Ao expor sua origem, percebe-se
a intertextualidade com o mito do labirinto. O espaço também reafirma essa referência:
Todas as partes da casa existem muitas vezes, qualquer lugar é outro lugar. Não há uma cisterna, um pátio, um bebedouro, um pesebre; são catorze [são infinitos] os pesebres, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tamanho do mundo; ou melhor, é o mundo” (2001, p. 77)
Apesar de ser um texto curto, além do mito do labirinto, outras temáticas
perpassam a narrativa, como o duplo, a solidão, a teologia, o insólito, entre outros.
Contudo, é apenas nos últimos parágrafos que se registra a evidente relação intertextual:
Cada nove anos, entram na casa nove homens para que eu os liberte de todo o mal. Ouço seus passos ou sua voz no fundo das galerias de pedra e corro alegremente para procurá-los. A cerimônia dura poucos minutos. Um após outro, caem, sem que eu ensangüente as mãos. Onde caíram, ficam, e os cadáveres ajudam a distinguir uma galeria das outras. Ignoro quem sejam, mas sei que um deles profetizou, na hora da morte, que um dia chegaria meu redentor. Desde esse momento a solidão não me magoa, porque sei que vive meu redentor e que por fim se levantará do pó. Se meu ouvido alcançasse todos os rumores do mundo, eu perceberia seus passos. Oxalá me leve para um lugar
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
21
com menos galerias e menos portas. Como será meu redentor? – me pergunto. Será um touro ou um homem? Será talvez um touro com cara de homem? Ou será como eu? O sol da manhã reverberou na espada de bronze. Já não restava qualquer vestígio de sangue. - Acreditarás, Ariadne? – disse Teseu. – O minotauro mal se defendeu.” (2001, p. 77-8)
Reconhece-se, na fala de Teseu, que Astérion é, na verdade, o Minotauro.
Todavia, não aquele monstro sem voz da tradição e, sim, um sujeito inocente, que ganha
a fragilidade como traço de humanidade. Portanto, os valores entre herói e anti-herói
surgem subvertidos no texto.
Ao examinar as relações intertextuais do conto “A casa de Astérion” com o Mito
do Labirinto, nota-se que o primeiro é o texto paródico e o segundo o texto-base. “Na
verdade, a paródia contém uma diferença em relação ao texto-base, na medida em que
subverte seu enunciado e desqualifica sua enunciação, propondo uma outra enunciação
substituta, contrária, diferente.” (DISCINI, 2004, p. 26). Pode-se esquematizar essas
relações, de acordo com o quadrado semiótico proposto por Norma Discini (2004, p.
24):
PROTO-HISTÓRIA CONTRA-HISTÓRIA TEXTO-BASE PARÓDIA TRANS-HISTÓRIA DESISTÓRIA ESTILIZAÇÃO POLÊMICA
Relação de contrariedade
Relação de contraditoriedade
Relação de complementariedade
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
22
Dessa forma, em consonância com as relações propostas pelo quadrado
semiótico, o conto “A casa de Astérion” configura-se como uma contra-história. “A
contra-história, a paródia, constrói outro sentido, mas para a mesma história, do texto-
base. A paródia constrói outro texto para e pela mudança de sentido do texto-base.”
(DISCINI, 2004, p. 27). A subversão dos valores consagrados pela tradição é a marca da
paródia.
Considerações Finais
Em consonância com a obsessão de Borges, “A casa de Astérion” revisita e
atualiza o Mito do Labirinto pelo viés da paródia, renomeando o Minotauro para
Astérion. Esse personagem que, na tradição, aparece como um monstro, na narrativa
borgeana lhe é doado à voz, é ele quem conta sua própria história, carregada de solidão,
reflexões, religião e fé. Filho de uma rainha, tal como o mito, Astérion não entende o
motivo que, ao sair nas ruas, provoca consternação no povo.
A configuração espacial da casa de Astérion recupera os muitos caminhos
tortuosos e múltiplos, às vezes, infinitos do labirinto. A ausência da porta, fechadura e
móveis reconstroem o vazio e a imensidão desse local marcado pelo medo.
Contudo, vale a pena ressaltar que essas relações só se evidenciam nos três
últimos parágrafos, quando, em um salto temporal, instaura-se a marca de um espaço no
corpo do texto, evidenciando uma passagem de tempo. O discurso direto que finaliza a
narrativa dá voz a Teseu, identificando Astérion como o Minotauro e afirmando que ele
“mal se defendeu” no momento da luta final.
Nota-se, portanto que a paródia de Borges também proporciona a perda do leitor,
mas no desfecho, providencia um “fio de Ariadne” para que se possa entrar no texto,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
23
sair e recuperar o sentido, paródico, subversivo, questionador da tradição e renovado
por meio da visitação do mito.
Referências Bibliográficas BORGES, J. L. O Aleph. Tradução de Flávio José Cardoso). São Paulo: Globo, 2011. BULFINCH,T. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Tradução de David Jardim. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. DISCINI, N. Intertextualidade e conto maravilhoso. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2004. FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: Ática, 2001. HAMILTON, E. Mitologia. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1992. HUTCHEON, L. Uma teoria da paródia. Tradução de Teresa Louro Pérez. Rio de Janeiro: Edições 70, 1985. SANT’ANNA, A.F. Paródia, paráfrase & cia. São Paulo: Ática, 1988. SEABRA, Z. Deuses e heróis. Rio de Janeiro: Record, 2002. TAVARES, B. Contos fantásticos no labirinto de Borges. Tradução de Julio Silveira et al. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
24
O DUPLO NA LITERATURA FANTÁSTICA - ANÁLISE COMPARAT IVA ENTRE OS CONTOS DE ALLAN POE, RUBENS FIGUEIREDO E SÉRGIO
SANT'ANNA SEGUNDO TZEVAN TODOROV EM "INTRODUÇÃO À LITERATURA FANTÁSTICA" E CLÉMENT ROSSET EM
"O REAL E SEU DUPLO"
Alexandra Britto da Silva Velásquez‡
RESUMO Nas narrativas “William Wilson” de Allan Poe, “Nos olhos do Intruso” de Rubens Figueiredo e “O vôo da madrugada” de Sérgio Sant’Anna, observamos o conceito de duplo em relação à literatura fantástica delineada por Tzevan Todorov e como um problema filosófico para Clément Rosset. Em Todorov, o duplo aparece como um elemento comum à metamorfose dentro do “tema do eu” através da multiplicação da personalidade e possibilita o contato com o sobrenatural, o que provoca uma espécie de hesitação no narrador e no leitor. Por outro lado, para Rosset a partir do encontro insólito com o duplo vem à tona o problema existencial, pois diante do outro duplicado o sujeito tem a identidade e a existência confrontadas e se torna incapaz de provar quem é a cópia e quem é o original. Sendo assim, o duplo colabora com a visão ambígua e necessária à literatura fantástica e parece constituir um problema para o homem moderno que vê no outro o substituto. PALAVRAS-CHAVE: Duplo; Fantástico; Hesitação; Existência; Original; Cópia.
O tema do duplo é recorrente na história da literatura, o duplo pode se referir a
uma dupla personalidade, na qual o sujeito vivencia o conflito entre o bem e o mal,
pode estar presente no pacto demoníaco, no qual o homem perde a alma e o reflexo no
espelho em troca do amor e/ou da juventude, e pode ser como expõe Borges em O
Livro dos Seres Imaginários:
Sugerido ou estimulado pelos espelhos, pelas águas e pelos irmãos gêmeos, o conceito de duplo é comum a muitas nações.[...] Na Alemanha, chamaram-no Doppelgänger; na Escócia, fetch, porque vem buscar (fetch) os homens para levá-los para a morte. Encontrar-se consigo mesmo é, por conseguinte, funesto (Opus cit, 2008, p.85).
‡ Mestranda em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
25
Mas o encontro consigo mesmo pode não significar a morte, e sim, a
perpetuação. O próprio Borges escreve “O outro”, e vemos o velho Borges em
Cambridge num encontro insólito com o jovem Borges em Genebra. Em “As ruínas
circulares” a ideia de substituição, simulacro e perpetuação também estão presentes. Na
psicanálise, o duplo pode ainda ser o alter-ego, e Freud dedica em “O Estranho” suas
observações sobre o desdobramento da personalidade e as relações entre o estranho e o
familiar. Sem dúvida, há várias formas de tratar o duplo na história da literatura, mas na
literatura fantástica, trataremos o duplo sob dois aspectos: o da metamorfose e da
relação entre o real e o sobrenatural que geram uma espécie de hesitação no narrador
e/ou personagem e no leitor ideal.
O duplo nas obras “William Wilson”, de Allan Poe, “Nos Olhos do Intruso”, de
Rubens Figueiredo e “O vôo da madrugada”, de Sérgio Sant’Anna, objeto de nossa
investigação, contribui com a transgressão dos limites da natureza – limites entre a
matéria e o espírito -, que são evocados na literatura fantástica. Com o duplo, o narrador
e/ou personagem e o leitor hesitam entre o universo fantástico, onde o que se imagina
pode acontecer, e, o limite imposto pela realidade.
A multiplicação da personalidade está dentro do fenômeno da metamorfose que
colabora com as transgressões das leis naturais e para Todorov, a metamorfose está
presente no que ele chama de “tema do eu”. Vale ressaltar que Todorov faz uma espécie
de classificação dos textos fantásticos e divide os temas em “tema do eu”(tema do olhar)
e “tema do tu”(tema do discurso). Dessa forma, as narrativas aqui selecionadas tratam
do tema do olhar, da aparição.
Todavia, se por um lado, temos uma espécie sistematização de Todorov acerca
do fantástico, na qual cabe a multiplicação da personalidade, do outro, temos o olhar
filosófico de Clément Rosset, que observa no duplo o problema da cópia e da
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
26
originalidade, e tal questionamento parece ecoar em “William Wilson” e “Nos olhos do
intruso.”
Apesar de distintos, encontramos nos três contos a narrativa de memória, em
primeira pessoa, como o único testemunho do evento ocorrido. Em “William Wilson”, o
narrador-personagem no leito de morte dá o testemunho de memória de como encontrou
o duplo ainda na escola e como este o perseguiu por toda a vida denunciando seus atos
vis, o que culmina no enfrentamento e desfecho fatal para os dois. Para Borges, neste
conto “o duplo é a consciência do herói. Este o mata e morre.” (2008, p.85).
Rubens Figueiredo, em “Nos olhos do intruso”, nos traz um narrador-
personagem que encontra um sósia no teatro, e que aos poucos ao ser confundido com o
duplo assume para si parte da vida do outro. Quando o outro morre, se vê desprezado e
viaja para a cidade do futuro, na qual, encontra outro sósia um pouco mais velho.
Em “O vôo da madrugada”, nos deparamos com o relato de um homem que viaja
para Boa Vista a trabalho e na volta para casa faz um voo especial com mortos num
acidente e apenas alguns parentes das vítimas que retornam também a São Paulo. O
homem bebe e se encanta por uma passageira que possivelmente é uma das mortas e
depois ao chegar a sua casa encontra outro de si no quarto. O homem então resolve
relatar o fato e deixa a dúvida para o leitor se quem o narra está vivo ou não.
Os três contos se iniciam de forma realista ainda que inspirem dúvida, e só mais
adiante o leitor é levado ao encontro insólito, uma característica que contribui com o
fantástico de acordo com Todorov, pois para o mesmo a realidade falseada é o que
permite a transgressão pelo sobrenatural. Além disso, o leitor ideal precisa acreditar em
parte da narrativa para depois duvidar. “A fé absoluta como a incredulidade total nos
levam para fora do fantástico; é a hesitação que lhe dá vida.” (2008, p.36).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
27
Ressaltemos que o fantástico depende de uma visão ambígua e para Todorov,
diante do evento sobrenatural o personagem hesita e o leitor ao se identificar com este
também hesita.
O fantástico implica pois uma integração do leitor no mundo das personagens; define-se pela percepção ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados.[...] A hesitação do leitor é pois a primeira condição do fantástico. Mas será necessário que o leitor se identifique com uma personagem. (TODOROV, 2008, p.37).
Observemos adiante que o início das três narrativas incita à dúvida e o leitor já
vislumbra um terreno escorregadio que contribui ao relato marcado pela ambiguidade.
PERMITI QUE, POR ENQUANTO, me chame William Wilson. A página virgem que agora se estende diante de mim não precisa ser manchada com meu nome verdadeiro. Esse nome já foi por demais objeto de desprezo, de horror, de abominação para minha família [...] Não quereria, mesmo que o pudesse, aqui ou hoje, reunir as lembranças de meus últimos anos de indizível miséria e um imperdoável crime. (Apud COSTA, 2006, p.289). Não lembro a primeira vez. Mas aqui e ali comecei a ouvir comentários: Aquela é a cidade que interessa, é onde as coisas acontecem, o futuro fugiu para lá. Advertências que repetiam a verdade mais simples, não há como negar. Hoje, parecem ressoar a voz de um oráculo. Mas era uma verdade que entendi mal, que me apressei em traduzir totalmente errado, nos termos da euforia de um menino, ou até de um tolo. Talvez eu pudesse ter ficado como estava, talvez o futuro ainda dormisse bem longe até hoje, se naquela noite eu não tivesse ido ao teatro.(Apud MORICONI, 2001, p.540). Se alguma coisa digna aconteceu em minha vida dura e insípida foi estar entre os passageiros daquele voo extra, de Boa Vista para São Paulo. (SANT’ANNA, 2003, p.9).
Aos poucos, os cenários das narrativas, que parecem realistas, colaboram para
instaurar o incômodo e a desconfiança por parte do leitor ideal. Em “William Wilson”, a
escola é uma casa estilo elisabetano na Inglaterra com salas de aula que inspiram o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
28
terror; em “Nos olhos do intruso”, o teatro – lugar de ilusão e metamorfose –, é o
primeiro local no qual o narrador-personagem encontra o seu duplo; e n’ “O vôo da
madrugada”, após viajar com mortos, o narrador-personagem chega a casa, e encontra
em seu quarto (local isolado) o duplo.
Minhas remotas recordações da vida escolar estão ligadas a uma grande extravagante casa de estilo elisabetano numa nevoenta aldeia da Inglaterra, onde havia grande quantidade de árvores gigantescas e nodosas e onde todas as casas eram extremamente antigas. Na verdade aquela venerável e velha cidade era um lugar de sonho e repouso para o espírito. (Apud COSTA, 2006, p.290) A sala de aulas era a mais vasta da casa e do mundo, não podia eu deixar de pensar. Era muito comprida, estreita e sombriamente baixa, com janelas em ogivas e o forro de carvalho. A um canto distante, e que inspirava terror, havia um recinto quadrado de dois a três metros, abrangendo o sanctum "durante as horas de estudo" do nosso diretor, o Reverendo Dr. Bransby. Era uma sólida construção, de porta maciça; e, a abri-la na ausência do Mestre Escola, teríamos todos preferido morrer de la peine forte et dure. (Apud COSTA, 2006, p.292)
Talvez eu pudesse ter ficado como estava, talvez o futuro ainda dormisse bem longe até hoje, se naquela noite eu não tivesse ido ao teatro. Três atores representavam vários papéis e a história da peça quase não importava. O espetáculo consistia muito mais na velocidade e na perfeição das metamorfoses dos atores. Em poucos minutos, eles trocavam de roupa, peruca e maquiagem, encarnavam outra voz, outra personalidade, e tudo com um vigor que só podia nascer de um tipo de vida. (Apud MORICONI, 2001, p.540).
Sentado em minha cama, a fitar-me com uma placidez sorridente, na qual julguei detectar uma ponta de ironia, estava um homem – se assim devo nomeá-lo – que, pela absoluta implausibilidade da situação e pela indefinição etária de seus traços, demorei alguns segundos – se é que podia medir o tempo – para identificar como sendo eu próprio. Como se fosse possível eu me repartir em dois: aquele que viajara e aquele que aguardava tranquilamente em casa, ou, talvez, num espaço fora do tempo. ( SANT’ANNA, 2003, P.26).
O caráter imaginativo e excitável do herói em “William Wilson” faz par com o
herói de “O vôo da madrugada” e desperta também à dúvida no leitor ideal que não tem
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
29
certeza se o evento de fato ocorreu ou não passa de uma fantasia, de uma invenção dos
narradores-personagens. Os próprios narradores colocam em cheque se o que veem é
ilusão ou não.
Não teria eu na verdade, vivido em sonho? E não estarei agora morrendo vítima do horror e do mistério da mais estranha de todas as visões sublunares? Descendo de uma raça que assinalou, em todos os tempos, pelo seu temperamento imaginativo e facilmente excitável. (Apud COSTA, 2006, p.290). Posso imaginar, em meus devaneios noturnos, cenas de um sofrimento agudo que, em geral, prefiro não materializá-las em peças escritas [...] Mas garanto que sou capaz de conjeturar as piores coisas. [...] Como a imaginação pode ser muito mais aterrorizante do que a realidade para um insone. ( SANT’ANNA, 2003, p.10).
O entorpecimento, a bebida ou oscilação entre o estado de sono e vigília também
podem ser observados na ficção fantástica como elementos que contribuem à visão
ambígua na narrativa.
Uma alucinação, dirão os céticos, levando em conta, ainda mais, que eu misturara aos comprimidos tomados no hotel o vinho servido a bordo. Sim, uma alucinação, tudo é possível, talvez naquele estágio intermediário entre a vigília e o sono. Mas no meu caso, se assim tiver sido, com uma duração especial e uma materialidade que fizeram dessa alucinação uma experiência mais marcante do que todas as outras em minha existência; um acontecimento também exterior a mim mesmo e, como já disse, uma coisa física.( SANT’ANNA, 2003, p.25).
Mas o encontro com o duplo, ponto principal da inquietação do leitor ideal nos
contos, é o marco para observamos não apenas a multiplicação do ser como um aspecto
da metamorfose comum à literatura fantástica, mas como um problema do sujeito em
relação à originalidade, à unicidade e à existência. O duplo não representa apenas o
gêmeo, o sósia, o desdobramento do ser, mas também aponta para o fim do sujeito
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
30
único e original segundo Clément Rosset. E o sujeito passar a hesitar entre a
perpetuação e a morte.
Sua réplica, que era perfeita imitação de mim mesmo, consistia em palavras e gestos, e desempenhava admiravelmente seu papel. Minha roupa era coisa fácil de copiar; meu andar e maneiras foram, sem dificuldade, assimilados e, a despeito de seu defeito constitucional, até mesmo minha voz não lhe escapava. Natural, não alcançava ele meus tons mais elevados, mas o timbre era idêntico e seu sussurro característico tornou-se o verdadeiro eco do meu. (Apud COSTA, 2006, p. 296).
Pensava-se tratar como original, mas na realidade só se havia visto o seu duplo enganador e tranquilizador; eis de súbito o original em pessoa, que zomba e se revela ao mesmo tempo como o outro e o verdadeiro. Talvez o fundamento da angústia, aparentemente ligado aqui à simples descoberta que o outro visível não era o outro real, deva ser procurado num terror mais profundo: de eu mesmo não ser aquele que pensava ser. E, mais profundamente ainda, de suspeitar nesta ocasião que talvez não seja alguma coisa, mas nada. (ROSSET, 2008, p.92).
Nestas narrativas é possível olhar para o duplo como o fetch, como o
doppelgänger, como um alter-ego, mas este duplo, segundo Clément Rosset, aponta
para a não-existência do sujeito.
É verdade que o duplo é sempre intuitivamente compreendido como tendo uma realidade “melhor” do que o próprio sujeito – e ele pode aparecer neste sentido como representando uma espécie de instância imortal em relação à mortalidade do sujeito. Mas o que angustia o sujeito, muito mais do que a sua morte próxima, é antes de tudo a sua não–realidade, a sua não-existência. (ROSSET, 2008, p.88).
A presença do outro desestabiliza o sujeito que questiona se é a cópia do outro
ou o original, se é o duplo ou o duplicado. “No par maléfico que une o eu a um outro
fantasmático, o real não está do lado do eu, mas sim do lado do fantasma: não é o outro
que me duplica, sou eu que sou o duplo do outro.” ( ROSSET, 2008, p.88).
Talvez a gradação de sua cópia não o tornasse prontamente
perceptível, ou mais provavelmente, devia eu minha segurança ao ar dominador do copista que, desdenhando a letra (coisa que os espíritos obtusos logo percebem numa pintura), dava apenas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
31
o espírito completo de seu original para meditação minha, individual, e pesar meu. .”(Apud COSTA, 2006, p.297).
Com o desdobramento da personalidade, de acordo com Rosset, o sujeito
procura no espelho a simetria perfeita do seu duplo embora não possa alcançá-la, pois o
espelho oferece o inverso, e o sujeito jamais alcança o duplo de si. No fim de “William
Wilson” podemos pensar no desfacelamento do espelho, na busca inacessível pelo ser
em si mesmo e nos recordamos também do mito de Narciso. Quando William Wilson
atravessa o espelho, não mata apenas o outro, mas a si mesmo.
Um grande espelho - assim a princípio me pareceu na confusão em que me achava - erguia-se agora ali, onde nada fora visto antes, e como eu caminhasse para ele, no auge do terror, minha própria imagem, mas com as feições lívidas e manchadas de sangue, adiantava-se ao meu encontro, com um andar fraco e cambaleante. (Apud COSTA, 2006, p.308). Era Wilson, mas ele falava, não mais num sussurro, e eu podia imaginar que era eu próprio quem estava falando, enquanto ele dizia: Venceste e eu me rendo. Contudo, de agora por diante, tu também estás morto... morto para o Mundo, para o Céu e para a Esperança! Em mim tu vivias... e, na minha morte, vê por esta imagem, que é a tua própria imagem, quão completamente assassinaste a ti mesmo! (Apud COSTA, 2006, p.308).
Em “Nos olhos do intruso” o espelho aponta para a ideia de sucessão e de
substituição, mas não sabemos quem é de fato a réplica, o duplicado, o intruso, e quem
é o original.
Mas os espelhos permitiam olhares diagonais. Por esse ângulo, pude notar que o sujeito era extraordinariamente parecido comigo. Apenas um pouco mais velho.Fui para a rua. Forcei minhas pernas a caminhar e vi a calçada fugindo para trás sob os meus passos. Sei agora por que vim para esta cidade. O olhar admirado do homem na barbearia foram as boas-vindas e também uma despedida para mim. Já posso sentir o calor das chamas estalando. Mas, até que chegue a minha vez, esse sujeito ainda vai ouvir falar muito de mim. (Apud MORICONI, 2001, p.543).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
32
Em “O vôo da madrugada”, não sabemos se os encontros do narrador-
personagem com a morta no avião e com o seu duplo em casa foram de fato reais ou não
passaram de uma alucinação. É o próprio narrador que questiona junto ao leitor se o
encontro com a mulher não passou de um sonho. Por fim, o leitor permanece na
indecisão e o narrador colabora para isso, colocando em dúvida sua condição
existencial. Quem é o narrador - um homem vivo ou seu fantasma? “E, antes de ser esta
uma história de espectros – acrescento com uma gargalhada, pois uma súbita hilaridade
me predispõe a isso - , é uma história escrita por um deles.”(SANT’ANNA, 2003, p.28).
Ao fim das narrativas continuamos, pois, no terreno do inexplicável, fundamental
à ficção fantástica, e diante de um dilema existencial provocado pelo desdobramento do
sujeito, já que não é possível provar a existência do outro na superfície do espelho. O
espelho para Rosset causa apenas a ilusão de uma visão, “me mostra não eu, mas um
inverso, um outro; não meu corpo, mas uma superfície, um reflexo. Ele é, em suma,
apenas uma chance de me apreender, que sempre acabará por decepcionar-me.” (2008,
p. 90). Narciso se encanta com a imagem de si mesmo, o outro, pois nunca verá a si
mesmo, é a imagem que o leva a fatalidade, pois ele imerge no que é impenetrável.
Caminhamos assim numa espécie de labirinto sem fim onde nos resta olhar para
o insólito, posto, que pelo viés do fantástico, o que parece angústia diante do real é o
que permite a hesitação, a sensação de estranhamento, e a experiência com o
inexplicável, com o sobrenatural.
Conclusão
Ao que parece, podemos identificar a partir do duplo nas narrativas aqui
investigadas, ainda que de forma sucinta: o caráter ambíguo que gera a hesitação, o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
33
efeito fantástico, as ideias de cópia, originalidade e a inexplicável existência do outro,
que ora parece um fantasma, ora um prenúncio da morte ou perpetuação da espécie.
Percebemos que tanto em Todorov quanto em Rosset, embora as leituras sobre o
desdobramento da personalidade sejam distintas - uma pelo viés do gênero fantástico, e
outra relacionada ao problema existencialista -, é possível enxergar o homem moderno
em sua angústia frente ao duplo como um substituto, basta recordarmos da condição de
Goliádkin em “O Duplo” de Dostoiévski.
Sem que tentemos definir ou restringir as narrativas aqui apresentadas como
alegorias, longe de nos aproximarmos de um significado, percebemos, no entanto, que o
tema do duplo é muito complexo tanto para a filosofia quanto para a literatura, sendo
que esta última acaba por fazer emergir questões da condição humana que assim como
uma obra fantástica, nos fazem hesitar entre o real e o sobrenatural, entre o que parece
tangível, compreensível e o inexplicável.
Referências Bibliográficas:
BORGES, Jorge Luís. O Livro dos Seres Imaginários. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. BORGES, Jorge Luís. O Livro de Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. BORGES, Jorge Luis. Ficções. Trad. Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. CARNEIRO, Flávio. No país do presente: ficção brasileira do século XXI. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. COSTA, Flávio Moreira da. Os melhores contos fantásticos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Livros Horizonte, 1980. MORICONI, Italo. [Org.]. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
34
ROSSET, Clément. O real e seu duplo. Trad. José Thomaz Brum. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
SANT’ANNA, Sérgio. O vôo da madrugada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2008.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
35
ÂNGELO NO MUNDO DOS MORTOS: O FANTÁSTICO NA OBRA DE
ALUÍSIO AZEVEDO
Amanda Lopes Pietrobom ∗
RESUMO
Aluísio Azevedo é conhecido por suas obras naturalistas que retratam a sociedade brasileira do século XIX. Nelas, ele denuncia a corrupção da burguesia e do clero bem como problemas enfrentados pelos escravos, pobres e imigrantes. Mas Aluísio Azevedo escreveu também obras menores, mas não menos significativas, onde questões relativas à ciência e à religião são os temas principais. Em A Mortalha de Alzira, seu oitavo romance, a personagem Ângelo, criado em claustro após ter sido abandonado às portas de um mosteiro, vive vampirizado por Alzira, uma condessa que nutre uma intensa paixão pelo padre, mesmo depois de morta. Diariamente, a alma de Ângelo é levada para o mundo dos mortos por Alzira, assim que ele adormece. Nesta obra de caráter ao mesmo tempo (e contraditoriamente) naturalista e fantástico de Aluísio Azevedo, as figuras do cientista e do padre aparecem para explicar os fatos insólitos vivenciados pela personagem Ângelo e esclarecer ao hesitante leitor (conforme Tzvetan Todorov em sua obra Introdução à Literatura Fantástica), os acontecimentos ocorridos com a personagem. Para Todorov, um evento fantástico só ocorre quando há a dúvida se esse evento é real, explicado pela lógica, ou sobrenatural, ou seja, regido por outras leis que desconhecemos. E é dentro da atmosfera do fantástico que ocorre o enredo de A Mortalha de Alzira. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Tzvetan Todorov; naturalismo; sobrenatural.
A Mortalha de Alzira, o oitavo romance escrito por Aluísio de Azevedo, foi
publicado em 1893 e filia-se à literatura de caráter fantástico. Esta obra foi apresentada
inicialmente, assim como outras de faceta romântica, sob forma de folhetim, em 1891.
Aluísio de Azevedo, obrigado a viver de sua produção literária, acaba produzindo obras
pouca divulgadas que, no entanto, não deixam de ser significativas para a formação de
todo um substrato literário do século XIX brasileiro.
∗ Mestranda em Letras na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de São José do Rio Preto, na área de Literatura Brasileira.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
36
A Mortalha de Alzira passa-se no século XVIII, na França, no reino de Luís XV,
nos arredores de Paris. Neste romance a intriga tem papel secundário e o objetivo do
autor é o de retratar uma época devassa. A questão do celibato clerical e suas
consequências para o indivíduo constituem um dos pontos centrais abordados pelo
ficcionista. Por tratar-se de uma ficção filiada ao mesmo tempo ao fantástico e aos
preceitos do naturalismo, o autor acabou abordando, também, a questão das doenças
nervosas decorrentes de um tipo de vida por ele considerada pouco saudável,
notadamente da histeria e de suas manifestações.
Embora a narrativa não se passe no Brasil, nem no século XIX, ela nos coloca em
contato com o tempo do autor, no contexto social brasileiro. No Brasil, o
comportamento devasso e corrupto do clero provocava uma posição anticlerical nos
autores do século XIX. Aluísio de Azevedo viveu, assim, em um período no qual a fé
lutava contra o livre pensamento e a confiança no progresso nas ciências. O autor
denuncia em alguns de seus livros a injustiça e a corrupção da Igreja, por exemplo, e
mostra comportamentos doentios e perturbados decorrentes do condicionamento
causado pelo meio sobre o indivíduo. Esse tipo de condicionamento é muito evidente no
romance A Mortalha de Alzira.
A narrativa começa com uma descrição de Paris e sua sociedade libertina. Um
fato rompe a descrição: o pregador La Rose, acometido por um ataque de asma, não
poderia pregar seu sermão de quinta-feira santa. Outro religioso deveria substituí-lo.
Surge no enredo a personagem Ângelo, criado em claustro por Ozéas, frei devasso que,
temendo o castigo divino, resolve fazer de Ângelo um novo messias para salvar a
França dos pecados da carne. Ângelo, em um de seus sermões, avista Alzira, mulher
aristocrática, aventuresca, rica cortesã de Paris. A partir desse fato, a vida de Ângelo
começa a mudar. Mesmo sendo um homem casto e puro, ele começa a sentir uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
37
angústia sem saber ao certo o que aquilo significava. Ozéas, pressentindo que o jovem
padre estava caindo em perdição por causa de uma mulher, alertou-o para o mal que
aquilo poderia fazer a ele:
“ E se, apesar de tudo, encontrares alguma mulher, que te
leve a sonhar estranhas venturas... bate com os punhos cerrados
contra o peito, dilacera as tuas carnes com as unhas, até
sangrares de todo o veneno da tua mocidade! Esmaga, à força de
penitência, toda a animalidade que em ti exista! Aperta os teus
sentidos dentro do voto de ferro da tua castidade, até lhes
espremeres toda a seiva vital! Fecha-te, enfim, dentro do teu
voto de castidade, como se te fechasses dentro de um túmulo!”
(AZEVEDO, p.67)
Com a morte de Alzira, o fantástico se instaura no texto. Alzira volta do mundo
dos mortos, todas as noites, para levar Ângelo consigo. Com o passar do tempo, Ângelo
não distingue mais o real do sonho. Passa a ter dúvidas de sua existência: não sabe mais
se sua vida real é a do claustro ou a do mundo de leviandades e devassidão ao lado de
Alzira.
Este romance de Aluísio de Azevedo filia-se ao texto La Morte Amoureuse de
Théophile Gautier, escritor francês do século XIX. No texto de Gautier, o sagrado e o
diabólico se cruzam também na figura de um padre, que busca por meio dos sonhos a
realização de seus desejos. Romuald (padre) faz um pacto e resgata a vampira
Clarimonde do reino das sombras e isso determina a fragmentação de sua personalidade
nos limites do sonho-pesadelo. Em A Mortalha de Alzira o padre Ângelo tem sua
personalidade fragmentada nos sonhos, após a morte da condessa Alzira; ele é
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
38
“vampirizado” por ela durante os sonhos. Aluísio de Azevedo deixa explícita essa
filiação no início de seu romance, escrevendo
“Ao leitor
Este romance é nada mais do que um vasto jardim
artificial feito de frias, perpétuas e secas margaridas, mas todo
ele embalsamado pelo aroma de uma flor, uma só, que é a sua
alma – “La Morte Amoureuse”, de Théophile Gautier.
O AUTOR” (A Mortalha de Alzira)
Tzvetan Todorov cita em Introdução à Literatura Fantástica, que dentro da nossa
realidade regida por leis, ocorrências inexplicáveis por essas leis incidem na incerteza
de serem reais ou imaginárias. Para Todorov, um evento fantástico só ocorre quando há
a dúvida se esse evento é real, explicado pela lógica, ou sobrenatural, ou seja, regido por
outras leis que desconhecemos. Porém, este fato não pode sugerir a alegoria, pois, se o
leitor ou espectador interpretar o sobrenatural como uma metáfora, num primeiro
momento, ele perde o sentido fantástico. Deve haver uma pré-disposição do leitor para
negar a alegoria e hesitar quanto à realidade do fato.
A personagem Ângelo, vampirizado por Alzira durante o sono, vive uma vida
dupla: a de padre na vida real§ e a de homem boêmio, vida esta que ele vive no mundo
dos mortos. O padre deseja a extinção de seu rival e, por sua vez, o boêmio deseja a
extinção do padre:
“Com o correr dos sonhos, formou-se uma secreta
rivalidade entre o padre casto e o licencioso boêmio. Odiavam-
se. Cada qual desejava a extinção do seu rival. O presbítero,
entretanto, a ninguém confiara até aí o segredo das escápulas do
§ Realidade esta que conhecemos, regida pelas leis naturais.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
39
seu espírito, e principiava a habituar-se àquele duplo viver de
sacerdote virtuoso e de folião profano” (AZEVEDO, 2005,
p.209)
A própria personagem questiona a experiência que tem, hesita em acreditar (ou
não) nos fatos que vivencia e já não consegue mais distinguir em qual “realidade” ele
existe:
“ – Eu vivo nos meus sonhos, e mentiria se dissesse que os não desejo... Desejo-os ardentemente; volto deles com a consciência aflita e dolorida, mas durante as longas horas do dia, nada mais faço que chamar pela noite, para poder correr aos braços de Alzira!... Sonhar! Será vida o sonho?... E por que não?... Por que supor que esta é vida verdadeira e a outra não? ... Por que, se ambas têm a mesma razão de ser? (...) Qual das duas será a verdadeira? Poderei afirmar que vivo nesta?” (AZEVEDO, 2005, p.229)
Segundo Todorov, há um fenômeno que pode ser explicado de duas formas, uma
pelas leis naturais e outra pelas leis sobrenaturais. Quando há a possibilidade de se
hesitar entre estas duas formas, é onde se cria o efeito do fantástico. E é dentro desta
atmosfera de hesitação que ocorre A Mortalha de Alzira.
Bibliografia
AZEVEDO, A. A mortalha de Alzira. São Paulo: Livraria Martins, 2005. BATAILLE, G. A literatura e o mal. Trad. António Borges Coelho. Lisboa: Ulisseia, 1957. BESSIÈRE, I. Le récit fantastique: La poétique de l'incertain. Paris: Larousse, 1974. BOURNEUF, R., OUELLET, R. O universo do romance. Trad. J.C.S. Pereira. Coimbra: Almedina, 1976. CAUSO, R. S. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil (1875 a 1950). Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003. CORTÁZAR, J. Do sentimento do fantástico. In___ Valise de Cronópio. Trad. Davi Arrigucci e João Alexandre Barbosa. São Paulo : Perspectiva, 1974. p. 175-179. DIMAS, A. (Org.). Aluisio Azevedo : literatura comentada. São Paulo : Abril, 1980. DISCINI, N. Intertextualidade e conto maravilhoso. São Paulo : Humanitas/ FFLCH/ USP, 2001.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
40
FANINI, A.M.R. Os romances-folhetins de Aluísio Azevedo : aventuras periféricas. Tese (Doutorado). Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: [s.n.], 2003. FURTADO, F. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa : Livros Horizonte, 1980. LEVIN, O.M. (Org.). Aluísio Azevedo: ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005. 2 v. LOPES, H. Literatura fantástica no Brasil: língua e literatura. São Paulo, 1975. LOVECRAFT, H. P. O horror sobrenatural na literatura. Trad. João Guilherme Linke. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. MALRIEU, J. Le fantastique. Paris : Éditions Hachette, 1992. MÉRIAN, J.Y. Aluísio Azevedo vida e obra: (1857-1913). Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. MILNER, M. La Fantasmagorie: essai sur l’optique fantastique. Paris: Presses Universitaires de France, 1982. MOISÉS, M. Dicionário de termos literários. 3. ed. São Paulo : Pensamento, 1982. MONTEIRO, J. Prefácio. O conto fantástico. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1959. PONNAU, G. La folie dans la littérature fantastique. 1. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1997. RODRIGUES, Selma. O fantástico. São Paulo: Ática, 1988. SIEBERS, T. The Romantic Fantastic. Ithaca; London: Cornell University Press, 1984. SODRÉ, N. W. O Naturalismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. SOLANOWSKI, M. Literatura fantástica : em busca de uma definição. Tema, n.5, jan/mai, 1988. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. Trad. Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1975. VAX, L. L'Art et la littérature fantastiques. 4. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1974.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
41
O FANTÁSTICO E A LOUCURA NO SÉCULO XIX: DUAS PERSPE CTIVAS PARA O LEITOR IMPLÍCITO EM O CORAÇÃO DENUNCIADOR, DE POE E
EM O HORLA, DE MAUPASSANT
Ana Carolina Bianco Amaral*
RESUMO
O tema da loucura na literatura fantástica é vigente nas narrativas do século XIX. Em os contos O coração denunciador, de Edgar Allan Poe e em O Horla, de Maupassant, a instabilidade mental é revelada, por vezes, nos comportamentos dos personagens centrais. O presente trabalho destacará os pontos narrativos que revelam duas tensões: de um lado, a possibilidade da loucura do narrador em primeira pessoa, do outro, a instauração do sobrenatural. Utilizaremos a teoria proposta por Todorov teórico para salientar a maneira pela qual o leitor implícito pode preencher as lacunas textuais que tendem ao módulo da interpretação. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Loucura; O coração denunciador; O Horla.
Sobre a loucura no fantástico e o leitor implícito
O tema da loucura na literatura fantástica é tipicamente representado, no século
XIX, por publicações que circundaram a transição do século das Luzes à visão
Romântica do mundo ocidental. O fantástico, compreendido como um gênero narrativo
que concatena, em uma única estrutura, o verossímil e o sobrenatural, é amalgamado
também, com outros recursos literários. A caracterização do desequilíbrio mental, por
exemplo, é um desses aspectos que o gênero tematiza. Algumas obras publicadas no
século XIX como O homem da areia (1817), de Hoffman, Aurélia (1854), de Nerval,
Vera (1874), de L’Isle-Adam, e O sonho (1876), de Ivan Turgueniev remetem, muitas
vezes, o publico leitor à margem de especulações entre uma explicação lógica ou de
* Mestranda em Letras, Teoria da Literatura, pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, UNESP/IBILCE, campus de São José do Rio Preto. FAPESP 2010/03566-7; [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
42
ordem irracional para os horizontes propostos na trama. O amor do jovem Natanael pelo
autômato Olímpia, o credo sustentado pelo narrador da revivificação da presença Vera,
já falecida, Aurélia, com as visões de um mundo desconhecido, e o sonho premonitório
que resgatou o pai do personagem turguenieviano tece, à primeira vista, a instabilidade
mental no comportamento do personagem fantástico.
Em O mundo maravilhoso do inexplicado: o fantástico como mise-em-scène da
modernidade, Batalha (2003) afirma que o louco recria o mundo, e gera uma nova
verdade, o que obriga a sociedade a pensar e a relativizar aquilo que torna a lógica da
prática humana comum. Por comportar um material de origens em zonas ainda não
exploradas na mente humana, o tratado da alucinação, do delírio e da instabilidade
mental é recorrente na literatura em questão, pois propõe questionar a racionalização, e
objetivar a compreensão das construções mentais do indivíduo defronte ao legado
ideológico instaurado pela sociedade temporal. Até o final do século XVIII, nos ares da
Revolução Francesa, e no início do século XIX, a loucura era tida como uma doença
física, genética, e não havia distinção entre o estado mental do ser humano e do físico.
A loucura desvenda as camadas mais obscuras do ser.
A literatura fantástica, ao atualizar a experiência do personagem mentecapto,
atua no espaço limítrofe da linguagem literária, pois, cedendo voz ao desvario, recria a
possibilidade de compreensão da doença silenciada pela sociedade em nome da razão.
Assim, esse desatino mental não é mais compreendido como parte negativa do homem,
mas como outro domínio de verdade, e contesta uma cultura dominada pela plenitude
do racional.
Mas qual processo de criação do fantástico conduz o leitor a compreender os
personagens da história como alucinados por presenciarem fenômenos estranhos, ou
estes serem de origem insólita? Encontramos em Todorov (2003) uma definição para o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
43
gênero em questão que prevê a participação do ledor no texto fantástico. Após realizar
um levantamento de obras do século XIX, especificamente nas produções narrativas, o
teórico enfatiza que o foco similar entre os contos e as novelas selecionadas é o
simulacro de realidade, designado, por ele, de verossimilhança. Ocorrendo a ruptura do
verossímil pela introdução de algum elemento sobrenatural e a condução do texto por
uma sequência de estratégias textuais, o narrador em primeira pessoa se questionaria
acerca da natureza dessa ocorrência inverossímil, e outorgaria suas dúvidas para o leitor
implícito que, anuente a essas proporções do texto, dialogaria, em reciprocidade com o
narrador, sobre a procedência do insólito. Tal processo é denominado de hesitação.
O leitor implícito todoroviano é designado por uma possível participação do
leitor real na narrativa que ocorreria quando o narrador em primeira pessoa persuadisse
esse destinatário a hesitar acerca da procedência dos eventos dispostos no enredo. No
entanto, utilizaremos a definição proposta pelo alemão Wolfgang Iser de leitor
implícito, por compreendermos que o ledor não só participa a convite do narrador, mas
preenche as lacunas cedidas pelo texto, a fim de atingir o grau de interpretação. O
teórico acredita que a estrutura discursiva, articulada em um escrito que projeta a
presença do receptor é denominada de leitor implícito, e destitui-se dessa forma, do
conceito de leitor ideal. Este estabelece que a leitura plena da obra é concretizada por
meio de um receptor adequado para cada texto. Assim, o escritor precisaria desenvolver
a literatura visando a um ledor que a compreendesse e a interpretasse como foi pensada
ao ser elaborada.
A arbitrariedade interpretativa do leitor implícito, como já dita, é parcial, pois a
aceitação das estratégias textuais, como sinalizadoras da leitura, implica no
desprendimento fracionário da liberdade dessa interpretação. Sendo, dessa maneira, por
meio do contexto situacional da história, que o receptor decifra os estratagemas pré-
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
44
estabelecidos, e exercendo sua lógica conceitual, compara as premissas do texto com o
contexto.
Análise dos contos O coração denunciador, de Poe e O Horla, de Maupassant
Para explorarmos a atuação do tema da loucura no século XIX, selecionamos
dois contos: o Coração denunciador, de Edgar Allan Poe e a primeira versão de O
Horla, de Guy de Maupassant. O primeiro foi publicado nos Estados Unidos, em 1843,
enquanto o segundo, na França, em 1886, pós Revolução Francesa. O conto
maupassaniano discorre sobre um paciente clínico que relata sua experiência insólita
para alguns doutores. O homem conta sobre uma presença invisível, chamada por ele de
Horla, que o acompanhava em alguns períodos. O conto de Poe também apresenta o
discurso de um narrador-personagem que prestava serviços a um idoso. Furioso com a
catarata situada em um dos olhos do senhor, comete assassinato, mas afirma ouvir as
batidas do coração defunto. Ambos os contos demonstram o esforço do narrador, em
primeira pessoa, em convencer, no primeiro caso, outros personagens da trama, no
segundo, o narratário, que os eventos estranhos decorrentes no enredo são de ordem
sobrenatural, e que por isso, não sofrem alucinações, são mentalmente estáveis.
A narração de O Horla é iniciada por um narrador em terceira pessoa que
descreve o caso de um dos pacientes do doutor Marrande. O personagem que anunciará
os fenômenos insólitos aos colegas de trabalho do doutor toma a voz, transformando-se
em um narrador em primeira pessoa. A narrativa é descrita a partir da visão do paciente
possivelmente insano, como alega os outros personagens do enredo.
Senhores, sei por que vos reuniram aqui e estou disposto a contar-vos minha história, conforme me pediu o meu amigo
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
45
doutor Marrande. Durante muito tempo êle me julgou louco. Hoje, duvida. Dentro em pouco vereis que tenho o espírito tão sadio, tão lúcido, tão clarividente como o vosso, infelizmente para mim, e para vós e para a humanidade inteira. (MAUPASSANT, s/d, p.337)
Neste trecho, o preâmbulo do processo de preenchimento das lacunas discursivas
é iniciado. Não podemos responder por uma coletividade interpretativa de leitores, mas
o conto, com a elaboração das estratégias textuais pode tender o leitor implícito a um
tipo de interpretação. Esse parágrafo constitui dois pólos. De um lado, a negação de
qualquer tipo de instabilidade mental, e do outro, a hipótese de loucura. Da mesma
forma, o conto O coração denunciador abarca esses dois processos:
É verdade! sou - nervoso - , eu estava assustadoramente nervoso e ainda estou; mas por que você diria que estou louco? A doença tinha aguçado os meus sentidos - não destruído - , não amortecido. Acima de tudo, aguçado estava o sentido da audição. Eu escutava todas as coisas no céu e na terra. Eu escutava muitas coisas do inferno. Como posso estar louco? Ouça com atenção! E veja com que sanidade, com que calma sou capaz de contar a história inteira. (POE, 2004, p.280)
Os dois personagens centrais dos contos norteiam a razão e a loucura, iniciando
os relatos de forma segura e estável, e intentam moldar um caráter lúcido para seus
comportamentos. Em Poe, o narrador instila o narratário acreditar que não sofre de
insanidade mental: “loucos não sabem de nada”. (POE, 2004: 280). Como não há
menção de reciprocidade de diálogo com outros personagens, os rebates sobre essa
loucura podem ser uma projeção do próprio inconsciente desequilibrado, ou até mesmo
a iteração da negação de insânia pode derivar da necessidade de expressão das suas
emoções, uma vez que o texto aborda a existência solitária dessa primeira pessoa. Em O
Horla:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
46
Mas quero começar pelos próprios fatos, os fatos sem comentários. Eis-los: Tenho quarenta e dois anos. Não sou casado, minha fortuna é suficiente para eu viver com um certo luxo. Habitava, pois, uma propriedade à beira do Sena, em Biessard, perto do Ruão. (MAUPASSANT, s/d, p.338)
o narrador anuncia que não opinará sobre fatos do relato, sugerindo um distanciamento
opinativo. Esse afastamento tende a justificar a veracidade do fenômeno sobrenatural
que ocorrerá. Da mesma forma, o narrador do segundo conto revela:
É impossível dizer como a idéia entrou primeiro no meu cérebro; mas, uma vez concebida, perseguia-me dia e noite. Objeto, não havia nenhum. Paixão, não havia nenhuma. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal. Ele nunca me insultara. Pelo ouro dele eu não nutria desejo. Penso que foi o olho dele! Sim, foi isso! Tinha o olho de um abutre – um olho azul pálido recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava; e assim, por etapas – muito gradualmente -, decidi tirar a vida do velho e, dessa forma livrar-me do olho para sempre. (POE, 2004, p.280)
O personagem central tenta convencer o narratário de sua inculpabilidade, não
sabendo explicar o porquê foi inspirado pelo desejo de assassinar o senhor que prestava
serviços. Todas essas justificativas formam, também, o cenário que as premissas
textuais criam a fim de influenciar a opinião do leitor implícito, num exercício de
raciocínio lógico, e que tende, na perspectiva do narrador em primeira pessoa, a
promulgar sua inocência. Devemos salientar que a narrativa é sopesada pela pessoa que
vivencia os fatos, e que todas as informações nos são cedidas pelo olhar do narrador que
pode estar equivocado acerca da procedência dos acontecimentos do enredo, os
omitindo ou os dissimulando. Em O Horla:
Fez um ano no último outono, invadiu-me de repente uma espécie de inquietude nervosa que me mantinha acordado noites
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
47
inteiras, uma tal sobreexcitação que o menor ruído me fazia estremecer. Meu humor se exasperou. Eu era presa de subidas cóleras inexplicáveis. Chamei um médico, que me receitou brometo de potássio e duchas. (MAUPASSANT, s/d, p.338)
o narrador está defronte a médicos, tentando esclarecer a origem de seu estado atípico
noturno. Ao mesmo tempo, enfatiza que uma “inquietude nervosa” o mantinha
acordado. Esse nervosismo também está no relato poeniano, quando o narrador diz no
primeiro parágrafo “É verdade! sou - nervoso -, eu estava assustadoramente nervoso e
ainda estou (2004: 80), mas tanto em O Horla, quanto neste último o nervosismo pode
ser explicado pela ciência.
No conto de Maupassant, o fantástico todoroviano entra em vigor quando o
narrador declara sentir a companhia de uma presença invisível:
Na noite seguinte, quis fazer a mesma experiência. Fechei então minha porta a chave para ter certeza de que ninguém poderia penetrar em meu quarto. Adormeci e me acordei como na outra noite. Tinham bebido toda a água que eu vira duas horas antes. (MAUPASSANT, s/d, p. 340)
Entretanto, o fantástico só se concretizará na interpretação do leitor implícito, pois não
há a confirmação, por outros personagens, da integridade de alguma das duas vertentes.
Este poderá optar entre as possibilidades que repertório textual apresenta, a alucinação
do narrador ou domínio do sobrenatural. Por outro lado, há uma tensão instaurada por
esses dois aspectos, pois enquanto a loucura é caracterizada no comportamento dos
personagens centrais, o domínio do insólito não é descartado. A fusão dessas duas
expectativas cria um terceiro ícone no texto: a hesitação. Salientemos que no conto
maupassaniano:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
48
[...] vi, distintamente, bem perto de mim, a haste de uma rosa quebrar-se, como se uma invisível mão a houvesse colhido... [...] Presa por um louco pavor, lancei-me sobre ela para pegá-la. Não encontrei nada. Ela desaparecera. Então, uma cólera furiosa contra mim mesmo me invadiu. Não é permitido a um homem sensato e sério o ter semelhantes alucinações. (MAUPASSANT, s/d, p. 342)
a narrativa é descrita pela primeira pessoa, ocorrendo por meio desse olhar a revelação
dos eventos. Essa condição de “narrador-personagem” permite, como vimos, a
manipulação do discurso, e pode suscitar, em resposta à tensão dos dois pólos
articulados, o sentimento de ambigüidade ao leitor implícito, que desconfia dos relatos
narrativos.
Após o assassinato do idoso, no conto poeaniano, os habitantes das casas
vizinhas acionam a polícia, alegando que ouviram gritos. O narrador, convencido de sua
sagacidade, convida a escolta policial para adentrar a casa e descansarem sobre a parte
do assoalho que ocultava o corpo esquartejado. Contudo:
Tornou-se mais alto – mais alto - , mais alto! E os homens seguiam tagarelando com prazer, e sorriam. Seria possível que eles não estivessem ouvindo? Deus Todo-Poderoso! – não, não!Eles ouviram – eles suspeitaram! – eles sabiam – eles zombavam do meu terror! – isso eu pensei, e ainda penso. Mas qualquer coisa era melhor que essa agonia. (POE, 2004, p.284)
a sonância do pulsar frequente do coração defunto se torna insuportável para o narrador.
Descrevendo essa revelação por meio de focalização externa, avalia e estranha o
comportamento aparentemente estável dos policiais que não expressam reações de
espanto com o som das batidas cardíacas. O narrador acredita, por isso, que a escolta
dissimule não ouvir as palpitações. Por isso, confessa: “Miseráveis!”, guinchei, “parem
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
49
de disfarçar! Eu confesso o crime! Arranquem as tábuas! Aqui, aqui! – são as batidas do
seu coração horrendo!”. (POE, 2004: 284)
O conto de Maupassant titubeia entre a insânia do personagem central, que alega
sentir uma presença invisível, e a possibilidade dessa primeira pessoa estar louca. O
narrador tenta convencer os doutores que o ser invisível, nomeado de Horla, depois de
passar um período com ele, o abandona. Finaliza o relato dizendo:
Acrescento: “Alguns dias antes do primeiro ataque do mal que esteve a ponto de matar-me, lembro-me perfeitamente de ter visto passar um grande navio brasileiro de três mastros, com a suma bandeira alvorada... Já vos disse que minha casa fica à beira do rio... Toda branca, Sem dúvida, ele estava naquele navio... Nada mais tenho a dizer senhores. (MAUPASSANT, s/d, p. 348)
A voz da narração é cíclica, pois retorna ao narrador em terceira pessoa do início do
conto: “O doutor Marrande levantou-se e murmurou: - Eu também não. Não sei se este
homem é louco ou se nós dois o somos... ou se nosso sucessor chegou realmente.
(MAUPASSANT, s/d: 348). Na transposição da voz da terceira pessoa para a primeira,
como mencionada no introito da análise, os eventos tendem a ser autenticados, pois a
participação de um narrador extradiegético, nesse caso, concorda os fatos,
indiretamente, com o relato do narrador em primeira pessoa, uma vez que a voz da
narração se duplicaria. Porém, na mesma esteira que os eventos relatados são
autenticados por essa duplicidade, o discurso direto que finaliza a história caracteriza a
hesitação do personagem secundário, o doutor Manrade. Porquanto este, situado pela
ciência, demonstra estar incerto ao diagnosticar o personagem central. Mas a hipótese
de manipulação desse recorte mimético da fala não é descartada, se considerarmos que o
médico prefira não contrariar seu paciente para não agravar o débil estado de saúde do
interno.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
50
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os contos O coração denunciador, de Edgar Allan Poe e O Horla, de
Maupassant, preponderados pela narração em primeira pessoa, permitem que a narração
em primeira pessoa distenda, ou não, a autenticidade dos eventos decorridos na história.
Com as argumentações, do primeiro conto, destinadas aos médicos, e do segundo, ao
narratário, o narrador em primeira pessoa relata sua vivência com os fenômenos
insólitos, e titubeia acerca da origem desses eventos. Os dois contos criam o cenário
hesitacional do fantástico, mas difere-se na aceitação do narrador acerca do evento
inusitado como parte integrante do sobrenatural. No conto Maupassaniano, o narrador
questiona se presença invisível que o acompanha é uma alucinação. Ao passo que o
personagem central da história de Poe reitera, em vários momentos, sua estabilidade
mental. Porém, a repetição da informação diegética, seja da presença do sobrenatural, da
sanidade mental ou da dúvida que ambos suscitam, tende a não convencer o leitor
implícito da veracidade dessas informações, como pretende o discurso, pois o excesso
desses enunciados distancia, muitas vezes, o leitor da sua realidade cotidiana.
Se compreendido dessa forma, os elementos insólitos, presença invisível e
pulsação de um coração desfalecido, situam o texto no âmbito da literatura fantástica,
porquanto o cenário verossímil é desestruturado pela inserção do objeto sobrenatural. A
narração pode ser infiel na medida em que a primeira pessoa for incongruente no relato
da trama, e, no caso da loucura, a alucinação pode corromper a veracidade do olhar do
narrador, não só para o ledor, mas também para ele. Compete, portanto, ao leitor
implícito preencher as lacunas que os textos disponibilizam. Se optar pela existência dos
elementos sobrenaturais, os contos pertencerão à literatura fantástica, mas se refutar a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
51
origem do insólito, os textos abandonarão o ambiente fantástico para aderirem o tema da
loucura que é tão explorado pelas narrativas do século XIX.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Batalha, M. C. O mundo maravilhoso do inexplicado: o fantástico como mise-en-scéne da modernidade. Port: Edit on web, 2003. ISER, W. O jogo do texto. In: HAUSS, H.R. et al. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Tradução de Luiz Costa Lima (Org.). 2.ed Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p.32-39. ______. O ato da leitura. São Paulo: Editora 34, 1996a. ______. O fictício e o imaginário. Rio de Janeiro: Ed. da UERJ, 1996b. HOUAISS. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, s/d. Disponível em: http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=pensar . Acesso em: 28 mar 2011 MAUPASSANT, G. O Horla. 1ª versão. Fonte bibliográfica extraviada. POE, E. A. O coração denunciador. In: Contos fantásticos do século XIX. Tradução Paulo Schiller. São Paulo: Companhia das letras, 2004. ______. The tell-tale heart. In: Tales of horror and suspense. New York: Dover Evergreen Classics, 2003. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 2007.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
52
ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO: AS FRONTEIRAS DO FANTÁ STICO
Ana Maria Zanoni da Silva ∗
RESUMO
O imaginário popular constitui uma fonte de histórias povoadas por seres horripilantes. Sombras, monstros, vampiros, almas de outro mundo e estátuas despertam e invadem a noite, espaço de transição entre o real e o sobrenatural. O mundo noturno é regido por leis desconhecidas e povoado por seres que ganham vida à noite. Seres dessa natureza constituem temas propícios à narrativa fantástica e, segundo Molino (1980), relacionam-se ao medo sentido pelo homem perante o mundo, porém o fantástico não é apenas um reflexo desse medo. Entre o real e o sobrenatural há um duplo movimento, pois, ao mesmo tempo em que a narrativa cria o fantástico é, também, por meio dela que homem se depara com a existência do sobrenatural. O sobrenatural provoca uma hesitação e, na concepção de Todorov, o fantástico vem a ser uma “hesitação experimentada por um ser, que apenas conhece as leis naturais, em face de um acontecimento aparentemente sobrenatural”. (1980, p. 31). Por ater-se ao jogo entre o real e o imaginário, bem como ao estranhamento, a definição de Todorov foi considerada como reducionista por Bessière (1974). Para Bessière faz-se necessário considerar o fato de que o sobrenatural introduz, na narrativa fantástica, outra ordem e, portanto, o fantástico não irrompe da hesitação entre as duas ordens, mas da contradição, da recusa mútua e implícita entre ambas. Tomando por base os pressupostos teóricos, acima mencionados, este trabalho tem por objetivo comparar os contos “Os crimes da Rua Morgue” e “Ligéia” do escritor norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849). Acredita-se que por meio de um estudo da organização interna dos contos, examinando-lhes os motivos angustiantes, seja possível demonstrar as fronteiras entre o fantástico e a narrativa policial; o fantástico e a narrativa de horror.
PALAVRAS-CHAVE : Poe; fantástico; fronteiras; horror; narrativa policial.
Introdução
Os contos “Os crimes da Rua Morgue” e “Ligéia”, do escritor norte americano
Edgar Allan Poe enquadram-se em categorias distintas - o primeiro é considerado pela
crítica como um dos pré-cursores da narrativa de enigma e o segundo foi enquadrado na
categoria de horror. Embora sejam classificados em categorias distintas, ambos
∗ Doutora em Estudos Literários, na Universidade do Estado de São Paulo – FCLAR/ UNESP, Professora na UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerai, campus de Frutal, MG.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
53
proporcionam ao leitor contemplar o embate entre razão e desrazão, pólos
desencadeadores da agonia humana mediante a irrupção do desconhecido envolto em
uma atmosfera de mistério, no seio do real.
Poe mostra o duplo movimento existente entre o real e o sobrenatural, por meio
da utilização da unidade de efeito, inserindo, na trama narrativa, incidentes e fatos
interligados com a ação principal e, desse modo, pode então optar pelo efeito a ser
suscitado no leitor. Ao inserir os incidentes e optar por um efeito único, mostra,
também, as linhas tênues que separam tanto a narrativa policial, quanto a de horror do
fantástico.
Rua Morgue: espaço entre o enigma e o fantástico
O conto “Os Crimes da Rua Morgue” publicado por Edgar Allan Poe no
Graham´s Lady’s and Gentleman’s Magazine em 1841, foi reconhecido como protótipo
da narrativa policial, pois o herói, C. Augusto Dupin, converteu-se em modelo para os
detetives das gerações procedentes. Inteligente e observador, ele realiza uma análise
calculista dos fatos e desvenda do enigma, que envolve o assassinato de duas moradoras
da Rua Morgue. A brutalidade do crime é enunciada pelos jornais, que enfatizam a
mutilação dos corpos e a força sobrenatural do criminoso. A selvageria da execução das
vitimas, a permanência dos objetos de valor no aposento, o fato de a porta estar trancada
por dentro e os gritos horripilantes ouvidos pelos vizinhos, intensificam o suspense,
introduzem o fantástico, pois o crime foi descrito, pela imprensa, como um espetáculo
“que se apresentou à vista dos presentes e os encheu não só de assombro como de
horror” (POE, 1997, p. 71).
As manchetes despertam o interesse de Dupin e, à medida que ele avança nas
investigaçõe, as fronteiras entre o enigma e o fantástico se cruzam. A escolha da voz,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
54
por exemplo, facilita a compreensão do leitor, pois narrador homodiegético se propõe a
não escrever um tratado sobre as faculdades analíticas, “mas simplesmente prefaciar
uma estória bastante singular com algumas observações um tanto a ligeira” (1997, p.
65). A proposta confere credibilidade ao narrador e, o leitor procura, junto com ele, uma
explicação racional para os fatos, porque a história do crime, por ele reportada, é aquela
retratada pelos jornais e desvendada por Dupin. A opção pela voz homodiegética revela
a acurada percepção crítica de Poe a respeito da construção do fantástico, porque
segundo afirma Todorov “para facilitar a identificação, o narrador será um “homem
médio”, em que todo (ou quase) todo leitor pode se reconhecer” (1992, p.92).
O terror advém de do medo inconfesso do outro, do desconhecido, porque as
testemunhas atribuem às vozes, ouvidas durante o crime, a pessoas de diferentes
nacionalidades: “Henrique Duval, vizinho (...). A voz aguda pensa a testemunha, era de
um italiano. Com certeza não era de um francês. (...) Não conhecia a língua italiana.
(...). Guilherme Bird, alfaiate (...). É inglês. Ouviu vozes que discutiam. A voz grossa
era de um francês (...) Ouviu distintamente sacré e Mon Dieu”. (POE, 1997, p. 73,74)
A repetição das palavras sacré e diable mescla o sagrado com diabólico e
intensifica a atmosfera fantástica. Na concepção de Vax: “A arte fantástica deve
introduzir terrores imaginários no seio do mundo real” (1974, p.9). À mescla de sagrado
com profano somam-se outros elementos como, por exemplo, o isolamento das vítimas,
o quarto fechado; os gritos aterrorizadores e a mutilação dos cadáveres compondo o
microcosmo de uma história de sangue e crueldade e, ao mesmo tempo, instaurando
outra ordem no real. Por se tratar de uma narrativa de enigma, Poe dilui o efeito de
fantástico e centraliza o foco nas investigações de Dupin, revelando pequeninos detalhes
não percebidos pelos policiais, que segundo o herói “Caíram no erro comum, mas
grosseiro, de confundir o insólito com o abstruso”. (POE, 1997, p. 78). Dupin revela
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
55
não o “que se passou”, mas o “que se passou que já não tenha se passado antes”. (POE,
1997, p. 78). Ele desvenda o aspecto abstruso dos fatos e chega ao orangotango, autor
do crime.
O orangotango pode ser considerado um híbrido de humano e símio, pois na
manhã do crime, fora encontrado, segundo informa o seu dono, com “uma navalha na
mão e todo ensaboado, estava sentado diante de um espelho, procurando barbear-se,
coisa que decerto vira seu dono fazer anteriormente, observando-o pelo buraco da
fechadura do cubículo”. (POE, 1997, p. 89). A metamorfose se completa, quando o
macaco, durante o assassinato, percebe a presença de seu dono esconde as provas do
crime: “Cônscio de haver merecido castigo, pareceu desejoso de ocultar suas sangrentas
façanhas (...). Por fim, agarrou primeiro o cadáver da filha e meteu-o pela chaminé
acima, tal como ele foi encontrado, e depois o da velha, que ele imediatamente atirou
pela janela”. (POE, 1997, p. 90).
No conto em apreço, se a irrupção do sobrenatural se dá pelo enigma do
estrangulamento dos corpos, o fantástico se concretiza na figura do macaco que remeda
o homem na ação de “eliminar provas”. Na concepção de Vax, a “personagem fantástica
é, pois, o homem que abandonou a humanidade para se aliar a fera” (1974, p. 19). A
inversão de papéis mostra não homem abandonando a humanidade para aliar-se a fera,
mas o animal transformado em fera por aliar-se ao homem. Ao inverter o habitual, Poe
explora o arremedo mecânico, característico do risível, para mostrar a face triste do
homem, agindo como os animais. A animalidade humana fora enunciada, pelo narrador,
no início da trama: Estávamos conversando a respeito de cavalos, (...). Ao cruzarmos na
direção desta avenida, um fruteiro, com um grande cesto sobre a cabeça, passando a
toda pressa à nossa frente, lançou você de encontro a um monte de pedras, (...). (POE,
1997, p. 70).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
56
A constatação do lado animalesco do homem é cruel, mas mais aterrorizante
vem a ser a explicitação da selvageria humana presente no animal. Segundo Vax, “há
no animal fantástico, não só um regresso à selvageria, mas a perversão dum estado
superior (1974 34). Ao retratar o lado selvagem do orangotango e também a
contaminação dele pela perversidade humana, Poe revela a fronteira tênue entre o
fantástico e a explicação racional, pois mostrou “a presença surda do homem na fera”
(VAX, 1974, p. 34).
A metamorfose do animal desvelou o lado sobrenatural no qual os fatos
narrados, no início da trama, estavam envoltos e trouxe à tona o inexplicável reinando
no desenlace. O desfecho é marcado pela irônica fala de Dupin, explicando o modo de
agir do chefe de policia “nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas” (POE, 1997, p.
91). Se traço característico da narrativa de enigma é o desenredo da primeira história,
contata-se que Poe antecipa a teoria ao mostrar que “o sobrenatural ausente de inicio,
reina como senhor no desenlace (VAX, 1974, 18). As fronteiras entre o fantástico e a
narrativa policial entrelaçam-se, o crime é desvendado, mas a contaminação do animal
pela perversidade humana permanece sem explicação.
Ligéia: entre o horror e o fantástico
O conto “Ligéia” foi publicado por Poe em 1838, no American Museum of
Sciencie, Literature and the arts e versa sobre história de amor entre o narrador
autodiegético e Lady Ligéia. No início da trama instaura-se o nó, pois o protagonista
casara-se com uma jovem de família desconhecida: “jamais conheci o nome da família
daquela que foi minha amiga e minha noiva, que se tornou a companheira de meus
estudos e finalmente a esposa de meu coração” (POE, 1997, p.231). A união com o
desconhecido cria um tom de mistério em torno do relacionamento amoroso, que se
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
57
intensifica e gera o horror, porque da união com a desconhecida passa-se a história de
um casamento de mau agouro, presidido por Ashtophet.
Ashtophet, na tradição judaico-cristã, está relacionada com a vida após a morte e
a morte após a vida, no eterno ciclo de morrer para renascer. O sentimento de posse
explícito na afirmação “esposa do meu coração”, associados aos poderes conferidos à
regente do estranho matrimônio constituem o acontecimento sobre o qual a trama está
apoiada, uma vez que Ligéia encerra os atributos da deusa capaz de presidir as ações
aquém e além-túmulo.
A beleza de Lady Ligéia é esplendorosa, corpo alto, magro e delgado; passos
ligeiros e elásticos, atributos que lhe permitem entrar e sair dos cômodos da casa “como
uma sobra” (POE, 1997, p. 231). Embora bela, ela não se enquadra nos moldes
clássicos, tal como afirma o narrador: “Não há beleza rara (...) sem algo de estranheza
nas proporções” (POE, 1997, p. 231). O estranhamento nasce do exagero da beleza
levada ao extremo e, cujas proporções amplas permitem inseri-la no espaço entre o belo
e o disforme. A intensidade da beleza permite que ela extrapole os limites da
materialidade e atinja o espírito do narrador.
Se para desencadear o fantástico o vampiro precisa de “uma consciência
artística que o engendre”, tal como afirma Vax (1965), a caracterização e a habilidade
de entrar e sair dos ambientes, atribuídas à protagonista, mostram a atualização do tema
do vampiro realizada por Poe. Não se trata mais do vampiro em busca de sangue, mas
de almas, cujo traço vampiresco vem à tona no seguinte trecho: “É essa violenta
aspiração, essa ávida veemência do desejo da vida, apenas da vida, que não tenho poder
para retratar, nem palavras capazes de exprimir” (POE, 1997, p. 236).
Segundo Vax “nas narrativas fantásticas monstro e vítima encarnam estas duas
partes: os nossos desejos inconfessáveis e o horror que eles nos inspiram” (1974, p.14).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
58
A descrição do desejo da heroína de viver eternamente deixa entrever, também, o horror
despertado por esse sentimento, no seguinte trecho: “As palavras são impotentes para
transmitir qualquer justa idéia da ferocidade de resistência com que ela batalhou contra
a Morte”. (POE, 1997, p. 236). Essa afirmação e a epígrafe inicial do conto, retomada
em outros trechos da trama, mostram a fixação do protagonista pela amada, e da amada
pela vida: “O homem não se submete aos anjos nem se rende inteiramente à morte, a
não ser pela fraqueza de sua débil vontade” (POE, 1997, p. 230; 234; 237). Essa frase
pronunciada pela heroína na hora de sua morte, explicita a fixação dela pela vida e,
deixa implícito o tema da posse. Ambas as personagens são possessivas e o elo entre
elas vem a ser um amor anormal, nutrido pelo desejo de vida eterna.
Após a morte de Ligéia, o protagonista muda-se para uma abadia, na Inglaterra.
O local descrito como melancólico e sombrio, de aspecto selvagem, servirá de cenário
para segundo casamento do protagonista e também para o desfecho do conto.
Entremeando a caracterização da abadia, o narrador apresenta a noiva: “Permiti-me que
fale só daquele aposento, maldito para sempre, aonde conduzi, do altar, como minha
esposa, num momento de alienação mental – como sucessora da inesquecível Ligéia – a
loura Lady Rowena Trevanion, de Tremaine, de olhos azuis.” (POE, 1997, p. 238). A
insignificância da segunda esposa fica evidente tanto nas palavras, como na forma que a
narrativa é construída, porque na primeira história o narrador delonga-se descrevendo
Ligéia, enquanto que na segunda história, apenas faz referência ao casamento e
novamente volta à caracterização da câmara nupcial, cuja descrição remete o leitor a
uma câmara mortuária.
A união não é permeada pelo amor, mas pelo ódio “mais de diabólico que de
humano”. (Poe, 1997, p. 239). O ódio e descrição do quarto, decorado com um
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
59
sarcófago e com o leito envolto por um dossel semelhante a um pano mortuário é uma
metáfora, cuja significação vem a ser o casamento de Lady Rowena com a morte.
Se no real, o casamento marca o início de uma nova vida, nesse conto Poe
conjugou o contrário e mostrou a face menos vistosa do matrimônio. Após dois meses
de enlace, Lady Rowena adoece e ao oferecer-lhe uma taça de vinho, o narrador afirma
ter visto uma sombra, de aspecto angélico, semelhante à sombra de uma sombra. Poe
atribui características angelicais ao sombrio e mescla o bem e o mal, criando uma leve
expectativa de que poderia ser algo bom. Logo em seguida, a irrupção do sobrenatural
vem à tona, pois o protagonista percebe passos ao redor do leito e vê “três ou quatro
gotas de um líquido brilhante, cor de rubi” (1997, p. 241). Na concepção de Bessière
(1974) “o fantástico se identifica com o religioso e as incertezas sobre os
acontecimentos, com os tormentos da alma”. Nessa sequência narrativa Poe une o
religioso, a incerteza e os delírios da alma, porque embora o protagonista afirme que as
fantásticas visões sejam efeito do ópio, Lady Rowena piora e morre, após ingerir o
vinho.
Ao contemplar o corpo da segunda esposa, lembrando-se da primeira, o
protagonista, por meio de recordações, rompe a ordem natural , possibilita o retorno de
Lady Ligéia e viabiliza a ação entre aquém e além tumulo. A morte da segunda esposa
deixa de ser a linha divisória entre os mundos dos vivos e dos mortos, para torna-se elo
entre ambos e, o herói ouve um soluço, vindo “do leito da morta” e afirma: “Não podia
mais duvidar de que havíamos sido precipitados em nossos preparativos, de que
Rowena ainda vivia” (POE, 1997, p.242).
Segundo Todorov (1975), o fantástico relaciona-se a hesitação experimentada
pelo personagem e transferida também para o leitor. Poe valendo-se da voz
autodiegética, intensifica a hesitação, algo insólito aconteceu e o herói procura uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
60
explicação lógica. Ao mesmo tempo em que cria o efeito de hesitação, resultante da
intrusão do sobrenatural no real, ele nos revela a contradição e a recusa mútua entre
duas ordens.
O desfecho da trama a noite, também propicia o fantástico, porque como afirma
Molino (1980), a noite propícia a entrada em outro mundo distinto do habitual e
povoado por seres que obedecem a outras leis. Lady Ligéia retorna a meia noite e
revela também a ambivalência feminina, afinal ela participa do culto ao matrimônio e,
ao mesmo tempo, age como uma vampira de almas e apodera-se, também, do corpo de
Lady Rowena. Ao trazer Ligéia de volta, habitando outro corpo, Poe explora os temas
da posse e do duplo simultaneamente e deixa entrever a possibilidade de comunicação
entre o mundo dos mortos e dos vivos, temática que estava em voga naquela época que
viria a ser explorado por Allan Kardec, oito anos após a morte de Poe em “O livro dos
espíritos” (1857).
Considerações finais
A primeira vista, pode-se afirmar que os conflitos entre o real e o sobrenatural
em “Os crimes da Rua Morgue” giram em torno da selvageria e mistérios que envolvem
o crime. Sobre o episódio do crime, Cortázar afirma:
Em Os crimes da rua Morgue, onde surge pela primeira vez o conto analítico , de fria e objetiva indagação racional, ninguém deixará de notar que a analise se aplica a um dos episódios mais cheios de sadismo e mais macabros que se possa imaginar. Enquanto Dupin-Poe paira nas alturas do raciocínio puro, seu tema é o de um cadáver de mulher enfiado de cabeça para baixo e aos empurrões num buraco de chaminé, e o de outra degolada e dilacerada até ficar irreconhecível. Poucas vezes Poe se deixou levar mais longe pelo deleite na crueldade.( 1974, p. 127)
Ao delegar os poderes humanos ao orangotango, Poe mostra o que há de
humano na fera e de fera no homem e, portanto o alheamento da ordem não reside no
crime em si, mas na metamorfose do símio em humano.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
61
A forma que Poe configurou a narrativa, remete aos moldes da crítica histórica,
isto é: “uma narrativa verdadeira é relatada por uma testemunha digna de fé, é
corroborada por diversas testemunhas, acha-se conforme às tradições ancestrais e as
crenças religiosas” ( VAX 1974, p.10). Dupin, movido por impulsos racionais tem a
função de reduzir a imaginação fértil das testemunhas, que os conduz a conclusões
errôneas a respeito do criminoso. Na estrutura superficial da trama, o fantástico ocorre
nos moldes clássicos do gênero, ou seja, a ordem natural está em equilíbrio e, de
repente, acontece o crime inexplicável, cuja pistas, para elucidar o enigma, confrontam
o real e o possível, a imaginação e a razão. Nas camadas mais profundas de
significação, o leitor se depara com o confronto entre o real e o inexplicável, ao indagar-
se a respeito da intelectualidade de Dupin, capaz de mostrar o quanto de atributos
humanos está presente nas feras que povoavam o mundo sobrenatural.
Em Ligéia o fantástico ocorre tanto pela forma como protagonista percebe e
contempla a amada em outro domínio – alheado, fora da ordem natural, como pela
configuração dos motivos propícios ao fantástico, realizada por Poe, como, por
exemplo, o retorno do mundo dos mortos. Ligéia retorna, apodera-se do corpo de Lady
Rowena e o leitor, por sua vez, hesita e indaga seria um delírio do protagonista ou a
heroína retornara do mundo dos mortos.
Se em “Os crimes da Rua Morgue” o fantástico, em sentido restrito, vem à tona
por meio da irrupção do sobrenatural no crime cometido pela fera humanizada, em
“Ligéia” o mundo alheado irrompe no habitual através do desejo de vida eterna, que
transformou a protagonista em vampiro de almas. Em ambos os contos, o fantástico
advém do horror proveniente da alma tal como apregoou Poe no Prefácio aos Contos do
Grotesco e do Arabesco: “Eu mantenho que o terror não é da Alemanha, mas da alma”.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
62
A irrupção do sobrenatural motivada pelos terrores internos é fundamental para a
compreensão das inovações efetuadas por Poe reali, porque a irrupção do inexplicável
não provém do exterior, mas de acontecimentos de ordem interior capazes de
desencadear a irrupção de estados mentais que colocam o real e o inexplicável em
confronto. Embora os contos apreciados pertençam a categorias distintas, Poe com sua
maestria mostrou que na narrativa fantástica “o monstro e a vítima encarnam (...) os
nossos desejos inconfessáveis e o horror que eles nos inspiram” (VAX, 1974,p. 15).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORDINI, Maria da Glória. “O temor do além e a subversão do real”. In: Os
Preferidos do público. Org. ZILBERMAN, Regina.Petrópolis: Vozes, 1987, p.11-22.
CORTÁZAR, Julio. Poe: o Poeta, o Narrador e o Crítico. In: Valise de Cronópio. São
Paulo: Perspectiva, 1974, p 103-135.
POE, Edgar Allan. Ficção Completa, Poesias & Ensaios. Trad. de Oscar Mendes e
Milton Amado. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.
_____________. “Preface”. In: Tales of The Grotesque and Arabesque. Disponível
em: <http://wikisource.org/wiki/Tales_of_the_Grotesque_and_Arabesque>. Acesso:
agosto de 2005.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva,
1992.
VAX, Louis. L’art et la Littérature Fantastiques. Paris: PRESSES
UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 1974.
_________.Motivos, temas e esquemas. Trad. Pierini, F. L. Revisão: Camarani, A.L.S.
In: La seduction de l’éstrange. Paris: PUF, 1965, cap. 3, p. 53-88.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
63
NARRATIVA DA AUSÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES EM “O
APOCALIPSE PRIVADO DO TIO GEGUÊ”
André Luis Rosa e Silva** & Carlos Vinícius Teixeira Palhares**
RESUMO
No presente trabalho, partimos da hipótese de que a dimensão do conto “O apocalipse privado do tio Geguê”, do livro de contos Cada homem é uma raça, do escritor Mia Couto, incluída no conceito de realismo maravilhoso, ao usar a referência do dia-a-dia do indivíduo moçambicano, traz ao leitor todo o conflitante entrecruzamento de realidades sociais e culturais, fruto do mosaico étnico de Moçambique. A angústia de um novo tempo na sociedade moçambicana está presente na narrativa, como um momento em que nacionalismo, hibridismo, mestiçagem e transculturação, elementos presentes no espaço narrativo-simbólico das sociedades moçambicanas, ainda estão por ser definidos. A atuação de personagens em uma realidade complexa inclui a busca pela identidade dos personagens e de Moçambique como nação. A todos os personagens demanda pertencimento ao espaço moçambicano, através dos eventos históricos que tomam parte no conto. Na presente análise, observamos a narrativa das obras de Couto constituída pelo contato entre elementos insólitos, oníricos, míticos com outros realistas, históricos, racionais. Concluímos que a presença de elementos insólitos, híbridos, dramáticos e trágicos no conto fundem-se em uma perspectiva de uma nação fragmentada, que ainda está em busca de uma identidade própria. A ausência desta identidade faz-se presente na pertinência dessa procura, quase tão obsessiva quanto à procura do personagem-narrador de “O apocalipse privado do tio Geguê” pela figura feminina maternal.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Moçambique; Narrativa; Realismo-maravilhoso.
No presente trabalho, partimos da hipótese de que a dimensão do conto “O
apocalipse privado do tio Geguê”, do livro de contos Cada homem é uma raça, do
escritor Mia Couto, incluída no conceito de realismo maravilhoso, ao usar a
referência do dia-a-dia do indivíduo moçambicano, traz ao leitor todo o conflitante
** Mestre em Educação, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Professor Colaborador do CEFET-MG, Campus 1, na área de Língua Portuguesa e Literatura.
** Mestrando em Literatura de Língua Portuguesa-Literatura Africana, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Professor Colaborador do CEFET-MG, Campus 1, na área de Língua Inglesa e Literatura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
64
entrecruzamento de realidades sociais e culturais, fruto do mosaico étnico de
Moçambique. A angústia de um novo tempo na sociedade moçambicana está
presente na narrativa, como um momento em que nacionalismo, hibridismo,
mestiçagem e transculturação, elementos presentes no espaço narrativo-simbólico
das sociedades moçambicanas, ainda estão por ser definidos. Hibridismo definido
por Bhabha (1998) como algo transgressivo, uma força criativa de abalar as
formações culturais hegemônicas, mestiçagem por personificar o cruzamento de
diversos tipos étnicos que passa a ser entendido como obstáculo para que
Moçambique atingisse a formação de uma verdadeira identidade nacional,
transculturação, que é o processo que ocorre quando um indivíduo adota uma cultura
diferente da sua, e por fim nacionalismo entendido como um movimento político
que visa uma organização nacional que se fundamenta na coesão social, a identidade
coletiva e a cultura das nações. (Encina, 2004)
Os personagens deste conto atuam em uma realidade complexa, em que se
mesclam a vida privada de um jovem e seu tio, que o adotou após a morte dos pais, a
vida em uma comunidade moçambicana no pós-independência, a atuação das milícias
revolucionárias que tomam o poder e impõem um regime de terror, ao invés da
liberdade prometida, e também a busca pela identidade de cada um dos personagens
individualmente e de Moçambique como nação. Tal realidade lhes oferece diferentes e
conflitantes alternativas de construção da identidade. Para o personagem narrador, a
ausência do leito materno/paterno, faz com que ele parta em uma busca angustiada de
definição de suas raízes, ao mesmo tempo em que se aproxima de uma relação paternal
com seu tio Geguê. O tio, por sua vez, é descrito no conto como um homem solitário,
sem ocupação fixa, que acaba alistando-se a um grupo de vigilantes ligado às milícias
revolucionárias e se transforma, com o poder das armas, em um opressor. A terceira
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
65
personagem é Zabelani, também sobrinha de Geguê, surge como alguém em fuga, que
busca refúgio na casa do tio. Para o personagem-narrador, o encontro com Zabelani,
acaba por projetar na figura feminina, além do desejo carnal, também o ideal materno,
sua obsessão. Entendemos tal obsessão do personagem-narrador pelo feminino,
representado ora pela mãe ausente e ora pelo amor inconcluso de Zabelani, como a
busca de afirmação da sua própria identidade. De acordo com Hall (2000), as
identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir e que são construídas
dentro e não fora do discurso, ou seja, em locais históricos e institucionais específicos,
no interior de práticas discursivas específicas, através de estratégias e iniciativas
específicas. E no conto, a identidade é vista como uma construção, um processo nunca
completado, e que é sempre buscada pelo personagem narrador.
A todos os personagens demanda pertencimento ao espaço moçambicano,
através dos eventos históricos que tomam parte no conto – especialmente, a luta pela
descolonização e a guerra civil no período pós-colonial. Em outras palavras, a realidade
moçambicana se estabelece sem ignorar eventos que, sob a luz do racionalismo
científico, poderiam ser considerados “absurdos”, ou no mínimo, inverossímeis. Pelo
contrário, faz uso do “maravilhoso”, ou do universo mítico para se estabelecer como
realidade.
Em determinado momento, o tio leva à presença do sobrinho uma bota militar,
que remete imediatamente, ao passado da luta anti-colonial. A narrativa faz uso do
artifício do realismo maravilhoso, entendido por Chiampi(1980) como a situação em
que o narrador assume através de uma malha discursiva, aspectos do incógnito,
desconhecido, misterioso relacionados com aspectos da realidade. E isso se contrapõe à
idéia de verossímil, mas faz sentido na constituição da realidade, como podemos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
66
confirmar no trecho a seguir: “A botifarra estava garantida pela história: tinha
percorrido os gloriosos tempos da luta pela independência.” (pag. 30).
Nesse momento, há uma evidente referência ao fato histórico, “realista”. Porém,
ao prosseguir a narrativa, vemos que o “realismo” funde-se com um acontecimento
insólito, aparentemente sem explicação: “O estranho então sucedeu: lançada no ar, a
bota ganhou competência volátil. A coisa voejava em velozes rodopios. O tio Geguê
desafiara os espíritos da guerra?” (p. 31).
Esse fato insólito, estranho, que não se pode explicar pelo racionalismo
científico, ajuda a compor a noção de “realidade” expressa na narrativa. A realidade do
conto se apresenta através de elementos “sobrenaturais”. Outros acontecimentos não
menos insólitos que se sucedem (a aparição do fantasma da mãe, a filiação de Geguê,
notório homem sem ocupação, ao Grupo de Vigilantes, a adesão do personagem-
narrador aos desmandos do tio, a própria morte de Geguê, assassinado pelo sobrinho)
confirmam isso.
Vários autores apontam a obra de Mia Couto constituída através da
representação de elementos realistas e históricos, imbricados a outros elementos
insólitos, maravilhosos e míticos. Em nossa análise, independente do conceito, que para
alguns pode ser “realista-maravilhoso”, para outros, simplesmente “mítico”, é fato que a
narrativa das obras de Couto se constitui exatamente por esse contato entre elementos
insólitos, oníricos, míticos com outros realistas, históricos, racionais.
Um artefato que remete imediatamente a um acontecimento histórico – no caso,
a bota, que pode ser identificada com os movimentos revolucionários anti-coloniais –
desencadeia um acontecimento inexplicável pela lógica realista – o momento em que a
bota gira no ar, e depois, o “funeral” que o personagem-narrador dá à bota.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
67
Isso vai ao encontro da afirmação de Miranda (2008):
“A bota nesta narrativa é também um elemento que liga momentos distintos: passado e presente, história e mito. Tem importância histórica, pois certamente pertenceu a um guerrilheiro da FRELIMO que lutou bravamente para libertar o país do jugo colonial. A bota é então constituída de uma espécie de “aura” mística, possui uma importância simbólica. É como se ela adquirisse o valor daquele que a usou.”
A linguagem híbrida se funde em uma lógica causal pelo relacionamento do
sobrinho com o tio Geguê, a partir do momento que este lhe apresenta a bota, que será o
símbolo de um acontecimento insólito. A bota surge como um fio condutor da narrativa,
simbolizado por um objeto cuja função identifica o sobrenatural. A sugestão da
dualidade existente no conto, entre o “realista” e o “sobrenatural”, funciona como
elemento de identificação de fatos históricos e reais com fatos insólitos e míticos. Desta
forma, identificamos o hibridismo entre os acontecimentos naturais ou históricos (por
exemplo, a orfandade do narrador, a guerra, a bota como um despojo de guerra, o
alistamento de Geguê, as milícias, a relação carnal entre o narrador e Zabelani) e
sobrenaturais (por exemplo, a bota girando no ar, o “funeral”, a aparição da mãe) como
fundamentais para o desencadeamento das ações dos personagens.
A bota pode ser observada como uma referência simbólica a duas realidades,
ambas compostas por elementos de opressão: o passado colonialista, que era combatido
pelos milicianos, em que a sociedade moçambicana se constituía através da relação com
o colonizador português, e o presente pós-revolucionário, que em princípio trouxe alívio
pelo fim do ciclo colonial e pela esperança de liberdade, mas que na prática acabou se
revelando apenas mais uma forma de opressão, desta vez, protagonizada por outro poder
constituído, o dos ex-revolucionários que se tornam opressores.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
68
Neste conto em análise, a epígrafe aponta para o medo††. Podemos observar no
comportamento dos personagens que o medo é o elemento que permeia a narrativa de
maneira implícita. Por exemplo, o medo da perda de Zabelani, que seria, em uma
interpretação, a perda da mãe pela segunda vez, leva o personagem-narrador a
submeter-se a tio Geguê, tornando-se agente de seus desmandos. O medo do poder das
milícias está presente através especialmente do terror gerado pela guerra, que culmina
na opressão imposta pela milícia, no contexto do pós-independência. O medo de
Zabelani dos terrores da guerra civil também se soma a essa interpretação, fazendo com
que se desloque em busca de proteção junto à casa do tio.
As distintas estratégias adotadas pelo personagem-narrador apontam para as
nuances na construção do sentido da narrativa. As referências ao período de conflito
advém dessa busca em que diferentes culturas, variadas demandas, empreenderam, ao
longo do período histórico da guerra de independência contra o colonialismo português
e o pós-independência, período de guerra civil que buscou estabelecer no país uma
ordem, marcada pela disputa ideológica entre grupos marxistas e seus opositores, para
encontrar uma definição de si mesmos e também do que é Moçambique.
Segundo BAHBA (1998, p. 201)
“Se estamos (...) conscientes da metaforicidade dos povos de comunidades imaginadas (...), então veremos que o espaço do povo-nação moderno nunca é simplesmente horizontal. Seu movimento metafórico requer um tipo de “duplicidade” de escrita, uma temporalidade de representação que se move entre formações culturais e processos sociais sem uma lógica causal centrada. (...) Precisamos de um outro tempo de escrita que seja capaz de inscrever as interseções ambivalentes e quiasmáticas
†† - Pai, ensina me a existência. - Não posso. Eu só conheço um conselho. - E é qual? - É o medo,meu filho. ( COUTO Mia,1990, p. 27)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
69
de tempo e lugar que constituem a problemática experiência “moderna” da nação ocidental.” (grifos do autor)
Tais nuances aparecem na representação híbrida da realidade moçambicana pós-
colonial, constituída pelos personagens e pelas situações narradas. Os personagens são
estruturados de maneira a retratar este momento de transição do período colonial ao
pós-independência.
Mia Couto, autor perspicaz e de grande acolhida crítica, demonstra através de
seu fazer literário, pela urdidura da língua portuguesa, que a realidade histórica e
cultural é o material de onde se resgatam os escombros de uma nação fragmentada, em
busca de uma identidade que reflita as contradições impostas pelo choque entre a
herança colonialista, os costumes locais tradicionais e as outras culturas neste processo
de reconstrução do país pós-independente. Sua narrativa se funda, desse modo, em um
movimento de recomeço constante, na qual esse pedaço de África assume uma
dimensão quase mítica.
O autor do conto, muitas vezes não se desvencilha do teor político e denunciador
da literatura, mas nem por isso deixa-se influenciar pura e simplesmente pelos fatores
sociais e históricos. Mia Couto abarca a causa política, mas não abre mão dos recursos
literários, nem permite que sua escrita se infle com puro teor panfletário. Aceitando,
então, tal possibilidade de hibridismo da literatura – uma vez mais, as relações entre o
histórico-real e o literário-maravilhoso – acreditamos que se pode, sim, pensar sobre a
violência colonialista e do pós-independência, na medida em que a evidenciamos como
resultado de uma ordem social em fragmentos, cujos cidadãos são alijados dos atributos
próprios da cultura africana. A afirmação de uma identidade moçambicana, com seu alto
grau de simbolização e suas tradições, é, por sua vez, a forma de resistência mais
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
70
adequada a esse contexto. Neste sentido, a construção da narrativa pelo viés do
realismo-maravilhoso, se justifica e se impõe como uma forma de abordagem crítica da
realidade a que o autor se refere.
Maria Geralda Miranda aponta para essa possibilidade, ao afirmar que
“Não há dúvidas de que as histórias de Mia Couto mostram que além dos poderes há uma vasta rede de capilaridades que confirmam as experiências de contra-poder e revolta, contra os poderes opressores. O discurso realista-maravilhoso constrói um novo referente, para que se possa reconstruir a história deixada de lado ou encoberta e que também permite recuperar marcas perdidas ou esquecidas.” (MIRANDA, 2008,p.3)
A partir desta afirmação, podemos refletir sobre o papel do discurso que oscila
entre a realidade e os aspectos do realismo-maravilhoso, presentes na narrativa. É
possível compreender que tal discurso, composto por camadas referenciais, que ora
põem na berlinda a realidade estável e explicável dos acontecimentos, ora as justifica
através de elementos e acontecimentos “sobrenaturais”, é fundamental para a
compreensão do fio narrativo em sua constituição básica, de um discurso contra a
opressão e em busca de definição das características formadoras do povo moçambicano.
O momento em que o tio Geguê atira a bota para longe, é descrito pelo
personagem-narrador como “estranho”, o que remete ao insólito, ao mesmo tempo que
faz referência ao real: “A coisa voejava em velozes rodopios. O tio Geguê desafiara os
espíritos da guerra?” ( p.30)
Por outro lado, o aparecimento do fantasma da mãe do personagem-narrador, no
instante seguinte ao insólito rodopiar da bota, pode ser compreendido como um
momento de catarse, em que a condição de orfandade e melancolia constituintes do
caráter do personagem-narrador, são, por um momento, suspensos, dando início a uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
71
sensação de liberdade, advinda de um delírio, que remete a sua obsessão pela figura
materna/ feminina.
A orfandade do personagem-narrador poderia ser compreendida como metáfora
da orfandade da própria nação por sua identidade, assim como a dificuldade em
consumar o amor por Zabelani poderia ser entendida como a incerteza quanto aos ideais
de libertação e da constituição de fato desta identidade moçambicana no período pós-
colonial. A ausência da mãe é algo que permeia a narrativa, e a busca por um
reencontro, ainda delirante e catártica, por uma mãe desconhecida, pode ser
compreendida também como uma metáfora da necessidade da afirmação de uma
identidade perdida ou nunca definida, no período colonial.
A não-consumação do amor de Zabelani, fruto da opressão do tio Geguê, ora
transformado em soldado do poder miliciano, poderia ser interpretada como a frustração
do projeto de constituição da identidade moçambicana pós-colonial, fruto da traição dos
ideais de liberdade efetuada pelo novo governo revolucionário.
A perda de Zabelani é a perda de qualquer esperança por parte do narrador-
personagem. Ao associar esta perda ao poder opressor de tio Geguê, que representa
tanto a proteção quanto o perigo, o narrador-personagem despe-se de qualquer
esperança quanto à sua própria identificação com o projeto revolucionário assumido
pelo tio, assim como deixa de ter esperança na identificação de um amor filial/paternal
com Geguê.
O conto expõe uma narrativa da ausência como constituinte do sentido: a
ausência da figura feminina, em sua representação simbólica ligada tanto ao maternal
quanto ao amoroso, explica-se como a ausência da identidade, ou talvez, como a
constituição de uma identidade difusa, quebrada, que se faz pela opressão do povo por
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
72
poderes exteriores (o colonialismo) ou de seu próprio meio (a opressão pós-
revolucionária).
O desfecho do conto dá-se pela dramaticidade, constituída pela morte de Geguê,
assassinado pelo sobrinho, que ao não aceitar a atitude do tio em entregar Zabelani à
própria sorte, ato que culmina com o seu desaparecimento, provavelmente seqüestrada
pelas milícias, inverte a posição que tinha desde o início do conto: de garoto órfão,
submisso, cuja obsessão pela figura materna se dá pela passividade e pelo delírio, torna-
se agente da opressão e dos desmandos, e por fim, atira no próprio tio, que é, afinal,
quem desencadeia essa reação do personagem-narrador.
Vale destacar a presença do trágico como a transformação do narrador-
personagem de homem oprimido, submisso, ingênuo para opressor, violento e
assassino. O trágico decorre do sentido da inversão dessa ordem natural do personagem-
narrador. Segundo Mafra (2010, p.73) “o trágico é constituído de elementos que
participam das ações humanas ou que entram na tessitura dos acontecimentos”.
Concluímos que a presença de elementos insólitos, híbridos, dramáticos e
trágicos no conto fundem-se em uma perspectiva de uma nação fragmentada, que ainda
está em busca de uma identidade própria. A ausência desta identidade, faz-se presente
na pertinência dessa procura, quase tão obsessiva quanto a procura do personagem-
narrador de “O apocalipse privado do tio Geguê” pelo carinho maternal e pelo proteção
feminina.
Por fim, citamos as palavras de Mia Couto, proferidas durante a entrega de um
prêmio literário, em 2001, e publicadas no apêndice de seu romance O último vôo do
flamingo:
“O último vôo do flamingo fala de uma perversa fabricação da ausência – a falta de uma terra toda inteira, um imenso rapto de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
73
esperança praticado pela ganância dos poderosos. O avanço desses comedores de nações obriga-nos a nós, escritores, a um crescente empenho moral. Contra a indecência dos que enriquecem à custa de tudo e de todos, contra os que tem as mãos manchadas de sangue, contra a mentira, o crime e o medo, contra tudo isso se deve erguer a palavra dos escritores.” (2005, p. 224)
Talvez a ausência seja preenchida por essa busca de definições, que ocorre
justamente no contato difícil de definir entre o “real” e o “maravilhoso”, e que tão bem
define a narrativa insólita do conto em análise.
REFERÊNCIAS BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et.al. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.
CHIAMPI, I. O Realismo Maravilhoso. Série Debates. São Paulo: Perspectiva, 1980. COUTO, Mia. Cada homem é uma raça. Lisboa: Caminho, 1990.
____________ O último vôo do flamingo. Ed. Companhia das Letras. São Paulo, 2001 ENCINA y Pérez de Onraita, Ricardo de la;. Poder y Comunidad. Una sociología del nacionalismo. Pamplona:Pamiela, 2004. HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In.: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais . Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. MAFRA, Johnny José. Cultura clássica grega e latina:fundadores da literatura ocidental. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2010. MIRANDA, Maria Geralda de. Representações da cultura Moçambicana: uma leitura de Cada homem é uma raça, de Mia Couto. São Paulo, XI Congresso Internacional da ABRALIC, 2008.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
74
FANTÁSTICO E AUTOBIOGRAFIA: O ESTRANHO
CASO DE SAVINIO E MORSELLI
Andrea Santurbano*
RESUMO
O fantástico no panorama da literatura italiana do sec. XX, embora muitas vezes marginalizado, apresenta diversas vertentes, variamente definidas e definíveis, de “realismo mágico” a “metafísico”, a “surreal”. Italo Calvino, por exemplo, em Seis propostas para o próximo milênio, resume as primeiras décadas de 1900 falando da “revalorização dos processos lógico-geométricos-metafísicos que se impôs nas artes figurativas dos primeiros decênios do século, antes de atingir a literatura”. Tendo em vista o contexto literário e artístico, também mundial, de referência e as tentativas de sistematização teórica que vão de Todorov a Ceserani, este trabalho propõe a análise das narrativas de Alberto Savinio (1891-1952) e Guido Morselli (1912-1973), a relação temática e semântica entre duas modalidades supostamente em antítese: o fantástico e a autobiografia. Em particular, no caso de Savinio – que, vale lembrar, foi artista polígrafo, inclusive pintor figurativo, porém numa acepção bem longe do naturalismo – é a formação grega, com sua vasta bagagem mitográfica, mas não só, a plasmar uma peculiar forma artística em que uma livre associação “maravilhosa” de recordações re-cria o mundo pessoal do escritor. Já no caso de Morselli, levando em consideração que comumente pode ser atribuído o prefixo fanta- a seus romances (fanta-história, fanta-política, fanta-religião etc.), cabe refletir sobre como os muitos indícios autobiográficos e a antecipação do próprio suicídio têm lugar na sua última obra, Dissipatio H.G. PALAVRAS-CHAVE: Savinio; Morselli; literatura italiana; fantástico; autobiografismo.
Luis Buñuel, o famoso cineasta espanhol que sempre foi um adepto do
surrealismo, interrogado uma vez a respeito do neorrealismo italiano, respondeu assim:
“Ciò che vi è di più meraviglioso nel fantastico – ha detto André Breton – è che il fantastico non esiste, tutto è reale”. In una conversazione con Zavattini esprimevo il mio disaccordo con il
* Doutor em Estudos Comparados, na Universidade “G. d’Annunzio”, de Chieti-Pescara (Itália). Professor
Adjunto na UFSC, campus de Florianópolis, na área de Língua e Literatura Italiana.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
75
neorealismo. Mentre mangiavo con lui, il primo esempio che mi si offerse fu quello del bicchiere di vino. Per un neorealista, gli dicevo, un bicchiere è un bicchiere e niente altro; lo si vedrà tirato fuori dalla credenza, riempito di qualche bevanda, portato in cucina dove la cameriera lo laverà o potrà romperlo, il che comporterà il suo licenziamento oppure no, ecc. Ma questo stesso bicchiere, contemplato da persone differenti, può essere mille cose diverse, perché ciascuno mette una dose di affettività su ciò che osserva, perché nessuno vede le cose come sono, ma come i suoi desideri e il suo stato d’animo glielo fanno vedere. (In: CATTINI, 1995, p. 3-4)
Mas as coisas não aparentam ser tão simples, pois o problema é a partir da
colocação de Buñuel quando afirma que “nessuno vede le cose come sono” (grifo
nosso). E como são as coisas, cabe perguntar; em outros termos, o que é realidade?
Escreve, por exemplo, Júlio Cortázar: “A nossa realidade esconde uma segunda
realidade (uma realidade maravilhosa), que não é nem misteriosa nem teológica, mas,
ao contrário, profundamente humana” (Apud: CESERANI, 2006, p. 123).
Alberto Savinio, alargando ainda mais o discurso a um âmbito filosófico, em
Dico a te, Clio (1939), um diário, embora muito anômalo, de viagem, conta:
Un tale, al quale facevamo vedere uma nostra natura morta di pere dipinta in monocromia turchina, gridò «Non esistono pere turchine!» e stava per piangere di rabbia. Secondo lui, quelle pere turchine erano un’offesa alla realtà. Volevamo porgli il famoso quesito: «Se la natura è reale?», ma ci ricordammo in tempo che colui è molto irritabile. Volgiamo la domanda ai nostri lettori, che speriamo meno atrabiliari, e li preghiamo di saperci dire dove comincia la realtà e dove essa finisce. (SAVINIO, 2005, p. 134)
Trabalhar com o conceito de fantástico no século XX, em suma, apresenta não poucas
dificuldades teóricas. Poderíamos nos perguntar, é tudo ou é nada? Isto é, a hibridização
dos gêneros na(s) literatura(s) produzida(s) das vanguardas e dos modernismos em
diante tem transformado de várias formas os paradigmas do real e conseqüentemente os
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
76
parâmetros de referencialidade passíveis de serem identificados na literatura realista-
burguês do século anterior. Lembrando, contudo, que mesmo a literatura supostamente
mais mimética nunca é “realidade”, não podendo ser asseverada uma coincidência, uma
identidade total entre a experiência vivencial e a representação artística. Bakhtin,
estrênuo defensor deste postulado, escrevia a respeito:
[...] entre o mundo real e o mundo representado na obra, passa uma fronteira rigorosa e intransponível. Isto nunca se pode esquecer; não se pode confundir [...] o mundo representado com o mundo representante (realismo ingênuo), o autor-criador da obra com o autor-indivíduo (biografismo ingênuo) [...]. Confusões deste gênero são totalmente inadmissíveis do ponto de vista metodológico. (BAKHTIN, 2002, p. 358)
Sobretudo a segunda parte da proposição será útil mais adiante nos questionamentos
deste texto. Ora, recuperando a interrogação inicial, toda a literatura moderna e pós-
moderna, desvencilhada ainda mais de categorias fechadas de gênero, percorre
constantemente territórios indistintos na relação entre o eu e o mundo. E quando se fala
de fantástico, o problema é ainda maior. De acordo com Ferdinando Amigoni (2004, p.
25),
Come molti scrittori e critici hanno precisato, la narrazione fantastica è una vertiginosa, rischiosissima scommessa: trattandosi di un genere capace meno di altri di resistere all’usura del tempo, l’osservazione è tanto più vera per quanto riguarda il Novecento inoltrato o addirittura declinante (per non parlare poi del neonato XXI secolo).
Mas nem por isso, segundo o crítico italiano, chega-se à equiparação entre “real” e
“imaginário” no século XX. Contudo, é sem dúvida mais problemático redefinir as
fronteiras do fantástico. Um indício importante é, por exemplo, o desaparecimento do
“objeto mediador”, isto é, daquele sinal que testemunha da efetiva incursão do
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
77
sobrenatural na esfera tida como real pelo protagonista e, consequentemente, pelo leitor.
Baste pensar na chave do túmulo do “Ignorado amor”, de Gautier, ou nas garrafas de
água e leite esvaziadas em “Le Horla” de Maupassant. Já nas narrativas do século XX, o
“objeto mediador” praticamente não aparece mais, sendo que a contraposição entre uma
realidade certa, “primeira”, concreta, em contraposição a “outra”, além do real, passa
por algumas transformações, artísticas e filosóficas, que resultam de diferentes
abordagens epistemológicas. Em suma, a partir das vanguardas artísticas, da psicanálise,
do surrealismo, a partida se joga num plano diferente daquilo que podia ser definido
como uma inserção de germes de irracionalidade no mundo da lógica positivista
burguesa. Pensemos na tão criticada hesitação todoroviana – fruto de uma proposta em
si louvável pela busca de sistematicidade, embora possa ser efetivamente, como coloca
Ceserani, demasiado hegeliana na sua estrutura triádica fechada –, que, se tomada ao pé
da letra, restringiria o fantástico puro a pouquíssimas obras. Obras dos séculos XVIII e
XIX, porque, a hesitação está longe de funcionar para ler o fantástico novecentista. De
fato, Todorov elimina de forma simplista o problema ao afirmar que “a psicanálise
substituiu (e ao mesmo tempo tornou inútil) a literatura fantástica”, na medida em que
“não temos hoje necessidade de recorrer ao diabo para falar de um desejo sexual
excessivo, nem aos vampiros para designar a atracção exercidas pelos cadáveres”, pois
“os temas da literatura fantástica tornaram-se literalmente os mesmos das investigações
psicológicas dos últimos cinqüenta anos”. (TODOROV, 1977, p. 144).
É difícil acreditar que hoje, ainda que com todas as ressalvas do caso, possamos
simplesmente decretar o fim do fantástico, só porque o leitor moderno, num conto,
suponhamos, de Borges, Buzzati, Quiroga ou Cortázar, não é mais chamado a decidir
entre o maravilhoso e o estranho, mas sim a desafiar intelectualmente a ontologia do
real, por labirintos absurdos, paradoxais, alegóricos e até existenciais. Vale então voltar
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
78
à citação de Cortázar proposta no início, que possivelmente dialoga com o ainda pouco
considerado, numa perspectiva comparada, “realismo mágico” teorizado pelo italiano
Massimo Bontempelli na década de 30. De qualquer forma, de acordo com Ceserani, o
fantástico não é um gênero, mas é um “modo” que se estende a
todo um setor da produção literária, no qual se encontra confusamente uma quantidade de outros modos, formas e gêneros, do romanesco ao fabuloso, da fantasy à ficção científica, do romance utópico àquele de terror, do gótico ao oculto, do apocalíptico ao meta-romance contemporâneo. (CESERANI, 2006, p. 8-9).
Dessa forma, cai a rígida distinção, evocada na provocatória pergunta inicial, que
subentendia o fantástico como um gênero narrativo imediatamente reconhecível e
situável historicamente. Dentro dessas coordenadas, Alberto Savinio (1891-1952) e
Guido Morselli (1912-1973) ocupam um lugar privilegiado na vertente fantástica do
século passado. Ocupam um lugar privilegiado o animismo, as metamorfoses ou os
passeios no tempo do primeiro, e as contra-histórias ou a desaparição do gênero humano
do segundo.
É preciso agora dar mais um passo atrás e considerar como a partir do século XIX
moldes narrativos biográficos, ou melhor, autobiográficos começam a se cruzar com o
fantástico, lembrando que essas duas, por assim dizer, modalidades se difundem quando
o domínio de recursos narrativos e a reflexão meta-narrativa chega a um pleno
amadurecimento. Não por acaso, um autor extremamente hábil e consciente como
Charles Nodier, de reconhecida importância no âmbito da literatura romântica e
fantástica, em Moi-Même e Le Dernier chapitre de mon roman (textos escritos e
publicados entre 1799 e 1803) desconstrói com um humorístico e satírico jogo meta-
narrativo a tradição ainda jovem do romance autobiográfico. Aliás, a inserção de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
79
elementos históricos na sua ficção narrativa e, vice-versa, de elementos ficcionais na sua
história pessoal, que não negam a existência de dados históricos, mas afirmam a
supremacia da vida interior e imaginativa (cf. NODIER, 1993, p. 13), é um princípio
que encontraremos também em Savinio e, numa acepção um pouco diferente, em
Morselli. Com efeito, outro eixo norteador deste trabalho é justamente a relação do
fantástico com o “eu”, com um “eu” supostamente autobiográfico, que, porém, não
representa mais a clássica estratégia narrativa para conferir um semblante de
veridicidade e mergulhar o leitor na estória: inversamente, nas obras fantásticas dos dois
escritores italianos, a escrita do “eu” é uma ferramenta epistemológica, até uma
estratégia discursiva para expressar o seu embate com uma visão fenomênica da
realidade, além de, psicanaliticamente, trazer a tona “casos” pessoais significativos.
A discussão gira em torno também do peso da presença do fantástico na literatura
italiana: Calvino, por exemplo, na famosa antologia Contos fantásticos do século XIX,
observa que “deixei de fora os autores italianos porque não me agradava a idéia de
incluí-los só por obrigação de presença: o fantástico na literatura italiana do século XIX
é decididamente um campo «menor»” (CALVINO, 2004, p. 17-18). Já em Seis
propostas para o próximo milênio, ele fala de “revalorização dos processos lógico-
geométricos-metafísicos que se impôs nas artes figurativas dos primeiros decênios do
século, antes de atingir a literatura” (CALVINO, 2001, p. 84), citando como exemplo
Massimo Bontempelli ao lado de Jorge Luis Borges na Argentina, Ramon Gómez de la
Serna na Espanha e Fernando Pessoa em Portugal. Guido Davico Bonino, crítico e
historiador da literatura italiana, numa recente antologia dedicada a contos fantásticos
que tratam do tema do duplo, ao citar Tarchetti, Zena, Pirandello, Bontempelli, Papini e
Savinio, comenta que “uma vocação «mágica» ou «fantástica» das letras pátrias já há
muito tempo tem sido sublinhada, entre outros, por Gianfranco Contini” (DAVICO
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
80
BONINO, 2004, p. XIII). Giulio Ferroni (2005), enfim, até ao contextualizar a gênese
de um romance pedra de toque da literatura “realista-psicológica” italiana, Gli
indifferenti (1925) de Moravia, fala do aprendizado do jovem escritor no grupo 900 de
Bontempelli; por conseguinte, de sugestões tiradas da pintura metafísica de Giorgio de
Chirico e do próprio “realismo mágico”. Contudo, cabe acrescentar que é presente em
Moravia apenas um reflexo, uma espera já consumida, priva de expectativas, daquele
sentido de comunhão mágica, “epifânica”, sugerida pela metafísica dechirichiana e
modulada pelo realismo mágico de Bontempelli.
Metafísico e mágico são, então, dois adjetivos que definem as vertentes do fantástico
italiano, que, sobretudo no século XX, apresenta êxitos interessantes nas obras de
autores como Papini, Bontempelli, Buzzati, Landolfi, o próprio Calvino, Tabucchi, além
daqueles aqui em discussão. Dentre os críticos italianos mais atentos a essas questões,
Vincenzo De Caprio e Stefano Giovanardi (1994) falam de uma linha fantástica na Itália
no período entre as duas guerras, que pode ser orientada em duas direções: a primeira,
que engloba uma dimensão individual, mais diretamente relacionável ao surrealismo, na
qual jogam um papel importante os fantasmas do inconsciente; a segunda, de caráter
supra-individual, que apresenta situações abnormais, contrárias ao senso comum,
oriundas de um universo sobrenatural: se estaria aqui falando mais propriamente de
“realismo mágico”. O interessante, porém, é pensar na quebra do paradigma da fronteira
real-irreal, e ver como situações abnormais possam suscitar uma angústia, uma
percepção bem “concreta” de desassossego, de desconforto, de paradoxo existencial,
segundo quanto indicado antes por Kafka e depois por Borges. É nessa linha que se
inserem, de forma bem peculiar, Alberto Savinio e Guido Morselli, tomando como
chave de leitura a não casual inseminação entre traços fantásticos e auobiográficos.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
81
De Savinio e Morselli se esboçarão aqui apenas alguns motivos paradigmáticos, dentre
os quais a arte como lugar privilegiado de busca gnosiológica e existencial. Savinio,
artista polígrafo nascido e criado na Grécia, sempre recusou formas mimético-
naturalistas, inclusive na pintura: como lembrado anteriormente, chega a pedir aos
leitores de informá-lo sobre qual seriam os limites da realidade, escrevendo em outro
passo: “A minha obra é em parte uma precisa e extensa autobiografia” (Apud:
AMIGONI, 2004, p. 48). Declaração que, aliás, abre um dilema crítico e filosófico do
qual nem o próprio Philippe Lejeune conseguiu sair quando escolheu o compromisso do
“pacto” autobiográfico (cf. Leonor Arfuch, 2010, p. 53). Em La casa ispirata (veja-se
AMIGONI, 2004), segunda obra do autor, publicada em volume, em 1925, e única
traduzida no Brasil com o título de A casa assombrada, ocorre uma primeira incursão
de elementos fantásticos, ainda mais eficazes porque inseridos numa pseudo-
autobiografia (a dos anos, entre 1910 e 1914, da freqüentação parisiense dos círculos
vanguardistas), que vincula a narração a um registro mimético. Dentre esses elementos,
uma última surpresa: o narrador está morto.
A casa assombrada velava toda ela no êxtase expectral de um descanso sem manhã, em uma paz nua, em um sono sem aurora. Pelo pudor que senti em mim, pela sagrada vergonha que me atingiu, por encontrar-me eu mesmo nu, entendi que, morto também como cada outra criatura ou coisa, eu despertara no gelo do meu próprio cadáver. (SAVINIO, 1988, p. 140)
Na complexa narrativa saviniana (não pelo enredo que é sempre muito tênue), o
humorismo se mistura com traços autobiográficos muitas vezes maravilhosos, nos quais
nunca se podem tomar ao pé da letra as referências onomásticas. A infância, assim
como as revisitações re-criativas de episódios de sua vida, são constantemente deplacé
num plano fabuloso, como a viagem no fundo do mar em Tragédia da Infância, que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
82
dialoga constantemente com sua cultura clássica em função do nascimento em Atenas.
Ou, ainda, cabe lembrar a grande metáfora existencial contida no conto Il signor
Munster, um homem que convive com a morte e vai se desfazendo, literalmente, aos
poucos.
Falando da morte, não se pode não perpassar, ainda que rapidamente, por Guido
Morselli, morto suicida em 1973, e pelo seu último romance, Dissipatio H.G. Morselli,
depois de praticar modos narrativos realistas e psicológicos, dá um outro rumo à sua
produção literária, para o lado fantástico. É importante lembrar que a sua produção é
póstuma, visto que as obras narrativas só foram publicadas depois da morte.
No seu caso, em particular, o fantástico é modulado a partir da matéria histórica (fanta-
história), isto é, re-escritura ucrônica de acontecimentos do passado, ou a partir de
matéria religiosa (fanta-teologia ou fanta-religião), ao imaginar um voluntário exílio
papal de Roma. Mas é Dissipatio H.G., paradoxal alegoria de sua solidão e de seu
solipsismo, crônica em primeira pessoa de um suicídio frustrado, enquanto o gênero
humano, no lapso de tempo desta tentativa, desaparece sem deixar traça, a constituir um
verdadeiro caso literário. Pois, tantos indícios citados no livro, antecipam as
modalidades do suicídio do próprio autor, acontecido pouco depois; isso se dá não por
acaso, mas a partir do momento em que a literatura se torna um lúcido registro especular
das dúvidas existenciais do próprio escritor.
Querendo acompanhar o raciocínio de Todorov, nesse romance escrito no início de
1970 – contemporâneo, portanto, as formulações sobre o fantástico – , ainda se encontra
uma longa hesitação que acompanha o protagonista ao longo de tantas páginas do livro;
hesitação invalidada, porém, por outro lado, o do leitor, por uma impossível adesão a
um espaço narrativo que é terra de ninguém: nem ficção científica, nem romance
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
83
psicológico-realista, tampouco autobiografia, dado que nenhum pacto seria aceitável por
um leitor que não pode se ver projetado no horizonte “impossível” do protagonista.
Ao desconstruírem as fronteiras do fictício, do real e do relato em primeira pessoa,
Savinio e Morselli, portanto, se tornam importantes laboratórios narrativos, onde o
fantástico renovado do século XX se constitui, antes de mais nada, como lugar meta-
discursivo de todos os anseios e desencontros do homem moderno. Questões,
evidentemente, que continuam, ainda, em aberto.
Referências bibliográficas
AMIGONI, Ferdinando. Fantasmi del Novecento. Turim: Bollati Boringhieri, 2004. BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética. São Paulo:
Hucitec/Annablume, 2002. CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001. CALVINO, Italo (org.). Contos fantásticos do século XIX. São Paulo: Companhia das
Letras, 2004. CATTINI, Alberto. Luis Buñuel. Milano: L’Unità/Il Castoro, 1995. CESERANI, Remo. O fantástico. Curitiba: Editora UFPR/EDUEL, 2006. DAVICO BONINO, Guido (cura de). Io e l’altro. Racconti fantastici sul Doppio.
Turim: Einaudi, 2004. DE CAPRIO, Vincenzo & GIOVANARDI, Stefano. I testi della letteratura italiana. Il
novecento. Milano: Einaudi, 1994. FERRONI, Giulio et alii. Storie e testi della letteratura italiana. Vol. 10. Mondadori
Università, 2005. NODIER, Charles. Proprio io – L’ultimo capitolo del mio romanzo. Introdução, trad. e
cura de Brigitte Battel. Chieti: Solfanelli, 1993. SAVINIO, Alberto. A casa assombrada. Trad. de Wilma Lucchesi. Rio de Janeiro:
Rocco, 1988. SAVINIO, Alberto. Dico a te, Clio. Milano: Adelphi, 2005. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Lisboa: Moraes editores,
1977.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
84
O FANTÁSTICO EM GUY DE MAUPASSANT E EM GASTÃO CRULS
Angela das Neves*
RESUMO
O escritor Guy de Maupassant (1850-1893) não só escreveu cerca de cinquenta contos fantásticos, muitos deles traduzidos no Brasil, como também teorizou sobre o gênero, em sua correspondência e em algumas crônicas escritas para periódicos franceses. Algumas de suas ideias aí apresentadas correspondem, por vezes, às conclusões de Tzvetan Todorov (1939-) em sua Introdução à Literatura Fantástica, livro publicado em 1970. Gastão Cruls (1888-1959), por sua vez, escritor e médico brasileiro, leu Guy de Maupassant e epigrafou um de seus contos, intitulado “Ao embalo da rede” (do livro homônimo, publicado em 1923), com uma frase retirada de “A cabeleira”, célebre conto do escritor normando, inserido no volume Toine (de 1886). Resultado parcial de nossos estudos sobre a recepção de Guy de Maupassant no Brasil, este artigo tem por objetivo comentar o recorte do fantástico maupassantiano operado por Gastão Cruls e analisar os elementos que diferenciam seu texto do conto francês. A análise dos dois contos será acompanhada de uma apresentação sucinta da obra desses escritores, principalmente de Gastão Cruls, pouco conhecido dos leitores de hoje. PALAVRAS-CHAVE: Literatura Francesa; Literatura Comparada; Conto fantástico; Guy de Maupassant; Gastão Cruls.
Apresentação dos escritores e do tema
Gastão Luís Cruls era carioca e filho do geógrafo e astrônomo belga Louis
Ferdinand Cruls. Formou-se em medicina, mas não clinicou, preferindo seguir a carreira
de médico sanitarista no Ministério da Saúde. Publicou seus primeiros contos sob o
pseudônimo Sérgio Espínola, na Revista do Brasil,** durante a fase de Monteiro Lobato,
com quem travou correspondência.*** Seu primeiro livro de contos, Coivara, foi
* Mestre em Língua e Literatura Francesa, atualmente doutoranda e bolsista FAPESP na mesma área, pelo
Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
** SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. p. 394.
*** Cf. LOBATO, Monteiro. Cartas escolhidas. 1. ed. São Paulo: Brasiliense. v. 1. p. 217-21, carta de Lobato a Gastão Cruls, datada de Nova York, 10/12/1927, sobre o romance Elza e Helena.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
85
publicado em 1920 e logo bem acolhido, em um artigo de Gilberto Amado* e outro de
Tristão de Athayde (Alceu Amoroso Lima). Em 1928 acompanhou a expedição de
Rondon à Amazônia, e dessa e de outras viagens tirou tema para mais de um romance.
Dirigiu a revista Boletim de Ariel entre 1931 e 1938, cujo redator-chefe era Agripino
Grieco, revista essa que publicou vários escritores modernistas, como Oswald de
Andrade, Raul Bopp, Murilo Mendes, entre outros.
Apesar de a maior parte da obra de Gastão Cruls ter sido escrita durante o
Modernismo, Otto Maria Carpeaux o classifica como pré-modernista e observa que a
melhor parte de sua obra é a de contista dessa fase literária.** Os críticos costumam
julgar seu estilo como sóbrio, enxuto, purista e ressaltam seu gosto pelo regional, pela
cor local,*** pelo retrato de costumes e pela análise psicológica. Paralelamente, apontam
em sua obra uma linhagem fantástica, de temas macabros e bizarros, certa “atração do
misterioso e do fantástico em união com a vida de sobriedade vulgar”**** e o gosto pela
ficção científica. Gastão Cruls publicou três livros de contos: Coivara (1920), Ao
embalo da rede (1923) e História puxa história (1938) e cinco romances: A Amazônia
misteriosa (1925), A criação e o criador (1926), Elza e Helena (1927), Vertigem (1934)
e De pai a filho (1954). Escreveu ainda o diário de viagem A Amazônia que eu vi (1930)
e o ensaio Aparência do Rio de Janeiro (1949).*****
Segundo Regina Salgado Campos, num artigo para a revista Língua e Literatura,
Gastão Cruls foi traduzido e comentado na França, na Revue de l’Amérique Latine. Três
contos do escritor brasileiro foram traduzidos para o francês em 1926, 1927 e 1929, e
nesse último ano, três romances comentados, e A Amazônia que eu vi, em 1931.******
* AMADO, Gilberto. Um pouco de literatura. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 22 de novembro de
1920. p. 2.
** CARPEAUX, Otto Maria. Pequena bibliografia crítica da Literatura Brasileira. 2. ed. [s.l.]: Ministério da Educação e Cultura, 1955. p. 231.
*** LIMA, Alceu Amoroso. Um contista. Primeiros estudos: contribuição à história do modernismo literário. Rio de Janeiro: Agir, 1948. V. 1: O pré-modernismo de 1919 a 1920. p. 318-23.
**** LITRENTO, Oliveiros. Gastão Luís Cruls. Apresentação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército/Forense Universitária, 1974. t. 1. p. 193.
***** Cf. PAES, José Paulo; MOISÉS, Massaud. Pequeno dicionário de Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1969. p. 83.
****** CAMPOS, Regina Salgado. A noiva brasileira de Oscar Wilde ou Gastão Cruls, um leitor de André Gide. Língua e Literatura, n. 20, 1992-1993. p. 27.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
86
Guy de Maupassant nasceu em 1850, em um meio literário proeminente. Seu tio
era poeta, sua mãe versada em literatura e sua família era amiga da família de Gustave
Flaubert. Logo que entrou na faculdade de Direito, Maupassant foi servir como
voluntário na Guerra Franco-Prussiana, para se decepcionar inteiramente com tudo que
se vinculava à política. Após quase dois anos em serviço, conseguiu por interferência do
pai um substituto e uma vaga no Ministério da Marinha. Trabalhou como funcionário
público entre 1871 e 1880, até obter sucesso literário e poder viver de sua contribuição
para os jornais como cronista. Assinou poemas, contos, novelas e crônicas em diversos
jornais franceses sob os pseudônimos Guy de Valmont, Joseph Prunier e Maufrigneuse.
Até o final da vida, dividiu seu tempo de produção literária entre passeios de barco, a
canoagem, viagens e a vida de salão. Em treze anos, entre o ano de sua estreia (1880) e
o ano de sua morte (1893), Maupassant publicou treze livros de contos, seis romances,
três narrativas de viagem, cerca de duzentas crônicas, um livro de poemas e sete peças
de teatro. Sua correspondência perfaz três volumes, reunindo cerca de oitocentas cartas.
Alguns historiadores literários brasileiros já apontaram a proximidade entre
Gastão Cruls e Guy de Maupassant. Agripino Grieco, em Evolução da prosa no Brasil,
observou: “O Sr. Cruls só é forte ao fixar a vida sertaneja, colhendo a nota visual, a
impressão direta, a sensação imediata. Sob esse aspecto, tem ele, aqui e ali, um pouco da
simplicidade robusta e do candor cruel de certos contos de Maupassant, desse Maupassant
que achava os filhos de Eva ‘capazes de tudo’.”* E aqui observamos que Agripino Grieco
se refere especificamente aos dois contos que estudaremos neste artigo. Vejamos a
epígrafe do conto “Ao embalo da rede”, retirada da frase final do conto de Maupassant,
“A cabeleira”: “‘L’esprit de l’homme est capable de tout.’ Guy de Maupassant”.
Outro historiador, Oliveiros Litrento em sua Apresentação da Literatura
Brasileira, caracteriza Gastão Cruls como “Um dos melhores contistas que o Brasil até
hoje possuiu[. De] estilo literário à maneira de Maupassant, está Gastão Cruls a merecer
urgente revisão crítica que o situará, decerto, ao lado dos grandes prosadores nacionais
exemplificados por um Machado de Assis e um Guimarães Rosa.”.** O elogio excessivo
é proporcional ao esquecimento em que infelizmente caiu o escritor retratado.
* GRIECO, Agripino. Evolução da prosa no Brasil. Rio de Janeiro: Ariel Editora, 1933. p. 143.
** LITRENTO, Oliveiros. Op. cit., p. 193.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
87
Maupassant e a teoria do gênero fantástico
Sobre a contribuição de Guy Maupassant para a literatura fantástica, é preciso
notar que ele escreveu cerca de cinquenta contos nesse gênero. Antes de escrevê-los,
Maupassant foi atraído pela leitura de escritores ligados ao fantástico, como Poe e
Hoffmann, e aqui é importante mencionar também seu contato pessoal com o poeta
inglês Swinburne e com o escritor russo Ivan Turguêniev (1818-1883). Todas essas
leituras foram registradas por ele em alguns de seus textos sobre o assunto.
Maupassant tratou teoricamente sobre o tema nas crônicas “O fantástico” e
“Adeus mistérios”, e nos contos “O medo” (nas duas versões, de 1882 e de 1884) e
“Aparição”. Em “O fantástico”,* texto de homenagem ao amigo Ivan Turguêniev,
Maupassant começa justamente com uma observação sobre o que ele julgava o fim do
fantástico, do sobrenatural e do medo do misterioso. A causa disso ele atribui ao avanço
científico, ao desenvolvimento do conhecimento humano e à perda da ingenuidade.
Nessa crônica, ele diz:
Nós rejeitamos o misterioso, que nada mais é do que o inexplorado. Daqui a vinte anos, o medo do irreal não existirá mais, mesmo entre os habitantes do campo. Parece que a Criação tomou outro aspecto, uma outra cara, um significado diferente do de outrora. Daí resultará certamente o fim da literatura fantástica.**
Lembramos que Tzvetan Todorov foi quem primeiro formulou teoricamente
uma definição do gênero fantástico, a partir da análise de diversas narrativas vinculadas
a ele, inclusive de Maupassant. Em seu livro Introdução à Literatura Fantástica, ele
também decretou a morte do fantástico, de que, na sua opinião, o último representante
foi Maupassant, e atribuiu à psicanálise a contribuição para o fim do mistério.
Guy de Maupassant, na mesma crônica, comenta que a literatura fantástica
assumiu diferentes formas desde os romances de cavalaria, As mil e uma noites, os
poemas épicos, até os contos de fadas e as “inquietantes histórias de Hoffmann e Edgar
* MAUPASSANT, Guy de. Le fantastique. Chroniques. Anthologie. Paris: Le Livre de Poche; Librairie Générale Française, 2008. p. 1366-70.
** Idem, p. 1366. Tradução minha.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
88
Allan Poe”.* E que agora essa literatura está em xeque. Exatamente o mesmo que
Todorov constatou muito mais tarde. Continuo a citação de Maupassant:
Quando o homem acreditava sem hesitação, os escritores fantásticos não tomavam precauções para desenvolver suas histórias surpreendentes. Eles entravam de primeira no impossível e ali permaneciam, variando infinitamente as combinações inverossímeis, as aparições, todas as manobras amedrontadoras para criar o pavor. Mas, quando enfim a dúvida penetrou nos espíritos, a arte tornou-se mais sutil. O escritor procurou as nuances, ficou circundando o sobrenatural em vez de atingi-lo. Encontrou efeitos terríveis habitando o limite do possível, lançando as almas na hesitação, no estupor. O leitor indeciso não sabia mais, perdia o chão como na água cujo fundo não dá pé, se prendia bruscamente ao real para logo depois mergulhar de novo e se debater novamente, numa confusão penosa e efervescente como um pesadelo. O extraordinário poder amedrontador de Hoffmann e de Edgar Allan Poe provém dessa sábia habilidade, dessa maneira particular de cutucar o fantástico e de perturbar, com fatos naturais em que permanece, entretanto, algo de inexplicado e de quase impossível.**
Também nessa crônica, Maupassant define o medo como “uma sensação
pungente e inexplicável, que passa como um sopro desconhecido partido de um outro
mundo”.*** Podemos situar aqui, igualmente, o sentimento de “hesitação”, um dos
elementos centrais da literatura fantástica, segundo a teoria esboçada por Todorov.
Tzvetan Todorov afirma que, além da necessidade de acontecimentos
misteriosos e de uma explicação para os fatos, do caráter ambíguo e contraditório que
marca as narrativas fantásticas, há a presença da hesitação como marca principal do
gênero. Essa hesitação, que é do personagem, mas é principalmente do leitor, ocorre por
meio de uma dúvida aguda entre uma explicação natural (advinda do pensamento
racional) e uma explicação sobrenatural para o evento, e se apoia literariamente no
“efeito fantástico”. A narrativa fantástica em sentido estrito é aquela em que o evento
sobrenatural permanece até o final não explicado.
No conto “O medo”, de 1882, Maupassant define o medo como “uma sensação
atroz, como uma decomposição da alma, um espasmo terrível do pensamento e do
coração, de que uma mera lembrança causa estremecimentos de angústia”. Para ele, o
* Idem.
** Idem, p. 1367. Tradução minha.
*** Idem.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
89
medo não se produz diante de qualquer forma de perigo, mas sim em “certas
circunstâncias anormais, sob certas influências misteriosas, diante de riscos vagos”. E
define: “O verdadeiro medo é algo como a reminiscência de terrores fantásticos de
outrora. Um homem que acredita nos mortos que retornam e que imagina ver um
espectro durante a noite deve experimentar o medo em todo o seu espantoso horror.”* É
exatamente com isso que lida no conto “A cabeleira”, conforme veremos. Em outro
conto, também intitulado “O medo”, este de 1884, tratando desse mesmo tema, o
narrador afirma o que já antes o autor expusera em crônica: “Com o sobrenatural, o
verdadeiro medo sumiu da terra, pois só temos medo de fato daquilo que não
compreendemos.”** Podemos perceber que Maupassant define aqui, cerca de cem anos
antes, o fantástico em sentido estrito de Todorov.
Curioso é notar que justamente quem prenunciou a definição do fantástico como
gênero seja apontado também como seu último representante. Todorov considera a vida
do fantástico bastante breve e os contos de Maupassant como os últimos exemplos
esteticamente satisfatórios do gênero. Outro estudioso, Pierre-Georges Castex, embora
termine seu estudo sobre o conto fantástico na França com Maupassant, não o considera
como o último escritor fantástico. Segundo Castex, na mesma época em que se
“acentuam as ameaças que pesam sobre a razão, levanta-se uma nova geração de
contistas que, fiéis ao espírito de seu tempo, procuram sugerir a existência de uma
realidade transcendente”.***
Esse é o argumento que nos permite estudar autores mais recentes, como Gastão
Cruls, inseridos no gênero fadado à morte, segundo Maupassant e Todorov. Acredito
que o caráter moribundo do fantástico só torna sua trajetória ainda mais misteriosa... E o
fato de Gastão Cruls encabeçar o conto que vamos estudar agora com uma citação de
um conto fantástico de Maupassant reforça a trajetória de encruzilhadas em que o
gênero em questão se formou.
* MAUPASSANT, Guy de. La peur. Contes et nouvelles. Texte établi et anoté par Louis Forestier. Paris: Gallimard, 1974. v. I. p. 601. Tradução minha.
** Idem, v. II, p. 200. Tradução minha.
*** CASTEX, Pierre-Georges. Le conte fantastique em France: de Nodier à Maupassant. Paris : J. Corti, 1951. p. 404.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
90
Estudo comparado de Gastão Cruls e Guy de Maupassant
“Ao embalo da rede” se passa em parte no Rio e em parte no sertão, que
presumimos ser na Paraíba, visto que Gastão Cruls pouco antes havia estado por lá
durante dois anos, em Comissão de Saneamento Rural. Diversas outras histórias do
livro homônimo, em que este conto ocupa lugar central, também são ambientadas no
sertão paraibano. Este conto narra a história de Otávio de Barros, um engenheiro
carioca, que acaba de ter seu casamento cancelado, após tentar ter relações com a noiva
durante o velório da mãe dela. A narrativa varia entre um diálogo dele com um amigo, o
primeiro narrador anônimo, e o relato do próprio Otávio que acontece no seu gabinete
de trabalho. Ele conta ao amigo quando foi que sua atração mórbida se desenvolveu
pela primeira vez, durante o velório de um conhecido, o coronel Antenor Ribeiro, no
sertão da Paraíba. Vejamos o início de “Ao embalo da rede”:
Pois é isso. Desmancharam-me o casamento porque sou um monstro. Infelizmente, ainda não mereço a cadeia ou o hospício, conquanto a minha observação já deva andar por aí, na mão de alguns médicos, para figurar mais tarde em qualquer tratado de patologia. Vejamos, Otávio... Estás a exagerar muito. Com certeza sofres as consequências de leituras apressadas, que te enchem a cabeça de mil caraminholas. Ah, os livros, que mal nos fazem eles, por vezes! Supõe o teu caso ocorrido num meio mais simples: não seria nada. Nós vamos, entretanto às últimas; e, com a facilidade de raciocínio e a tortura das dúvidas, querendo a explicação para alguma coisa, escolhemos sempre a pior hipótese.*
Além do conhecimento que Otávio tem de seu mal, observamos aí a ironia
interna na fala do amigo, quando comenta que a origem da doença está nas leituras,
talvez românticas, de Otávio. Mal comparando, podemos dizer que o próprio conto
originou-se de outras leituras, de Guy de Maupassant, que “encheram a cabeça” do
escritor brasileiro.
Vejamos agora o início de “A cabeleira”. Percebe-se logo que a ambientação é
muito mais pesada, o espaço aqui retratado é o de um hospício e o protagonista, logo
caracterizado como louco, não tem direito ao argumento próprio. Somente quando o
médico (que é um elemento importante e recorrente tanto em Maupassant quanto em
* CRULS, Gastão. Contos reunidos. Rio de Janeiro; São Paulo: José Olympio, 1951. p. 217.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
91
Gastão Cruls) estende ao ouvinte e primeiro narrador o diário desse louco é que
sabemos por ele a evolução de sua obsessão. Passemos então ao início de “A cabeleira”:
As paredes da cela eram nuas, pintadas a cal. Uma janela estreita e gradeada, aberta bem no alto de maneira que não pudesse alcançá-la, iluminava aquela pecinha clara e sinistra; e o louco, sentado numa cadeira de palha, fitava-nos com um olhar fixo, vago e assombrado. Era muito magro, com as faces encovadas e o cabelo quase branco que se adivinhava embranquecido em poucos meses. Suas roupas pareciam largas demais para seus membros secos, para o peito encolhido e a barriga afundada. Sentia-se aquele homem devastado, corroído por seu pensamento, por um Pensamento, como uma fruta por um verme. Sua Loucura, sua ideia estava ali, naquela cabeça, obstinada, insistente, devoradora. Ela consumia o corpo pouco a pouco. Ela, a Invisível, a Impalpável, a Inapreensível, a Imaterial Ideia minava a carne, bebia o sangue, extinguia a vida. Que mistério aquele homem morto por um Devaneio! Dava pena, medo e piedade, aquele Possuído! Que estranho sonho, medonho e mortal, habitava aquela testa que ele franzia em rugas profundas, permanentemente irrequietas? O médico me falou: “Ele tem terríveis acessos de fúria, é um dos dementes mais singulares que já vi. É atacado por uma loucura erótica e macabra. Uma espécie de necrofilia. Aliás ele escreveu seu diário, que mostra da forma mais clara do mundo a doença de seu espírito. Ali, sua loucura está, por assim dizer, palpável. Se lhe interessa, pode folhear esse documento”. Segui o doutor até seu gabinete, e ele me entregou o diário daquele homem miserável.*
Antes de tratarmos do diário, é preciso apontar como o discurso do médico já
fecha o diagnóstico sobre a personagem que acaba de ser apresentada ao leitor. O que
Maupassant define, por meio do médico, como “uma loucura erótica e macabra”, “uma
espécie de necrofilia”, poucos anos após a redação desse conto, seria definido em 1901,
pela medicina psiquiátrica, como “fetichismo”.
Maupassant interessava-se muito pelos estudos psiquiátricos de sua época.
Justamente no ano da redação desse conto, em 1884, ele chegou a acompanhar as aulas
abertas do médico francês Jean Charcot (1825-1893), na clínica de Salpêtrière, sobre a
hipnose e a histeria, aulas essas também frequentadas por Sigmund Freud. A loucura
sempre esteve entre os temas de interesse de Maupassant, o que motivou diversos
críticos a atribuírem seus textos à loucura que acometeu primeiro o irmão do escritor e,
depois, ele mesmo, nos três anos finais de sua vida. O que nos importa aqui é apontar
* MAUPASSANT, Guy de. 125 contos de Guy de Maupassant. Trad. Amilcar Bettega. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009. p. 432-3.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
92
que foi do contato especializado com o assunto que Maupassant retirou um vocabulário
atualizado cientificamente com a época, e que ele utilizou em várias outras narrativas,
como na sua novela fantástica mais conhecida, “O Horla” (última versão).
Vejamos agora como os dois escritores trabalham o mal de cada um de seus
protagonistas: em Gastão Cruls, o prazer erótico despertado pelo cheiro de corpos em
decomposição e, em Maupassant, o prazer erótico despertado por objetos antigos e o
encantamento por uma longa trança de cabelos loiros, encontrada numa escrivaninha
comprada de um antiquário. A sensação de estranhamento gerada pela leitura dos dois
contos deve-se em grande parte à exposição feita em primeira pessoa por essas
personagens:
Qual, a minha observação está feita e o que me aconteceu naquela noite seria apenas mais um elemento, se fosse preciso ainda algum, para a confirmação do meu diagnóstico. Infelizmente, com horror de mim mesmo, eu já venho estudando há algum tempo, e de um médico cheguei mesmo a indagar se não seria melhor fugir ao casamento. Mas, tu não conheces a hediondez da minha vida nestes últimos meses, a visita frequente aos necrotérios, o desejo irresistível de assistir às exumações mais horrendas, o gozo que me dão as câmaras mortuárias e os ofícios fúnebres... Há coisas que a gente não sabe como confessar, tanta é a degradação que traduzem. E dizer-se que tudo isso teria, talvez, sido evitado, se não fosse a minha estada no Norte! Sim, porque, até então, eu era um tipo perfeitamente normal e, se alguém me viesse falar em semelhante aberração, eu teria repulsa igual à que leio agora nos teus olhos. Mas é preciso que eu te confesse tudo.*
E agora um trecho selecionado de “A cabeleira”:
Como eu gostaria de conhecê-la, vê-la, a mulher que tinha escolhido aquele objeto raro e delicado! Ela está morta! Sou possuído pelo desejo de mulheres de outrora; [...] O passado me atrai, o presente me apavora porque o futuro é a morte. [...] Por que a lembrança daquele móvel me perseguiu com tanta força que dei meia-volta? Parei de novo à frente da loja para revê-lo e senti que ele me tentava. Que coisa singular a tentação! A gente olha um objeto e, pouco a pouco, ele o seduz, impressiona, o invade como faria um rosto de mulher. Seu encanto entra em você, encanto estranho que vem de sua forma, de sua cor, de sua fisionomia de coisa; e já a gente o ama, deseja, quer. Uma necessidade de posse se apodera de você, necessidade suave no início, como que tímida, mas que cresce, torna-se violenta, irresistível.**
* CRULS. Op. cit., p. 219.
** MAUPASSANT. Idem, p. 434.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
93
Conforme vemos, os dois contos lidam com o fetichismo, o desejo obsessivo, a
necrofilia, trabalhados em inúmeros contos de Maupassant. Nos dois textos em análise,
há um exercício, realizado pelos protagonistas por meio da palavra falada ou escrita, de
tentar descobrir a justificativa para seu comportamento e para o seu desejo mórbido.
Ambos, homens que se dizem antes em juízo completo, de vida tranquila, distintos e em
boa situação financeira, são atraídos por algo que foge à moral e aos bons costumes.
Está envolvida também a questão de um futuro que os apavora, seja pela morte (em
Maupassant), seja pelo casamento (em Gastão Cruls). A diferença é que no escritor
brasileiro isso se faz quase com gracejo, por parte do próprio narrador, que não parece
levar muito a sério a própria doença.
Vejamos uma última sequência de citações dos dois contos. No primeiro, Otávio
conta ao amigo como se deu a primeira posse macabra, durante o velório de um
conhecido no sertão da Paraíba, em que estavam o narrador, Otávio; a viúva, Dona
Alzira, muito mais jovem; e a velha irmã do falecido:
No receio de acordar a velha com a conversa e para fugir também de um bafo pestilencial que, por vezes, nos chegava da alcova próxima, fomos pé ante pé ter a uma das janelas, onde, por alguns instantes, nos quedamos extáticos, tocados pela magia do luar, esse fantástico luar do sertão, de que já deves ter ouvido falar, mas que é preciso conhecer de perto, para saber de que prodígios e transfigurações é capaz a natureza. [...] Quando dei acordo de mim, tinha tomado as mãos de D. Alzira entre as minhas e, de rostos bem unidos, sentia a fragrância da sua carne moça. Veio o aturdimento dos sentidos, uma onda de volúpia que me invadiu o corpo todo. Aquele luar, o silêncio envolvente, os meus cinco meses de vida continente no sertão... A medo, de olhos voltados para a rede onde a velha continuava dormindo, trouxe-a mais a mim, para um primeiro beijo em que os seus lábios procuraram os meus com avidez. Era o delírio. Pensei, então, arrastá-la para o copiar, mas a porta estava fechada por duas grossas traves e, abri-la, seria, com certeza, despertar a velha. Ia beijá-la novamente, mas D. Alzira, não sei se arrependida ou receosa, para fugir ao meu contato, encaminhou-se com passo leve para a alcova ao lado. Sem hesitar, acompanhei-a e, ali mesmo, remordido pela luxúria, bem junto da rede em que repousava o morto, numa outra que devia ser dela... Otávio sobresteve-se por alguns instantes e, depois, com revolta e nojo: – Ah! O monstro que existe em cada um de nós! Se eu te disser que, ao embalo da rede, assistimos ao raiar do dia, indiferentes a tudo e apenas de ouvido atento à respiração da soprosa velha... [...] Tu dirás que foi o perfume
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
94
das flores... Eu tenho a certeza, porém, de que foram os primeiros sinais da decomposição...*
Podemos observar aqui o efeito sinestésico que envolve a construção da
ambientação estranha do conto. O personagem de Gastão Cruls tem seus sentidos
aguçados e é seduzido pelo cheiro do corpo do velho coronel em decomposição, para o
que contribuem a paisagem e o calor sertanejos. É preciso observar que o conto de
Gastão Cruls se aproveita do elemento regional, caro à literatura brasileira, do narrador
culto que se envolve com personagens interioranas e se perde. Sua perdição é mesmo
atribuída à natureza local, conforme podemos ver na primeira frase grifada. As duas
frases que grifamos podem ser consideradas, em conjunto, como uma retomada da
epígrafe de Maupassant, que recobre o tema principal do conto. E o título justifica-se
também nessa passagem, com a imagem do balanço da rede em que houve o enlace e na
qual os dois jovens aguardam despreocupadamente o raiar do dia.
Vejamos como é diversa a caracterização do louco de Maupassant em seu diário,
ele que foi isolado e impedido de continuar seus rituais amorosos com uma morta.
Durante alguns dias, no entanto, permaneci em meu estado habitual, mesmo que o pensamento vivo daquela cabeleira não mais me abandonasse. [...] Vivi assim um mês ou dois, não sei mais. Ela me obcecava, me assombrava. Eu estava feliz e torturado, como numa espera de amor, como após as declarações que precedem o enlace. [...] Uma noite, acordei bruscamente com a impressão de que não me encontrava sozinho no quarto. No entanto eu estava sozinho. Mas não consegui voltar a dormir; e como me agitava numa febre de insônia, levantei-me para ir tocar a cabeleira. Ela me pareceu mais suave do que de costume, mais viva. Os mortos retornam? Os beijos nos quais eu a esquentava me faziam desfalecer de prazer; e trouxe-a para minha cama, e deitei, apertando-a contra os lábios, como uma amante que se vai possuir. Os mortos retornam! Ela veio, Sim, eu a vi, eu a segurei, eu a tive, tal como ela outrora, quando viva, grande, loura, encorpada, os seios frios, a anca em forma de lira; e percorri com carícias aquela linha ondulante e divina que vai do pescoço aos pés, seguindo todas as curvas do corpo. Sim, eu a tive, todos os dias, todas as noites. Ela voltou, a Morta, a bela Morta, a Adorável, a Misteriosa, a Desconhecida, todas as noites. Meu prazer foi tão grande que não consegui escondê-lo. Senti junto dela um êxtase sobre-humano, alegria profunda, inexplicável, de possuir a Inapreensível, a Invisível, a Morta! Nenhum amante experimentou gozos mais ardentes, mais terríveis!
* CRULS. Op. cit., p. 223-4. Grifos meus.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
95
Não soube esconder minha felicidade. Amava-a tanto que não quis mais deixá-la. Trouxe-a comigo todos os dias, por toda a parte. Levei-a para passear pela cidade como minha mulher, e levei-a ao teatro nos camarotes balaustrados, como minha amante... Mas as pessoas viram... adivinharam... tomaram-na de mim. E me atiraram numa prisão como um bandido. Pegaram-na... Oh! que miséria!...*
A personagem de Maupassant, ao contrário de Otávio, é privada do diálogo. Seu
envolvimento amoroso é mais poetizado, a intensidade de seu sentimento pela morta é
mais forte, o que faz acentuar o efeito de fantástico de seu conto. Nos dois textos,
porém, é possível observar certa sexualização do ato de escrever pelos autores. Jacques
Finné, em seu livro A literatura fantástica,** de 1980, já comentou que fantástico e
erótico andam juntos. E, neste conto de Maupassant, assim como em diversos outros,
como “Louco?” e “Confissões de uma mulher”, fica muito claro que, na concepção de
seu autor, o amor a uma mulher pode fazer um homem endoidecer.
Também Gastão Cruls escreveu uma dezena de contos fantásticos, entre os
principais estão “Meu sósia” e “O espelho”, e neste último aparece novamente o
envolvimento entre o fantástico e o erótico. O conto “Ao embalo da rede” perde em
intensidade no efeito do fantástico, justamente pelo caráter dialógico, pelo domínio que
Otávio tem sobre a sua conduta, que vai contra o esperado pela sociedade e contra um
discurso moral com o qual ele mesmo compactua. Seu discurso soma num só o ponto de
vista do doente e do médico, que em Maupassant vem segmentado em dois pontos de
vista antagônicos.
Tanto Gastão Cruls quanto Maupassant abusam do narrador dito sério, médico
engenheiro ou juiz, que olha o homem comum quase como um objeto científico. Isso
aumenta a aparência de verdade do relato, a verossimilhança, o que ajuda a tornar o
conto plausível. A forma de diário, segundo André Vial,*** também é um procedimento
recorrente em Maupassant e que permite com maior efeito marcar a gradação do
progresso da ideia fixa do protagonista; o que era inconsciente passa a ser organizado
* MAUPASSANT. Idem, p. 437-8.
** FINNÉ, Jacques. La littérature fantastique: essai sur l’organisation surnaturelle. Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles, 1980. p. 34.
*** VIAL, André. Le lignage clandestin de Maupassant conteur fantastique. Revue d’Histoire Littéraire de la France, n. 6, nov.-déc. 1973. p. 1000.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
96
sob a forma escrita ou de relato. Podemos notar isso nos dois contos aqui presentes,
quando as duas narrativas são assumidas pela primeira pessoa.
Todorov, na Introdução à literatura fantástica, diz que as narrativas fantásticas
de Maupassant primam pelo uso da primeira pessoa e que o narrador externo
potencializa a hesitação do leitor quanto à verdade do discurso do louco, por mais
verossímil que seja. Cito agora o trecho em que Todorov afirma isso:
Nos seus melhores contos fantásticos – Ele?, A noite, O Horla, Quem sabe? – Maupassant faz do narrador o próprio herói da história (é o recurso usado por Edgar Allan Poe e muitos outros depois dele). A ênfase é colocada no fato de que se trata mais do discurso de um personagem do que o de seu autor: a fala está sujeita a confirmação e nós podemos muito bem supor que todos esses personagens são loucos; no entanto, a não ser que eles sejam introduzidos por um discurso diferente do narrador, nós lhes daremos uma confiança paradoxalmente ainda maior. Ninguém nos diz que o narrador mente e mesmo a possibilidade de que ele minta nos choca, de alguma forma, estruturalmente; mas essa possibilidade existe (já que ele também é um personagem) e – a hesitação pode então nascer no leitor.*
O escritor Henry James afirmou que o aspecto estúpido e perverso dos fatos é o
que primeiro interessa Maupassant.** Foi esse elemento que Gastão Cruls recuperou do
escritor francês no conto analisado: a capacidade do homem de ser seduzido por
qualquer coisa. Já se afirmou também que Maupassant funda seus contos fantásticos no
risco constante de alienação do nosso ser. O território do fantástico não está mais
fundado no sonho, no estado de semivigília, mas na incapacidade psíquica do homem,
em meio à sua racionalidade, de distinguir a presença do outro que o habita, discussão
que vemos se realizar literariamente a partir de Maupassant, justamente o escritor que
Todorov afirma ser o último atrelado ao gênero. Constata-se que os fantasmas deste
fantástico mais recente são criaturas advindas de dentro do leitor, ou do homem em
meio à vida em sociedade. Por isso cada vez menos os autores pensam ser necessário
povoar suas narrativas com seres insólitos, monstros ou fantasmas.
* TODOROV, Tzvetan. Op. cit., p. 91.
** JAMES, Henri. Guy de Maupassant. In: MAUPASSANT, Guy de. Novelas e contos. São Paulo: Globo, 1951. p. IX-XXIII.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
97
Conclusão
Observamos nos dois contos que a relação com o interdito, com o outro, é de
horror e de atração, e que há uma espécie de transferência entre aquele que é acometido
da loucura e a testemunha de seu relato. Ambos os autores lidam com os limites da
razão humana e com uma hesitação mesmo do protagonista, entre a posição do louco e a
do são, tornando-nos certamente muito próximos dele.
Tanto Guy de Maupassant quanto Gastão Cruls misturam o fantástico com a
sobriedade do cotidiano. O elemento fantástico é trabalhado sob um ponto de vista
racional e objetivo, que julga “o espírito humano capaz de tudo”. O interesse de ambos
está em enredar o leitor pelo mistério do assunto e da psicologia humana, no que
contribui a narração em primeira pessoa. Também a estruturação do conto em
“gavetas”, isto é, com vários níveis narrativos, e o final surpreendente e simples
coincidem nos dois contos e enriquecem o efeito fantástico.
É preciso apontar que há quase um tom de humor na neurose de Otávio, que
brinca com o que em Maupassant é mais misterioso, pelo lirismo da relação de seu
protagonista com a morta. Enquanto o personagem de Gastão Cruls se arrepende de
seus atos, o personagem francês está em total desalento, por ter sido privado do melhor
sentimento de sua vida.
Devemos reforçar a ideia de que Gastão Cruls escolheu para epigrafar o conto
central de seu segundo livro justamente um conto de Maupassant em que um dos
narradores é médico, função que o próprio Gastão Cruls exerceu e que é também de
muitos de seus narradores. Seu protagonista, o engenheiro Otávio, assume a função de
quem narra para expiar seu mal, uma forma de buscar a cura para a sua obsessão, por
meio do julgamento do amigo. O conteúdo do diálogo, que no conto de Maupassant se
perfaz num monólogo, julgado externamente por um outro em pleno juízo, torna o conto
mais próximo do leitor e de uma situação que poderia envolvê-lo. Por outro lado, o
personagem de Maupassant que ouve o diagnóstico do médico sente-se atraído, no final
do conto, de certa forma, pela cabeleira que pede para ver, como se sofresse o risco de
ser acometido pelo mesmo mal: “Tremi ao sentir nas mãos seu toque acariciante e leve.
E meu coração bateu forte, de aversão e de desejo, de aversão como quando em contato
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
98
com objetos deixados nas cenas de crimes, de desejo como diante da tentação de algo
infame e misterioso.”*
O teórico Jacques Finné bem definiu o gênero aqui em discussão quando
afirmou que o objetivo do conto fantástico é lúdico. Ele disse: “Um conto fantástico é
um conto que explora o fantástico num puro objetivo lúdico. [...] Todo jogo possui suas
regras – e suas manobras. O escritor fantástico possui as manobras e supera as regras.
Afinal, ele deve convencer seu leitor”.**
Enfim, Maupassant e Gastão Cruls parecem trabalhar com o sentimento de que a
loucura está mais próxima de nós do que imaginamos. Basta que o nosso espírito
humano ouse ser capaz de qualquer coisa. A menos que a literatura fantástica nos ajude
a superar nossos instintos.
Referências bibliográficas
AMADO, Gilberto. Um pouco de literatura. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1920. p. 2. BARRETO, Lima. À margem de Coivara, de Gastão Cruls. Impressões de leitura. São Paulo: Brasiliense, 1956. p. 86-91. Texto original de 1921. CAMPOS, Regina Salgado. A noiva brasileira de Oscar Wilde ou Gastão Cruls, um leitor de André Gide. Língua e Literatura, n. 20, 1992-1993. p. 27-33. CARPEAUX, Otto Maria. Pequena bibliografia crítica da Literatura Brasileira. 2. ed. Ministério da Educação e Cultura, 1955. CASTEX, Pierre-Georges. Le conte fantastique em France: de Nodier à Maupassant. Paris : J. Corti, 1951. CAVALHEIRO, Edgard. Evolução do conto brasileiro. Boletim Bibliográfico. São Paulo, jul.-set. 1945. CRULS, Gastão. Contos reunidos. Rio de Janeiro; São Paulo: José Olympio, 1951. FINNÉ, Jacques. La littérature fantastique: essai sur l’organisation surnaturelle. Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles, 1980. GRIECO, Agripino. Evolução da prosa brasileira. Rio de Janeiro: Ariel Editora, 1933. JAMES, Henri. Guy de Maupassant. In: MAUPASSANT, Guy de. Novelas e contos. São Paulo: Globo, 1951. p. IX-XXIII. LIMA, Alceu Amoroso. Um contista. Primeiros estudos: contribuição à história do modernismo literário. Rio de Janeiro: Agir, 1948. V. 1: O pré-modernismo de 1919 a 1920. p. 318-23. LITRENTO, Oliveiros. Gastão Luís Cruls. Apresentação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército/Forense Universitária, 1974.
* MAUPASSANT, Guy de. 125 contos de Guy de Maupassant. Trad. Amilcar Bettega. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009. p. 438.
** FINNÉ, Jacques. Op. cit., p. 17 e 123.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
99
LOBATO, Monteiro. Cartas escolhidas. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, v. 1. p. 217-21. MAUPASSANT, Guy de. Le fantastique. Chroniques. Anthologie. Paris: Le Livre de Poche; Librairie Générale Française, 2008. p. 1366-70. ______. Contes et nouvelles. Texte établi et anoté par Louis Forestier. Paris: Gallimard, 1974. 2 v. ______. 125 contos de Guy de Maupassant. Trad. Amilcar Bettega. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. PAES, José Paulo; MOISÉS, Massaud. Pequeno dicionário de Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1969.
SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
100
A PSICOSE DE REMÉDIOS, A BELA, EM CEM ANOS DE SOLIDÃO
Antônio César Frasseto∗ & Alessandra Moreno Maestrelli∗∗
RESUMO
Freud inaugurou uma vertente de leitura do psiquismo através da literatura usando tragédias gregas, Lacan deu continuidade ao analisar o Finnegans Wake de James Joyce como modelo de suplência delirante e o romance O despertar da primavera de Frank Wedeking para orientar suas teorizações em torno da adolescência. Para nós, em Gabriel Garcia Marques, em Cem anos de solidão, pode-se escandir um conceito psicanalítico fundante da psicose a forclusão da metáfora paterna. Trata-se de um conceito em que o sujeito por não funcionar na base do recalque inibe o conflito entre o inconsciente e sistema pré-consciente-consciente. Para Lacan, a forclusão do nome do pai inscreve o sujeito num registro de verdades e torna sua lida com a linguagem unívoca. Procurou-se evidenciar a partir do seguinte recorte: “(...) quando o jovem comandante da guarda lhe declarou seu amor, recusou-o simplesmente porque se assombrou com a sua frivolidade. “Olha que bobo que ele é”, disse a Amaranta. “Diz que está morrendo por minha causa, como se eu fosse uma cólica miserere.” (...)”. Remédios, a Bela é prisioneira das palavras, incapaz de posicionar-se no jogo incerto das metáforas; aonde o apaixonado diz que está morrendo de amor ela reage ofendida entendendo-se igualada a uma cólica mortal. A literalidade com a qual Remédios lida com as palavras é a personificação da coisa, ou seja, o motivo que poderá causar a morte seja do comandante da guarda seja de qualquer ser vivente deverá obedecer às leis conhecidas sobre causas de morte. Ao pé da letra o amor por alguém não estaria entre essas causas prováveis, para Remédios, não é possível personificar o amor; essa palavra exige elaboração, metaforização e simbolização para além das representações de coisa e palavra, tal como preconizaram Freud e Lacan. PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; Literatura; Psicose.
Na transição do século XIX para o XX, momento de apogeu da cultura
positivista, em que o discurso da ciência tem um valor central, Freud fundou a
psicanálise. Em decorrência desse contexto, o discurso psicanalítico adere à
formalização lógica e ao raciocínio dedutivo.
∗ Doutor em Educação, na UNESP-MARÍLIA, Professor Assistente-Doutor na UNESP, Campus de São José do Rio Preto, na área de Educação.
∗∗ Doutora em Psicologia, na USP-Ribeirão Preto, Professora convidada do IMES-CATANDUVA, na área de Psicologia e Ciências sociais e da saúde na Graduação em Nutrição.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
101
Toma como objeto de estudo o obscuro e o ininteligível do fato humano, e as
experiências que escapam ao domínio do significante. A psicanálise inaugura uma nova
opção teórica no interior do racionalismo: o estudo da falta de sentido, que,
paradoxalmente, impele o sujeito a buscar sentido.
Na verdade, o estatuto epistemológico da psicanálise está presente no texto
freudiano. Não porque Freud recebeu pelo conjunto de sua obra, em 1930, o prêmio
Goethe de literatura, conferido pela Prefeitura de Frankfurt, e também não porque o
crítico literário e escritor Harold Bloom disse que ele é o melhor romancista do século
XX, e que sua grandeza é maior como escritor.
Para nomear a teoria que estudava os processos psíquicos que estão além da
consciência e muito além do princípio do prazer, Freud usa o termo ficção nos textos
Romances Familiares (1908-2000) e Suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos
(1917-2000). Em Análise de uma fobia numa criança de cinco anos (1909-2000),
afirma que as fantasias do pequeno Hans são teorias sexuais. Em Análise terminável e
interminável (1937-2000), escreve que a psicanálise é um saber da ordem da fantasia e
da bruxaria.
Em termos de constituição do sujeito, a psicanálise formula a ficção lógica de
que a prematuração da cria humana faz com que seu destino seja marcado pela
dependência; a possível autonomia futura só pode ser alcançada contra esta posição
básica e todo esforço de separação implicará sempre em desamparo.
Diferente do discurso médico, na racionalidade da fantasia psicanlítica, neurose
e psicose não são doenças, mas, sim, possibilidades estruturais do sujeito, posições
subjetivas que o sujeito ocupa de acordo com a singularidade das experiências narcísica
e edípica.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
102
Em Construções em análise (1937-2000), Freud busca caracterizar o
pensamento psicótico como aquele que trata as coisas concretas como se fossem
abstratas. No Caso Schreber (1913-2000), defende que a falta ou insuficiência do
recalcamento primário são responsáveis, no todo ou em parte, pela psicose. O
recalcamento primário é o processo que separa as representações de coisa das
representações de palavra, e a insuficiência em separá-las ocorre quando o sujeito, ao
invés de incluir a representação dentro de si, a “inclui fora”.
Segundo Souza-Leite (2000), a psicanálise eleva a loucura a uma posição
Reveladora da estrutura do sujeito [...] o louco seria o único que poderia ser testemunha do Real [...] seria aquele que não se inscreve na ordem simbólica, não faz laço social e estaria portanto fora do discurso [...] ele não fica aberto à falta, ele é todo, é completo, ele é só gozo, sem desejo, realizando assim em ato o sem sentido [...] pelo seu triste destino, fala-nos da situação humana que há de ser o eterno joguete entre a procura de uma completude que não existe e a estupidez de um gozo que não serve para nada.
O estatuto conceitual da psicose no interior da ficção psicanalítica pode ser
trabalhado na sua oposição com a neurose, tanto na constituição do sujeito como nas
possíveis estruturas subjetivas que daí decorrem.
Os termos usados por Freud para designar tais posicionamentos subjetivos
recebem nomes distintos: para a neurose, o termo utilizado é Verdrängung, traduzido e
definido como recalcamento de um impulso provindo do interior; para a psicose,
Verwerfung, traduzido como forclusão e definido como incluir fora.
Por volta dos seis meses de idade, enquanto a criança continua vivenciando uma
impotência motora e está completamente dependente, sendo impossível qualquer
experiência de si mesmo como unidade, o reconhecimento da imagem especular é uma
contribuição decisiva para a consituição do sujeito.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
103
Essa unidade lhe é oferecida pelos cuidados primários quando o futuro sujeito é
apresentado para a imagem de si, devendo a palavra imagem ser entendida em sua dupla
significação: a ordem da representação figurada, e da miragem fictícia.
No texto O Estádio do Espelho como formador da função do eu, Lacan (1998) escreve
que na constituição do sujeito a imagem especular forma o significante dele mesmo, o eu
imaginário unitário. A imagem de si é báscula para a posição neurótica, pois o processo de
inscrição do eu unitário se constitui através do reconhecimento da alteridade subjetiva do
grande Outro. Para Lacan, o eu é o outro.
A imagem especular fornece a experiência inaugural de si mesmo como unidade
e totalidade designáveis. O júbilo que acompanha a assunção desta imagem como si
próprio revela uma experiência até então inédita para a cria humana. Segundo Lacan,
trata-se da minha estátua.
O essencial da imagem especular está no fato de que o reconhecimento de si, por
ser infligida na ordem de uma ilusão visível, impõe ao eu uma objetivação alienante,
como se a imagem recobrisse toda a subjetividade.
A dispersão e a fragmentação psíquica que vigoravam até esse acontecimento é
unificada nessa miragem que o espelho reflete. Na neurose, haverá o início de uma
tarefa de auto-significância que levará toda existência, sempre acompanhada da
injunção de fugir dessa tarefa e substituí-la por outra, totalizadora e improdutiva, de
buscar a igualdade com a imagem especular em termos absolutos. No psicótico, por sua
vez, haverá a impossibilidade do deslocamento e da condensação, que causam o
desamparo.
Para Lacan (1994),
na neurose há uma movência dialética das ações, dos desejos e dos valores, que faz não somente mudar a todo momento, mas de uma maneira contínua,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
104
e até mesmo passar a valores estritamente opostos em função de um rodeio do diálogo.
Essa objetivação e unidade do si mesmo na neurose é anterior às experiências de
objetivação e unidade que entram em jogo na identificação com outrem e antes da
enunciação do pronome pessoal de primeira pessoa. Essa antecedência da imagem
especular, originada pela via de um engodo visual, tem consequências decisivas e
assustadoras na constituição do sujeito, como demonstra o mito de Narciso: quando a
cria humana manifesta a consistência do sujeito, ocorre, simultaneamente, a dimensão
mortífera dessa experiência.
A deficiência de simbolização faz a cria humana inscrever o outro na
subjetividade. Uma vez inscrito, ele se tornará o grande Outro e, com essa referência, o
sujeito passa a dispor de uma cadeia simbólica para nela se constituir. A forclusão
impossibilita ao sujeito uma referência ao Outro e, quando o Outro não interpela de
dentro, como no caso da neurose, provém de fora, como na psicose.
A imagem especular aparece para o psicótico como uma realidade externa da
qual ele supõe poder fugir, enquanto o neurótico descobre na imagem do espelho a
representação de um eu ideal que se oferece para identificação. Portanto, para o
psicótico, o espelho representa o fechamento de qualquer caminho para identificação.
No sujeito neurótico, a imagem especular primária corresponde a uma ilusão
experienciada como realidade, fonte das identificações secundárias que constituirá o eu
ideal. Na psicose, diante da impossibilidade de coincidir com a imagem refletida, e
efetivamente alienar-se nela, o sujeito lhe desfere um ataque na expectativa
contraditória de destruí-la e fazê-la subsistir na totalidade. Assim, apagam-se os
investimentos na imagem do eu e desaparece o sujeito enquanto aquele que deveria
igualá-la.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
105
O esforço e a impossibilidade em apagar as diferenças dá origem a uma
agressividade, que será sempre autodestrutiva. Assim, o laço social é inviabilizado pois
o semelhante será sempre um decalque transitivo.
A experiência da imagem especular define a existência de um par imaginário em
que o mesmo e o outro estão separados. O investimento da imagem especular se estende
para a imagem do semelhante, definindo a dimensão narcísica do amor ao próximo.
O psicótico é aquele que, na relação com outrem, reproduz o par especular que
lhe garante a certeza absoluta de um mundo maniqueísta, certeiro e inabalável. O
neurótico, por reportar-se a um Outro geral na busca de conhecer e dizer a verdade,
empenha-se em enunciar o que um outro também enuncia, já que uma proposição que
seja verdadeira apenas para o sujeito, será necessariamente falsa.
Na neurose, o sentido não está acabado ou fechado e o sujeito sabe que não sabe
tudo que há para saber. O neurótico sabe que o esforço de coincidência do dito com a
interpelação pelo Outro é precário, parcial e continuamente ameaçado. No psicótico, o
enunciado coincide com a interpelação do Outro e, nesse lugar privilegiado e garantido,
se torna um definidor da verdade. O sentido das coisas e dele mesmo não está por ser
constituído através da pesquisa de todos e dele próprio, mas estará dado como uma
tabela. Na posição do psicótico, basta dizer em voz alta para que os outros vejam o que
ele vê.
Na psicose, o sentido é onipotente e sem hesitação. Por não correr o risco do
endereçamento, seu discurso é discurso apenas na aparência, já que coincide de forma
absoluta com o que vislumbra na superfície do espelho, processo que não ocorre com
nenhum neurótico, ainda que seja essa sua ambição.
O psicótico realiza a certeza que no neurótico nunca é mais que esperança
frustrada. A coincidência do enunciado com a enunciação não passa de uma ilusão mal
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
106
sucedida, uma negação de sua condição de sujeito que só encontra apoio na miragem da
imagem especular.
No neurótico, o processo de restauração da unidade perdida é o que propulsiona
a atividade significante. A busca da unidade especular instala o registro da experiência
imaginária de todos os outros objetos e a busca dessa unidade especular perdida é o que
se chama sujeito.
A intrusão fraterna lança o sujeito numa encruzilhada e de suas vicissitudes
dependerá a possibilidade de o sujeito organizar o recalcamento primário e a
experiência neurótica. Na psicose, diante do intruso, o sujeito se apegará à rejeição e
destruição do outro; na neurose, aceitará a concorrência e a luta, superando a união dual,
pois se reconhece excluído dela. Essa necessidade promove o deslocamento e o conduz
para um outro objeto, diferente do objeto da experiência especular.
Na neurose, a intrusão de um terceiro é componente essencial para deslocar a
experiência especular, que é apenas imaginária, para estabelecer o registro da
experiência simbólica. A estrutura responsável por essa constituição é o Édipo. Apenas
a alteridade edípica situará plenamente o sujeito e o introduzirá numa experiência
verdadeiramente simbólica marcada pela Lei, que o tornará apto a atribuir significantes
que condensam e deslocam. Porém, o psicótico ficou aprisionado em sua estátua,
assertivo e paralisado em sua verdade, como um inseto à lâmpada.
Com base no que foi exposto, é possível perceber que Freud inaugurou uma
vertente de leitura da subjetividade reivindicando a posição de ficção e de fantasia. Isso
foi feito por meio da literatura, utilizando algumas das tragédias gregas, como Édipo
Rei e Narciso, para situar posições subjetivas. Lacan deu continuidade ao analisar o
Finnegans Wake, de James Joyce, como modelo de suplência delirante, e o romance O
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
107
despertar da primavera, de Frank Wedeking, para orientar suas teorizações em torno da
adolescência.
Gabriel Garcia Marques, em Cem anos de solidão, destaca o conceito
psicanalítico fundante da psicose: a forclusão. Trata-se de um conceito em que o sujeito,
por não funcionar na base do recalque, inibe o conflito entre representações de palavra e
representações de coisa.
Em uma obra em que os personagens são, em sua maioria, intensos e
contraditórios, Remédios, a bela, manifesta uma leveza e assertividade que lhe conferem
essa posição de psicótica, sendo reconhecida pelos outros personagens como louca ou
retardada.
Como vimos, para Lacan, a forclusão inscreve o sujeito num registro de
verdades plenas e torna sua lida com a linguagem unívoca. Isso pode ser evidenciado a
partir do seguinte recorte da obra:
(...) quando o jovem comandante da guarda lhe declarou seu amor, recusou-o simplesmente porque se assombrou com a sua frivolidade. ‘Olha que bobo que ele é’, disse a Amaranta. ‘Diz que está morrendo por minha causa, como se eu fosse uma cólica miserere.’ (...).
Remédios, a bela, aprisiona as palavras, incapaz de posicionar-se no jogo
incerto das metáforas e derivas; no momento em que o apaixonado diz que está
morrendo de amor, ela reage ofendida, entendendo-se igualada a uma cólica mortal. A
literalidade com a qual Remédios lida com o discurso mostra que palavras e coisas não
estão separadas. O motivo que poderá causar a morte do comandante da guarda deverá
obedecer às leis conhecidas sobre causas de morte. Morre-se de cólica miserere, não de
amor.
Para a família, Remédios era retardada e sofria de problemas mentais. Mas o
coronel Aureliano, que não era psicanalista nem médico, dizia ser ela a criatura mais
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
108
lúcida que já conhecera, apenas parecia retornar de vinte anos de guerra. De tão bela
que era, os homens morriam de amor. Um dia ascendeu aos céus.
FREUD, S. Edição Eletrônica Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, versão 2.0. Rio de Janeiro: Imago, 2000. GARCIA Marques, Gabriel. Cem anos de solidão 48ª ed. Rio de Janeiro. Record, 2000 LACAN, J.- "O estádio do espelho como formador da função do eu." in Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,1998. LACAN, J. Seminário 5 - As Formações do Inconsciente, Rio de janeiro J Zahar, 1994. SOUZA LEITE, Marcio Peter, Psicanálise lacaniana, Cinco seminários para analistas klenianos. São Paulo. Iluminuras, p.157-158. 2000 VIAL, André. Le lignage clandestin de Maupassant conteur fantastique. Revue d’Histoire Littéraire de la France, n. 6, nov.-déc. 1973. p. 993-1009.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
109
DEMANDAS DE ORFEU NA POESIA BRASILEIRA MODERNO-
CONTEMPORÂNEA
Antônio Donizeti Pires*
RESUMO
O artigo dá prosseguimento à pesquisa que desenvolvo sobre a presença de Orfeu e do orfismo na poesia brasileira moderno-contemporânea. Além da caracterização do problema em nossa lírica mais recente e da reflexão acerca do dúbio conceito de orfismo (que pode englobar tanto manifestações místico-religiosas e filosóficas, quanto aquelas estritamente mitopoéticas), pretende-se privilegiar a análise pontual de textos. Para o momento, deter-me-ei em poemas de Haroldo de Campos e de Ruy Espinheira Filho publicados na década de 1970: estes, conquanto refaçam a catábase de Orfeu, despem-na da aura de maravilhoso que a acompanha. Como se sabe, o maravilhoso e a metamorfose, por sua essência analógica, são as bases gerais de qualquer mitologia. Assim, a recusa do maravilhoso, em ambos os poemas, evidencia a degradação do mito no tempo presente, mas também enfatiza a especial metamorfose a que ele está sujeito na reiterada escritura de que é alvo na contemporaneidade, quando adquire novos atributos e novos significados. PALAVRAS-CHAVE: Poesia brasileira contemporânea; Orfeu e orfismo; Mitologia; Maravilhoso; Metamorfose.
O primeiro Orfeu e suas metamorfoses
O “célebre Orfeu” é dos mais enigmáticos de todos os mitos do panteão grego. A
começar por seu próprio nome, que Salomon Reinach, no começo do século XX, liga ao
adjetivo grego orphnos, “[...] que significa obscuro.” (BRUNEL, 2005, p.766). Pierre
Brunel, no verbete que escreve sobre Orfeu para o Dicionário de mitos literários,
também enfatiza que o mito é por demais complicado, “[...] pois é um feixe de
contradições.” (p.766). Tal “feixe de contradições” parece advir “[...] das representações
multifárias de Orfeu como poeta, músico, amante, herói, teólogo, adivinho, filósofo.”
(GAZZINELLI, 2007, p.32), conforme postula Gabriela Guimarães Gazzinelli em
Fragmentos órficos.
Segundo os manuais de Mitologia (como o de Gama Kury, 1990), Orfeu, filho
da musa Calíope e do rei trácio Éagro (ou filho de Apolo e de Calíope, em algumas
* Professor assistente doutor na FCL-UNESP/Araraquara, na área de Literatura Brasileira.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
110
versões), é o mais famoso e importante poeta lendário da Grécia*, cujo panteão inclui
ainda Tâmiris, Museu, Lino, Aríon, Anfíon. O supremo canto de Orfeu (música e
palavra) fazia com que os elementos da natureza, as feras e os homens parassem para
ouvi-lo, seduzidos pelo divino dom do belo rapaz. Este aspecto mais geral completa-se
com os quatro mitemas** fundamentais que perfazem o ciclo mítico*** de Orfeu: a) a
viagem ao lado dos Argonautas em busca do Velocino de Ouro, quando sua função é
tanger a lira e cantar a fim de afastar as muitas ameaças da empreitada; b) o casamento
infeliz com a ninfa Eurídice, pois esta, vitimada por uma serpente, logo lhe é usurpada
pela morte; c) em decorrência, a catábase de Orfeu ao Hades, aonde vai para tentar
reaver a esposa do mundo dos mortos: de fato, através da beleza de seu canto Orfeu
consegue comover e demover os deuses infernais, Hades e Perséfone, que lhe devolvem
a amada com a condição de que não olhe para trás (mas o poeta infringe o interdito,
Eurídice desaparece nas trevas para sempre – a segunda morte de Eurídice, tão cantada
pelos poetas – e Orfeu volta a terra desolado); d) finalmente, a própria morte do vate,
estraçalhado pelas enciumadas bacantes da Trácia (a versão mais difundida).
Dos quatro mitemas, o primeiro (épico) foi tema e motivo de várias epopeias,
como as anônimas Argonáuticas órficas e os poemas de Apolônio de Rodes ou de
Valério Flaco; os outros três mitemas (mais líricos e dramáticos) nos legaram, desde o
período helenístico grego, mas sobretudo a partir da obra dos poetas latinos Ovídio e
Virgílio, uma pletora de poemas líricos, poemas dramáticos, dramas, tragédias,
tragicomédias, comédias, contos, romances, óperas, pinturas, mosaicos, esculturas,
filmes, histórias em quadrinhos...
Em sua estrutura, na verdade, os quatro mitemas (de permeio com os gêneros e
subgêneros literários que sustentam) já revelam as várias metamorfoses de Orfeu, as
* Jacyntho José Lins Brandão (1990, p.26) afirma que a fonte mais antiga a referir-se a Orfeu é o poeta Íbico de Regió (séc. VI a.C.), “[...] o qual fala do onomaklytòn Orphén (fr.26, Adrados), isto é, do ‘renomado Orfeu’.” Consultar: BRANDÃO, J. J. L. O orfismo no mundo helenístico. In: CARVALHO, S. M. S. (Org.). Orfeu, orfismo e viagens a mundos paralelos. São Paulo: UNESP, 1990. p.25-34.
** Utilizo o conceito “mitema” para indicar cada um dos episódios que compõem o relato mítico. No caso de Orfeu, talvez o fundamental seja o terceiro (a descida do poeta ao Hades), mas o mito seria incompreensível sem a consideração dos outros três.
*** A expressão “ciclo mítico” é inspirada em Pierre Grimal, que utiliza as variações “ciclo dos olimpianos” e “ciclos heroicos”: nestes, estuda os heróis exemplares Hércules, Ulisses, Teseu e Jasão, mas não Orfeu, que é apenas referido como o companheiro cantor dos Argonautas (GRIMAL, 1983, p.68 e p.71). Consultar: GRIMAL, P. A mitologia grega. São Paulo: Brasiliense, 1983. p.42-96.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
111
quais florescem em temporalidades e espaços descontínuos e são exemplares do que a
teoria da Literatura Comparada de extração alemã considera sob a rubrica “migrações”,
ou seja, os mitos, temas, motivos, tópicos e personagens históricos que viajam de uma
literatura a outra, ou destas para a oral, ou, no caso presente, da mitologia para a
literatura. Porém, atente-se para o fato de que Orfeu não é, absolutamente, um novo
Proteu capaz de se transformar no que quisesse, ou um personagem imbuído de poderes
mágicos, ou o sapo-príncipe de um conto maravilhoso qualquer. Ao contrário: seus
atributos essenciais indicam que se tem aqui um tipo muito específico de metamorfose
simbólica, que ultrapassa as aparências e o significado imediato das transformações
físicas para nos remeter a questões atemporais, das origens míticas para a fundação da
cultura humana: Orfeu protótipo do poeta lírico; Orfeu amante fiel e incondicional;
Orfeu civilizador; Orfeu domador da natureza rebelde. Acrescente-se a isto o fato de
Orfeu ter sido assimilado, nos primeiros tempos de nossa era, à figura de Jesus Cristo,
este partilhando com aquele o atributo do Bom Pastor, além de outras relações que os
antigos e recentes estudos sobre Orfismo e Cristianismo têm acentuado*.
Por um lado, tais metamorfoses do mito aparecem diferentemente nesta ou
naquela literatura, deste ou daquele período histórico e estético: por exemplo, são muito
diferentes entre si o Orfeu que surge na poesia medieval francesa, ou o Orfeu da
comédia espanhola do Século de Ouro, ou o Orfeu moderno, explorado a partir do
Romantismo-Simbolismo, ou o Orfeu ainda mais complexo que se tem na obra
vanguardista de um artista “multimídia” como Jean Cocteau. Por outra via, tal
infindável reescritura moderna do mito, sempre dotando-o de características peculiares a
dada cultura (a tragédia carioca de Vinicius de Moraes, Orfeu da Conceição), e a
exploração do mito como estrutura sintática e semântica de determinada obra artística
* Além do Orfismo mítico-poético, voltado essencialmente para a tematização literária do ciclo mítico de Orfeu, pode-se considerar que há um Orfismo místico-religioso, pois, de acordo com a tradição, Orfeu teria sido fundador do culto de mistérios que leva seu nome. Prática ritual, secreta e iniciática, sob a presidência cultual dos dois Dionisos, o Orfismo adotava uma Teogonia e uma Cosmogonia próprias, e diferia do culto de Elêusis por ter deixado uma considerável tradição escrita e intelectual. Dentre seus preceitos mais conhecidos estão a crença na origem divina do ser humano e na metempsicose; a adoção de regras rígidas de conduta (o vegetarianismo, o culto da natureza e a proibição de derramamento de sangue); a prática de rituais de iniciação e de purificação; os estudos e conselhos para o post mortem (por isso os iniciados eram sepultados com tabuinhas ou lâminas de osso e/ou de ouro contendo fórmulas especiais que lhes ensinavam o caminho para o reino da Bem-Aventurança). Deslindar os limites entre um e outro orfismo é quase impossível, pois os crentes de Orfeu compuseram várias obras de devoção e/ou literárias atribuídas ao vate lendário, como os Hinos órficos e as Argonáuticas órficas, além de lapidários e textos esparsos.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
112
(literária ou não), estariam a revelar a “mitologização” da literatura (e da arte) que E. M.
Mielietinski (1976, p.327-441) estuda na terceira parte, sobretudo, de A poética do mito.
Frise-se, como reconhece Mielietinski, que a busca de tal “mitologização” (e de
tal infindável reescritura moderna do mito) já é patente em “Discurso sobre a mitologia”
(1800), em que F. Schlegel discorre sobre a criação de uma nova, moderna, romântica e
progressiva mitologia para o nosso tempo. Concebendo a poesia e a mitologia como
“unas e inseparáveis” (SCHLEGEL, 1994, p.51), o poeta-pensador crê que a nova
mitologia deve nascer da justa combinação do Idealismo, da Natureza e do Espírito
profundo do inspirado poeta romântico: tais matrizes, além da mitologia grega sobre a
qual tanto se debruçaram, receberiam outras tradições, a judaico-cristã, a germânica, a
celta, a oriental. Esta nova mitologia, em palavras de Schlegel, “[...] terá de ser a mais
artificial de todas as obras de arte, pois deve abarcar todo o resto, um novo leito e
recipiente para a velha e eterna fonte primordial da poesia [...]” (p.51). Adiante,
Schlegel considera que a mitologia é “[...] uma expressão hieroglífica da natureza [...]”
(p.54) e uma “[...] obra de arte da natureza.” (p.55), aqui evidenciando os processos de
metamorfose que o relato mítico por certo mimetizou das transformações naturais a que
animais e plantas estão sujeitos: “O mais elevado é de fato configurado em seu tecido;
tudo é relação e metamorfose, formado e reformado, e estes formar e transformar são
seu procedimento característico, sua vida interna, seu método, por assim dizer.” (p.55).
Este processo estrutural da mitologia assemelha-se ao dinamismo criativo e fantasista da
poesia romântica, apoiada em certo pendular irônico e analógico, reflexivo e ao mesmo
tempo caótico – por isso a busca, por Schlegel, de um novo tipo de linguagem (um novo
tipo de “realismo”, de origem idealista), que “[...] se manifeste como poesia, uma poesia
amparada justamente na harmonia do real e do ideal.” (p.53).
Enfim, à nova mitologia moderna não devem ser estranhos os antigos mistérios
órficos, pois é através deles que se aprende “[...] a compreender o sentido dos antigos
deuses.” (p.59). Esta última passagem é de suma importância porque tangencia duas
questões que são caras a esta pesquisa: a) em primeiro lugar, corrobora que é a partir do
Romantismo, e depois no Simbolismo, que começa a germinar um pensamento novo,
mais efetivamente órfico, a respeito de poesia e poeta, concebendo este como demiurgo,
profeta, vate, vidente, tradutor, eleito e/ou iniciado – embora este novo pensamento
poético órfico, sempre lembrado e pouco estudado, ainda esteja por ser sistematizado,
inclusive em poetas declaradamente órficos como Fernando Pessoa ou Murilo Mendes;
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
113
b) em segundo lugar (por certo em decorrência da primeira assertiva), dá-se, a partir do
Romantismo-Simbolismo, nova dimensão artística ao mito de Orfeu, cuja compreensão
agora ultrapassa o descritivismo simples e estático do relato mítico – conforme a obra
dos dois poetas citados (Pessoa e Mendes) deixa entrever. Com isso, vê-se que Orfeu (e
as metamorfoses de Orfeu), talvez o mais profícuo e longevo de todos os mitos gregos,
passa a ser a justa medida da modernidade crítica e autocrítica, irônica e analógica,
fragmentada e proteiforme.
Primeira demanda de Orfeu: Haroldo de Campos
O ciclo mítico de Orfeu, embora recorrente em nossa poesia desde a Colônia,
atinge inusitada voga no Brasil a partir dos anos 40/50 do século XX, motivada talvez
pela maior divulgação dos poetas Fernando Pessoa e Rainer Maria Rilke entre nós. Não
cabe, neste momento, a cartografia do mito de Orfeu nos vários períodos estéticos de
nossa literatura, nem seria proveitoso um catálogo completo de todos os tipos tomados
pelo mito no sistema literário brasileiro, conquanto se deva mencionar, na linha que
vimos trilhando, que muito difere o Orfeu pastor árcade de nosso Setecentismo daquele
degradado Orfeu poeta moderno, forjado, entre outros, por um Murilo Mendes. E muito
diferem, na segunda metade do século XX, os dois exemplos colhidos para esta ocasião,
escritos por poetas tão díspares entre si como Haroldo de Campos (1929-2003) e Ruy
Espinheira Filho (n.1942).
O primeiro, ligado à vanguarda concretista, claramente a ultrapassa pelas obras
de teor neobarroco Galáxias e A máquina do mundo repensada, por exemplo, ambas
alicerçadas pela exuberância de linguagem e pelo rigor construtivo, cerebral e erudito
que sempre caracterizou o poeta paulista. O poema em apreço, “Orfeu e o discípulo”,
foi escrito em 1952 e publicado em Xadrez de estrelas: percurso textual 1949-1974
(1976), compondo com outros cinco poemas (“fábula primeira”, 1951; “teoria e prática
do poema”, 1952; “claustrofobia”, 1952; “a naja vertebral”, 1953; e “a invencível
armada”, 1955) a série pré-concretista “as disciplinas”. De um dos poemas da série,
“teoria e prática do poema”, o próprio Haroldo de Campos aduz, em Depoimentos de
oficina (CAMPOS, 2002, p.25), que se trata de “Um verdadeiro manifesto da estética
neobarroca que na época começava a ganhar corpo em minha poesia [...]”, enquanto a
crítica enfatiza a pesquisa de linguagem, a conexão órfica e certo caráter de passagem a
permear a série “as disciplinas”: entre outros, Andrés Sánchez Robayna reconhece que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
114
Xadrez de estrelas é uma espécie de “[...] trajeto órfico na linguagem [...]” (SÁNCHEZ
ROBAYNA apud CAMPOS, 1979, p.127), empreendido pelo poeta, e não meramente
uma “[...] summa indiferenciada de poemas [...]” (p.127; grifo do autor). Por seu turno,
a série “as disciplinas” rompe com “[...] a disposição versicular tradicional [...]” (p.131)
e abre-se para experiências tais a “[...] dicção telegráfica e polilíngue [...] [o] uso da
palavra-montagem [...]” (p.131), o aproveitamento dos espaços em branco da página,
dos vários sinais tipográficos, da caixa alta ou da iconicidade (caso de “a naja
vertebral”), a fim de explorar uma nova disposição visual e significativa. Tais processos
conscientes de construção e significação evidenciam o “Orfeu dessacralizado” (NUNES
apud CAMPOS, 1979, p.144) com que Benedito Nunes, na resenha a Xadrez de
estrelas, qualifica Haroldo de Campos, um Orfeu que então “[...] sobe dos ínferos da
linguagem à superfície da folha em branco, para reger o jogo tenso das novas conexões
verbais [...]” (p.144) e verbivocovisuais da polifonia poética que se instaura. Por isto,
como quer João Alexandre Barbosa no prefácio ao mesmo livro, a reiteração do poeta
Haroldo de Campos como um “cosmonauta do significante”, cuja viagem pressupõe
também uma relação sui generis com a tradição (as tradições), a crítica e a tradução de
poesia.
Tal viagem de descida aos infernos e de volta à luz (a catábase e a anábase de
Orfeu) está ressaltada no metapoema “Orfeu e o discípulo”, que além de reconhecer o
poeta lendário como “Mestre do Jogo” e “Mestre da Partida” (CAMPOS, 1976, p.59-
60), evidencia um eu-lírico predisposto a seguir os passos do Mestre: “com tochas de
resina / penetro Teus Umbrais / e incendeio o caminho” (p.59). Com esta atitude
metafórica, de iluminação pelo poema novo que constrói, a voz poética perfaz
nitidamente os três últimos mitemas com que se caracteriza o ciclo mítico de Orfeu,
pois “começas o jogo por onde ele termina” (p.59). Assim, enquanto Eurídice é
qualificada de “invenção do Meio-Dia” (p.59), que cativa Orfeu, ele é “Sol escondido /
faisão noturno correndo os paços de ametista / AVE LIRA” (p.59), envolto em
escuridão difusa e sob a proteção do “Monosceros lunar” e do “Licorne” (p.59) porque
empreende a descida aos Infernos: “ORFEU / gêmeo do Sol / descendo / à oposta
região” (p.60). Durante a descida, o canto de Orfeu aplaca penas e sofrimentos e
“comove os deuses da descida / Eurídice e de passagem / princesas / de terra-cota e
coração sulfúreo” (p.60). A amada lhe é restituída, porém logo “voltou à região
adormecida” (p.60) por razões que o poema não esclarece, mas que na lenda se refere à
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
115
desobediência de Orfeu ao interdito de Hades e Perséfone de não olhar para trás durante
o trajeto de volta à claridade. Enfim, Orfeu retorna à superfície e a voz lírica novamente
o qualifica de “Mestre do Jogo” (p.61), incitando-o a retomar “Teu domínio” (p.61). A
admoestação é inútil, pois mesmo tendo recuperado o sol e a luz (seus elementos
naturais e conaturais ao poema), tem-se agora a morte violenta de Orfeu pelas mãos das
enciumadas bacantes da Trácia: “Faisão noturno frente ao Sol / Cabeça / decepada /
Cântaro / que o azul não torna mais repleto” (p.61).
O poema “Orfeu e o discípulo” parece inaugurar aquela vocação muito
específica de Haroldo de Campos de voltar sempre ao tema (ao tópico) da descida aos
infernos, pois além deste (talvez mais lírico), encontram-se diversos outros exemplos
(talvez mais épicos, mas por certo pós-utópicos) na obra do poeta, entre os quais os
conhecidos: “Esboços para uma Nékuia” (de Signância quase céu, 1979), em que se
inverte o percurso dantesco; ou “finismundo: a última viagem” (republicado em
Crisantempo, 1998), cuja primeira parte, dedicada à ultrapassagem do último limite
pelo astuto Odisseu, zomba (na segunda parte) do limitado homem contemporâneo,
vigiado por semáforos, viciado no “acaso computadorizado” (CAMPOS, 1998, p.59) e à
espera de “Um postal do Éden” (p.59). Controlado pelas sirenes cotidianas (e sem
notícia de sereias), este pobre homem é incapaz do “fogo prometeico” (p.59),
contentando-se com a chama rápida da “cabeça de um fósforo” (p.59). Ambas as
imagens evidenciam o abismo que separa o homem comum, “Lúcifer / portátil” (p.59),
do poeta-demiurgo, este sim capaz do “fogo prometeico” e, em consonância com o
poema de 1952, capaz de novamente acendê-lo e incendiar o caminho, a vida e a arte no
ponto preciso em que o jogo foi interrompido por Orfeu: não é preciso insistir que a
dupla metáfora, do fogo/luz/incêndio, e do jogo/partida, está a ressaltar, na prática e no
pensamento poético de Haroldo de Campos, a plena consciência crítico-construtiva,
lúcida e racional, que deve nortear o trabalho do poeta com a linguagem.
Segunda demanda de Orfeu: Ruy Espinheira Filho
Ruy Espinheira Filho é poeta reconhecido da Geração 60 (ele está presente na
antologia de Pedro Lyra e na de Álvaro Alves de Faria), e é tido por Alexei Bueno (em
sua Uma história da poesia brasileira) como “poeta da memória” (BUENO, 2007,
p.392), em cujo trabalho ressaltam temas ligados à “meditação ontológica”, à
constatação do “caráter inapreensível do [...] próprio ser” e à consciência da
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
116
“impermanência universal” (p.392). Outro poeta-crítico, Ivan Junqueira, também
ressalta o apreço de Espinheira Filho pela memória e pela infância (a infância real, do
poeta, mas também certa “infância mítica”), decerto por causa de sua “[...] obsessiva e
confessa evocação do pretérito [...]” (JUNQUEIRA, 1987, p.181). Porém, o mesmo
Junqueira explica tal recorrência: “Não seria correto afirmar que Ruy Espinheira
mantém os olhos voltados para o passado, mas convém deixar claro que sua matéria
primordial é a memória, uma memória que se resgata enquanto tempo presente porque
tem a iluminá-la uma flama anterior.” (p.184). Este “tempo presente” (a “proustiana
memória involuntária”, reconhece Junqueira) e esta “flama anterior” (que Junqueira,
entre aspas, considera “l’intelligence du coeur”) levam, a meu ver, com que ambos
(Bueno e Junqueira) evidenciem os vínculos de Espinheira Filho com a atualidade e a
realidade mais comezinha, tendo ele chegado, por exemplo, a compor poemas de
protesto à ditadura militar (“Marinha”, de Heléboro, 1974, é dos mais conhecidos e
admirados). Outro aspecto enfatizado pelos dois cariocas é o trabalho do poeta baiano
com a linguagem, ao qual Junqueira não poupa elogios (ele refere-se ao segundo livro
do autor, Julgado do vento, 1979, de onde foi extraído o poema “Eurídice, Orfeu”):
Trabalhando de preferência o metro curto, Ruy Espinheira nos dá uma lição quase exemplar de como conter e aguçar o seu discurso, cujo ritmo jamais se esgarça ou tropeça. Também sua linguagem (não raro, metalinguagem) revela invulgar apuro formal, além de uma intermitente floração criativa. O autor desenvolve um estilo de extrema sobriedade e eficácia, o que não lhe expurga do verso nem o ludismo nem a modulação cromática. (JUNQUEIRA, 1987, p.180).
Veja-se, entretanto, que o trabalho de Espinheira Filho com a linguagem está
muito distante do cerebralismo, do esteticismo e da lucidez racional que vincaram a
geração anterior à sua. Em Brasil 2000: antologia de poesia contemporânea brasileira
(organizada por Álvaro Alves de Faria e publicada em Portugal), o baiano afirma:
Poesia, para mim, é vida. Não uma mera habilidade: é uma voz profunda, que sobe dos nossos abismos. Na verdade, o ser humano é um habitante do abismo – sua própria natureza. E é dessa natureza que ele fala através da poesia, ou de qualquer arte. Então a poesia é uma voz que fala de nós – ou melhor: nos fala. Fala do que somos. Porque somos essa voz. Por isso, todos os formalismos são sufocantes – e mais: são a anti-arte. Técnicas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
117
meramente intelectuais, distantes das vozes do abismo. (ESPINHEIRA FILHO apud FARIA, 2000, p.6).
O posicionamento do poeta, 10 anos antes, já era claro no ciclo “Artes e ofícios
da poesia” (1990), conforme se lê no depoimento “Além da felicidade formal”, que ele
fez publicar no livro decorrente do evento. No texto, o autor afirma que considera a
poesia muito mais “[...] do que jogo, do que truque, do que prestidigitação.”
(ESPINHEIRA FILHO apud MASSI, 1991, p.296), pois concebe “[...] a técnica como
meio – não como fim.” (p.300). Em outros momentos, constata-se a contundência do
depoimento (na verdade, este vale por um manifesto das posições estéticas da Geração
60, equidistante tanto do Concretismo quanto da chamada poesia marginal):
Não nos trancamos em assépticos laboratórios para elaborar – e depois impingir ao público –, com doses de astúcia e erudição, logogrifos e logomaquias
[...] a poesia é, para nós, algo bem acima da mera inteligência
organizada. Assim, não a confundimos com os enganosos frutos de habilidades ou cacoetes de grupos e movimentos, por mais que soframos sob as ditaduras que se sucedem – e às vezes duram décadas – na República das Letras.
[...] E ele se afastou – o público, o leitor –, pois havia sido
proscrito [da poesia] aquilo que ele buscava: a emoção. Havia sido proscrita, portanto, a essência da poesia. [...]
É obvio que a ‘pesquisa estética’ tem que existir – e cada vez mais e com maior empenho, que é exatamente o que espera o mundo de infinitas possibilidades. Se questiono algumas dessas ‘pesquisas’ é porque estou tentando me situar no processo literário – e os que se encontram, como eu, numa certa vertente se preocupam com o empobrecimento emocional da poesia e a crescente produção de ‘peças’ oriundas de urdiduras meramente intelectuais, nas quais encontramos muito trabalho de torno, lixa, verniz e pintura – e nada, ou quase nada, da condição humana. Fábricas de bibelôs, flores de plástico e manequins, é o que nos parecem certas ‘estéticas’. [...] Por outro lado, se não aceitamos a frieza e a secura – apenas ossário, às vezes – de uns, também rejeitamos energicamente o desleixo, a frouxidão, o esparrame pueril e poeticamente indigente que assolou o país nos anos 70 e 80 – e que é apenas a outra face da mesma falsa moeda. (p.297-299; grifos e aspas do autor).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
118
Demorei-me, na citação/apresentação do poeta Ruy Espinheira Filho, porque seu
trabalho (e, em geral, o de sua Geração 60) é bem menos re-conhecido do que o de
Haroldo de Campos e seus pares concretistas. No caso do baiano, seu poema “Eurídice,
Orfeu” (em Julgado do vento, 1979) aparece publicado apenas três anos depois do texto
pré-concretista de Haroldo de Campos (que é de 1952, como já se disse, mas só foi
publicado em 1976, em Xadrez de estrelas). A reiterada leitura de “Eurídice, Orfeu”
parece não deslindar o sutil hermetismo que vinca a composição, a qual evidencia ainda
alguns aspectos (formais e de construção, mas também de expressão) caros ao autor,
sejam aqueles apontados pela crítica, sejam estes afirmados e reiterados no depoimento
de 1991. O título do poema, “Eurídice, Orfeu”, ao deslocar para primeiro plano o nome
da amada, já causa certa estranheza, pois não é habitual, na tradição lírica, que a ninfa
Eurídice tenha primazia na dolorosa relação de amor que vivenciou com Orfeu.
Ademais, a própria figura de Eurídice, no decorrer das cinco partes do poema, é
gradativamente cumulada de atributos e de complexidades que faltam, tradicionalmente,
à ninfa amorosa:
1 Por este frio Desce Orfeu novamente ao país de Eurídice,
que rege o coral do chamado. Eurídice, a de tantos corpos e nomes harmonizando-se numa só ternura, doce chaga cintilando no peito de Orfeu, que desliza no rumo dessa voz múltipla, [...] 4 Rumo a Eurídice, Orfeu. A uma Eurídice: essa que chama no frio [...]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
119
Uma Eurídice, essa menina num jardim de flores pobres, pobres arbustos trêmulos de frio que sopra os cabelos de Eurídice, essa sorrindo no princípio do mundo para Orfeu. Que é ele mesmo e outro, [...] 5 Eurídice, vária e às vezes não humana, dispersa por onde passou Orfeu e por onde nunca para de passar; Eurídice, por cuja voz desce Orfeu aos mil fragmentos de si; Eurídice, o perdido e para sempre vivo, possuído/possuidor; Eurídice não cessa nunca de lançar seu amavio ao peito imbele de Orfeu, onde ela cintila em toda parte e instante do seu inferno azul. (ESPINHEIRA FILHO, 1996, p.20-24).
Uma Eurídice, pois, una e múltipla, humana e fantasmática, celeste e demoníaca,
presente e ausente, amada e musa, mulher e feiticeira, que se equipara, inclusive, ao
próprio Orfeu, “possuído/possuidor”, na sua dubiedade essencial (conforme a terceira
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
120
parte do poema): “Vertiginoso, Orfeu / a si mesmo (re)compõe / inteiro, portanto /
vário, / ele-mesmo, diverso / e idêntico, / morto e vivo num / só tempo e homem.”
(p.22). Dir-se-ia que o poema (para além de repisar/reprisar o ciclo mítico de Orfeu),
valoriza e tematiza, principalmente, o amor doloroso e infeliz vivido pelo casal
prototípico, que estaria a prefigurar, no relato mítico, o “amar amaro” que todo casal
humano estaria fadado a vivenciar: a descida ao Hades, portanto, seria uma metáfora
para a queda no inferno da paixão amorosa, queda a que estão sujeitos homens e
mulheres em sua condição ambígua e contraditória. Por outro lado, a inusitada
proeminência de Eurídice, na composição, como que a aproxima daquelas figuras
femininas que encontramos amiúde na poesia madura de Murilo Mendes e Jorge de
Lima (penso em Mira-Celi, dúbia Eurídice tão ardentemente buscada pelo poeta),
figuras estas que contêm em si a mulher de carne e osso e o enigmático “eterno
feminino”, a musa e a santa, a fada e a bruxa, a mãe e a prostituta, a amiga e a irmã, a
amada e a amante.
À guisa de conclusão, diga-se que cada um dos poemas, o de Haroldo de
Campos e o de Ruy Espinheira Filho, naturalmente se congraçam à estética abraçada
pelos poetas, respectivamente a concretista e a demanda sincrética da Geração 60.
Enquanto o primeiro é mais explicitamente metapoético e mais rigorosamente cerebral,
perfazendo os três mitemas fundamentais do ciclo mítico de Orfeu (o amor por
Eurídice; a descida ao Hades; a morte do vate pelas bacantes), o segundo atém-se à
relação amorosa vivenciada pelo casal prototípico, como relato exemplar para homens e
mulheres, ao mesmo tempo em que evidencia a mulher Eurídice: com isto, torna-se
implicitamente metapoético, pois a complexa Eurídice que delineia também pode ser
metáfora de Poesia, a misteriosa Dama Branca que assola alguns homens privilegiados.
Enfim, não se pode dizer que os dois poemas tenham qualquer ligação com os
postulados do que chamei Orfismo místico-religioso (como reconheceríamos no
trabalho de Murilo Mendes ou de Dora Ferreira da Silva), mas tão-somente como
exemplos dos modos por que Orfeu e seu ciclo mítico, ao lado de Eurídice, têm
fecundado a poesia brasileira da segunda metade do século XX.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
121
REFERÊNCIAS
BARBOSA, J. A. Um cosmonauta do significante: navegar é preciso. In: CAMPOS, H. de. Signantia quasi coelum. Signância quase céu. São Paulo: Perspectiva, 1979 (Signos, 7). p.11-24.
BRANDÃO, J. J. L. O orfismo no mundo helenístico. In: CARVALHO, S. M. S. (Org.). Orfeu, orfismo e viagens a mundos paralelos. São Paulo: UNESP, 1990. p.25-34.
BRUNEL, P. (Org.). Dicionário de mitos literários. 4.ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2005.
BUENO, A. Uma história da poesia brasileira. Rio de Janeiro: G. Ermakoff, 2007.
CAMPOS, H. de. Depoimentos de oficina. São Paulo: UNIMARCO, 2002.
______. finismundo: a última viagem. In:______. Crisantempo: no espaço curvo nasce um. São Paulo: Perspectiva, 1998 (Signos, 24). p.53-60.
______. Esboços para uma Nékuia. In:______. Signantia quasi coelum. Signância quase céu. São Paulo: Perspectiva, 1979 (Signos, 7). p.63-111.
______. as disciplinas. In:______. Xadrez de estrelas: percurso textual 1949-1974. São Paulo: Perspectiva, 1976 (Signos, 4). p.52-68.
ESPINHEIRA FILHO, R. Antologia poética. Salvador: Casa de Jorge Amado, 1996.
______. Além da felicidade formal. In: MASSI, A. (Org.). Artes e ofícios da poesia. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura; Porto Alegre: Artes e ofícios, 1991. p.291-305.
FARIA, Á. A. de. (Org.). Brasil 2000: antologia de poesia contemporânea brasileira. Coimbra: Alma Azul, 2000.
GAZZINELLI, G. G. (Org. e trad.). Fragmentos órficos. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
GRIMAL, P. A mitologia grega. São Paulo: Brasiliense, 1983.
JUNQUEIRA, I. Sombras luminosas. In:______. O encantador de serpentes. Rio de Janeiro: Alhambra, 1987. p.180-184.
KURY, M. da G. Dicionário de mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990.
LYRA, P. (Org.). Sincretismo: a poesia da Geração 60 – Introdução e antologia. Assessoria de Verônica Aragão. Rio de Janeiro: Topbooks/Fundação RioArte; Fortaleza: Fundação Cultural de Fortaleza, 1995.
MIELIETINSKI, E. M. A poética do mito. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987.
NUNES, B. Xadrez de estrelas Percurso textual, 1949-74. In: CAMPOS, H. de. Signantia quasi coelum. Signância quase céu. São Paulo: Perspectiva, 1979 (Signos, 7). p.143-145.
[ORFEU]. Argonáuticas órficas. Himnos órficos. Introducciones, traducciones y notas de Miguel Periago Lorente. Madrid: Gredos, 1987. p.63-247 (Biblioteca Clásica Gredos, 104).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
122
SÁNCHEZ ROBAYNA, A. A micrologia da elusão. In: CAMPOS, H. de. Signantia quasi coelum. Signância quase céu. São Paulo: Perspectiva, 1979 (Signos, 7). p.127-141.
SCHLEGEL, F. Discurso sobre a mitologia. In:______. Conversa sobre a poesia e outros fragmentos. Tradução, prefácio e notas de Victor-Pierre Stirnimann. São Paulo: Iluminuras, 1994. p.50-61.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
123
INSÓLITO E CRÍTICA SOCIAL EM “OS CAVALOS BRANCOS DE NAPOLEÃO”, DE CAIO FERNANDO ABREU
Arnaldo Franco Junior∗
RESUMO
Neste trabalho, analisamos a relação entre a incorporação do insólito de feição fantástica e a crítica social no conto “Os cavalos brancos de Napoleão”, de Caio Fernando Abreu. No conto, cavalos brancos se materializam diante de um advogado de sucesso, desestruturando a sua rotina de vida, avaliada como normalidade sustentada à custa de alienação, violência e assujeitamento humano. PALAVRAS-CHAVE: Caio Fernando Abreu; Crítica Social; Fantástico; Insólito.
Analisaremos, aqui, o conto “Os cavalos brancos de Napoleão”, de Caio Fernando
Abreu, abordando o que se caracteriza como um flerte do escritor com o gênero
fantástico, em alta junto à crítica e ao mercado editorial nos anos 70 do séc. XX em
razão do chamado boom da literatura latino-americana, marcado pelo realismo mágico
que projetou autores como Gabriel García Marques, Carlos Fuentes e Julio Cortázar,
entre outros, no cenário literário mundial. O conto integra o livro Inventário do
irremediável, publicado em 1970, período em que o Brasil sofreu os revezes da
repressão política e da censura às artes e à imprensa instaladas a partir do golpe de
estado de 1964, que impôs uma ditadura militar ao país.
Na primeira fase de sua carreira, Abreu se aproxima do gênero fantástico para, por
um lado, enfrentar um contexto político avesso à liberdade de expressão que lhe impôs,
como a outros artistas, o desafio de encontrar meios para burlar a mutilação de suas
∗ Doutor em Literatura Brasileira (FFLCH-USP), Professor Assistente-Doutor no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da UNESP/São José do Rio Preto na área de Teoria da Literatura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
124
obras e, por outro lado, para articular as experimentações de escrita características de
escritor iniciante com uma inserção no sistema literário calcada numa percepção do
valor de crítica e de mercado atribuídos, no período, ao fantástico e aos escritores que o
cultivaram sob a forma de realismo-mágico para representar uma América Latina
historicamente marcada por exploração e violência, profundas desigualdades sociais e
uma sucessão de ditaduras, que criam uma realidade permeada pelo absurdo.
A inusitada aparição de cavalos brancos que transtornam a vida de um advogado
bem sucedido é um exemplo do insólito tomado como matéria de escrita. A opção pelo
fantástico respondia, para além do diálogo de Abreu com uma das linhas dominantes da
produção literária do período, a razões de força maior características do contexto social
e político do Brasil sob a ditadura militar.
O conto “Os cavalos brancos de Napoleão” vale-se do insólito, de feição fantástica
e/ou estranha, para produzir uma crítica social à ordem dominante e seus valores a partir
do destino funesto de seu personagem protagonista. O critério de escolha associa a ideia
de “vacilação do leitor e do herói” (TODOROV, 1981, p. 19) quanto a um
acontecimento inusitado* à direção dessa vacilação: um acabamento de sentido buscado
pelo leitor no percurso de sua leitura e o destino final daquela que é, em última análise,
a personagem central desse conto: a morte. Uma característica própria da manifestação
do insólito no conto é a de que ele estabelece uma crise que cinde a rotina da vida
* Segundo Todorov, o fantástico é definido pelas relações que mantém com o real e o imaginário: “O fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural.” (TODOROV, 1981, p. 15-16). Entretanto, a manifestação do fantástico é, segundo o autor, evanescente, encaminhando-se, a partir do texto e/ou da recepção que dele faz o leitor, para o estranho e o maravilhoso, gêneros que lhe são afins. O que define a distinção entre o fantástico e o estranho é a redução do dado inexplicável, vital para o fantástico, a dado passível de alegorização ou explicação racional: “O fantástico implica pois não só a existência de um acontecimento estranho, que provoca uma vacilação no leitor e no herói, mas também uma maneira de ler, que no momento podemos definir em termos negativos: não deve ser nem ‘poética’ nem ‘alegórica’” (TODOROV, 1981, p. 19).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
125
integrada à ordem e aos valores dominantes para criticar essa mesma ordem. Alienações
e violências tornadas invisíveis, por efeito de uma naturalização que as inscreve na
chamada “normalidade”, são, com isso, denunciadas.
A fábula do conto é a seguinte: Napoleão, advogado de sucesso, passa a ver
cavalos brancos que o encantam. O fato se dá durante as férias numa praia e se repete,
depois, no cotidiano de trabalho e vida doméstica do protagonista, que, fascinado, passa
a cultivar as visões. A partir daí, sua vida, até então bem integrada às práticas e valores
do status quo – casado, com filhos, bem sucedido na profissão –, se desestrutura,
gerando conflitos com família, empregados e clientes. Napoleão passa, então, de
psiquiatra a psicanalistas, e acaba internado sem que as visões desapareçam. Por fim,
morre. No enterro, realiza-se o seu último desejo: ser conduzido num coche puxado por
sete cavalos brancos. Depois disso, o zelador do cemitério espalha ter visto um homem
nu, cabelos ao vento, galopando entre cavalos brancos em direção ao crepúsculo.
Situando-se entre o fantástico e o estranho, a visão dos cavalos associa-se, em
princípio, aos motivos do Belo, do poético, do gratuito. A perturbação protagonizada
pelo personagem principal é gradativa: as visões manifestam-se nas férias, suposto
momento de suspensão da rotina e do rotineiro, depois irrompem em meio ao trabalho
de Napoleão, perturbando-o em suas interações sociais rotineiras, atrapalhando-o até
que ele sofra consequências em sua dimensão individual: o meio que o circunda,
constituído por família, empregados e amigos, intentando “curá-lo”, apela para
medicalização, encarceramento em instituição psiquiátrica e morte. Napoleão, antes das
visões, encarna com exemplaridade o ideal de integração ao status quo:
Antes, antes de tudo, Napoleão era advogado. Carregava consigo um sobrenome tradicional e as demais condições não menos essenciais para ser um bom profissional. Sua vida se arrastava juridicamente, como se estivesse destinado à advocacia. Em sua própria casa, à hora das refeições, todos os dias sempre se desenrolavam movimentadíssimos julgamentos. Dos quais ele
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
126
era o réu. Acusado de não dar um anel de brilhantes para a esposa nem um fusca para o filho nem uma saia maryquantiana para a filha. Eventuais visitas faziam corpo de jurados, onde às vezes colaboravam criados mais íntimos, sempre concordando com a esposa, promotora tenaz e capciosa. Treinado desse jeito, diariamente e com a vantagem de estar na doce intimidade do dulcíssimo lar, não era de admirar que fosse advogado competente. [...] Nome nos jornais, causas vitoriosas, vezenquando faziam-no sorrir gratificado, pensando que, enfim, nem tudo estava perdido, ora. Mas estava. Embora ele não soubesse (Abreu, 1970, p. 11).
Destaca-se, nesta caracterização do protagonista e de seus vínculos familiares e
profissionais, a integração de Napoleão a uma ordem cujas práticas e valores o vitimam,
anulando-o como pessoa. Reduzido às funções de advogado, esposo, pai e patrão,
Napoleão não tem espaço para si mesmo, instado que é a recalcar a sua subjetividade
em favor dos outros, que o parasitam, minando a sua vitalidade e fazendo-o
cotidianamente infeliz – coisa que só ganha nitidez a partir das visões. É em meio a essa
rotina insatisfatória que irrompe, durante as férias na praia, a primeira visão dos cavalos.
Napoleão os confunde com nuvens, chama a atenção da esposa para eles e recebe, dela,
uma resposta mal-humorada. O narrador de 3ª pessoa sublinha o vínculo entre a visão
dos cavalos e o belo: “cutucou a esposa deitada ao lado, apontando, olha só, Marta,
cavalos brancos nas nuvens. Não havia espanto nem temor nas suas palavras. Apenas a
reação espontânea de quem vê o belo: mostrar” (ABREU, 1970, p. 11).
O vínculo com o belo e o gratuito já se insinua como uma primeira ruptura do
protagonista com os valores dominantes do status quo. Napoleão passa a contemplar os
cavalos, e contemplar é, exatamente, dar-se a uma vivência própria da experiência
estética e/ou mística, ambas marcadas pela gratuidade e pela entrega. Vejamos:
os animais estavam além (ou aquém) das nuvens. E entre elas passavam, ora galopantes, ora trotando, uma brancura, uma pureza tão grandes – equinidade absoluta nos movimentos. Tanta que Napoleão piscou, comovido. E começou a afundar. Porque ver é permitido, mas sentir já é perigoso. Sentir aos poucos vai exigindo uma série de coisas outras, até o momento em que não se pode mais prescindir do que foi simples constatação (ABREU, 1970, p. 12).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
127
Manifesta-se, neste trecho, uma das chaves-de-leitura do conto: “ver é permitido,
mas sentir [...] é perigoso”. No decorrer da história, o drama de Napoleão será
precisamente este. Os cavalos brancos de suas visões constituirão a única coisa
encantadora, prazerosa e efetivamente sua de sua vida.
A vinculação dos cavalos aos motivos do belo e da arte se faz, porém, por meio de
uma adjetivação excessiva: “Afundou neles, [...] confundindo-se com as nuvens, tão
macias as carnes reluzentes, as crinas sedosas, os cascos marmóreos, relinchos
bachianos brotando das modiglianescas gargantas, ricos como acordes barrocos
(ABREU, 1970, p. 12 – grifos nossos). Evidencia-se, aí, algo que marca a relação do
narrador de 3ª pessoa com a personagem protagonista: um distanciamento crítico
vazado pela ironia e pelo humor, que não disfarça a avaliação negativa que o narrador
faz de Napoleão. A adjetivação carregada comenta não apenas a visão dos cavalos, mas,
sobretudo, aquele que os vê, assinalando uma distância entre a sublimidade dos cavalos
e o fio de realidade que os prende àquele que os admira. Além disso, ao excesso
descritivo corresponde o tom elevado da apreciação estética, um modo não rotineiro de
acessar a realidade que, no conto, dá a Napoleão um lugar entre o sublime e o kitsch –
seu modo de estar fora da rotina, ainda que de modo fugaz.
Napoleão cultiva os cavalos. O verbo “cultivar”, aí, reforça o elemento
desestruturador e suas exigências ao personagem, aproximando-o do belo, da arte,
daquilo que exige entrega para ser apreciado e para dar-se ao apreciador. O protagonista
passa a fazer, no crepúsculo, passeios solitários pela praia para contemplar os cavalos:
Percebendo-os líricos, escolheu a hora do pôr-do-sol para seus furtivos encontros. E eles vinham. Agora se deixavam afagar, focinhos abaixados com sestro e brejeirice. Variavam em quantidade, nunca de cor. Como moças-de-respeito, jamais o encontravam sozinhos, embora, imaculadamente brancos. [...] Afagava-os como afagaria uma rosa, vivesse metido em jardins ao invés de tribunais. Como antigos vasos de porcelana, tapetes persas,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
128
preciosidades às quais apenas se ama, na tranquilidade de nada exigir em troca. Tranquilo, então, ele os(as) amava. Voltava banhado em paz, rosto descontraído, sorrindo para os animais, alojados no fundo de suas próprias pupilas. Mulher, filhos, criados, visitas, vizinhos surpreendiam-se ao vê-lo crescer dia a dia em segurança e força. Os habituais júris não mais o perturbavam. Pairava agora infinitamente acima de qualquer penalidade ou multa. (ABREU, 1970, p. 14)
Como apenas Napoleão vê os cavalos, o fato ganha um quê de estranho no texto,
podendo afastar a hesitação entre o real e o inusitado, que é imprescindível ao
fantástico, reduzindo-se a explicações racionais que vejam, na personagem, uma vítima
da loucura. O narrador, entretanto, cuida para que tal redução não se dê, e mais: usa de
tal possibilidade como argumento a partir do qual constrói a sua crítica social: serão as
personagens secundárias vinculadas a Napoleão que o tacharão de louco, submetendo-o
à violência de tratamentos médico-psiquiátricos que o levarão à morte.
Após as férias, Napoleão volta ao trabalho e se vê abandonado pelos cavalos.
Sofrendo, descobre que eles haviam se tornado vitais para ele:
Voltando à cidade, [...] temeu que os cavalos o tivessem abandonado. [...] durante dois dias eles desapareceram. Napoleão esqueceu júris, processos, representações, dedicado somente à ausência dos amigos, ponto branco dolorido no seu taquicárdico coração. [...] Não podia mais viver sem os cavalos. [...] eram a única coisa realmente sua que jamais tivera em toda a vida (ABREU, 1970, p. 15).
Insinua-se, aqui, um outro motivo vinculado aos cavalos: a identidade individual,
elemento que Napoleão se vê obrigado a recalcar em suas relações familiares e de
trabalho. Ironicamente, a visão dos cavalos é o que revela a profunda alienação do
protagonista, já que, conforme o narrador, “eram a única coisa realmente sua que jamais
tivera em toda a vida”. Desse jogo irônico entre o rotineiro e o insólito, emerge, por fim,
a intriga do conto: conflito entre uma singularidade individual recalcada e um tecido
social violento em suas coerções e em seus efeitos de despersonalização. A ironia se
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
129
intensifica quando nos lembramos do fato de que o protagonista é um advogado bem
sucedido, e que seu nome remete ao famoso imperador francês.
O retorno dos cavalos se dará no meio do julgamento de um matricida. Napoleão,
perturbado, falha na defesa:
Mas eles voltaram. Entraram pela janela aberta do tribunal num dia em que ele estava especialmente inflamado na defesa de um matricida. A princípio ainda tentou prosseguir, fingiu não vê-los, traição, opção terrível, entre o amor e a justiça [...]. Eles não estavam doces. [...] observavam, secos, inquisidores. [...] Napoleão começou a falar cada vez mais baixo, mais lento, até a voz esfarelar-se num murmúrio de desculpas, em choque com o murmúrio de revolta crescendo dos parentes do réu. Napoleão olhou ansioso para os cavalos, que não fizeram nenhum gesto de aprovação ou ternura. Rígidos, álgidos: esperavam. O quê? foi a pergunta que ele se fez em pânico escavando o cérebro. Sem resposta, manteve-se encolhido e quieto até o final do julgamento. Estariam zangados? Por que oh meu Deus, por quê? Mesmo assim acompanharam-no até a porta de casa instalados no banco traseiro do automóvel. Mudos (ABREU, 1970, p. 15 - 16).
Segue-se, a esta perturbação, um diálogo incongruente entre Napoleão, sua esposa
e um amigo. Eles abordam a falha por diferentes perspectivas e interesses: Napoleão,
preocupado com os cavalos brancos e suas reações, a esposa e o amigo preocupados
com o cliente e seus parentes. A incongruência do diálogo soa irônica, pois as falas
parecem ter o mesmo referente quando, na verdade, têm referentes opostos:
NAPOLEÃO (obsessivo) – Mas vocês repararam na atitude deles? Repararam mesmo? AMIGO (conciliador) – Natural que ficassem revoltados, Napoleão. Afinal, são parentes, clientes, pagaram os tubos. Queriam um serviço bem feito. MARTA – Claaaaaro. E, enfim, o cara pegou só sete anos. Não é tanto assim, você pode apelar, pedir o tal habeas-corpus... NAPOLEÃO (erguendo-se brusco da poltrona) – Parentes? Clientes? Réu? Habeas-corpus? Mas eu estou falando é dos cavalos, entendem? Dos cavalos, caralho! Os parentes, os réus, os jurados, que se fodam, entendem? Que se fodam. Sem vaselina! O que me interessa são os cavalos! Marta e o amigo se surpreenderam. E revezaram-se em desculpas, a cólera de Napoleão crescendo (ABREU, 1970, p. 17).
A notação teatral que caracteriza a escrita do diálogo, marcado por rubricas,
reforça, na incongruência da conversa, o processo de desintegração à ordem
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
130
protagonizado por Napoleão e, também, o sarcasmo do narrador em relação às
personagens e à história que narra. O baixo calão é, num nível interno, índice da
perturbação emocional protagonizada por Napoleão, e, considerando-se as relações
texto-contexto, uma ousadia do escritor em relação à ação da censura da ditadura
militar. Segue-se, ao diálogo e à constatação da crise protagonizada por Napoleão, um
violento processo de medicalização da personagem.
Acalmou-se. Pelo menos até os cavalos voltarem, no dia seguinte. Ainda indiferentes, remotos. A ira cresceu de novo, medo de perder seu único motivo, seu único apoio. Chamaram o médico. Deu-lhe injeções, calmantes, barbitúricos. [...] Veio o psiquiatra. Devassou a sua vida, fazendo-o corar de vergonha e raiva e indignação. [...] Rótulos como sadomasoquista, pederasta, esquizofrênico, paranóico, comunista, ateu, hippie, narcisista, psicodélico, maconheiro, anarquista, catatônico, traficante de brancas (ou brancos?) foram-lhe impostos sucessivamente pelos psicanalistas. Paciente, passivo, aceitava tudo sem sequer tentar compreender. [...] Nada conseguia curá-lo. Passava de psicólogo a psiquiatra, a psicanalista; de sanatório a casa de saúde, a hospício. E nada. Enquanto isso, os cavalos mostravam-se cada vez mais agressivos, chegando mesmo à ousadia de investir contra ele. [...] Os psiquiatras, a esposa, os filhos, os criados, os colegas – todos cresciam em exigências, magoando-o com dúvidas e perguntas suspeitas. Napoleão diminuía em ânimo e saúde (ABREU, 1970, p. 17).
Napoleão é levado à morte em razão dos tratamentos recebidos de médicos,
familiares, criados e colegas de trabalho. O narrador assinala, com ironia, que apenas no
enterro cumpriu-se a “sua última (ou talvez primeira) exigência. [...] ser conduzido para
o cemitério num coche puxado por sete cavalos brancos” (ABREU, 1970, p. 19), dado
que reforça o conflito indivíduo X sociedade, marcando o 1º com o signo da irrealização
de suas aspirações íntimas, da alienação, da exploração e, no limite, por efeito de
sugestão, da condição de vítima de um insuspeito homicídio cometido pela sociedade e
suas principais instituições: família e trabalho. Cumprido o último desejo de Napoleão,
o narrador destaca o motivo da felicidade, que, por ironia, se cumpre apenas após a
morte do protagonista:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
131
Napoleão foi enterrado. Tivessem aberto o caixão, talvez notassem qualquer coisa como um vago sorriso transcendendo a dureza dos maxilares para sempre cerrados [...]. Tempos depois o zelador espalhou pelas redondezas que vira um homem estranho, nu em pêlo, cabelos ao vento, galopando em direção ao crepúsculo montado em amáveis cavalos. Brancos, naturalmente (ABREU, 1970, p. 19).
A partir da manifestação do insólito, o protagonista entra em crise,
desestruturando o seu cotidiano, perturbando a família e o ambiente de trabalho, que
reagem, punindo-o com violências que vão da hostilização mal-humorada à
medicalização psiquiátrica – assemelhada, estruturalmente, aos métodos da repressão
política: encarceramento, tortura, silenciamento, morte. Após a morte de Napoleão, o
insólito volta a se manifestar, demarcando-se como uma ameaça latente que retornará,
algo de que o status quo e o poder não se livraram de fato: o zelador do cemitério tem
uma visão de um homem nu galopando em meio a cavalos brancos. A morte é, no
conto, o momento em que Napoleão se liberta do jogo da rotina (ou de sua falta),
restando, porém, ao leitor o acabamento do sentido que deverá dar à persistência do
insólito na narrativa, testemunhada por uma nova personagem.
No conto aqui analisado, acompanhamos a desestruturação do pertencimento do
personagem protagonista à ordem dominante a partir da irrupção, em sua rotina, de um
dado insólito que põe em evidência a despersonalização como fato violento inerente à
normalidade da ordem burguesa. Não é à toa que Napoleão sofre um processo de
medicalização que o encarcera como “louco”, submetendo-o a remédios que visam
adequá-lo à normalidade, aliená-lo de si e silenciá-lo. A violência a que o protagonista é
rotineiramente submetido só se torna visível por causa do acontecimento insólito que
desestrutura sua vida anônima e conformada.
Os cavalos brancos comportam um quê de beleza que fascina, suscitando, no
protagonista, amor desinteressado e atividade contemplativa. Este traço de beleza
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
132
descerra um conhecimento reprimido socialmente. Ao se manifestar na vida de um
protagonista integrado à normalidade da vida administrada, o elemento insólito catalisa
um processo por meio do qual esse protagonista se reconhece mortalmente alienado de
sua individualidade, até então fortemente recalcada em função de abstrações
institucionais como família e trabalho. A irrupção do insólito mergulha o protagonista
em uma crise na qual emergem, fragmentariamente, as suas contradições, projetos,
insatisfações – o que projeta, na intriga do conto, as tensões irresolvidas entre o
indivíduo e a sociedade. O insólito, de feição fantástica e/ou estranha, revela, pois, um
dilaceramento da personagem protagonista entre a sua condição de integrada (ou seu
constrangimento à conformação à ordem dos valores dominantes da normalidade) e a
sua ruptura, não necessariamente voluntária, com o constrangimento e a insatisfação
que tal integração implica.
O conto aqui analisado é um texto em que se manifesta uma das funções clássicas
do gênero fantástico: a irrupção do insólito põe em crise a vida da personagem,
organizada segundo os moldes da normalidade, desestruturando-a a ponto de levá-la à
morte e, neste processo, comentando-a criticamente. É isso o que acontece em “Os
cavalos brancos de Napoleão”, em que o protagonista é o grande representante da
integração à ordem burguesa e/ou pequeno-burguesa, à alienação e à violência
naturalizadas nessa ordem, que o despersonaliza, reduzindo-o às funções de pai, marido,
provedor da casa, advogado.
Os cavalos vistos por Napoleão podem ser tomados como alegorias da arte e do
belo, que, na ordem burguesa, são associados ao gratuito, ao não-útil. Daí o amor puro e
desinteressado de Napoleão pelos cavalos ser um efeito que o humaniza em meio à
desestruturação que as visões produzem em sua vida ordinária. É a “loucura” de
Napoleão que denuncia a normalidade como algo violento, injusto, e, neste sentido, faz
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
133
a crítica à ordem dos valores burgueses e das instituições que os representam e
cultivam. Por fim, note-se que Napoleão é advogado, ou seja: trabalha em favor e a
partir das leis que codificam a legalidade que pauta a normalidade da vida na ordem
burguesa – o que sublinha uma ironia crítica que extrapola do narrador interno ao texto
para o autor do conto.
Referências bibliográficas ABREU, C. F. Os cavalos brancos de Napoleão. In: Inventário do irremediável. Porto Alegre: Movimento, 1970, p. 11 – 19. DANTAS, G. José J. Veiga e o romance brasileiro pós-64. Falla dos Pinhaes, Espírito Santo de Pinhal, v.1, n.1, p. 122 – 142, jan./dez. 2004. Disponível em <http://www.unipinhal.edu.br/ojs/falladospinhaes/include/getdoc.php?id=37&article=11&mode=pdf.>, coletado em 07/03/2010. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. Trad. de Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1981.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
134
AS ROSAS COMO FANTASIAS UTÓPICAS NAS SUBJETIVIDADES BORGIANAS
Breno Anderson Souza de Miranda *
RESUMO
A literatura de Jorge Luis Borges reúne inúmeras alusões ao mundo idealista, metafísico e fantástico. Imagens como o livro, a biblioteca, o labirinto, o tigre, o duplo, etc. e cores como o branco e o amarelo são recorrentes em seus poemas, contos e ensaios críticos. O que poucos conhecem é a metáfora da rosa. Rosa como flor, rosa como mulher, rosa como cor, rosa como Rosas, o temido caudilho argentino. Esta metáfora já está presente no primeiro livro de poemas do escritor, Fervor de Buenos Aires, de 1928, e atravessa sua obra. Menos que uma ponte relacional com a verossimilhança de um “realismo” mitológico e romântico exterior ao universo poético, as “rosas” seriam fantasias utópicas marcantes nas construções de suas subjetividades. O poeta lírico em Borges é menor e sente-se receoso a qualquer tentativa de se aproximar de uma alegorização épica. É tímido, minimalista, aparece pela beiradas, pelas margens, mas não deixa de demonstrar, como em Sarmiento, seu fascínio pela barbárie. As subjetividades borgianas entram em êxtase com o sublime fantástico-bárbaro ao mesmo tempo em que recolhem lampejos de amor em suas intimidades. PALAVRAS-CHAVE: Jorge Luis Borges; literatura fantástica; subjetividades.
Não seremos os primeiros a fazer certa ponderação à perpetuidade do que de
uma forma pouco abrangente ficou conhecido como narrativa borgiana, em uma
celebratória unicidade. Também não pretendemos separar ainda mais “Borges” de
outros “Borges”, um primeiro de outro segundo, ou até de um terceiro. Por sua vez,
nunca saberemos como Borges reagiria diante da canonização exaustiva de sua persona
e de sua literatura na atualidade – um monumento como plácido modelo – tudo
contrário à sua ética de composição, que primava por uma estética do fragmentário.
Josefina Ludmer tentou resgatar um valor crítico caro ao ethos borgiano - sua escrita
* Mestre em História (História e Culturas Políticas) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente cursa o mestrado em Letras (Estudos Literários) na mesma universidade.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
135
arredia, que incomoda, perfura e descentraliza. “¿Cómo salir de Borges?” já entrou para
a antologia crítica contemporânea sobre Borges, mas seus questionamentos ainda
permanecem atuais e com muito fôlego. Seria preciso, de acordo com Ludmer, “‘salir
de Borges con Borges’, desde adentro” (LUDMER, 2000, p. 289-300). Tentar sair da
reduplicação infinitesimal-totalizante que recobre as leituras sobre Borges e sua obra,
garantindo-lhe um aspecto, nem que seja alusivo, à hermenêutica do escrito, do
criticável, do dito e do imaginado. O que não seria alguma espécie de condenação ou
confinamento do que se quer plural-imagético e sim um não abrir mão de uma
publicização comunicativa perspicaz e pontual, que queira ou não, aponta fundamentos
e elenca posições, mesmo dentro da gama fantástica e/ou idealista.
Borges é o escritor do horror e do pesadelo e vai continuar sendo. Quantos
sonhos que não saberíamos se pesadelos, ou quantas personagens que não sonhos de
outras, perdidas no labirinto. Se o espectro fantasmático das fantasias sempre assustou e
causou espantos e danos, que não percamos essa inter-dição da estética borgiana em
nossas retomadas e leituras. Luiz Costa Lima chama atenção para o aspecto anti-físico
da literatura em Borges.
Enquanto analista da literatura, me é bastante mostrar a articulação que estabelecem os termos ‘labirinto’, ‘espelho’, ‘duplo’, ‘exclusão irônica do pathos’, o mundo como combinatória limitada, termos componentes da antiphysis. Através desta articulação, procuramos revelar que a peculiaridade de Borges está em compor uma ficção que, lucidamente, procura controlar e esmagar o que se costuma entender por mímesis; em ser uma produção que pretende se esgotar nas manobras que prevê. (COSTA LIMA, 2003, p. 260).
As perguntas que fazemos são: as fantasias do narrador borgiano provocariam mesmo
depois de sua canonização? Como poderíamos sair do controle de suas “manobras”
imaginativas que se reproduzem infinitamente na literatura e crítica contemporâneas?
Como sair do “previsível” borgiano e da crítica sobre Borges? Seria possível atacar o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
136
pesadelo borgiano através de outra imagem não menos infernal? Como perfurar (para
usar uma imagem borgiana) o terror do duplo?
Parece que o próprio narrador borgiano já previra o que iria sobressair sobre sua
literatura em um futuro não muito distante. Contraria Luiz Costa Lima e aponta para
alguma possibilidade mimética entre texto, produção e subjetividade literária, o que se
daria na ficcionalização da memória autoral. O passado seria o futuro-presente dos
outros leitores.
O fato ocorreu faz uns cinco anos. Bioy Casares jantara comigo naquela noite e deteve-nos uma extensa polêmica sobre a elaboração de um romance em primeira pessoa, cujo narrador omitisse ou desfigurasse os fatos e incorresse em diversas contradições, que permitissem a poucos leitores – a muito poucos leitores – a adivinhação de uma realidade atroz e banal. Do fundo remoto do corredor, o espelho nos espreitava. Descobrimos (na alta noite essa descoberta é inevitável) que os espelhos têm algo de inevitável. Então Bioy Casares lembrou que um dos heresiarcas de Uqbar declarara que os espelhos e a cópula são abomináveis, porque multiplicam o número dos homens. (BORGES, 2001a, p. 475; grifos nossos)
O terror se fará constante no futuro como sempre fora no passado. O narrador
borgiano não fica indiferente ao terror do espelho e da duplicação, sendo essa uma
fantasia constante em seus escritos. O tema do duplo duplica-se em outros artefatos, que
são igualmente “abomináveis”. Imagens como o livro, a biblioteca, o labirinto, o tigre, o
duplo, etc. e cores como o branco e o amarelo são recorrentes em seus poemas, contos e
ensaios críticos. O que poucos conhecem é a metáfora da rosa. Rosa como flor, rosa
como mulher, rosa como cor, rosa nem sempre cor-de-rosa, rosa como Rosas, o temido
caudilho argentino. Esta metáfora já está presente no primeiro livro de poemas do
escritor, Fervor de Buenos Aires, de 1928, e atravessa sua obra. Menos que uma ponte
relacional com a verossimilhança de um “realismo” mitológico e romântico exterior ao
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
137
universo poético, as “rosas” seriam fantasias utópicas singulares nas construções de
suas subjetividades.
A cor do barro elementar e fundacional americano é rosa, uma metáfora de
várias proporções e adjetivos (como gostava de “enfeitar” Leopoldo Lugones), que pode
significar mais ou menos liberdade, cor-de-rosa, flor, mulher etc. A flor lírica-fantástica
nasce na intimidade do espelho, sob as pisadas dos cavalos, sobre o estrume dos bois ou
das cinzas de Paracelso. O “eu” borgiano experimenta esta utopia lírica e fantástica no
espaço íntimo e familiar da leitura, da memória e da oralidade. O poeta lírico em Borges
é menor e sente-se receoso a qualquer tentativa de se aproximar de uma alegorização
épica. É tímido, minimalista, aparece pela beiradas, pelas margens, mas não deixa de
demonstrar, como em Sarmiento, seu fascínio pela barbárie e pelo terror. As
subjetividades borgianas entram em êxtase com o sublime fantástico-bárbaro ao mesmo
tempo em que recolhem lampejos de amor em suas intimidades.
Talvez aqui consigamos sair de Borges, dentro de Borges, através da recorrência
de um fragmento ou momento de criação, que nem sempre se repete ou se imita. Não
seria de todo descabido afirmar que a mímesis com o mundo faz parte do universo
borgiano, mas não de uma forma simplesmente reducionista ou como imitatio do “real”
ou do mais profundo vazio. Alguma retomada da ética crítica do escritor dentro de sua
própria tradição literária permitiria a retomada da vida criativa (mesmo que pelos traços
da memória) e não sua museificação. “Tradição que assegura um lugar no espaço e no
tempo para aquele discurso, lugar para que nele se insira – política ou esteticamente –
dada intervenção. Define-se, pelo apelo a uma referência cronologicamente anterior,
uma nova historicidade – para uma crônica de um momento que vê sua seqüência de
acontecimentos ser retrabalhada e incorporada a uma tradição relativa menos ao
fenômeno passado do que ao discurso presente” (PINTO, 1997, p. 129). Mesmo o cético
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
138
Costa Lima percebe algum “limite” para a absolutização da ficção borgiana: “mas este
orgulhoso projeto tem um limite. Em certo ponto da análise, vemos sua ficção dobrar-se
em si mesma, escapar da onisciente consciência que procurou dominá-la e, ao contrário,
apresentar seu ponto cego” (COSTA LIMA, 2003, p. 260-261).
Notamos que poucos atos são mais íntimos que a prova de amor através de uma
rosa. A rosa poderia ser “abominável” em Borges porque prenunciaria uma possível
cópula, isto é, seria a outra face do duplo. Entretanto, não a rosa, mas “A flor de
Coleridge” é a prova viva do gozo e da plenitude, do ter estado no paraíso. Nesse conto-
crítico o narrador flerta com o mais coloquial romantismo sentimental, que teria a flor
como a mais digna prova da experiência viva do amor.
Se um homem atravessasse o Paraíso em um sonho e lhe dessem uma flor como prova de que estivera ali, e ao despertar encontrasse essa flor em sua mão... O que pensar?’. (...) Na ordem da literatura, como em outras, não há ato que não seja coroação de uma infinita série de causas e manancial de uma infinita série de efeitos. Por trás da invenção de Coleridge está a geral e antiga invenção das gerações de amantes que pediram uma flor como prova. (BORGES, 2005a, p. 16-17)
Alguém poderia objetar que o tom preponderante desse conto-crítico seria a flor
como espelho da impessoalidade autoral e seguramente o seria. Mas o gesto de se
afastar da subjetividade autoral também é “afastar-se da razão e da ortodoxia” do Verbo
literário e compartilhar o ecumenismo da escrita. Como assinalou Ludmer, não interessa
os pormenores biográficos dos autores e sim “ideas o escenas que enlazan textos y
universos; le interesan los nexos” (LUDMER, 2003, p. 289-300).
“Ouro, sangue ou marfim ou tenebrosa/Como em suas mãos, ó invisível rosa”
(BORGES, 2005b, p. 292). O simbolismo maneirista tomado de empréstimo do poeta
inglês John Milton não seria de todo gratuito. Perde-se um pouco o vazio da metáfora e
a “autonomía textual” e agora seria o “eu-lírico” que veria a rosa como coberta de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
139
trevas ou até mesmo de sangue. Outra vez uma figura sublime ou abominável. A
evocação do escritor de “Paradise Lost” e “Paradise Regained” não poderia ser
circunstancial, uma vez que, como Homero, é colocado como precursor do aedo cego.
Na linha sucessória de Homero e precursora de Milton também outra rosa, agora
amarela e também um poeta, agora Giambattista Marini, outra vez a obsessão pelo
paraíso, aqui na Terra, e outra vez o repúdio. “Uma mulher colocou em um copo uma
rosa amarela; o homem murmura os versos inevitáveis que a ele mesmo, para falar com
sinceridade, aborrecem um pouco: Púrpura do jardim, poma do prado/botão de
primavera, olho de abril.../ Então deu-se a revelação. Marini viu a rosa, como Adão
pôde vê-la no Paraíso” (BORGES, 2005c, p. 193).
E se o paraíso perdido estaria em imaginárias terras européias, o retrato do barro
fundacional americano seria bárbaro – cor-de-rosa ou de sangue e as rosas as de Rosas,
para que se perpetue a memória do temido caudilho. Elas são possíveis imaginações do
“leitor” na “impossibilidade” do tempo e do espaço linear-circulares. Um extravio ou
suplemento na matriz fundacional da Utopia moral-urbanística-eurocêntrica de Thomas
More, que se preocuparia também com as arestas da intimidade. A vida continuaria fora
dos espaços e tempos vislumbrados somente pelo sentido da visão. O exílio seria
indefinido e plural, capaz de várias configurações, permutações e transformações. As
“rosas” bárbaras exalariam um cheiro, que o literato-crítico cego, juntamente com co-
autores e co-leitores, (como Cervantes, Flaubert, Walt Whitman, Sarmiento, etc.),
pudesse captar através dos desejos do olfato, “o mais desprezível dos sentidos”. Outros
sentidos “menores” também comporiam a experiência do homem nas Américas e em
outras “margens” do mundo, “margens” estas encarnadas no próprio “centro”. A utopia
se desligaria um pouco, segundo essa leitura, de sua função meramente pedagogizante e
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
140
teria por missão “fazer desejar”, ou “vontade de felicidade” – traço de “amor” ou
paixão.
Nas fissuras do “grande livro do mundo ou do universo”, o narrador borgiano
vai mesclando irrealidade, memória, experiência vivida, lida ou ouvida. Tenta trazer
“abundância” para a eternidade infinita. “Não bastam o disco gramofônico de Berliner
ou o perspícuo cinematográfico, simples imagens de imagens, ídolos de outros ídolos. A
eternidade é uma invenção mais abundante” (BORGES, 2001b, p. 401). Na
“abundância” da eternidade, o outro lado seria uma “teoria pessoal”, “uma pobre
eternidade, já sem Deus e ainda sem outro possuidor e sem arquétipos”.
A visão por certo nada complicada, parecia simplificada por meu cansaço. Sua própria tipicidade a tornava irreal. A rua era de casas baixas, e embora sua primeira significação fosse a pobreza, a segunda era certamente de felicidade. Era daquilo que havia de mais pobre e mais bonito (...). A calçada era mais alta que a rua; a rua era de barro elementar, barro da América ainda não conquistado. (...). Sobre a terra turva e caótica, uma taipa rosada parecia não abrigar luz de lua, mas difundir luz íntima. Não haverá maneira melhor de denominar a ternura que esse rosado. (BORGES, 2001b, p. 402-403; grifos nossos) A ROSA/ A rosa,/ a imarcescível rosa que não canto,/ a que é peso e fragrância,/ a do negro jardim na alta noite,/ a de qualquer jardim e qualquer tarde,/ a rosa que ressurge da tênue/ cinza pela arte da alquimia,/ a rosa dos persas e de Ariosto,/ a que sempre está só,/ a que sempre é a rosa das rosas,/ a jovem flor platônica,/ a ardente e cega rosa que não canto,/ a rosa inalcançável (BORGES, 2001c, p. 23; grifos nossos)
TANGO/ (...)/ Onde estará (repito) o malfeitor/ Que fundou nesses becos empoeirados/ De terra ou nos perdidos povoados/ A seita do facão, do destemor? Em sua lenda eu os busco, derradeira/ Brasa que, a modo de uma vaga rosa,/ Guarda algo dessa chusma valorosa/ Vinda de Corrales, de Balvanera/ (...) Há outra brasa, outra candente rosa/ Das cinzas que inteiros guardará;/ Soberbos navalhistas estã lá/ E a adaga, com seu peso, silenciosa
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
141
Embora a adaga hostil, ess’outra adaga,/ O tempo, os perdessem em maldição,/ Hoje, ultrapassando o tempo e a aziaga/ Morte, os mortos no tango viverão/ (...) Num instante que emerge hoje isolado,/ Sem antes nem depois, contra o olvido,/ E que tem o sabor do já perdido,/ Do já perdido e do recuperado/ (...). (BORGES, 2005d, p. 289-290; grifos nossos)
Alegorias da derrota? Rosas que surgem das ruínas, das cinzas, do estrume, da
melancolia? Da barbárie de Rosas? Rosa de Paracelso? Borges sente-se “morto”. Livra-
se da “Eternidade”, do “pesadelo” de ser sempre um “duplo” ou um “nada”. “Talvez um
pássaro cantasse, e senti por ele um carinho pequeno, e do tamanho de pássaro; mas o
certo é que nesse já vertiginoso silêncio não houve outro ruído senão o também
intemporal dos grilos. (...). Não, não acreditei ter remontado às presumíveis águas do
Tempo; antes imaginei-me possuidor do sentido reticente e ausente da inconcebível
palavra eternidade”. Essa noite experimentada pelo narrador, com “cheiro provinciano
de madressilva”, “paredezinha límpida”, “barro fundamental”, começou naquela
“esquina” (a esquina rosada). E conclui: “a vida é pobre demais para não ser também
imortal. Mas nem ao menos temos a certeza de nossa pobreza, posto que o tempo,
facilmente refutável no sensível, não o é também no intelectual, de cuja essência parece
inseparável o conceito de sucessão. Fique então, no episódio emocional a idéia
vislumbrada e na confessa irresolução dessa página o momento verdadeiro de êxtase
e a insinuação possível de eternidade de que essa noite não me foi avara” (BORGES,
2001b, p. 402-404; grifo nosso).
A “rosa” e algumas flores como a “madressilva” exalam cheiro. O primeiro
sentido que a estátua de mármore que Etienne Bonmot de Condillac imaginou para
refutar a “doutrina das idéias inatas” de Descartes foi o olfativo - “talvez o menos
complexo de todos”. Entretanto, foi a partir desse “sentido menor”, vindo de uma flor
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
142
menos opulenta que a rosa, mas muito perfumada, que o corpo morto de pedra adquiriu
vida e percepção.
Um cheiro de jasmim é o princípio da biografia da estátua; por um instante, não haverá senão esse aroma no universo, que, um instante depois, será cheiro de rosa, e depois de cravo. Se houver na consciência da estátua um único perfume, já teremos a atenção; se perdurar um perfume quando houver cessado o estímulo, a memória; se uma impressão atual e uma do passado ocuparem a atenção da estátua, teremos a comparação; se a estátua perceber analogias e diferenças, o juízo; se a comparação e o juízo voltarem a ocorrer, teremos a reflexão; se uma lembrança agradável for mais viva que uma impressão desagradável, a imaginação. Engendradas as faculdades do entendimento, as da vontade surgirão depois: amor e ódio (atração e aversão), esperança e medo. A consciência de ter atravessado muitos estados dará à estátua a noção abstrata de número; a de ser perfume de cravo e ter sido perfume de jasmim, a noção do eu. O autor conferirá depois a seu homem hipotético a audição, a gustação, a visão e por fim o tato. Este último sentido lhe revelará que existe o espaço e que, no espaço, ele existe num corpo; os sons, os cheiros e as cores tinham-lhe parecido, antes dessa etapa, simples variações ou modificações de sua consciência. (BORGES; GUERRERO, 1985, p. 11; grifos nossos)
No “jardim dos senderos que se bifurcam” (assim como o profeta hebreu
Moisés), Borges escreve sobre nosso “ser”, que nasce de uma necessidade da planta,
mas, contrariando o mito judaico, não surgira do “pó da terra” e sim de uma pedra rígida
– o mármore. O narrador de Borges, tímido, poupa um pouco a essência da “Vontade”
de Schopenhauer, mas não a “via de acesso à vida” do mito judaico. “A vida elementar”
do movimento do corpo da pedra rígida começa, como em Moisés, pelas narinas, mas,
inicialmente, fica só nisso. É através do sentido olfativo (o mais elementar de todos), do
cheiro das flores, como o cheiro da rosa no deserto da “Fundação mítica de Buenos
Aires”, que esta “criatura monstruosa” espanta, horroriza, des-encanta. A estátua vai
transformando-se, virando-se, metamorfoseando-se em “outro”, em “eu”. O cheiro da
rosa em Borges está no “redemunho do horror”. Seria um odor des-ordenador.
Como seria a relação do “ser” com seu corpo e o espaço em um mundo sem luz?
Borges confessa seus medos, sua “im-potência” ao absurdo, ao irreal. Entretanto, em
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
143
sua “rapsódia da noite”, em “sua não opressiva cegueira”, não houve esquecimento do
espaço - das “leituras” proporcionadas pelo paladar, pelo tato, pela visão ou pelos
“suplementos da memória visual”. Assim, Borges insere-se novamente no espaço
através das artimanhas da memória. Ele nunca esqueceu seu “Sul”. O nada e o vazio da
noite não estão necessariamente relacionados com a ausência de chão, “de todo espaço”.
Chegamos então ao “riso romântico-lírico-intimista-utópico-jovem”, levemente
anacrônico, do narrador borgiano que lutaria contra o velho narrador clássico e
metafísico. A idéia da morte como “sonho heróico” soa como um lugar do instante
prismático entre o passado, o presente e o futuro. Os heróis sanguinários do século XIX
não existem mais nos pampas, foram “trans-feridos” para as margens da cidade, mas as
margens da cidade também não existem mais, foram engolidas pela modernização – eles
só seriam acessados pela memória e pela autobiografia. Diz Júlio Pimentel Pinto: “é
uma fronteira porosa que, porém, mais do que referida à história ou à ficção, talvez se
dirija à memória, que também é porosa, também é constituída na trama mesclada da
ficção e da história, também é comprometida duplamente” (PINTO, 1998, p. 263). No
espaço das “orillas”, a morte heróica seria também dupla. Eneida Maria de Souza conta-
nos que a morte seria vida, liberdade: “nos textos borgianos, a morte individual, ao se
contrapor à visão desumanizada da História, introduz paradoxalmente a palpitação e a
efervescência vital”. Acontece em Borges, a “romantização da morte como forma de
celebração da vida” (SOUZA, 1999, p. 102).
Referências bibliográficas:
BORGES, Jorge Luis. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. In: _____. Ficções, trad. Carlos Nejar, Obras Completas, v. 1, 1923-1949. São Paulo: Editora Globo, 2001a, p. 475-489. _____. A flor de Coleridge. In: _____. Outras Inquisições, trad. Sérgio Molina, Obras Completas, v. 2, 1952-1972. São Paulo: Editora Globo, 2005a, p. 16-18. _____. Uma rosa e Milton. In: _____. O outro, o mesmo, trad. Leonor Scliar-Cabral, Obras Completas, v. 2, 1952-1972. São Paulo: Editora Globo, 2005b, p. 292.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
144
_____. Uma rosa amarela. In: _____. O fazedor, trad. Josely Vianna Baptista, Obras Completas, v. 2, 1952-1972. São Paulo: Editora Globo, 2005c, p. 193. _____. História da eternidade. In: _____. História da eternidade, trad. Carmen Cirne Lima, Obras Completas, v. 1, 1923-1949. São Paulo: Editora Globo, 2001b, p. 387-404. _____. A rosa. In: _____. Fervor de Buenos Aires, trad. Glauco Mattoso e Jorge Schwartz, Obras Completas, v. 1, 1923-1949. São Paulo: Editora Globo, 2001c, p. 23. _____. Tango. In: _____. O outro, o mesmo, trad. Leonor Scliar-Cabral, Obras Completas, v. 2, 1952-1972. São Paulo: Editora Globo, 2005d, p. 289-290. BORGES, Jorge Luis; GUERRERO, Margarita. Dois animais metafísicos. In: _____. O livro dos seres imaginários, trad. Carmen Vera Cirne Lima, Porto Alegre; Rio de Janeiro: Editora Globo, 1985, p. 11-12. COSTA LIMA, Luiz. A antiphysis em Jorge Luis Borges. In: _____. Mímesis e modernidade: formas das sombras. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 237-265. LUDMER, Josefina. “¿Cómo salir de Borges?”. In: ROWE, William; CANAPARO, Cláudio; LOUIS, Annick (eds). Jorge Luis Borges: intervenciones sobre pensamiento y literatura. Buenos Aires: Paidós, 2000, p. 289-300. PINTO, Júlio Pimentel. Memória e textualidade: alguns itinerários borgianos. Proj. História, São Paulo, (14), fev. 1997. p. 129-144. _____. Uma memória do mundo: ficção, memória e história em Jorge Luis Borges. São Paulo: Estação Liberdade: Fapesp, 1998. SOUZA, Eneida Maria de. O século de Borges. Belo Horizonte: Autêntica; Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
145
A CONSTRUÇÃO DO REALISMO FANTÁSTICO EM O PROCESSO, DE
FRANZ KAFKA
Breno Rodrigues de Paula*
RESUMO
As articulações funcionais do espaço e do tempo apresentam-se como fatores de extrema importância para o estudo da narrativa literária e também como elemento de fundamental valor em determinadas obras literárias. A função do espaço e do tempo pode variar de acordo com cada obra literária, dependo do gênero, do período literário e do autor. O presente trabalho, em sentido amplo, tem como objetivo estudar as funções do espaço e do tempo na narrativa do romance O Processo, de Franz Kafka. Em especifico, objetiva a análise de como ambas categorias narrativas auxiliam na construção do Realismo fantástico. PALAVRAS-CHAVE: Espaço, Tempo, Franz Kafka, Realismo Fantástico
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, após alguns breves apontamentos de ordem biográfica e
bibliográfica, problematizaremos a posição de Kafka dentro da literatura de expressão
de língua alemã, bem como dentro de um panorama da literatura ocidental.
Discutiremos a que tradição literária pertenceria o autor: a alemã, ou a tcheca, ou a
judaica, levando em conta o seu contexto sócio – histórico literário, para depois
problematizarmos onde se referenciaria, esteticamente falando, a sua obra, ou seja, se
ela seria Modernista, Expressionista, ou Realista Fantástica. Em seguida, adentraremos
na análise do romance O Processo, verificando como são trabalhadas as categorias da
narrativa, em específico, o espaço e o tempo, bem qual a importância de ambos para a
construção do Realismo Fantástico na obra em questão.
______________________________________________________________________ * Programa de Pós – graduação em Estudos Literários da UNESP, campus de Araraquara, na categoria de mestrando, na área de Teorias e Crítica da Narrativa.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
146
Franz Kafka nasceu no dia 03 de julho de 1883 na cidade de Praga, na antiga
Tchecolosváquia, então pertencente ao Império Austro-Húngaro; veio a falecer no dia
03 de junho de 1924 (portanto um mês antes de completar quarenta e um anos de idade)
em Viena, então capital do Império. Tendo como progenitores Herrmann Kafka e Julie
(nascida Löwy). Seu pai era um próspero comerciante judeu. Franz Kafka bacharelou-se
em Direito no ano de 1906 na Universidade de Praga e empregou-se em uma companhia
de seguros, como inspetor de acidente de trabalhos. Teve ainda três tentativas de
casamento frustradas: com Felice Bauer, a quem o autor dirigiu as famosas cartas
Cartas à Felice - Brief an Felice, publicadas em 1976; e uma tentativa com Julie
Wohryzek, e outra com Milena Jesenská.
A relação de Kafka com o seu pai foi tempestuosa e traumática, até ao ponto de
alguns estudiosos, como Eric Heller, afirmarem que esta relação acabou encontrando
eco nas obras do autor: “(...) a vizinhança entre literatura e autobiografia dificilmente
poderia ser mais próxima do que no caso de Kafka, na verdade, quase toca à
identidade.” (HELLER, 1976, p. 17) Segundo esta perspectiva, a relação dialética entre
pai e filho, ou seja, o conflito entre ambos; acabou por servir de modelo para a estrutura
narrativa de suas obras, pois, assim como em quase toda a obra de Kafka, sempre há
uma relação dialética entre o individuo e uma força superior-, como ocorre, por
exemplo, nas obras A Metamorfose (1915), O Processo (1924), O Veredicto (1916), e O
Castelo (1926).
Mesmo sendo considerado como um dos mais importantes escritores do século
XX, ao lado de nomes como James Joyce e Marcel Proust, a produção literária de Kafka
não ultrapassa mais do que duas mil páginas. Produziu, além de contos, romances,
novelas, diários, uma peça de teatro, e também uma importante produção epistolar,
sendo a sua obra dividida ainda em dois grupos: a obras publicadas em vida e os
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
147
“espólios”, como salienta Pires (1996, p. 27). No primeiro grupo, tem-se as obras
publicadas em vida, o que somam o total de seis: Betrachtung – A Contemplação
(1913); Der Heizer – O Foguista (1913); Die Verwandlung – A Metamorfose (1915);
Das Ürteil - O Veredicto (1916); In des Strafkolonie - Na Colônia penal (1919); e Ein
Landarzt – Um médico rural (1920), além da obra Ein Hungerkünstle – Um artista da
fome (1924), revisada no seu leito de morte e publicada pouco depois da morte do seu
autor.
No segundo grupo, há o conjunto de obras denominadas “narrativas de espólio”,
como salienta Pires: “São chamadas narrativas de espólio os textos não publicados e /
ou não revisados em vida por Franz Kafka.” (1996, p. 28) Ainda segundo Pires: “As
narrativas de espólio, bem como os diários”, os aforismos e parte da correspondência de
Kafka, foram publicados postumamente por Max Brod.” (1996, p. 29), então seu grande
amigo, editor e, posteriormente, seu principal divulgador.
De acordo com Pires (1996, p. 29), fazem parte desta narrativa de espólio os
fragmentos e as obras: O guardião da tumba (única peça de teatro escrita por Kafka), os
contos Graco; O caçador; A grande muralha da China (escritos entre dezembro de
1916 e abril de 1917); Descrição de uma luta (primeiro trabalho de Kafka, feito em
1903 / 04); Preparativos de um casamento no campo (1907); O Cavaleiro do balde
(1916); O brasão da cidade (1920) e Investigações de um cão (1920). Já as obras Der
Prozess - O Processo e Das Schloss - O Castelo, são obras consideradas inacabadas,
foram publicadas após a morte de Kafka; a primeira teve o início de sua redação em
1914 e foi publicada apenas em 1924; e a segunda foi escrita entre fevereiro e setembro
de 1922, sendo publicada postumamente em 1926.
Situar a obra de Kafka em um panorama de desenvolvimento da literatura
ocidental é bastante complexo, devido à problemática de seu contexto sócio-histórico
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
148
literário. Um escritor judeu, nascido na então Tchecoslováquia, uma província do
império austro-húngaro, que escreveu a sua obra em alemão, como ressalta Otto Maria
Carpeaux:
Kafka nasceu na cidade de Praga, então capital de uma província do Império dos Habsburgos, a cidade eslava com uma minoria de língua alemã, em grande parte judia. Esse escritor de língua alemã foi cidadão austríaco, judeu consciente tecido por uma dose de religiosidade eslava. (1994, p. 290)
Mesmo sendo tcheco, estudiosos como Anatol Rosenfeld e Otto Maria Carpeaux
consideram Kafka como sendo um autor alemão, pois ele não escreveu em sua língua
materna, mas sim em língua germânica, como ressalta Anatol Rosenfeld:
Tanto a literatura da Áustria como as da Suíça alemã e, parcialmente e temporalmente, da Alsácia, assim como de grupos bálticos e da antiga Tchecoslováquia (Rilke, Kafka, etc) fazem parte da literatura alemã. O que liga tais manifestações literárias, apesar das diferenças culturais às vezes acentuadas, é o idioma essencialmente idêntico. (1993, p. 25)
Além da problemática da língua, há a da identidade cultural, já que Kafka nasceu, e
viveu em uma trifurcação de culturas: a judaica, a eslava, e a alemã. Sobre esta questão,
Luis Costa Lima ressalta: “Para os tchecos, Kafka era um falante do alemão, para a
comunidade alemã, um judeu. E para os judeus?” (LIMA, 1993, p. 176)
A necessidade de se relacionar um determinado autor, com uma determinada
tradição, segundo a sua língua literária, mostra-se problemático a partir do século XX,
pois alguns autores, como é o caso de Kafka, não produziram a sua obra na sua língua
materna e, portanto, a língua que os identificariam como cidadãos de um determinado
Estado – nação, mas a escreveu em uma língua outra, mesmo sendo literária, que lhe é
estrangeira. Eis que se tem, desta maneira, a dificuldade de inserir autores como Kafka
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
149
em uma dada tradição literária vincada na relação Estado – língua nacional, já que a sua
língua literária não era a do seu Estado de origem, e a língua do seu Estado de origem
não era a sua língua literária.
Desta maneira, consideraremos Kafka como sendo um autor realista, mas não
um realista, como ressalta Modesto Carone, igual à Flaubert ou à Kleist, (CARONE,
2009, p. 45) mas que se insere nas fileiras do Realismo Fantástico. Sobre as diferenças
entre o Realismo e Realismo Fantástico, ressalta D’Onofrio:
A narrativa das correntes realistas, até aqui analisadas, partilha do princípio clássica de que a vida racional cabe ao escritor descobrir, via arte literária, a lógica do comportamento humano e do viver social. A corrente do chamado “realismo fantástico’, pelo contrário, contesta esta falsa crença, pondo em relevo o que há de absurdo e desumano na realidade individual e social. O fantástico passa a ser utilizado como recurso expressivo para evidenciar a inexistência de fronteiras entre o real e o imaginário, o natural e o anormal. (D’ONOFRIO, 1997, p. 435)
Também Carlos Nelson Coutinho considera Kafka como pertencente à vertente do
Realismo Fantástico:
Outra característica formal determinante do mundo de Kafka – ligada também estreitamente à problemática do conteúdo antecipador de seus relatos – é o uso do fantástico como técnica para a representação do real. (COUTINHO, 2005, p. 165)
O estudioso ressalta ainda que o “mundo” kafkakiano é envolto por uma atmosfera
fantástica: “(...) todo o “mundo” kafkaniano é envolvido por uma atmosfera fantástica,
por uma estranheza que o distancia decisivamente das formas “normais” de aparição da
realidade cotidiana” (COUTINHO, 2005, p. 165)
Para Volobuef, a narrativa fantástica remonta ao romance gótico do século
XVII: condensados, escritura mais requintada. (VOLOBUEF, 2000, p. 109) Segundo a
autora, o fantástico não se confunde com o maravilhoso ou mágico, ele ainda estabelece
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
150
uma relação ainda estreita com o mundo real: “(...) o fantástico não cria mundos
fabulosos, distintos do nosso e povoados por criaturas imaginárias, mas revela e
problematiza a vida e o ambiente que conhecemos do dia-a-dia.” (VOLOBUEF, 2000,
p. 110)
É nesta tradição do Realismo Fantástico que analisaremos o corpus em questão,
o romance O Processo, do escritor Franz Kafka, verificando como as categorias da
narrativa, em específico, o espaço e o tempo são literariamente trabalhadas, dentro de
uma estética realista fantástica. Pois, no caso de Kafka, como ressalta Volobuef, seria na
“falta de compreensão quanto à realidade dentro do texto que dá origem ao fantástico,
ao insólito, ao aterrador.” (VOLOBUEF, 2000, p. 109)
O ESPAÇO GRANDIOSO EM KAFKA
“Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido
sem ter feito mal algum.” (KAFKA, 2001, p. 09) Assim inicia-se O Processo , romance
de Franz Kafka, no qual acompanhamos a tentativa de Joseph K. de descobrir, não só do
que ele é culpado, mas também quem o culpa. Seu processo é regido por uma lei que ele
desconhece em locais desconhecidos e insólitos como o tribunal. Como salienta Anders,
no romance, Kafka cria uma fisionomia de um mundo exótico, qualificando-o de
onírico, mítico ou simbólico. Para Günther Anders, a fisionomia do mundo kafkaniano
parece “des – lou – cada”: “A fisionomia do mundo kafkaniano parece des – lou – cada.
Mas Kafka deslouca o mundo a aparência aparente normal do nosso mundo louco, para
tornar visível sua loucura.” (ANDERS, 1969, p. 16)
Kafka, para compor seu mundo, que Anders denominou “mundo kafkaniano
desloucado”, utiliza-se de espacialidades que fazem um modelo simbólico do mundo,
como afirma Mielietinski:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
151
Kafka faz um modelo simbólico do mundo a partir de uma construção “sintética”. A essência cognitiva do mundo e do homem apresentam-se no nível fenomenológico como o fantástico do absurdo. (MIELIETINSKI, 1987, p. 408)
Para criar o que Mielietinski “fantástico do absurdo”, há a transfiguração da realidade
em outra realidade fantástica:
A transfiguração kafkaniana da realidade em outra realidade fantástica, porém mais profunda, é, evidentemente, inconcebível no romance realista, é sancioanada pela estética do expressionismo cuja influência Kafka sofreu. (MIELIETINSKI, 1987, p. 408)
Com relação a esta outra realidade criada por Kafka Anders afirma:
As imagens possibilitam uma nova atitude e uma nova chance de revisão do julgamento. O resultado é uma discrepância entre extrema irrealidade e exatidão extrema; essa discrepância fere, por seu lado, um efeito de choque; e esse efeito condiciona, mais uma vez, o sentimento da mais aguda realidade. (ANDERS, 1969, p. 22)
Nesta “outra realidade” criada por Kafka, o espaço a condiciona como tal, ao mesmo
tempo, a caracteriza como fantástica, devido às espacialidades absurdamente
grandiosas, no qual o homem, no seu interior, torna-se impotente.
Nota-se que Kafka opta por descrever as espacialidades. Ele as descreve tanto no
seu interior quanto no seu exterior. A descrição, logo, dá completude ao espaço que se
apresenta como sendo grandioso e imponente. Para Anders, o espaço intermediário e
infinito ganha o significado de inalcançabilidade (ANDERS, 1969, p. 89)
O TEMPO CÍCLICO QUE PÁRA DE RODAR
Para Anders, Kafka suspende o tempo. (ANDERS, 1969, p. 58) A suspensão
seria em relação a um tempo cronológico externo, histórico. A suspensão cria o efeito
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
152
de atemporalidade sócio – histórica. O próprio Mendilow afirma que, em Kafka, o
tempo está suspenso em um vácuo temporal:
Kafka oferece seqüências, retrata incidentes, mas suspensos em um vácuo temporal, não podendo relacionar-se uns com os outros, exceto de modo mais geral, como partes de um movimento musical ou ritmo emocional. Não é o que o tempo se contraia ou se expanda, mova-se ou fique parado, pois tudo isso implica que ainda haja um tempo operando. Ao invés, o tempo é estranho ao tratamento do tema, nem conquistador nem conquistado, apenas inexistente. (MENDILOW, 1972, p. 155)
Ou seja, o tempo ficcional não é inexistente. Ele é suspenso em relação a um
tempo sócio – histórico, o que criaria o efeito de atemporalidade.
O tempo ficcional, no romance O Processo, não é inexistente. Ele é suspenso em
relação a um tempo sócio – histórico. A suspensão do tempo cria o efeito de
atemporalidade. Para Mendilow, o tempo, nas obras de Kafka, não pode ser medido por
padrões fixos de tempo cronológico, o que não ocorre com o romance, em específico, O
Processo, no qual o autor utiliza-se das estações do ano, de períodos do dia, bem como
do tempo do relógio através de indicações horárias para demarcar o tempo. O tempo
ficcional do romance abrange um ano (do trigésimo ao trigésimo primeiro aniversário
de K.) demarcados pelas estações do ano, lembrando que o romance inicia-se na
primavera. As estações do ano demarcam um tempo cíclico, no O Processo, o início é
na primavera; e o fim, no inverno. Não há o retorno para a primavera, o tempo pára no
inverno com a morte de K., “como um cão” (Kafka, 2001, p. 278), e conseqüentemente
com o fim do romance. O tempo cíclico, para K., pára de rodar.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
153
APONTAMENTOS FINAIS
O espaço não é meramente onde se passa a ação, assim como o tempo não é
somente um “medidor” externo dela. Eles possuem características singulares e
especificidades que variam de obra para obra literária. A variação gera funções. No
romance O Processo, de Franz Kafka, o espaço e o tempo possuem funções. No
romance, eles ajudam a criar o “realismo fantástico kafkaniano”. Na obra, a realidade é
expandida até o “absurdo”, até o seu limite. O fantástico surge da hiperbolização da
realidade, que vêem seus elementos, tais como espaço e tempo, tornarem-se grandiosos
e épicos, respectivamente.
No romance O Processo, nota-se que Kafka opta por descrever as
espacialidades. Ele as descreve tanto no seu interior quanto seu exterior. Na obra, o
espaço apresenta-se como sendo grandioso e imponente. A espacialidade do tribunal
apresenta-se transmorfa e seus corredores são como labirintos. Elas condicionam o
realismo kafkaniano, caracterizando-o de fantástico, devido às espacialidades
absurdamente grandiosas, no qual o homem se torna imponente. Não importa quantos
caminhos K. deve percorrer para saber do que é culpado ou quantos corredores deve
desbravar para conhecer quem o culpa. Seu processo é a sua sentença.
O espaço, em kafka, não possui a mesma escala em relação às outras categorias
da narrativa, principalmente em relação à personagem, pois há uma
desproporcionalidade, ou seja o espaço é instaurado a partir de grandes espacialidades,
sendo, portanto, desproporcional e trabalhado de forma hiperbólica, o que transfigura os
elementos da referencialidade junto ao real, principalmente no que diz respieto ao
espaço, criando um panorama de uma realidade fantástica.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
154
Já o tempo, ao perder a sua relação com um tempo externo histórico ao do
universo diegético, perde também a sua referencialidade explícita, criando um efeito de
“atemporalidade”, de modo que se cria um efeito de suspensão, em relação ao real, com
um modo de se trabalhar o tempo semelhante aos trabalhos nas narrativas míticas.
Referências Bibliográficas:
ANDERS, Günters. Kafka: pró e contra. São Paulo: Perspectiva, 1969. CARONE, Modesto. Lição de Kafka. São Paulo: Companhia das letras, 2009. CARPEAUX, Otto Maria. Literatura alemã. 2. ed. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. CAVALCANTI, Claúdia. A literatura expressionista alemã. São Paulo: Ática, 1995. COUTINHO, Carlos Nelson. Lukács, Proust e Kafka: literatura e sociedade no século XX. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005. D’ONOFRIO, Salvatore. Literatura ocidental: autores e obras fundamentais. 2. ed. São Paulo: Ática, 1997. HELLER, Erich. Kafka . Trad. James Amado. São Paulo: Cultrix, 1976. KAFKA, Franz. O processo. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia da Letras, 2001. KAFKA, Franz. O Castelo. Trad Modesto Carone. São Paulo: Companhia das letras: 2000. KAFKA, Franz. Carta ao pai. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das letras, 1997. KAFKA, Franz. A metamorfose. Trad. Modesto Carone. 1. Ed. São Paulo: Editora brasiliense, 1985. KAFKA, Franz. O processo. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das letras, 1997. KAFKA, Franz. O veredicto / Na colônia penal. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das letras, 1997. KAFKA, Franz. Carta ao pai. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das letras, 1997. LIMA, Luiz Costa. Limites da voz: Kafka. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. MIELIETINSKI, E. M. O mitologismo em Kafka. In. __. A poética do mito. Rio de Janeiro, 1987. p. 404 – 425. PIRES, Antônio Donizete. Uma barata cheia de espinhos: leitura intertextual de A Metamorfose, de Franz Kafka, e A paixão segundo G. H., de Clarice Lispector. Dissertação (Estudos literários). Araraquara: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Araraquara. ROSENFELD, Anatol. História da literatura e do teatro alemão. São Paulo: Perspectiva, 1993. VOLOBUEF, Karin. Uma leitura do fantástico: “A invenção de Morel” (A. B. Casares) e “O Processo” (F. Kafka). Revista de Letras, n. 53, janeiro a junho de 2000. Curitiba: Editora da UFPR, 2000. p. 109 – 123.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
155
DE LOUCURA... A O SEXTO SENTIDO: TENSÕES ENTRE O GÊNERO E O
MODO FANTÁSTICO EM MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO
Bruno da Silva Soares*
RESUMO
O presente trabalho busca discutir a diegese fantástica, em narrativas de Mário de Sá-Carneiro, focalizando a dicotomia Gênero / Modo. Os textos escolhidos, “Loucura...” e “O Sexto Sentido”, foram publicados em sua primeira coletânea de narrativas, Princípio, e exemplificam a fluência de Mário de Sá-Carneiro, em uma mesma coletânea, entre o Fantástico como gênero ou como modo. Segundo Filipe Furtado apresenta em seu verbete sobre o Fantástico Modo no E-Dic, não é suficiente sustentarmos os postulados sobre o Fantástico atendo-nos somente ao que Todorov classifica como gênero. Em discussão direta – não opositiva, mas complementar –, Furtado traz à guisa de debate a teoria todoroviana e a contrapõe aos estudos sobre o Fantástico em produções literárias contemporâneas. Este trabalho objetiva, então, estender essa mesma discussão à ficção de Sá-Carneiro, visando fomentar a questão sobre esta possível dicotomia teórica e conceitual de modo a contribuir para os estudos sobre Sá-Carneiro, o Fantástico e as narrativas do Modernismo português como um todo, identificando, discutindo e contrapondo as características do gênero às do modo fantástico e, como, elas se manifestam nestas duas novelas do escritor português. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico Gênero; Fantático Modo; Insólito.
Primeiramente, repensemos o que é a proposição do Fantástico todoroviano,
pelo excerto do próprio autor:
“Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós.” (TODOROV: 2004;30)
Há, portanto, uma importância ímpar para que o Fantástico aconteça em uma
narrativa: a hesitação. Se optar por crer que a fenomenologia insólita ocorreu, a
narrativa declina-se para o Maravilhoso, se obstante, explicar-se o insólito de forma
empírica, ainda que improvável, temos o Estranho. É nesta tênue linha que o Fantástico
___________________________
* Mestrando em Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
156
subsiste e toda a estrutura da narrativa deve colaborar para que sua existência não seja
breve e decline para algum dos outros gêneros vizinhos acima citados.
Para que esta linha narrativa se mantenha, a proposição do teórico português
Filipe Furtado, complementa a de Todorov:
“No essencial, a narrativa fantástica deverá propiciar através do discurso a instalação e a permanência da ambiguidade de que vive o gênero, nunca evidenciando uma decisão plena entre o que é apresentado como resultante das leis da natureza e o que surge em contradição frontal com elas.” (FURTADO:1980;132)
Até este ponto, percebemos então que a construção do Fantástico gênero, em
ambos os teóricos, sustenta-se na hesitação, para Todorov, e na ambiguidade, para
Furtado. Entretanto, em um estudo posterior ao seu Construção do Fantástico na
Narrativa, o estruturalista Filipe Furtado discorre sobre uma nova possibilidade de
entendimento do Fantástico: o modo discursivo Fantástico.
Contrapondo-se à necessidade da ambiguidade, e outros traços narrativos
determinados, o autor determina que um modo seria:
“Em português, tal como na maioria das línguas românicas, o termo “fantástico” torna-se com frequência objecto de emprego ambíguo, dado ser (nem sempre conscientemente) aplicado a, pelo menos, duas ordens diferentes de conceitos no domínio dos estudos literários. Com efeito, surge, não raro indiferentemente, a designar quer um género quer uma noção de maior abrangência (de há muito apontada por críticos como Northrop Frye, Gérard Genette ou Robert Scholes) que, em regra, se denomina modo. Esta expressão, por sua vez, aplica-se a categorias que envolvem um elevado grau de generalidade e abstracção (algo como universais da arte literária) cuja vigência se tem mantido praticamente inalterada através dos tempos a despeito das contingências e mutações inerentes ao evoluir dos sistemas sociais e culturais. Trata-se de construções teóricas decorrentes de reflexões de índole predominantemente dedutiva sobre os “possíveis” da literatura, nas quais se procura levar em conta as combinações de elementos discursivos já realizadas na prática, assim como determinar ante rem as susceptíveis de realização futura. Às grandes esferas conceptuais pressupostas pela noção de modo, têm sido atribuídas outras designações, como “formas naturais” (Naturformen) por Goethe, “arquigéneros” (archigenres) por Gérard Genette ou “géneros teóricos” (genres théoriques) por Tzvetan Todorov.”(FURTADO:2011)
Já percebe-se, de fato, que nesta última referência, Furtado demarca outra visão
de Todorov não de forma a criticá-lo, mas de apropriar-se de suas conceituações e
aprofundar-lhes a significação na contemporaneidade. Discorre ainda o autor que esta
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
157
visão macro da literatura, denota que tratamos aqui de um estanque em paralelo do que,
indiferente à tripartição dos gêneros clássicos, pressupõem-se vertentes literárias que
abordam o valor da representação da mímesis em oposição aos que desatam tais laços
rigidamente comprometidos com o real. Contributos literários, quissá artísticos, em
sentido latto, que tratam dos substratos imagéticos de cunho fantasioso:
“Entre as elaborações tipológicas baseadas nesta ordem de considerações, a tripartição clássica das modalidades fundamentais da enunciação (épica-narrativa, lírica e dramática) constitui, se não a mais correcta e operativa, pelo menos a mais influente e duradoura. Quando assim perspectivado, o modo fantástico abrange (como, entre outros, Rosemary Jackson apontou) pelo menos a maioria do imenso domínio literário e artístico que, longe de se pretender realista, recusa atribuir qualquer prioridade a uma representação rigorosamente “mimética” do mundo objectivo. Recobre, portanto, uma vasta área a muitos títulos coincidente com a esfera genológica usualmente designada em inglês por fantasy. Torna-se, a propósito, curial encarar os intuitos representacionais da globalidade da literatura como subdivisíveis grosso modo em duas gigantescas esferas que se poderiam denominar icástica ou realista, por um lado, e fantástica, ou fantasiosa, por outro.”(FURTADO:2011)
Então, se a ambiguidade define o gênero fantástico, como, além do comparativo
temático, podemos atribuir ao modo discursivo, critérios que o categorizariam? Furtado
discorre que a presença do sobrenatural seria o fenômeno fundamentador desse modo,
porém, no desenvolver de seu estudo, questiona-se a cerca da consistência desta
tessitura e define o metaempírico como seu critério-base:
“Ora, se em qualquer época histórica, as entidades ou ocorrências ditas sobrenaturais revelam um traço de facto comum, ele consiste não numa efectiva fuga à natureza, mas no facto de se tornar impossível comprovar de modo universalmente válido a sua existência no mundo conhecido. Daí não haver grande sentido em denominar tais elementos com base em características que, na melhor das hipóteses, se poderão considerar meramente presumíveis. Ao contrário, a tentativa de os qualificar deverá ser deslocada para a perspectiva do sujeito humano do conhecimento, tornando-se, portanto, preferível subsumi-los numa categoria mais ampla e apelidá-los de “metaempíricos”. Efectivamente, quer, por exemplo, um lobisomem, uma fada ou o deus Pã quer fenómenos fictícios mas possíveis, embora ainda não compreendidos ou sequer detectados pelos vários ramos do saber, apesar das suas óbvias diferenças, correspondem a tal designação. Isto, não obstante os elementos do primeiro tipo (de facto sobrenaturais, caso existissem) relevarem apenas do imaginário, enquanto alguns do segundo possam porventura vir a ser detectados e compreendidos mediante novos dados a estabelecer no futuro. Assim, o conceito expresso pelo termo aqui proposto recobre não só as manifestações de há muito denominadas sobrenaturais, mas, ainda,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
158
outras que, não o sendo, também podem parecer insólitas e, eventualmente, assustadoras. Todas elas, com efeito, partilham um traço comum: o de se manterem inexplicáveis na época de produção do texto devido a insuficiência de meios de percepção, a desconhecimento dos seus princípios ordenadores ou a não terem, afinal, existência objectiva.”(FURTADO:2011)
Por essas bases definidas, notamos em Sá-Carneiro que O Sexto Sentido seria
um exemplo do Fantástico como gênero, pois há os elementos constitutivos clássicos de
Todorov e os critérios estruturalistas da diegese fantástica de Furtado e que, Loucura...
não obstante à ambiguidade furtadiana ou hesitação todoroviana, apresenta a
fenomenologia metaempírica, elemento determinista da condição do modo fantástico.
O narrador de ambas as narrativas é intra-diegético, ou seja, que participa da
ação do enredo; as categorias de tempo e espaço são definidas apenas vagamente e há a
ocorrência da ação metaempírica em ambos os casos, porém, neste último ponto é que
temos a ruptura entre o modo e o gênero em Sá-Carneiro: se em O Sexto Sentido a
personagem-narrador declara seu espanto com a suposta adivinhação que seu amigo,
doutor Gouveia, em Loucura...a hesitação encontra-se no mistério que seu personagem-
narrador descreve das causa mortis de seu amigo Raul Vilela, o artista.
Em O Sexto Sentido, fica claro o posicionamento que a narrativa induz no leitor
– modelo, em quase todos os exemplos que ao narratário é transmitida:
“Passaram-se três meses sem que lograsse por os olhos em cima do meu amigo. Uma tarde, justamente quando lhe escrevia uma carta, entrou-me pela casa dentro – o cabelo em desalinho, o olhar vago e brilhante. Com um sorriso irônico desfechou: - Vim... para te poupar o trabalho dessa carta. Logo que a começaste a escrever, saí de minha casa precipitadamente para não te deixar concluir... Espantado, olhei para ele: - Mas como sabias que te estava escrevendo?”(SÁ-CARNEIRO:1995; 299)
O fluxo narrativo encerra-se na suposta aquisição de uma nova capacidade
perceptiva de Gouveia, que se supõe ser o sexto sentido, a intuição, telepatia,
psicocinese e/ou psicometria. A possibilidade de interpretá-lo como um louco que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
159
simplesmente cometeu coincidências em suas adivinhações, é corroborada pelo seu fim
trágico no internato que se lhe acomete no sanatório Rilhafoles.
Loucura... , organizadamente anterior ao Sexto Sentido, intersecciona um fato
revelador para o enredo do último: o mesmo narrador-personagem descreve o caso de
seu amigo Raul Vilela, comparando-o, em possível insanidade, ao de Gouveia, que é
dito ter cometido o suicídio, após removerem-lhe o suposto órgão frontal que dava-lhe
capacidades auspiciosas. Neste parêntesis, percebemos que há uma marca de
genialidade-paradoxal do autor: se lido em ordem organizacional da obra, o leitor
enxergaria Gouveia, que se diz paranormal, como um louco cujo lóbulo fora removido e
suicidara ao perder tais capacidades, doravante não comprovadas, mas se pensar neste
ocaso, a narrativa de O Sexto Sentido dependeria de uma interpretação externa à si, o
que não convém nem a Todorov, nem a Furtado como critério de avaliação do
Fantástico Gênero.
Ainda, em Loucura... o mistério da morte do artista, feliz, casado com a mulher
que amava e ainda assim criterioso em sua demonstração de afeto, gera o suspense,
aumenta gradativamente a expectativa, mas não produz a hesitação todoroviana, ou a
ambiguidade furtadiana. Como então pensar nesta novela, que mais adequaría-se ao
gênero do Estranho do que ao Fantástico, ainda que permeie, tangencialmente,
proximidades com o Misterioso?
Para responder a esta questão, recorremos novamente ao estudo de Furtado em
que, sob a égide do modo Fantástico, o Estranho e o Misterioso seriam duas facetas
distintas, porém de limites tênues, que conduzem a narrativa ao enlace do metaempírico,
por um fator simbólico exercido pelo sobrenatural, tal que, mesmo após sua ocorrência
ser explicada, seus efeitos não se desvinculam totalmente do enredo. O desenrolar do
clímax de Loucura... pressupõe uma ritualística erógena e grotesca que a personagem
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
160
Raul acomete à sua esposa Marcela, mas a certeza aparentemente evidente de tais fatos
é questionável, pois o relato é feito por um narrador que não estivera no local e que
afirmara que mais ninguém também não:
“[...] esteve à morte, com uma febre cerebral, receou-se pela sua razão. Hoje é feliz. Refez sua vida; tornou a casar, é mãe de dois lindos gêmeos. [...] Ela sempre foi uma criança. As crianças esquecem tudo... depressa...” (SÁ-CARNEIRO: 1995; 297)
Apenas o corpo de Raul é encontrado, sob suspeita de ter ingerido ventríolo e
Marcela, a vítima, sobrevivera alegando não lembrar-se de nada do ocorrido. Tal
incerteza que a única testemunha poderia dar, torna questionável uma certeza sobre o
ocorrido. Acrescente-se a isso, a própria intencionalidade do narrador em querer
proteger a imagem social de seu amigo Raul e declinaremo-nos os mesmo princípios de
hesitação e ambiguidade dos fatos: teria Raul cometido a tentativa grotesca contra sua
esposa, ou em um acordo mútuo de suicídio, teria Marcela desistido da idéia e largado
seu amado no último momento?
Por fim, concluímos este trabalho com o resultado de que Mário de Sá-Carneiro,
embora quase sempre lembrado por sua obra poética, é também um marco se pensarmos
pelo viés do Fantástico e não somente pela Confissão de Lúcio, seu Magnus Opus, mas
pelo conjunto factual de suas coletâneas de novelas e contos.
Referências Bibliográficas
ECO, U. Leitura do texto literário. Lector in fabula: a cooperação interpretativa nos textos literários. Lisboa: Editorial Proença, 1985. FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Livros Horizonte, 1980. FURTADO, Filipe. “Fantástico – Modo” in: E-Dicionário de Termos Literários, coord. De Carlos Ceia, ISBN:989-20-0088-9, http://www.edtl.com.pt, consultado em 20/04/2011 MARTINS, Fernando Cabral. O modernismo em Mário de Sá-Carneiro. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica: teoria da literatura. Debates. São Paulo: Perspectiva, 2008.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
161
SÁ-CARNEIRO, Mário de. Loucura... in: Obra completa:volume único/ Mário de Sá-Carneiro. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
162
NARRATIVAS FANTÁSTICAS NÃO-LINEARES EM MULTIMÍDIA -
VIDEOGAMES E UM VELHO JEITO DE CONTAR HISTÓRIAS
Cesar Augusto Sinicio Marques*
RESUMO
Dentre as mais primordiais narrativas a que se tem acesso, o “Livro das Mil e Uma Noites” traz um elemento importante na organização da trama: apresenta histórias dentro de uma história. Essa maneira ancestral não-linear de apresentar a narrativa encontra eco nas mais recentes descobertas tecnológicas aplicadas ao entretenimento: os video games. Já longe de suas origens em que os pixels na tela mal podiam descrever os objetos que pretendiam, os video games hoje são capazes de apresentar qualidade gráfica envolvente. E todo esse potencial é apenas parte do progresso já que o apreço pelos jogos eletrônicos transcende a questão da qualidade gráfica. O ponto crucial de atração pelos jogos se dá na medida em que apresentam um enredo capaz de levar o jogador a cruzar um mundo de fascínio e ilusão. Embora algumas histórias se configurem de maneira bastante linear, os jogos que desafiam a lógica de início-meio-fim, apresentando possibilidades de escolhas que podem alterar o desfecho da narrativa, são aqueles que mais se mostram capazes de se configurar como literatura contemporânea. O propósito dessa comunicação é apresentar as características que fazem de certos jogos de video games candidatos a figurarem cânones literários no futuro. A densidade narrativa, a adesão à técnica e estilo na criação do roteiro e mesmo a novíssima possibilidade da escolha de caminhos dentro da narrativa são elementos constituintes não apenas de um jeito comercialmente bem sucedido de se criar mídia, mas da inauguração de uma nova maneira – no sentido do meio em que ela se apresenta – de fazer a velha literatura.
PALAVRAS-CHAVE : narratividade, video games, hipertexto, literatura em diferentes
suportes
* Cesar Augusto Sinicio Marques é Bacharel em Psicologia pela Universidade Guarulhos (UNG - 2001) e atualmente cursa Letras na Universidade de São Paulo (USP - início em 2008) além de pós graduando em Técnicas Gramaticais e Textuais da Língua Portuguesa pela Universidade Nove de julho (UNINOVE - início 2009). Nas últimas duas Conferências de Culturas Inglesas da América Latina (LABCI) apresentou trabalho com propostas de ensino mediadas por ferramentas lúdicas (Role Playing Games em 2007 e Video Games em 2009). Na última conferência de Culturas Inglesas do Brasil (ABCI) apresentou reflexões sobre novos papéis para professores diante do novo modelo participativo de uso da Internet. Recentemente ministrou cursos de extensão com temáticas ligadas à análise da narrativa, o conceito de “jornada do herói mitológico” proposto por Campbell e a Morfologia do conto maravilhoso de Propp. Foi professor de inglês pela Cultura Inglesa SP atuando tanto na instrução direta quanto no treinamento e acompanhamento de novos professores. Tem experiência nas áreas de Psicologia e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho em grupo, educação, educação à distância, blended learning, cultura pop e sua aplicabilidade no ensino, ensino e aprendizagem, RPG (Role Playing Games) e educação, videogames e educação, língua estrangeira moderna: inglês.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
163
Não há dúvidas de que os video games constituam um importante fenômeno de
entretenimento, movimentando uma indústria produtiva ao redor do mundo e com uma
base de consumo que ultrapassa barreiras de idade, língua e cultura. (cf. BAKER, 2011)
Entretanto, seria o fascínio por esse suporte midiático gerado puramente pela ação
mecânica? Em outras palavras: o apertar repetitivo de botões seria o suficiente para
movimentar pessoas em direção a esse formato de entretenimento? O propósito dessa
comunicação é apresentar argumentos para pontuar a existência de uma modalidade de
jogos eletrônicos onde a mecanicidade do apertar de botões está a serviço de um
objetivo maior e primeiro: contar histórias.
No princípio havia a narrativa
Das idéias estruturais de Propp (PROPP, 2006)** , passando pela teoria actancial
Greimasiana (GREIMAS, 1973), a idéia de que há uma narrativa subjacente mesmo aos
níveis mais elementares do discurso permeia os estudos linguísticos e semióticos. A
narratividade, de acordo com esses pontos de vista, pode estar contida em elementos tão
singulares quanto uma pequena sentença ou até mesmo uma imagem. Os video games
parecem representar um modo de narrar histórias que se apresenta como herdeiro de
uma tradição que mudou de suporte, mas mantém suas características essenciais. Cabe
apresentá-la como a enxergamos.
Dentre as mais primordiais narrativas a que se tem acesso, o “Livro das Mil e Uma
Noites” traz um elemento importante na organização da trama: apresenta histórias
dentro de outras histórias. A qualidade oral da provável origem dessa grande e
intrincada história, e de tantos outros mitos primeiros, apresenta uma característica de
** A edição utilizada como referência é a tradução de 2006. É pertinente colocar essa observação visto que a obra original é anterior à teoria de Greimas referida em seguida.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
164
potencial interatividade e transformação da narrativa. A história contada se
transformava em função daquele que a transmitia, da memória de quem as recebia e de
tantos outros fatores, numa perspectiva que as torna narrativas mutáveis e capazes de
conter em si outras narrativas ou aglutinar partes de outras histórias. Mas tudo isso são
apenas hipóteses, uma vez que essa origem oral está perdida. A não-linearidade e a
presença de diversas molduras narrativas em contos primordiais, entretanto, parece
sugerir tal organização. (cf. COELHO, 1991)
O surgimento de novos suportes altera a maneira como essas histórias são contadas ao
longo do tempo: o suporte escrito redesenha as possibilidades narrativas cristalizando
uma forma da história de maneira mais definitiva e menos suscetível a intervenções.
Cabe lembrar, sem dúvida, que essa cristalização é relativa e que a cultura oral jamais
deixou de existir. Parece ser indicativo disso a presença de contos semelhantes em obras
de diferentes coletores de contos como os Irmãos Grimm e Perrault. Além disso, a
sucessão de suportes midiáticos novos não faz com que o anterior desapareça, numa
relação de competitividade. Há, ao contrário, uma complementaridade de formatos.
Com a introdução do suporte cinematográfico, novos horizontes narrativos são
alcançados: o universo imagético, antes definido cognitivamente à partir de pistas na
história oral ou escrita aqui apresenta cor, textura e forma fixas e definidas.
Quando o suporte dos video games passa a integrar o rol de mídias narrativas, os
formatos fixos que já se apresentavam na cinematografia, parecem ser o caminho mais
natural, mas os video games surgem com capacidade extremamente limitada de mostrar
aquilo que o cinema já se consagrara em fazer à partir de imagens que lembravam o
“real”. Como poderiam pequenos quadrados contar uma história?
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
165
Uma breve história das histórias contadas por video games
Os video games tiveram um processo evolutivo gigantesco em um período de tempo
relativamente curto. Em suas origens, os poucos pixels disponíveis – literalmente
pequenos quadrados que em conjunção formam uma imagem –só permitiam jogos em
que o objetivo era simples e repetitivo. Ainda assim, a pulsão criativa humana já dava
sinais de transcendência: o jogo “Adventure” do sistema Atari, criado por Warren
Robinett em 1979, apresentava um quadrado que precisava obter objetos diversos para
escapar de um labirinto. Assim, quando se encontrava um castelo no meio do caminho,
era preciso encontrar uma chave da mesma cor, e se lá dentro se encontrasse um dragão,
seria necessária uma lança para derrotá-lo.
(figura 1: Imagem do jogo “Adventure” de Warren Robinett, lançado em 1979,
mostrando o herói em frente ao castelo)
Com a evolução dos consoles de video games, as possibilidades de interação cresciam.
Em 1987 Hironobu Sakaguchi escrevia o que pensava ser o último dos jogos que
escreveria – o autor declara que se aquela tentativa falhasse voltaria para a universidade
– e deu a essa tentativa derradeira o nome de “Final Fantasy”, a fantasia final.
Sakaguchi declara que sabia que não era bom o suficiente para criar jogos de ação e
deciciu contar uma história. (cf. BERARDINI, 2006). Nela, quatro companheiros
dotados de excepcional coragem e cristais mágicos descobrem que podem impedir a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
166
destruição do mundo através de suas ações. E é o jogador quem controla as quatro
entidades.
Note, entretanto, conforme mostra a figura 2 que a imaginação do jogador/leitor
certamente terá que trilhar boa parte do caminho cognitivo, uma vez que as figuras
representativas dos personagens são extremamente simples.
(figura 2: Imagem do jogo Final Fantasy, de Hironobu Sakaguchi, lançado em 1987,
mostrando o herói em frente ao castelo)
Nesse mesmo ano a Lucasfilms Games (atual LucasArts de propriedade de George
Lucas) lançaria “Maniac Mansion”, uma história com elementos de non-sense em que a
namorada do personagem principal, Sandy, é sequestrada por um estranho cientista. O
jogador assume o papel de Dave, mas deve também escolher outros dois personagens
para acompanhá-lo na missão de salvamento. A escolha dos personagens afetará o
andamento do jogo. (cf. SMITH, 2008)
E todo esse potencial surge muito antes de tais personagens se parecerem com aquilo
que hoje a tecnologia tornou tão trivial. As imagens que os video games da época eram
capazes de produzir não passavam de desenhos formados por pixels, não muito mais do
que representações toscas e mínimas de uma figura heróica. O verossímil Aristotélico
nesses casos está muito mais ligado à qualidade narrativa do que à representatividade
gráfica dos personagens a tela. O ponto crucial de atração pelos jogos se dá na medida
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
167
em que apresentam um enredo capaz de levar o jogador a cruzar um mundo de fascínio
e ilusão, independente da capacidade geradora de imagens parecidas com o “real”.
Não linearidade, tradição oral e interatividade
As histórias menos lineares e com intrincadas tramas que parecem caracterizar os
primeiros registros escritos remetem à origem oral dos mitos que viriam a originar esses
escritos. Assim, fica a impressão de que ao nos afastarmos dessa origem ancestral
através do uso da tecnologia, ficaremos inegavelmente separados da possibilidade de
interação. Afinal, os caminhos computacionais parecem pré-estabelecer o que é
permitido ou não na realização possível da história que se desenrola em um jogo de
video game.
Contudo, nas contemporâneas narrativas mediadas por video games é possível trilhar de
maneira independente sub recortes da história principal de maneira a obter vantagens. É
possível, em alguns casos, decidir a sanção do sujeito à partir de escolhas que são feitas
ao longo da narrativa afetando a experiência do jogo e permitindo releituras com
desfechos diferentes. Interessante notar, portanto, que as mídias eletrônicas trazem uma
possibilidade hipertextual que ecoa nas narrativas ancestrais orais não-lineares.
O diálogo entre diferentes mídias também é uma forte tendência no modo como as
histórias dos jogos de video game se apresentam. Assim, cenários criados para o
desenvolvimento de um jogo de video game, são muitas vezes utilizados em
aproximações em livro, cinema, além de adaptados, contados e utilizados pelos próprios
jogadores em fóruns de discussão online.
James Paul Gee é um estudioso da linguagem e discurso presentes nas narrativas de
video games e afirma que a experiência do jogo pode de fato alterar a compreensão de
um discurso:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
168
“After playing, when I went back to the booklet, something marvelous had happened. Now all the language in the booklet was lucidly clear and easy to understand. Why? Because now I had an image, action, experience, or piece of dialogue from the game to associate with words—had situated meanings for the words. Then, at last, the booklet makes good sense.” (GEE, 2009)***
Embora algumas histórias em suporte de video game se configurem de maneira bastante
linear, os jogos que desafiam a lógica de início-meio-fim, apresentando possibilidades
de escolhas que podem alterar o desfecho da narrativa, são aqueles que mais se mostram
capazes de se configurar como narrativas que poderão eventualmente figurar como uma
maneira em que se manifesta a literatura contemporânea.
Referências bibliográficas
BAKER, L. B. Factbox-Update 1 – A look at the $65 bln video games industry. Los Angeles: Reuters, 2011. Disponível em http://www.reuters.com/article/2011/06/03/ videogames-idUSN0227897820110603. Acesso em 10/06/2011 BERARDINI, C. A. An introduction to Square-Enix. San Francisco: IGN, 2006. Disponível em http://features.teamxbox.com/xbox/1554/An-Introduction-to-SquareEnix/p2/. Acesso em 11/06/2011 COELHO, N. N. Panorama histórico da literatura infantile/juvenil – Das origens indo européias ao Brasil Contemporâneo. 4 ed. São Paulo: Ática, 1991 GEE, J. P. Language and Discourses: Meaning is in the game. Arizona: Arizona State University, 2009. Disponível em http://www.jamespaulgee.com/node/19. Acesso em 12/06/2011 GREIMAS, A. J. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix, 1973 PROPP, V. I. Morfologia do conto maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense, 2006 SMITH, R. Rogue Leaders: The story of LucasArts. California: Chronicle Books, 2008
***
Em tradução livre: “Depois de jogar, quando voltei ao livro de instruções, algo maravilhoso tinha acontecido. Agora toda a linguagem do livro de instruções estava absolutamente clara e fácil de entender. Por que? Porque agora eu tinha uma imagem, ação, experiência ou trecho de diálogo tirade do jogo para associar com as palavras – eu tinha significados situados para as palavras. Então, enfim, o livro de instruções fez sentido.”
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
169
O LEITOR E AS “FRONTEIRAS” DO UNIVERSO FANTÁSTICO N A OBRA A
REPÚBLICA 3000 DE MENOTTI DEL PICCHIA
Cristiano Mello de Oliveira*
RESUMO
No presente artigo pretendemos descortinar as relações entre os elementos fantásticos na obra A República 3000, do escritor Menotti del Picchia. Primeiramente iremos realizar uma breve abordagem de alguns aspectos literários do mundo fantástico no Brasil. Posteriormente iremos realizar recort textuais, esmiuçando-os, objetivando assim aqueles que aproximem a própria linguagem com o universo fantástico. Tomaremos como referencial teórico os estudos de autores como Todorov e Carvalho. Verificaremos também o possível grau de comportamento do leitor diante dessa majestosa obra. PALAVRAS-CHAVE: Leitor; Literatura fantástica; Modernismo Brasileiro; A República 3000; Menotti del Picchia.
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Durante as primeiras décadas do século XX, alguns escritores brasileiros
reproduziram uma tendência já estabelecida e elaborada anteriormente por Swift, Defoe
e outros intelectuais da mesma época.** Tal inclinação estava diretamente ligada ao
universo fantástico e maravilhoso. O motivo dessa empreitada ficcional de vários
escritores foi justificar a aproximação da semana da arte moderna e inovações artísticas
que foram diretamente correlacionadas por artistas europeus.
A obra A República 3000, de Menotti del Picchia, que iremos analisar neste
ensaio, evocou em demasia elementos fantásticos de várias naturezas. *** Tal obra se
constitui como um caleidoscópio de aventuras, divididas em um rol de capítulos, sendo
* Mestrando em Literatura – Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC – [email protected]
** Para o pesquisador/leitor que busca um aprofundamento maior buscar ler a obra A Ascensão do romance, de Ian Watt. São Paulo: Cia das Letras, 1990.
*** O estudioso Gilson Queluz afirma em um dos seus estudos que: “Picchia elaborou suas utopias enfatizando as relações entre o desenvolvimento tecnológico e as estruturas de poder. No romance República 3000, o governo autocrático e disciplinador corresponderiam à civilização da máquina, ainda no estágio da máquina a vapor; o anarquismo individualista corresponderia ao estágio seguinte, o da civilização da eletricidade (QUELUZ, 2005, p. 01)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
170
assim, faz se mister equacionar algumas questões, que durante a criação da obra ficaram
suspensas pela crítica literária.
O escritor Menotti del Picchia estava imbuído da consciência fantástica, assim
como nacionalista que deveria representar no seu próprio romance A República 3000.
Devemos lembrar que nessa mesma época havia (1928-1930) uma busca incansável de
muitos escritores e intelectuais por uma identidade nacional que ousasse a produzir
elementos estéticos que resgatassem todo este valor da pátria brasileira. “Era uma aguda
inteligência inculta, servida por uma serena energia que lhe dava dignidade, impondo-
se, compreensiva e amada, à estranha fauna eclética de artistas que sempre compôs
nossa casa.”(PICCHIA, p. 4) Muitos escritores queriam comprovar através dos seus
escritos uma busca incansável pela valorização do nacionalismo e da cultura nacional.
Em suma, Picchia conquistou seus méritos através do seu talento puro e singular de
representar tal perspectiva.
Tomaremos como ponto de partida dessa discussão uma abordagem global da
obra, dialogando com o próprio universo ficcional fantástico**** , enxergando análises
distintas, dialogando, problematizando, para assim confrontarmos - comparando sobre o
mesmo tema. Outrossim, interessa também verificar o possível comportamento do leitor
frente aos desafios fantásticos impostos pela obra.∗∗∗∗∗ Dada essa etapa iremos então
adentrar no universo ficcional da obra A República 3000 e traçarmos as linhas mestras
(recortes textuais) dessa mesma ficção. Utilizaremos como referencial teórico os autores
Todorov e Carvalho****** . Acreditamos que a contribuição desse breve artigo estará em
discutir uma obra tão esquecida pela crítica literária, assim como uma devida
contemplação do tema exposto para futuros artigos e investigações necessárias.
Uma leve digressão se faz necessária às semelhanças encontradas com outras
obras da mesma temática são muitas, porém hipóteses que são constituídas,
permanecendo rarefeitas e imprecisas. Mesmo assim a crítica literária postula que
várias foram às influências recebidas por Menotti para confeccionar A República 3000. **** Iremos utilizar a obra Introdução à Literatura Fantástica, do escritor Todorov como embasamento teórico nessa modalidade de ensaio.
∗∗∗∗∗ Problema delicado, daí a suma importância em esclarecermos que não iremos investigar a reação do leitor diacronicamente na obra A República 3000, assim como aquilo que a crítica aponta, e sim, iremos propor aqui possibilidades especulativas de comportamento em relação aquilo que a obra proporciona no ato da leitura.
****** José Murilo de Carvalho na obra O Imaginário das Almas, Cia das Letras.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
171
Verificamos os possíveis liames dessa conjuntura artística: na literatura nacional
existem resquícios estudados pelos críticos que o escritor tenha lido a obra A Amazônia
Misteriosa (1973), de Gastão Cruls. Possivelmente também o escritor embeveceu sua
técnica narrativa com a leitura da obra As Minas do Rei Salomão (1971) do escritor
português Eça de Queirós. Buscou assim naturalizar o gênero português,
confeccionando o desenrolar das ações de pura fantasia, situando-as em ambientes
brasileiros.
Oferecida à fecundidade que este tema inspira em virtude do mesmo engendrar
uma série de inquietudes e questionamentos. Algumas indagações se aproximam e
montam nossa problemática: Como era constituído esse universo fantástico na sua obra?
Quais os efeitos ilusórios e enigmáticos que causam no respectivo público leitor? Quais
eram as estratégias do próprio escritor para manter o suspense, apreendendo assim o
leitor e arquitetando sua narrativa? Quais são as condicionantes das suas personagens
para que o clima da narrativa possa se desenvolver com maestria? Quais os objetivos de
um escritor brasileiro em criar tais mundos imaginários, partindo da sua fantasia? E,
finalmente, qual era o modelo idealizado de república (a cidade perdida no sertão)
encontrado pelos personagens? “As repúblicas da América Latina ou eram consideradas
simplesmente derivações do modelo americano, ou não se qualificavam como modelos
devido à turbulência política que as caracterizava.” (CARVALHO, 2004, p. 19)
2- FRONTEIRAS DO LEITOR VERSUS FRONTEIRAS FANTÁSTIC AS NA
OBRA A REPÚBLICA 3000
A humanidade desbordara dos velhos continentes. Todos as devassas do sertão eram o instinto da espécie dilatando as fronteiras universais necessárias à expansão da vida. Era chegada a vez das últimas reservas virgens da América. (PICCHIA, 1992, p. 11)
A epígrafe que segue abre as cortinas do primeiro capítulo da majestosa obra A
República 3000, levando a reflexão e a aproximação do próprio contexto modernista.
Contexto ao qual o escritor Menotti estava diretamente submetido e direcionado a
manter certa postura e projeta-la para outros futuros escritores que estavam entrando em
voga na mesma época. Podemos perceber na frase: “...dilatando as fronteiras universais
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
172
necessárias à expansão da vida”; submete-nos a teorizar e realizar uma analogia
hipotética com o rompimento de barreiras e tradições já ansiosas naquela época.
Dentro dessa perspectiva, caberia aqui indagar modificadamente da problemática
já exposta: qual seria exatamente o estilo de república que o escritor almejava
confeccionar durante sua obra? Uma república fantástica e/ou utópica? Vejamos uma
resposta aproximada e com bastante propriedade do historiador José Murilo de
Carvalho: “As tentativas de construir o mito original da República revelam as
contradições que marcaram o início do regime, mesmo entre os que promoveram.”
(CARVALHO, 2004, p. 53) Ao que tudo indica o teórico Carvalho aponta e direciona
que o regime republicano foi praticamente um mito e ao mesmo tempo um símbolo
imaginado e aflorado. Vejamos o nível desses heróis que compartilharam com a missão
de fazer uma república mais amistosa. Novamente o historiador Carvalho tenta
responder:
Herói que se preze tem de ter, de algum modo, a cara da nação. Tem de responder a alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletir algum tipo de personalidade ou de comportamento que corresponda a um modelo coletivamente valorizado. (CARVALHO, 2004, p. 55)
Será que o escritor Menotti del Picchia possuía essa ambição de representar a
nação ou tentou ilustrar isso através das suas personagens? Tentaremos responder essa
questão ao longo desse breve artigo. Citamos o trecho in medias res, onde o narrador
descreverá a gênese da jornada, mesmo com data imprevisiva, irá fazer jus ao tom
empreendedor e audacioso: “Aquele resto desarticulado e heróico da galharda expedição
que largava o Rio de Janeiro na madrugada de 12 de julho de 19...” (Rep. p. 17).
Dialoga também com outro trecho sobre a resistência dos nossos oficiais: “Havia, após
dois dias de caminhada heróica ao acaso no meio da floresta, atingindo um monte [...]”
(Rep. P. 28)
Reticências a parte, alguns estudos afirmam que provavelmente o escritor
Menotti tenha viajado bastante para constituir o espaço da civilização que almejou
projetar, ou mesmo sonhou novos horizontes, assim como tenha passado boa parte da
sua juventude rodeada pelos livros clássicos. Escreve em sintonia Gaston Bachelard:
“Quando um sonhador reconstrói o mundo a partir de um objeto que ele encanta com
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
173
seus cuidados, convencemo-nos de que tudo é germe na vida de um poeta.”
(BACHERLARD, 2003, p. 33) Ora, de acordo com as palavras de Bachelard, o escritor
Menotti faz o mesmo com o seu objeto literário artístico, impondo novas maneiras de
encaixar discursos construídos pelo olhar poético e contemplativo. Provavelmente,
Menotti tenha recolhido vários materiais para compor seu universo ficcionalda obra A
República 3000, e junto a isso lapidou com tamanha paixão a escolha desse tema para
contagiar muitos leitores que logo de inicio se prendem até o fim da narrativa.
O Menotti- utópico é também o Menotti - intérprete. O adjetivo se impõe como
sabem muitos intelectuais, as múltiplas facetas que tal escritor merecia. Aquele que se
espelha como protagonista capaz de descobrir o Brasil através de cada um dos seus
escritos, buscando neles pistas ou sinais, mantendo um forte relevante sentido com a
nossa nacionalidade. Em suma, Menotti terá a visão de um antropólogo que registra e
observa aquilo que lhe chama atenção. Sua escritura na obra A República 3000 mantém
uma espécie de sacerdócio com seu público leitor.
O escritor Menotti del Picchia conseguiu durante sua empreitada da obra A
República 3000 encorajar os leitores, assim como incorporar e amalgamar uma narrativa
com bastante harmonia, espécie de uma busca pelo inusitado e pela aventura, ir mata
adentro, conhecendo novas terras, novas civilizações, novos costumes, entregando-se ao
destino caprichoso e inseguro, quase inalcançável. Aliás, o gosto pelo desconhecido e
exótico foram argumentos notáveis para a continuação de sua empreitada. Em suma, as
suas seduções pelo sobrenatural, pelo sonho e pela atmosfera onírica das coisas
levaram-no a criar mundos além da realidade visível e palpável, ou seja, mundos
mágico-misteriosos.
Para ler a obra A República 3000, talvez convenha ao leitor munir-se do espírito
de jornada e aventura sem destino, armazenando as situações do fantástico na sua
mente, dispondo-se a uma experiência insólita que se desdobra em fases e, principiada
na narração de ação e emoção. Um leitor essencialmente preocupado com a progressão
dos acontecimentos narrados encontra no texto, não apenas um, mas vários pequenos
enredos: “A Batalha”, “No acampamento noturno”, composto pelos títulos de alguns
capítulos, abordados sempre com epígrafes significativas - serem paulatinamente
revelados pela seqüência das páginas e dos eventos que ocorrem à luz do maravilhoso,
do sobrenatural e do fantástico.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
174
Segundo o teórico Tzvetan Todorov (1984) para que haja o universo fantástico é
preciso três condições essenciais: 1) É necessário que a narrativa (ligado ao aspecto
verbal do texto) faça com que o leitor considere o universo das personagens enquanto
um mundo de criaturas animadas; 2) Ficar perplexo entre uma explicação natural e uma
explicação sobrenatural das ações enunciadas ( aspectos sintáticos da obra –
desencadear das ações – seqüência dos acontecimentos) pelo escritor; 3) É necessário
que o leitor tome uma atitude (escolha de níveis de leitura) em relação ao texto.
No entanto, ao esquematizarmos essas classificações enumerativas, percebemos
que contribuímos ao preparo do leitor, que ainda desconhece a própria estrutura
narrativa ficcional que empreende este gênero. Tais etapas viabilizam os distintos graus
do efeito fantástico que ocasionará no ato da leitura. Enfim, o conjunto auxiliará
teoricamente o embasamento da nossa proposta ensaística que seguirá adiante.
Parafraseando o pensamento de Nelly Novaes Coelho (1981), o universo
fantástico pode representar à imaginação, o ritual, as ações inexplicáveis pela lógica do
cotidiano, o pensamento mágico ou mítico e assim criou: os mitos, as sagas, contos
maravilhosos, etc. Durante essa etapa mágica, e conseqüentemente as críticas a
realidade social, correspondiam ao mundo das fábulas. Foi assim também que foi
ampliada a imaginação dos leitores da época.
Para podermos formar juízo, especificamente explorar o nosso objeto, é preciso
mencionar pelo menos três pontos importantes no desenvolvimento do romance: a) A
caravana militar que explora o sertão destemidamente até os liames das ossadas e
esqueletos na fronteira elétrica mortífera; b) A entrada, após a travessia da fronteira
elétrica na cidade desconhecida; c) As intrigas e os conflitos que irão emergir dentro da
cidade supertecnológica. Assim como a saída desses oficiais de volta a cidade do Rio de
Janeiro.
É, assim, que a obra percorre lugares inóspitos cercada de verde e contrastando
com a natureza exótica-exuberante: “O sertão goiano, bravio e bruto, parecia ir
defendendo-se com todas as armas contra aquela entrada. Nas ribanceiras do Aporé
havia a expedição perdido dois homens [...]” (Rep. p. 12) – caminhando para o cerne da
nossa nação - longe de ser um local seguro – essa região está cercada de surpresas que
prendem a atenção do leitor. Esse exotismo-fantástico provoca diversas reações no
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
175
nosso público leitor. Tais surpresas fazem semelhança com a rotina dos militares do
Exército Brasileiro.
É aconselhável para o leitor ainda não preparado, buscar compreender o período
literário que tais escritores contracenavam nessa mesma época. Não seria suficiente aqui
apenas dizer que o leitor compreenda alguns conceitos de nacionalismo e do universo
fantástico. E sim buscar apreender como foi estruturado o roteiro de algumas obras
dentro desse mesmo viés de análise. Nesse patamar ensaístico, resta a seguinte
indagação: Qual seria o tipo ideal de leitor que poderia apreender essa constelação de
imagens literárias? Uma das possíveis respostar que podemos postular seria que tais
imagens podem se originar do mundo extratextual ou quanto podem resultar de
apropriação de estruturas textuais pré-existentes à ficção que se constrói em dado
momento.
Segundo Todorov (1980) o fantástico é a ruptura da ordem estabelecida relativa
ao cotidiano da vida humana, ou seja, é algo que não pode acontecer na vida real.
Diante de tal perspectiva surgem algumas interrogações necessárias: como o autor
Menotti del Picchia trabalhou no plano ficcional a questão do fantástico sem prejudicar
o entendimento do leitor? Quais elementos e os liames que o autor Menotti utiliza para
incorporar o fantástico na sua obra? Para tais questões devemos observar que no mundo
irreal há também a importância de estabelecer a verossimilhança.
Na obra A República 3000 podemos observar que os personagens oscilam
conforme vivenciam experiências diferentes, tornando-se confusos e indecisos diante de
tal complexidade. Realidade que a cada nova experiência acaba marcando a dificuldade
de se tomar decisões frente aos obstáculos enfrentados na Selva desconhecida. Isso
torna verossímil porque eles não poderiam estar confusos se nada acontecesse
anteriormente que os colocassem nesta situação. Em suma, a vida interna desses
personagens está muito ligada ao que acontece externamente, ou melhor, há um reflexo
dos acontecimentos em si.
Voltando aos trechos da obra. A expedição militar irá avançar sertão adentro e
sentir os efeitos de invadir o habitat natural de alguns animais. Ambiente permeado de
coisas e objetos estranhos que jamais são imaginados pelos personagens. A noite
assombrada pelos ruídos irá revelar outras imagens que evocam uma “sinestesia
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
176
abrupta” de provocar arrepios. Percebemos nesse trecho um enorme suspense
arquitetado pela narrativa, inclusive na expressão “animal fantástico”, que evoca algo
estrondoso, fenomenal e fora do normal.
O tumulto, feito de bramidos, de estrupidos surdos do galope de um animal fantástico pulando de raiva ou desabalado de pânico, aproximava-se. Toda a escolta, em guarda, fazendo um leque de fuzis prontos para a descarga, das portas das barracas esperava um assalto iminente. O estardalhaço de paus quebrados, folhas machucadas, guinchos, uivos, crescia. À esquerda, Pina viu uma agitação de folhas. (Rep. p 16) Grifo nossos
Posteriormente durante a narrativa e o avanço no meio da selva, nossos heróis
irão se deparar com algo surpreendente e pouco previsto pelo leitor. O episódio é
marcado pelo jogo do suspense e ao mesmo tempo da sedução por encontrar o motivo
daquilo tudo. Algo inusitado até mesmo para aqueles homens (personagens) tão
corajosos e destemidos que achavam que tudo estava sob controle. O acontecimento
sobrenatural ocorre quando um monstro estupendo, que se movimenta através de
movimentos bruscos, sai do interior da floresta com uma fúria implacável. É curioso
destacar que pela voracidade do animal, raiva e velocidade, não ficou coerente pelo
latido evocado:
E disparou de novo. A bala varou o ombro de um bugre gigante que, aos saltos, vociferando, avançava brandindo um tacape colossal. O monstro, rajado de tiras cinzento-claras ao longo do corpo nu, deu um latido de cachorro. Atrás dele, surgiu uma índia de grandes mamas pendentes e oscilantes. Novos cocares se agitavam entre os troncos. (Rep. p. 20) Grifo nossos
O latido tímido causa surpresa e estranhamento no leitor que busca compreender
o que de fato ocorreu. Latido estranho e capaz de deixar muitas surpresas no ar e junto a
isso provocar instigantes curiosidades para aquilo que se projeta pela frente da narrativa.
O episódio ocorre como se fosse um relâmpago na selva e contraria todas as leis da
coerência. A fisionomia monstruosa do inimigo não comportava um tímido latido de
cachorro e tampouco conseguira convencer que era capaz de assustar todos naquele
lugar. Jogo dúbio e confuso de relacionar tais acontecimentos? Talvez não, já que:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
177
[...] o narrador representado convém ao fantástico, pois facilita a necessária identificação do leitor com as personagens. O discurso deste narrador possui um estatuto ambíguo e os autores o têm explorado diferentemente enfatizando um ou outro de seus aspectos: quando concerne ao narrador, o discurso se acha aquém da prova de verdade; quando à personagem, deve se submeter á prova. (TODOROV, 1980, p. 94)
Pouco a pouco, o terror-fantástico começa a tomar conta da história, o
adentramento vertiginoso macabro começa a causar estranhamento e arrepios no leitor,
é nessa etapa que surgirão elucubrações sinistras na mentalidade dos nossos heróis
(Capitão Fragoso******* e Cabo Maneco), como se fossem protagonistas de um filme de
terror. A situação um tanto inusitada aparece como se fosse um forte relâmpago que
assusta todos naquele terrível episódio. O surgimento de aparições misteriosas e o clima
de suspense macabro em torno daquele local começam a desfazer o lado otimista dos
heróis em encontrar a cidade perdida. As sinistras aparições de partes humanas começa
a integrar a trilha daqueles homens tão destemidos. Vejamos os detalhes:
Entre um tufo de folhas carnudas de tinhorões junto de um brejo a uns duzentos metros do acampamento, surgiu uma orelha humana. Depois, lívida, a metade de um rosto. Depois, ainda tímida e intranqüila, uma cabeça. Atentou o ouvido. Perscrutou com olhos arregalados em redor. (Rep. p. 23)
Ora, a antítese vida/morte levanta ecos durante o desenrolar desses fatos
projetando forte instinto de hesitação das personagens. Medo que fortalece cada vez
mais a falta de coragem para continuar prosseguindo e enveredando a grande selva do
sertão. O receio caminha paralelo na margem das pegadas deixadas para trás e os
sentimentos ruins permeiam cada vez mais a vida desses forasteiros aventureiros da
floresta. A vida é apenas um elemento raro em tais condições precárias e insalubres.
Sobre este efeito do mundo desconhecido e claustrofóbico, revelamos o diálogo teórico
que mantém uma dinâmica consoladora para com os trechos da narrativa:
*******
Personagem principal do romance A Filha do Inca, o capitão Paulo Fragoso, ao mesmo tempo antropologista ilustre, comanda a expedição técnica encarregada pelo governo de levantar o mapa orográfico e hidrográfico da Serra do Caiapó e da Bacia do Piquiri. (PICCHIA, 1974, p. 81)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
178
Falando de um acontecimento estranho, não levamos em conta suas relações com os acontecimentos contíguos, mas sim daquelas que o ligam a outros acontecimentos, afastados na cadeia, mas semelhantes ou opostos. (TODOROV, 1980, p. 100)
A indagação nasce naturalmente: Jogo sinistro em continuar insistindo com
essas aventuras? Sede de enfrentar o perigo e verificar que nessa luta nosso herói se
encontra sozinho e despreparado. A constante preocupação com a sobrevivência já fazia
parte dos expedientes irregulares desses aventureiros. Preocupação que estava cercada
de angústia para alguma surpresa que vinha pela frente. A vigilância era frenética e
total, o clima de suspense prende o leitor a ir adiante, assim como o senso de
desconfiança ganha luz nessa nova etapa. Porém lidar com isso muito próximo levava
qualquer um ao arrepio. Isso fica nítido no vocabulário “desamparado” e “sitiado”,
selecionado com bastante técnica ficcional, expresso no trecho abaixo:
Maneco, então, sentiu-se só, desamparado, sitiado pelo silêncio e pela morte. Em redor o sertão enigmático e tremendo. Pensou em morrer. A ronda amarela do medo dançava em seu redor como se fora um anel mortal e visível. Aqueles corpos porejando sangue, mutilados, retorcidos em posturas macabras e grotescas; aquelas mãos estáticas eriçadas de falanges convulsas; aquele crânio cujos miolos esguichavam, pastosos e brancos de entre fragmentos de ossos e mechas de cabelo empastadas de sangue, pareciam-lhe o drama noturno e infernal de um pesadelo. (Rep. p. 23) Grifo nossos
Curioso e instigante notar que no meio daquela mortandade generalizada e
macabra, restava uma luz no fim do túnel contrastando com o seu sofrimento interno.
Sofrimento que marcava o pensamento e alimentava uma espécie de vontade de desistir
e abortar aquela missão tão indeterminada. As variadas alucinações mortíferas vão
tomando o pensamento das personagens a cada momento que se avança durante a
narrativa. O protagonista Maneco começa a ficar com a consciência inquieta e intrigada
sobre os trágicos acontecimentos que cercam as suas angústias para vencer tudo aquilo
sem os seus fiéis companheiros. A luz aparece em forma de vida como se fosse um
homem que ressuscita dos escombros de uma guerra sinistra e macabra. Seu aliado e
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
179
parceiro superior dessas angustiosas lutas enfim estava vivo. Algo estranho depois de
sua queda quase que mortal? Vejamos no trecho abaixo:
-Capitão! Meu capitão! Meu pobre capitãozinho!
Mas o corpo inerte teve um movimento. A máscara do ferido reanimou-se. Os olhos se abriram. Maneco deu um grito:
_Capitão!
O ferido olhou-o sem reconhecê-lo (Rep. p. 23)
Aparentemente a carnificina ficava para trás, porém nossos andarilhos à moda
Indiana Jones chegavam agora no trecho onde se encontrava o obituário de diversos
ossos. O clima sinistro e medonho circula na frente dos seus olhos fazendo impor uma
determinada dosagem de precaução para com aquilo que estava ao seu redor. O
arcabouço era gigante, tendo em vista a quantidade de esqueletos e ossos. A quantidade
de ossos e esqueletos encontrados já fornecia a dimensão da tragédia local ou levava a
imaginar coisas perturbadoras relacionadas ao sobrenatural. Em um determinado
momento da narrativa, nossos heróis irão se sentir tenebrosos e assustados com aquilo
que estava ïnesperadamente surgindo diante deles. Com passos curtos os dois
personagens avançam imaginando coisas ruins pela frente. A descrição da narrativa
surpreende até mesmo os contos macabros de Edgar Allan Poe:
Cautelosos, alcançaram a fronteira macabra. Até perder-se de vista, a faixa de ossadas se estendia pelo vale imenso. Tinha a largura de uns três metros, compondo-se de tíbias, costelas, caveiras. Alguns esqueletos ainda riscavam o arcabouço anatômico de animais e de homens descarnados e outros, já sem articulação, numa promiscuidade de ossário, formavam montes de maxilares, fêmures e falanges, com a irreverência sacrílega de um túmulo violado. ( Rep. p. 32)
As indagações e os questionamentos invadem estorvando a mentalidade do
oficial. O trecho acima é profundamente psicológico e interage muito com aquilo que
irá acontecer mais adiante. Com efeito, o personagem Fragoso é um homem que vai a
busca do conhecimento, talvez intelectual, nos mistérios que retrata uma questão de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
180
nacionalidade, mas esta procura incansável levará o personagem a criar diversas
expectativas. Além disso, o seu mecanismo de defesa já estava preparado para qualquer
acontecimento ou episódio cruel que podia acontecer. O mais estranho era que Fragoso
possuía um vasto conhecimento antropológico sobre civilizações antigas e remotas no
tempo e no espaço. “Seus estudos de Etnologia Americana e Geografia Econômica
haviam-lhe granjeado a reputação de sábio” (Rep. p. 12) Aquele acontecimento
excêntrico estava martelando sua cabeça.
A ambigüidade vocabular formulada para confeccionar as questões que não
ficavam solucionadas era incômoda até mesmo para os leitores mais críticos.
Ambigüidade que proporcionava uma vontade maior de desvendamento e descoberta
para a busca imediata de uma solução ao menos cabível. Possivelmente, o leitor saberia
que aquilo tudo era proposital e já começava a ficar acostumado com tal situação. Será
um ritual de magia negra conjugado com os deuses rebeldes que perpetuavam naquele
espaço? Uma doutrina praticada e esquecida através dessas terríveis lembranças talvez
seja a resposta adequada, isso fica nítido nas indagações do fragmento abaixo.
Fragoso, mais perturbado pelo enigma, perdia-se em cogitações. Que prodígio era aquele? Como achar a razão desse museu arqueológico tão bizarro, perdido no sertão onde encontrava os esqueletos das primeiras manifestações superiores da vida orgânica e os espécimes mais diversos das mais longínquas civilizações? Como conjugar o ocidental do século XX e o cretense émulo do fastígio troiano? Como reunir o primata ao chibcha? E por que aquelas vasilhas, aquelas armas, aqueles ídolos, frutos de fetichismos bárbaros e de teogonias******** as mais avançadas? (Rep. p. 34)
Gradativamente, as doutrinas vão ficando para trás e as lembranças medonhas
presentes. O questionamento é uma constante e alimenta em demasia a preocupação do
leitor em interagir e completar as lacunas da própria história. A cabeça do capitão
Fragoso girava em torno de várias tentativas de deduções desequilibradas como se fosse
******** Genealogia dos deuses, lendas e teorias sobre sua origem.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
181
a dúvida de enfrentar um perigo eminente e mortal. No entanto, é somente com a morte
do cachorro faísca que deixa os expedicionários de queixo caído. Agora o
estranhamento irá aumentar cada vez mais na mente desses aventureiros-forasteiros. O
melhor amigo do homem estava eletrizado e morto diante da carnificina de esqueletos,
que ocupava grande parte do espaço florestal. “Quando o cão, no ímpeto da carreira,
entrou na linha sinistra do ossário, rolou fulminado.” (Rep. p. 36)
4- À GUISA DE CONCLUSÃO: DIREÇÕES DO FANTÁSTICO NA
LITERATURA BABR
As contribuições intelectuais e fantásticas deixadas por Menotti del Picchia na
obra A República 3000, projetam uma espécie de consciência atual aos estudos do
conceito de fantástico em variadas obras literária e ilumina possíveis formulações
dentro do ambiente romanesco brasileiro. Seus escritos deixaram uma espécie de
semente para o valor da erudição e do espírito do universo fantástico e pode ser lido
muito bem como documento teórico dos primeiros modelos de ficção fantástica ou até
mesmo da ficção científica à luz de algumas teorias que ainda estavam incipientes.
Talvez, Menotti del Picchia sem saber ou tomar consciência confeccionou
antecipadamente todo um documentário de época sobre o comportamento do universo
fantástico frente aos variados avanços que já eram fornecidos pela dimensão tecnológica
da nação brasileira. Lógico que essa leitura não significa a única maneira de
verificarmos os elementos fantásticos, mas impõe um olhar mais para aquilo que aqui
estamos buscando comprovar através desse breve artigo. O certo é que ainda existem
muitas formas e inesgotáveis maneiras de explorar o manancial desse grandioso
romance, porém postulamos que lançamos algumas sementes que certamente irão brotar
no solo dos estudos literários de outros centros de investigação.
Portanto, podemos calcular que a leitura da obra A República 3000 inaugurou na
época em que foi lançada (1930), um novo estilo de pensar e imaginar a atmosfera
fantástica na literatura brasileira. Outrossim postulamos que esse estilo, tipicamente
ligado ao movimento modernista, avançava por explorar de maneira científica
progressista a realidade ao quais muitos outros escritores estrangeiros conseguiram
concluir em décadas anteriores. Sob vários aspectos o escritor Menotti del Picchia
desejou atingir uma gama de assuntos que chegaram a fugir da sua esfera de
conhecimento: ciência, geografia, elementos fantásticos, enfim toda essa conjuntura
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
182
remou de maneira autodidata para seus escritos. Para lograr essa reflexão profunda e
rigorosa, inclusive sobre novos parâmetros teóricos, Menotti del Picchia absorveu muito
dessas leituras um pouco antes de escrever o próprio romance. A originalidade desse
estilo e do modelo de fazer literatura foi arrematada por supostas influências já
comentadas em linhas anteriores. Menotti era um contumaz leitor que se apoderava de
vários conhecimentos e incorporava-os nos seus textos e pesquisas. Desejando ou não, o
certo é que Menotti representou muito bem esta República tão avançada nos escritos.
Seu universo girava em torno de uma mentalidade aberta aos efeitos da tecnologia e da
cibernética. Sua matéria semântica pôde aflorar além dos limites da plenitude. Enfim, o
escritor rompeu essas fronteiras elétricas utilizando o máximo de sua imaginação e
paixão pelo seu apaixonado oficio de escritor.
REFERÊNCIAS
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia, São Paulo: Companhia das Letras, 2000. BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço, São Paulo: Martins Fontes 2003. COELHO, Nely Novaes. A literatura infantil: história, teoria e análise: das origens orientais ao Brasil de hoje, São Paulo: MEC, 1981. CARVALHO, José Murilo. A formação das almas – O imaginário da república no Brasil, São Paulo: Companhia das Letras, 2004. CRULS, Gaston, A Amazônia Misteriosa, Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. MOISES, Massaud. Dicionário de termos literários, São Paulo: Cultrix, 1999. PICCHIA, Paulo Menotti Del. “A Semana” revolucionária, Campinas, SP: Pontes, 1992. PICCHIA, Paulo Menotti Del. A República 3000, São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1930. PICCHIA, Paulo Menotti Del. Seleta em prosa e verso; organização, apresentação e notas do professor Paulo Rónai. Rio de Janeiro: Jose Olympio. 1974. POE, Edgar Allan, “O barril do Amontillado”. In: Assassinatos na rua Morgue e outras histórias, L&M Pocket: São Paulo, 2004. QUEIROZ, Eça de, As Minas do Rei Salomão, São Paulo, Editora: CDL 1971. QUELUZ, Gilson, Revista Electrónica de Estudos sobre a Utopia, n.º 3 (2005). ISSN 1645-958X. : Disponível em: http://www.letras.up.pt/upi/utopiasportuguesas/e- pia/revista.htm Acesso em 20/10/2009 SCANTIBURGO, de João. O romance de Menotti del Picchia, Rio de Janeiro: Revista da Academia Brasileira de Letras, 1989. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica, São Paulo: Perspectiva 1980. WATT, Ian. Ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. WILLIANS, Raymond. O campo e a cidade, São Paulo: Companhias das Letras, 1988
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
183
. SHREK! UM CONTO DE FADAS ÀS AVESSAS
Denise Loreto de Souza*
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo introdutório sobre o conto de fadas Shrek!, publicado em 1990 pelo escritor americano William Steig para perceber de que modo ocorre a releitura desse gênero em Shrek! Para tanto, faz-se necessário retomarmos a origem dos contos de fadas e suas características para depois compararmos com o livro Shrek! e perceber o que há de novo, isto é, que elementos rompem com a tradição desse gênero literário. O conceito de paródia também será privilegiado, uma vez que o livro do autor traz elementos dos contos de fadas tradicionais sob uma nova óptica, ou seja, parodiando-os. Além disso, outro ponto que será ressaltado será a presença do grotesco na narrativa direcionada para o público infantil. O grotesco se faz presente na composição das personagens, uma vez que Shrek e sua futura esposa não apresentam um comportamento idealizado como acontece nos contos de fadas tradicionais, pois as personagens apresentam uma aparência disforme, monstruosa e grotesca; fator este que causa no leitor grande estranhamento. Em Shrek!, o personagem principal não é um príncipe, mas um ogro. Seu comportamento não é exemplo de educação e beleza exaltados pela sociedade. O meio de transporte de Shrek, não é o tradicional “cavalo branco”, mas sim um “burro”. É nesse ponto que começamos a investigar a presença do “Grotesco”, e paralelamente, à estratégia da paródia presente no livro. PALAVRAS-CHAVE: contos de fadas, releitura; Shrek; paródia; grotesco.
A partir do século XX, podemos notar que o gênero conto de fadas tem sido
objeto de releituras, ou seja, alguns dos aspectos dos contos de fadas tradicionais não
são contemplados ou, se os são, passam por algum procedimento de releitura, que se
evidencia pelo dispositivo da paródia. Sabemos que histórias que contemplam reis,
rainhas, bruxas, fadas, princesas fazem parte do imaginário infantil e colaboram para as
crianças resolverem conflitos emocionais, além de despertar o interesse da criança pela
leitura, uma vez que ela é “atraída” para um mundo maravilhoso, onde todos os
personagens e objetos estão sob a lei do encantamento, diante de seres sobrenaturais e
* Mestranda em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/IBILCE) na
área de Teoria da Literatura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
184
elementos mágicos. O “maravilhoso” na concepção de Todorov (1975, p.59) seria uma
narrativa na qual “a existência do sobrenatural é aceita desde o início sem hesitação”.
Os fatos mágicos, a presença de dragões, ogros, duendes, poções mágicas, fadas
madrinha são aceitas naturalmente pelos personagens da história, não há nenhum tipo de
estranhamento por parte deles, ou seja, tudo ocorre de forma natural, uma vez que nesse
gênero o que seria “sobrenatural” para nós que temos o mundo real como referencial é
visto como “natural” para eles (os personagens). Por isso, estamos diante de um mundo
encantado, com a presença de seres que só fazem parte desse mundo secundário, como
fadas, bruxas, gigantes, entre outros.
Quando iniciamos o estudo sobre os contos de fadas, normalmente, temos o
interesse em conhecermos um pouco sobre a origem desses contos que tanto fascinam
crianças e adultos. Segundo Volobuef (1993, p.100) os contos de fada são narrativas
que “fazem parte do legado popular, histórias que são transmitidas de geração a geração
– vem da tradição oral, sendo praticamente impossível estabelecer quando e por quem
esses relatos foram criados”. A autora ainda afirma que essas histórias serviam de
entretenimento para adultos e eram normalmente narradas durante a noite por
camponeses ou durante os trabalhos manuais realizados em grupo. (VOLOBUEF, 1993,
p.100) Com isso, podemos perceber que essas histórias não eram destinadas ao público
infantil, pois continham temas fortes com “pitadas de crueldade”. Somente após essas
narrativas serem coletadas para serem editadas e sofrerem um certo “burilamento” do
conteúdo que foi suavizado, é que passaram a serem lidas para crianças.
Atualmente, os contos de fadas são muito lidos por crianças e adultos e é difícil
encontrar alguém que não conheça os clássicos como Branca de Neve, A Bela
Adormecida, A Gata Borralheira, entre outros, que foram divulgados principalmente
pelos estúdios de Walt Disney. Nos contos de fadas é muito recorrente a presença de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
185
personagens idealizados, que refletem os modelos de comportamento e educação
valorizados pela sociedade. O príncipe, por exemplo, é o herói idealizado, que é
corajoso, bonito, bom moço e de origem nobre. Ele vem acompanhado de seu cavalo
branco para enfrentar os obstáculos que aparecem em seu caminho, vencer os seres
opositores até chegar ao encontro da princesa, salvá-la e casar-se com ela, cumprindo
seu destino. Para Volobuef (1993, p.101) um dos requisitos indispensáveis ao gênero
conto de fadas é “o surgimento de uma dificuldade e uma posterior solução da mesma
(...)”.
A princesa, nesses contos, é descrita como a moça boa, meiga, educada, bonita
(normalmente da raça ariana – loira e de olhos azuis) e invejada, que sofre a intervenção
de figuras opositoras durante a narrativa até se encontrar com o príncipe e viverem
felizes para sempre. Normalmente as princesas são vítimas das maldades de bruxos
cruéis que fazem de tudo para atrapalhar sua vida e a realização de suas boas ações. Elas
sofrem predições várias, por exemplo, são mergulhadas em sonos letárgicos, segregadas
em torres altíssimas ou sofrem algum tipo de envenenamento.
As madrastas, bruxas e ogros, presentes nessas histórias, são sempre muito feios,
maldosos, invejosos e fazem de tudo para atrapalhar o amor do casal apaixonado. Esses
personagens são figuras opositoras que servem de provações para se alcançar o
“verdadeiro amor”. Esses agressores, ao final da narrativa, geralmente recebem algum
tipo de punição como a morte ou a loucura. Já os protagonistas- heróis recebem algum
tipo de recompensa, terminando normalmente com um final feliz, ou seja, com a
realização do casamento do casal apaixonado ou com o nascimento de filhos, valores
estes presentes na sociedade em que vivemos.
No âmbito do mal, temos os seres opositores que aparecem nessas histórias
representados pelo disforme, pelo feio, pelo animalesco. Entretanto, o elemento
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
186
grotesco não tem que necessariamente representar o mal. Temos que nos lembrar de
“Quasimodo”, de o Corcunda de Notre Dame, que tem uma aparência disforme, mas
não é mal. Sua aparência é assustadora, porém, ele é descrito como um homem de bom
coração, que sofria por ter uma aparência monstruosa, fora dos padrões de beleza dos
contos de fadas. Outro personagem que também tem uma aparência grotesca é a “Fera”
do clássico A Bela e a Fera. “Fera” é descrita como um homem nobre, bondoso e
inteligente, porém, por ter sofrido uma maldição, acabou se tornando um ser
monstruoso fisicamente, mas nem por isso se tornou do mal, continuava sendo um
homem bom apesar de sua aparência grotesca. Sendo assim, podemos perceber que nem
tudo que é grotesco é mal e o que é belo é bom, tudo isso é muito relativo. No filme
Shrek 2, por exemplo, temos a “Fada Madrinha” e o “Príncipe Encantado” com uma
aparência bela para os contos de fadas, porém são seres opositores, ou seja, cometem
maldades, atrapalhando a vida dos heróis. No entanto, não é só com os seres opositores
que o herói se depara. Existem também, nessas narrativas, seres mediadores que servem
para auxiliar os heróis a cumprirem suas tarefas, como, por exemplo, as fadas que,
segundo Coelho (1982, p.86), “são seres imaginários que passam a interferir na vida dos
homens para ajudá-los em situações-limite, quando nenhuma solução natural poderia
valer”. Além da presença das fadas temos outros mediadores como os magos ou
auxiliares mágicos, como varinhas de condão, talismãs, espelhos e tapetes mágicos.
Limitado pela materialidade de seu corpo e do mundo em que vive, é natural que o homem tenha precisado sempre de mediadores mágicos. Entre ele e a possível realização de seus sonhos, aspirações, fantasia, imaginação...sempre existiram mediadores (= fadas, talismãs, varinhas mágicas, ...) e opositores (= gigantes, bruxas ou bruxos, gigantes, seres maléficos...). (COELHO, 1982, p.85-86)
Os mediadores representam o bem, enquanto que os opositores representam o
mal. Desse modo, notamos nessas histórias tradicionais a tendência por uma ética
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
187
maniqueísta, onde há uma tensão de forças (Bem X Mal), em que o bem após passar por
muitas “provações” triunfa sobre o mal, terminando sempre com um final feliz, o
tradicional “happy end”.
Nesses contos tradicionais não há muitos núcleos de personagens, normalmente,
a história “gira em torno” dos protagonistas e antagonistas. Para Carvalho (1982, p.57)
“os personagens não devem ter mais de uma ação, uma qualidade ou atuação: boa, má,
obediente, desobediente, feia, bonita (...)”. Em relação à estrutura da narrativa, Carvalho
(1982, p.57) ressalta que esta se desenrola numa seqüência plana. Já em relação ao
espaço onde ocorre a narração dos fatos, para a autora é “indeterminado, ageográfico:
num ‘lugar’ ou num ‘País” muito distante”. Além disso, a autora salienta que o tempo
também é indefinido. Podemos notar claramente a presença de construções com o
pretérito imperfeito como “Era uma vez...” ou expressões “Há muito tempo...”ou ainda
“Num reino muito distante...”. O leitor não tem referências precisas de anos, datas, já
que isso não importa, o que mais importa é contar os fatos e transportar o leitor para um
lugar maravilhoso, distante do dele, onde tudo é possível e onde muitos dos desejos
mais secretos do leitor se realizam quando este se projeta em algum personagem que
ele admira.
Em relação à narrativa de William Steig intitulada Shrek! publicada em 1990, e
que inspirou a seqüência de filmes produzidos pelos estúdios Dreamworks, percebemos
que também não sabemos quando e onde se passa a narração dos fatos, pois apesar de
não existir a consagrada expressão “Era uma vez”, há uma indeterminação temporal que
se evidencia logo no início da narrativa: “Um dia os pais de Shrek trocaram más idéias
e resolveram que estava na hora de o queridinho deles cair no mundo e fazer sua dose
de maldade” (STEIG, 2002, p.2 - grifo nosso). Quanto ao lugar, só podemos afirmar que
Shrek morava com seus pais num buraco negro antes de ser colocado “para fora de casa
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
188
com um bom pontapé no traseiro” (STEIG, 2002, p. 2), e sair para o mundo caminhando
e assustando a todos que cruzavam seu caminho no bosque em que morava.
Podemos notar que a estratégia da “grotescalização” que ocorre na composição
da personagem principal é um dos recursos mais evidentes nesse processo de releitura.
Shrek não é um príncipe encantado, o modelo do herói idealizado, bonito, de origem
nobre e de bom comportamento, que diz palavras “doces” para conquistar sua amada.
Vemos que na posição do príncipe, temos a presença de um ogro, um tipo de monstro
verde, de aparência disforme, monstruosa, ou seja, grotesca que diz palavras
aparentemente “rudes” para um conto de fadas.
Normalmente, nos contos de fadas clássicos, a personagem “ogro”, apareceria
como uma figura opositora, por causar medo nas crianças por ser canibal. Segundo
Carvalho (1982), o vocábulo “ogro”, em língua românica tinha o significado de gigante
mau, que assusta as crianças, entidade malvada que povoa estórias. Entretanto, não
podemos afirmar categoricamente que Shrek é mal, apesar de ele assustar outras
personagens da história. Há um elemento caricatural que desvia a nossa atenção do
horror de suas ações para o humor. Ele não causa medo no leitor, já que assusta as
crianças porque é algo inerente ao seu ser ogro. Além disso, ele atua como uma
personagem do conto tradicional na sua ação de salvar a princesa do castelo e, por via
do casamento, libertá-la. Desse modo, notamos que há uma subversão do estereótipo de
ogro. Shrek tem um final de príncipe de um clássico conto de fadas, pois termina casado
com a princesa que tanto queria encontrar. Há um componente de bondade em Shrek, da
mesma forma que há em O corcunda de Notre-Dame, por exemplo.
A narrativa começa pela descrição da origem nada nobre da personagem Shrek.
Ele vivia com seus pais, porém, no curso da narrativa, sua descrição física é ressaltada:
“A mãe era feíssima, o pai era feíssimo, mas Shrek era muito mais feio que os dois
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
189
juntos” (STEIG, 2002, p.1). Notamos que nesse excerto, além da presença de um
discurso de natureza grotesca na caracterização da personagem, temos um efeito
humorístico, por conta do exagero com que as caracterizações são construídas: o
feíssimo repetido por muitas vezes e depois a menção ao superlativo analítico “muito
mais feio” causa o riso no leitor, uma vez que é pela distanciação do modelo tradicional
e a subversão dos “parâmetros” tradicionais da origem nobre de um príncipe que Shrek
causa estranhamento. Ao longo da narrativa, Shrek se constrói como o herói, uma vez
que sai pelo mundo sozinho e precisa vencer os obstáculos que se interpõem em seu
caminho para conseguir encontrar sua princesa e casar-se com ela. Toda a sua trajetória
nos demonstra que o personagem Shrek, que é um ogro, passa a ocupar a posição de
herói da narrativa, por conseguir vencer os obstáculos e unir-se a princesa em
casamento.
Em relação à princesa da narrativa, esta se encontra isolada num castelo à espera
de Shrek para se casar. Desse modo, podemos pensar que ela é uma personagem
passiva no sentido de que:
Curiosamente, nota-se que é uma constante a segregação dos heróis, nos velhos contos: príncipes e princesas são condenados, por predições várias, a ser postos à margem da vida, encerrados nas torres dos castelos ou mergulhados em sono letárgico, motivo que se repete nos contos de Fadas. (CARVALHO, 1982, p.51)
É Shrek quem precisa encontrar a princesa, vencer os obstáculos que se
interpõem em seu caminho, lutar contra o guardião do castelo para ficar junto de sua
princesa. A princesa nesse conto, não se expõe a ameaças, muito pelo contrário, se
encontra “guardada” em seu castelo à espera do príncipe para se casar.
Em relação à aparência da princesa de Shrek, ela também é disforme como o
ogro, apesar de sua origem nobre, o que vai na contramão do ideal de beleza construído
para simbolizar as “princesas”, no sentido do bom, belo e sublime.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
190
No entanto, o grotesco, nessa situação, passa a ser visto não como algo negativo,
mas como algo positivo também, pois gera um efeito que rompe com parte dos
estereótipos do gênero conto de fadas, uma vez que esses personagens também têm o
direito de viverem “horríveis para sempre” (STEIG, 2002, p.28** ) parodiando a
consagrada frase “felizes para sempre”.
A trama, segundo Carvalho (1982, p.56), normalmente, se desenrola com a
explicação dos fatos que envolvem o herói, ou seja, os sentimentos nobres, os feitos, o
caráter, as ações com desfecho satisfatório. Ao voltarmos nosso olhar para a narrativa
de Shrek! notamos que a estrutura do conto de fadas tradicional não é rompida, uma vez
que, realmente, a narrativa inicia-se explicando fatos sobre a vida do herói. A narração
parte da explicação da origem do ogro, ou seja, dos seus pais. Além disso, ao longo da
narrativa são descritas as características físicas de Shrek, seus atributos, além de seus
poderes, uma vez que é um herói, portanto, dotado de poderes.
O que se insere de novo no curso da narrativa é justamente a figura grotesca de
seu personagem que invade não somente suas ações, mas também o seu discurso ao
longo da narrativa. Um exemplo de discurso grotesco que causa o estranhamento no
leitor é quando Shrek encontra-se com a princesa e ambos travam uma “guerra verbal”,
que para eles é a forma de um conquistar o outro. Vejamos:
Disse Shrek: Tuas verrugas cascudas, tuas espinhas sebentas, Me encantam mais que as poças mais lamacentas. Disse a princesa: Tua cabeça pontuda e teu nariz melequento Me enfeitiçam mais que o sapo mais purulento. (STEIG, 2002, p.25).
**
Como o livro não apresenta marcação de páginas, está será feita a partir da página que inicia a história
a fim de facilitar a localização de trechos do livro.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
191
A forma como o discurso da conquista é construído foge dos padrões clássicos
de educação e palavras gentis, pois é por meio de palavras que apontam para as
deformidades físicas da princesa que Shrek consegue conquistá-la e vice-versa. Quanto
mais um ofende o outro, que nesse caso é encarado como elogio, mais eles se
apaixonam, uma vez que a narrativa termina com o casamento dos dois. Notamos nesta
parte da narrativa a presença do humor, gerado pelo estranhamento dos “elogios”, que
fogem ao modelo de discurso sublime entre os apaixonados. Então, até que ponto o
livro segue os padrões dos contos de fadas e em que medida há uma ruptura? Notamos
que a maior inovação dessa narrativa está presente na caracterização das personagens
protagonistas, já que não há uma alteração profunda dos paradigmas estruturais dos
contos de fadas tradicionais. Quanto à tendência ao maniqueísmo, em Shrek! não temos
a presença estanque do Bem contra o Mal, pois há um hibridismo, em que Shrek
apresenta-se como mal e bom ao mesmo tempo. Ele é mal, porque assusta a todos,
porém isso é inerente a sua natureza, já que é um ogro; é bom porque quer encontrar a
princesa e casar-se com ela. Nesse ponto, a narrativa preserva as características do conto
de fadas tradicional, pois Shrek sai em busca de sua princesa, atravessando obstáculos
para, ao final da narrativa, casar-se com a sua princesa, cumprindo seu destino.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CARVALHO, B.V. A literatura infantil: visão histórica e crítica. São Paulo: Edart, 1982. COELHO, N. N. A literatura infantil: das origens orientais ao Brasil de hoje. São Paulo: Quíron, 1981. STEIG, W. SHREK!. Copyright, 2008. Square Fish, New York, USA. STEIG, W. SHREK! A história que inspirou o filme. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2001. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1975. VOLOBUEF, K. Um estudo do conto de fadas. Revista Letras. São Paulo, n.33, p.99-114, 1993.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
192
A METAMORFOSE DE NARCISO E ECO EM UMA RELAÇÃO DO EU
E DO OUTRO
Elaine Cristina Prado dos Santos* & Maria Luiza Guarnieri Atik **
RESUMO
O mito de Narciso aparece e continua a aparecer sob as mais diversas formas artísticas, evocando o conflito do ser em sua dualidade existencial. A origem do personagem Narciso e a da gênese do mito continuam, até hoje, desconhecidas. Entretanto, a lenda de Narciso, desde a sua primeira aparição em As metamorfoses de Ovídio, apresenta-se perfeitamente constituída e possuindo concomitantemente uma significação mítica. Objetiva-se, neste artigo, analisar como o texto de Ovídio apresenta-nos o mito de Narciso e como Leminski, em sua obra Metaformose, reatualiza-o em um processo instigante de metamorfose da palavra poética ovidiana. PALAVRAS-CHAVE: Ovídio; Leminski; Metamorfoses; Metaformose.
O mito de Narciso, tema recorrente na história da literatura e das artes, aparece e
continua a aparecer sob as mais diversas formas artísticas, evocando o conflito do ser
em sua dualidade existencial.
A origem do personagem Narciso e a da gênese do mito continuam, até hoje,
desconhecidas. Entretanto, a lenda de Narciso, desde a sua primeira aparição em
Metamorfoses de Ovídio, apresenta-se perfeitamente constituída e possuindo
concomitantemente uma significação mítica. Constata-se ainda, que em Metamorfoses,
a história de Eco é contada por Ovídio como um prelúdio à história de Narciso. Para o
poeta latino, Eco é um reflexo ou um duplo de Narciso e a relação simbólica entre eles é
assinalada por simetrias. * Doutora pela Universidade de São Paulo (Letras Clássicas). Professora Colaboradora do Programa de
Pós-Graduação em Letras e do Curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
** Doutora pela Universidade de São Paulo (Letras Modernas). Professora Titular do Programa de Pós-
Graduação em Letras e do Curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
193
Já em Metaformose, de Paulo Leminski, uma releitura da obra ovidiana, o mito
de Narciso é escolhido para nos conduzir a “uma viagem pelo imaginário grego”.
Assim, é sob o olhar de Narciso para si mesmo na superfície espelhada das águas que se
alternam outros olhares: o olhar de Narciso para Medusa; o olhar de Narciso para Teseu;
de Teseu para o Minotauro; os reflexos de Narciso nos ecos da ninfa. Ao debruçar-se
sobre o espelho das águas da fonte de Téspias, o olhar de Narciso reflete-se, transforma-
se e remete-nos a outros mitos.
Desta forma, objetiva-se, nesta comunicação, analisar como o texto de Ovídio
apresenta-nos os mitos de Narciso e Eco e como Leminski reatualiza-os, a partir de um
traço obsessivo do imaginário grego, ou seja, o tema da transformação, da metamorfose
dos deuses.
Quanto ao mito, Narciso era filho do rio Céfiso e da ninfa Liríope, uma das
náiades, que habitavam rios e riachos. Dotada de rara beleza, Liríope foi vítima da
virilidade exacerbada de Céfiso. Dessa gravidez indesejada, nasce Narciso, cuja beleza
comparada a do deus Apolo, nas palavras de Ovídio, é festejada pelas ninfas.
Na cultura grega, de modo particular, a beleza fora do comum sempre assustava. É que esta arrastava o mortal para o hýbris, o descomedimento, fazendo-o, muitas vezes, ultrapassar o métron. Competir com os deuses em beleza era uma afronta inexoravelmente punida (BRANDÃO, 2008, p. 175).
Preocupada com a divinização de seu filho, Liríope decide consultar o profeta
Tirésias para saber sobre o destino de Narciso. Tirésias, que tinha o dom de predizer o
futuro, lhe responde de forma lacônica e direta: Sim, se ele jamais se conhecer (Si se
non nouerit. Ov. Met. III, 348). Para impedir a realização dessa profecia, Liríope
procura criar o filho sem que ele veja a sua própria imagem.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
194
Afirma-se que a história narra exatamente o cumprimento (probatio) deste
vaticínio. Conforme Galinsky (1975, p.53), Tirésias, em sua predição, usa, em forma
negativa, uma das mais solenes frases repreensivas da Antigüidade, a do Oráculo
Délfico, isto é, Conhece-te a ti mesmo, uma das máximas dos Sete Sábios inscritas no
templo de Delfos, santuário oracular e recinto consagrado a Apolo. Propositadamente,
Ovídio emprega, em forma negativa, a máxima délfica a fim de dar continuidade à
história iniciada e a fim de enfatizar o contraste que será apresentado na própria lenda.
Após o vaticínio de Tirésias, a narrativa ovidiana retoma uma história
precedente, a da deusa Juno que punia a todos que se colocavam em favor de seu esposo
Júpiter. A deusa Juno, “desconfiada como sempre e com razão, das constantes ‘viagens’
do esposo ao mundo dos mortais, resolveu prendê-lo” no Olimpo. Desesperado, Júpiter
lembrou-se de Eco, “ninfa de uma tagarelice invencível”. A esposa seria distraída pela
ninfa, enquanto ele poderia se deitar nas montanhas com as “encantadoras mortais”
(BRANDÃO, 2008, p. 177). Ao perceber da artimanha de Eco, Juno pune a ninfa,
condenando-a a não mais falar. Eco só consegue repetir os últimos sons ouvidos, “sem
poder comunicar seus desejos, inquietudes ou sinais de alerta; mas conservará a
faculdade essencial de escolher os sons que irá repetir” (BRUNEL, 2005, p.289). É a
partir dessa escolha de sons, que Ovídio cria um possível diálogo entre Eco e Narciso:
Por acaso, o jovem, separado do grupo fiel dos companheiros, dissera: ‘Aqui está presente alguém?’ ‘Alguém’, respondera Eco .[...]. Ele clama com alta voz: Vem!’ Eco repete o mesmo convite. Ele olha para trás, e, não vendo ninguém se aproximar, pergunta: ‘Por que foges de mim’. E ouve as mesmas palavras que dissera. Insiste, e, iludido pela voz que parece alternar com a sua, convida: ‘Aqui, unamo-nos!’ [...] ‘Unamo-nos’. Ela repete e ajunta o gesto à palavra e, saindo da floresta, avança para abraçar o desejado. Ele foge, e diz, ao fugir: ‘Afasta-te de mim, retira estas mãos que me enlaçam! Antes eu morrer que me entregar a ti! Eco somente repetiu: ‘Me entregar a ti’”*** .
*** (Ov. Met. III, 379-392) Forte puer, comitum seductus ab agmine fido,
Dixerat: .Ecquis adest?. et .adest. responderat Echo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
195
Friamente rejeitada, Eco se isola e se consume numa imensa solidão. Nas
palavras de Ovídio, seu amor
cresce com a dor da recusa. As preocupações incansáveis consomem seu pobre corpo, a magreza resseca-lhe a pele e todo o suco de seu corpo se evapora no ar. Sobrevivem, no entanto, apenas a voz e os ossos. A voz permanece; dizem que os ossos assumiram a forma de pedra. Assim, ela se esconde nas florestas, e não é vista nas montanhas. É ouvida por todos; é o som que ainda vive nela**** .
A justaposição dos dois destinos é extremamente significativa, pois Eco é aquela
que vê, mas não pode falar. Narciso é aquele que vê e que fala. Por outro lado, Eco “é
vítima da resistência de Narciso a amar e perde sua substância corporal” e embora sua
voz permaneça, seus ossos transformam-se em pedra. Eco desfalece, tal como Narciso,
“por efeito de uma languidez amorosa” (BRUNEL, 2005, p. 289).
Os insulamentos das duas personagens míticas conduzem-nas à autodestruição, à
metamorfose, no entanto elas são movidas por diferentes razões para um mesmo fim, o
de amar um amor impossível. De acordo com Carlos Byington,
Se Narciso, vai ser um símbolo central da permanência em si mesmo, Eco, ao revés, traduz a problemática da vivência de seu oposto. Para se compreender o mito, é preciso frisar que Narciso e Eco estão em relação dialética de opostos complementares, não
Hic stupet, utque aciem partes dimittit in omnis, Voce .Veni. magna clamat; uocat illa uocantem. Respicit et rursus nullo ueniente: .Quid. inquit Me fugis?. et totidem, quot dixit, uerba recepit. Perstat et alternae deceptus imagine uocis: Huc coeamus. ait nullique libentius umquam Responsura sono .coeamus. rettulit Echo; Et uerbis fauet ipsa suis egressaque silua Ibat, ut iniceret sperato bracchia collo. Ille fugit fugiensque .manus complexibus aufer; Ante. ait .emoriar quam sit tibi copia nostri..
Rettulit illa nihil nisi .sit tibi copia nostri..
**** (Ov. Met. III, 395-401) Sed tamen haeret amor crescitque dolore repulsae Et tenuant uigiles corpus miserabile curae Adducitque cutem macies et in aera sucus Corporis omnis abit. Vox tantum atque ossa supersunt; Vox manet; ossa ferunt lapidis traxisse figuram. Inde latet siluis nulloque in monte uidetur; Omnibus auditur; sonus est, qui uiuit in illa.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
196
só do masculino e feminino, mas sobretudo de sujeito e objeto, de algo que permanece em si mesmo e de algo que permanece no outro (apud BRANDÃO, 2008, p. 178).
Narciso, encastelado em sua beleza, comete uma hýbris (um descomedimento),
uma violência contra o amor-objeto (Eco). Ele se torna ao mesmo tempo, sujeito e
objeto da relação amorosa. Se em Narciso, o drama concentra-se no auto-erotismo, em
Eco, nasce de uma ardente paixão não correspondida. Podemos dizer que Narciso busca
a homogeneidade, enquanto Eco, a heterogeneidade. Conflitos que se vinculam à
questão do duplo: a do sujeito que abriga em si a imagem idealizada e a do sujeito que
busca no outro a sua própria identidade.
Nas palavras do analista junguiano Carlos Byington,
Narciso e Eco são dois caminhos provenientes de uma raiz comum, do sofrimento cultural, e que buscam, por meio de suas peripécias, se encontrar e se resolver. Eles se encontram, mas não se resolvem e mais ainda se separam. Fica, entretanto, desse encontro-desencontro a marca de uma discórdia e de uma tragédia, que muito nos elucida sobre a realidade do homem e da mulher, a realidade da relação conjugal e, mais que tudo, a realidade do desenvolvimento psicológico da personalidade individual e de sua própria cultura (apud BRANDÃO, 2008, p. 179).
Retomando a desdita do filho de Liríope, os versos de Ovídio nos relatam a
grande tragédia, ao debruçar-se sobre a fonte para matar a sede e enquanto bebe,
Viu-se na água e ficou embevecido com a própria imagem. Julgando corpo, o que é sombra, e a sombra adora. [...] Em sua ingenuidade deseja a si mesmo. A si próprio exala e louva. Inspira-se ele mesmo os ardores que sente. É uma chama que a si própria alimenta. [...] Estirado na relva opaca, não se cansa de olhar seu falso enlevo E por seus próprios olhos morre de amor (apud Brandão, 2008, p.180-181).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
197
Cumpre-se, pois o vaticínio de Tirésias. Pelo amor de Narciso se perdeu Eco.
Pelo encontro de si mesmo perdeu-se Narciso. No relato de Ovídio, o engano fatal do
jovem tebano foi a escolha errada do objeto do amor, o amor do self e não o amor pelo
outro. Narciso ainda procura desesperadamente no Hades por sua própria imago
(imagem), por sua umbra (sombra) nas águas escuras do rio Estige.
O relato da metamorfose de Narciso (Ov. Met. III, 339-512) é emoldurado por
dois segmentos: o da abertura e o do fechamento. O primeiro tem como núcleo o
vaticínio de Tirésias; o segundo ao mesmo tempo sanciona o vaticínio anterior e
estabelece uma transição para o relato de Penteu***** .
Ao relato da metamorfose de Narciso somam-se os de outros mitos. Uma longa
narrativa que vai desde o Caos dos tempos primitivos à época de Augusto. A obra
Metamorfoses de Ovídio se apresenta como uma vasta epopéia cíclica, cuja especial
peculiaridade é a mistura de gêneros variados de aparência confusa, mas que, na
verdade, mantém sua unidade, tendo com eixo propulsor o tema da metamorfose.
Na composição das Metamorfoses, a estratégia narrativa é arquitetada em dois
princípios de organização: 1. um acúmulo de lendas de metamorfoses que se encadeiam,
uma após a outra, por complementaridade, conjugando-se, por sua vez, à distância, por
analogia isto é, as histórias são semelhantes, os motivos similares, porém, em um
enfoque novo, ao se estabelecer um eco entre as histórias; 2. uma estrutura narrativa
original na qual a continuidade, preservada no carmen perpetuum****** , se firma em uma
*****
Penteu, rei de Tebas, filho de Equião e Agave, que se opôs à introdução do culto dionisíaco na cidade e foi despedaçado pelas bacantes (Ov.Met. III, 514).
****** Este princípio construtivo permite entender carmen perpetuum como um poema elaborado em uma
só duração, à maneira da epopéia. Tal elaboração é comprovada através do verbo deducite (Ov. Met. I,4) que expressa o desejo de o poeta preservar, de toda ruptura, com a ajuda dos deuses, o encadeamento da narrativa, pois deduco- duxi- ductum- evoca a noção de esticamento ou a de condução por um trajeto. Com o uso de tal palavra, há, na obra, uma sugestão da força da estética de Calímaco em Aitia, pois as
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
198
renovação incessante, na passagem de uma a outra história, fato que permite perceber,
em diferentes episódios, que a mens Manet******* (a mente permanece) e que esta
perdura na transformação, confirmando omnia mutantur, nihil interit (todas as coisas
são mudadas, nada perece) (Ov.Met. XV, 165).
Partindo dos artifícios da técnica helenística introduzidos na poesia latina por
Catulo no c.64, e por Vergílio no último episodia das Geórgicas, Ovídio utiliza-se da
técnica de encaixe, inserindo uma narrativa mítica em outra ou várias lendas numa
mesma narrativa; aliando um tema a outro com base em semelhanças ou unindo uma
série de lendas por afinidade formal.
Afirma-se que as Metamorfoses são um poema da metamorfose no mito muito
mais do que um poema de metamorfoses mitológicas, pois não importa ao poeta a
substância do mito e sim suas qualidades imaginativas e estilísticas, aqui está um
aspecto essencial da originalidade ovidiana.
No reordenamento que Paulo Leminski dá ao texto de Ovídio, em Metaformose,
publicado em 1995 e escrito em 1986-87, o mito de Narciso apaixonado pela própria
imagem ressurge, agregado, porém, a uma viagem pelo imaginário grego. Em
Metaformose, Leminski transforma os mitos em personagens de sua fábula,
desarticulando-os e reordenando-os numa nova ordem, em uma experiência criativa.
“Como os sonhos, os mitos trabalham por fusões (condensações) e por superposições”
(LEMINSKI, 1998, p. 59). Na visão de Leminski, o mito “é a palavra fundadora, a
fábula matriz (1998:70), que permite uma leitura analógica do mundo.
Metamorfoses são um poema deductum carmen, um sutil canto, na melhor tradição de Calímaco, em toda a sua extensão.
******* Nas metamorfoses, descritas por Ovídio, na transformação de um ser em outro, sempre há algo que
permanece que, segundo o poeta, é a mens.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
199
Referências bibliográficas
BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia grega, Vol. II. Petrópolis, Rio de Janeiro:
Vozes, 2008.
BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários / sob a direção de Pierre Brunel. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2005.
CALVINO, I. Ovídio e a contigüidade universal. 4ed. Por que ler os clássicos?
Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 31 – 42.
CHCHEGLÓV, I. K. Algumas características da estrutura de as Metamorfoses de
Ovídio. In: SCHNAIDERMAN, B. Semiótica russa. Tradução de Aurora Fornoni
Bernardini et alii. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. p. 139-157.
GALINSKY, G. K. Ovid´s Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1975.
LEMINSKI, Paulo. Metaformose. Uma viagem pelo imaginário grego. São Paulo:
Iluminuras, 1998.
OVID. Les métamorphoses. Tomes I, II, III .Texte établi et traduit par Georges Lafaye.
Paris: Société d.édition Les Belles Lettres, 1994.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
200
A FANTASIA CIENTÍFICA DIDÁTICA: O FANTÁSTICO E O MARAVILHOSO NAS OBRAS DE FICÇÃO DE DIVULGAÇÃO CIENT ÍFICA
Emerson Ferreira Gomes*, João Eduardo Fernandes Ramos**
& Luís Paulo de Carvalho Piassi***
RESUMO
A ficção de divulgação científica se vale da linguagem e da narrativa da ficção para exprimir de forma didática os conceitos científicos. Geralmente escritas por cientistas e divulgadores da ciência, tais obras utilizam da linguagem do fantástico e da fantasia, para criarem alegorias científicas em que os conceitos inerentes à ciência estão no universo do maravilhoso. Nesse gênero podemos destacar os romances: As Aventuras do Sr. Tompkins, de George Gamow, publicada originalmente em 1940, O tempo e o espaço do Tio Albert, de Russel Stannard, publicada em 1989 e Alice no país do quantum, de Robert Gilmore, publicada em 1998. Este trabalho pretende através da semiótica de A. J. Greimas identificar o percurso narrativo de sentido no texto da obra “O tempo e o espaço do tio Albert” e identificar os elementos do fantástico e do maravilhoso presente na narrativa dessa obra em outras obras de ficção de divulgação científica.
Introdução
A ficção de divulgação científica, conforme afirma Piassi (2007, pág. 171), se
vale da linguagem e da narrativa da ficção para exprimir de forma didática os conceitos
científicos. Geralmente escritas por cientistas e divulgadores da ciência, tais obras
utilizam a linguagem do fantástico e da fantasia, para narrarem alegorias científicas em
que os conceitos inerentes à ciência estão no universo do maravilhoso.
O didatismo e a alegoria são característicos das obras desse gênero, sendo que
essa última promove uma distinção entre a história que é contada e os fenômenos que
* Mestre em Ensino de Ciências no Programa de Pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo.
** Mestrando do Programa de Pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo.
*** Doutor em Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professor Doutor da Escola de Ciências, Artes e Humanidades da Universidade de São Paulo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
201
são conceituados, promovendo uma “descontinuidade entre o real e o imaginário”
(PIASSI, 2007, p.174). Pretendemos com este trabalho, por meio da semiótica de A. J.
Greimas, identificar o percurso narrativo do texto e identificar o objeto de valor
enunciado aos conceitos científicos dentro do universo fantástico descrito nas narrativas
pelos autores desse gênero.
Obras de Ficção de Divulgação Científica
Uma obra de referência para esse gênero é “O incrível mundo da física
moderna”, do físico de origem russa George Gamow (1904 - 1968), um dos
responsáveis pela teoria do Big Bang. De acordo com Russell Stannard (2001, p. 31), as
histórias desse livro não eram apenas “intrigantes e entretecedoras”, mas propiciavam
ao leitor leigo, o “entendimento sobre o que a física moderna tinha a oferecer”.
Na obra de Gamow, o protagonista, Sr. Tompkins, é um bancário que ao assistir
algumas palestras sobre física moderna, adormece e sonha com um universo em que é
possível vislumbrar os fenômenos relativísticos e quânticos. Essa obra foi publicada
originalmente em 1946 e o próprio Russell Stannard a atualizou com novas descobertas
em 2001.
Outro autor que podemos destacar nesse gênero é o físico Robert Gilmore, autor
de obras como “Alice no País do Quantum” (1988) e “O Mágico dos Quarks” (2002).
Gilmore é de Professor de Física na Universidade de Bristol na Grã-Bretanha e suas
pesquisas são relacionadas à mecânica quântica e à teoria do caos. Gilmore utiliza
nesses dois livros, histórias de fantasia já conhecidas do público em geral, e incorpora
elementos de física moderna e contemporânea em suas narrativas. Nesse caso os
mundos em que os fenômenos físicos se revelam, são respectivamente no “País das
Maravilhas” e em “Oz”.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
202
A obra que detalharemos a análise semiótica do texto é “O tempo e o espaço do
tio Albert”, publicada originalmente em 1989. Seu autor, o inglês Russel Stannard
(1931), é um físico experimental da área de Física Nuclear de Altas Energias e
Professor Emérito de Física na Open University, em Milton Keynes na Inglaterra. Além
de seu trabalho como pesquisador, tornou-se notável por publicações com a temática
“ciência e religião” e suas séries destinadas ao público infanto-juvenil.
Uma reflexão importante do ponto de vista da instância de produção dessas
obras é que se observa a formação de um publico leitor desse gênero, geralmente em
idade escolar. Conforme o levantamento bibliográfico realizado num trabalho mais
amplo (GOMES, 2011), as áreas da física moderna são superficialmente contempladas
nos livros didáticos, portanto, os livros desse gênero acabam se tornando obras
paradidáticas no contexto escolar. Além disso, conforme a afirmação de Studart e
Moreira (2005, p. 127) já utilizada, os livros de divulgação científica, costumam dar
“retornos financeiros significativos” para seus autores.
O tempo e o espaço do Tio Albert
A história de “O tempo e o espaço do Tio Albert” é centrada na personagem
adolescente Gedanken, sobrinha de Albert. A jovem precisa fazer um projeto para a
disciplina de ciências em sua escola e o tema sugerido por seu professor, provoca tédio
na estudante. Albert, um cientista famoso, ao ver as aflições da sobrinha, apresenta as
pesquisas que tem feito sobre o espaço e o tempo, sugerindo que ela o utilize no projeto
da escola.
O fantástico e o maravilhoso aparecem na narrativa através de “experiências de
pensamento”. O nome da protagonista é uma homenagem aos Gedankexperiment,
conforme o próprio autor relata no posfácio do livro, “experiências de pensamento”
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
203
muito comuns à Física (STANNARD, 2005, p. 157). Tal termo foi utilizado por Ernst
Mach para denotar uma “conduta imaginária aos procedimentos que deveriam ser
utilizados pelos seus estudantes para realizar um experimento físico num laboratório
real” (KIOURANIS et al., 2010, p. 2).
Na obra que estamos analisando, o tio Albert da narrativa é explicitamente uma
referência a Albert Einstein, entretanto a narrativa não se utiliza de dados biográficos
reais do físico alemão. Dessa forma a empatia do leitor com esse personagem possibilita
ao primeiro um interesse em conhecer a “real” história do cientista contada em diversas
publicações biográficas.
No mundo da fantasia evidenciado nas obras desse gênero se configura como um
universo em que os fenômenos científicos que estão fora do senso comum são
verificados. Os personagens das narrativas tornam-se atores de um mundo em que são
possíveis a visualização de átomos, partículas elementares e atingirem a velocidade da
luz. Porém, as narrativas possuem um realismo, no sentido de que esses fenômenos são
sempre causados por algum devaneio, sonho, ou, como no caso de “O tempo e o espaço
do tio Albert”, experiência de pensamento. Dessa forma o leitor sabe perfeitamente o
que é analogia e o que é realidade na narrativa, ou seja, em “O tempo e o espaço do tio
Albert” quando Geddanken está dentro do “balão de pensamento” de seu tio, ela pode
visualizar o fóton apostando corrida e observar distâncias se contraindo, já na sua vida
“fora do balão” a personagem é uma adolescente normal com certas dificuldades em se
relacionar com a escola, como muitos de nossos estudantes.
A semiótica estruturalista de Algirdas Julien Greimas
Para a análise do texto ficcional, utilizamos a semiótica estruturalista de
Algirdas Julien Greimas (1976), que identifica o percurso gerativo de sentido no texto,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
204
procurando estabelecer relações sintáxicas no interior do texto. Tal análise permitiu
refletir sobre o objeto de valor enunciado à ciência na narrativa ficcional.
A semiótica greimasiana está voltada para a “estrutura interna do texto”
(BARROS, 2008, p.7) e estrutura a interpretação da narrativa através do percurso
gerativo do sentido, que é definido em “três níveis: fundamental, narrativo e discursivo”
(FIORIN, 2009, p. 20). O nível fundamental abriga as bases da construção de um
texto, dessa forma os elementos da narrativa possuem categorias semânticas de
qualificação opostas: euforia e disforia – representando respectivamente os valores
positivo e negativo. No nível narrativo observa-se a transformação da narrativa, que se
estrutura numa sequência canônica, se compreendendo em quatro fases: “a
manipulação, a competência, a performance e a sanção” (FIORIN, 2009, p. 29). Já no
nível discursivo, observamos a formação do processo de enunciação caracterizando a
pessoa (actorialização), o espaço (espacialização) e o tempo (temporalização).
Análise semiótica da Ficção de Divulgação Científica
Quando analisamos uma obra de ficção de divulgação científica à luz da
semiótica greimasiana, identificamos que o objeto de valor presente no texto é o
conceito, ou a teoria que está sendo explorada na obra. Como o livro “O tempo e o
espaço de Tio Albert” tem como próprio tema a Teoria da Relatividade, num primeiro
momento, podemos atribuir como objeto de valor às obras de ficção de divulgação
científica a própria teoria envolvida na narrativa, entretanto, podemos observar
variâncias textuais de acordo com o que o capítulo do livro, ou seja, em determinado
excerto, do ponto de vista conceitual, esse objeto de valor pode ser as grandezas
relativas – espaço, tempo, massa – ou do ponto de vista social, o objeto de valor pode
ser representado pelo conhecimento ou pelo reconhecimento.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
205
No contexto geral da obra “O tempo e o espaço do tio Albert” esse objeto de
valor é a própria teoria da relatividade, porém podendo variar dependo do fenômeno ou
conceito que esteja sendo abordado. Observemos um trecho em que a personagem
observou a contração do espaço na gravação em vídeo de uma de suas viagens no
interior do “balão de pensamento”:
- Pronto – disse quando a imagem apareceu. – Era esta a aparência antes de você partir. Enquanto a nave estava parada, tudo parecia normal. Foi só quando a nave ganhou velocidade... como está fazendo agora... que tudo ficou espremido. Definitivamente, não é a imagem que está com problemas. Estamos olhando para um efeito real. A espaçonave foi realmente espremida!
[...]
- Isso é um disparate! Eu não acredito – declarou Gedanken enfaticamente. – Não acredito mesmo. Eu não poderia ter sido espremida, eu teria dotado. Não é possível que você realmente espere que eu acredite que eu posso ter sido espremida, quase achatada, sem sentir nada. Para começar, isso teria quebrado todos os ossos do meu corpo.
-Não, não teria – retrucou tio Albert gentilmente. – Não com o tipo de espremeção de que estamos falando aqui. É o espaço em si que está sendo espremido. O espaço naquela nave foi espremido naquela direção em que ela se move. Todo o espaço: o espaço vazio entre os objetos e o espaço ocupado pelos objetos, pelos seus ossos, sua carne, seus músculos, pele, tudo. Não, minha querida, esse é um tipo especial de espremeção; você não teria sentido nada (STANNARD, 2005, p. 67 – 68).
No excerto acima ainda não identificamos todas as etapas da narração, no
entanto, já é possível identificar que o objeto de valor é o encurtamento de distâncias.
Gedanken levou os objetos para o tio, que começou então a desenhar uma
espaçonave na superfície plana da borracha. Quando ele terminou, apertou a borracha
com força entre os dedos, fazendo com que ficasse espremida na direção em que
apontava o foguete.
A expressão de Gedanken se abriu em um sorriso largo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
206
- Ah, entendi – disse ela, animando-se. Pegou a borracha e espremeu-a ela mesma. Tudo nela fica espremido. Agora, sim, as coisas estão se encaixando. Está começando a fazer sentido. Eu acho (STANNARD, 2005, p. 72).
Podemos observar que Gedanken compreende o fenômeno de contração
defendido por seu tio, constatando a contração da borracha. Mas a borracha sendo
amassada não prova que corpos em velocidades próximas à da luz se contraem na
direção de sua velocidade, para que a personagem abstraia em sua subjetividade esse
conceito, deve adquirir o conhecimento dos postulados da Teoria da Relatividade, o
qual ela na narrativa vai evidenciando “experimentalmente”. Por esse lado a própria
TER se configura como um objeto de valor que permeia toda a narrativa. Podemos a
partir disso, no nível fundamental da narrativa, podemos obter o seguinte quadrado
semiótico:
Ignorância Conhecimento
Não-Conhecimento Não-Ignorância
Figura 01: Quadrado semiótico /ignorância/ versus /conhecimento/
Para a personagem, o percurso narrativo /ignorância/→/não-
ignorância/→/conhecimento/ passa pelas seguintes etapas. A personagem desconhece o
fenômeno (ignorância), em seguida através de uma experiência de pensamento se sujeita
à contração de espaço (não-ignorância) e confirma o evento a partir da elucidação do
fenômeno pelo seu tio (conhecimento). O texto ainda opera na representação de um
valor disfórico para a ignorância e um valor eufórico para o conhecimento.
É interessante notar, que a semiótica quando utilizada para interpretar uma
linguagem não verbal, possibilita a análise do percurso do sentido, do ponto de vista do
leitor. Sendo que nesse percurso narrativo o conhecimento é adquirido através da leitura
desse romance didático. O leitor estaria na fase de não-ignorância no momento da
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
207
experiência de leitura do livro e entraria na fase do conhecimento a partir da
compreensão dos conceitos e fenômenos tratados pelo autor.
Quanto ao nível narrativo das obras dessa modalidade de ficção, observamos que
o objeto modal – que permite aos actantes presenciarem os fenômenos relativísticos (no
caso de “O tempo e o espaço do Tio Albert” e em “As aventuras do Sr. Tompkins”),
fenômenos quânticos (como seria o caso de “Alice no país do quantum” e em “As
aventuras do Sr. Tompkins”) – é a imersão no universo do maravilhoso e do fantástico
explícito nas narrativas.
No nível discursivo do texto o conhecimento está presente em dois espaços: o
espaço extraordinário, representado por fótons que disputam corridas, o computador da
espaçonave que obedece às ordens de Gedanken, onde se observa os fenômenos
relativísticos, o espaço ordinário, que representa o mundo normal, “real” da
personagem, representado pela escola, pelo professor, pelo tio, pelos pais e pelos
colegas. No entanto dentro da espacialidade “real” da personagem é possível identificar
outros dois espaços: o espaço da repressão, representada pela figura do professor
Nabuco e dos colegas que tiram sarro das ideias da adolescente; o espaço da liberdade,
representada pela casa de tio Albert, onde se concretiza o espaço do extraordinário
evidenciado anteriormente. Essa abordagem do espaço do extraordinário é muito
comum nas obras dessa modalidade de ficção.
Considerações Finais
A utilização da linguística na análise desses romances permite a reflexão sobre a
representação da ciência através do fantástico, assim como possibilita realizar um
estudo sobre a interface entre ciência, literatura, divulgação científica e ensino. No que
tange o ensino de ciências, essas obras possibilitam discutir aspectos imaginários
inerentes à ciência.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
208
Alguns conceitos científicos modernos, principalmente os que são relacionados à
Física Contemporânea, possuem aspectos de estranhamento e nesse caso o fantástico,
que se encontra entre o estranho e o maravilhoso conforme defende Todorov (2004,
pág. 60), possibilita uma imersão do leitor nesse universo.
Referências Bibliográficas
BARROS, D. L. P. Teoria semiótica do Texto. São Paulo: Ática, 2008
FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2009.
GAMOW, G. O incrível mundo da física moderna. São Paulo: Ibrasa, 2006.
GILMORE, R. Alice no país do quantum. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
GOMES, E.F. O Romance e a Teoria da Relatividade: A interface entre Literatura
e Ciência no Ensino de Física através do discurso e da estrutura da ficção.
Dissertação de Mestrado. São Paulo: FEUSP, IFUSP, IQ e IB, 2011.
GREIMAS, A. J. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix, Edusp, 1973.
KIOURANIS, N. M. M. et al. Experimentos mentais e suas potencialidades didáticas.
In: Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 32, n1, São Paulo, Mar. 2010.
MOREIRA, I; STUDART, N. Einstein e a divulgação científica. Ciência & Ambiente,
Santa Maria, v. 30, p. 125-142, 2005.
PIASSI, L. P. C. Contatos: A ficção científica no ensino de ciências em um contexto
sócio cultural. Tese de Doutorado. São Paulo: FEUSP, 2007.
STANNARD, R. Communicating physics through story. In: Physics education, vol. 36,
n. 1, Bristol, p. 30-34, 2001.
______. O tempo e o espaço do tio Albert. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Editora Perspectiva,
2004.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
209
SHENIPABU MIYUI : LITERATURA E MITO
Érika Bergamasco Guesse∗
RESUMO
O presente trabalho pretende apresentar brevemente como a literatura contemporânea indígena tem se configurado no Brasil, tendo como foco o processo de escrita dos mitos, ou seja, as narrativas míticas indígenas que, antes eram transmitidas apenas através da oralidade e, hoje, estão sendo fixadas em forma de livros. Para exemplificar essa reflexão acerca da escrita e compreensão dos mitos indígenas, apresentaremos a obra de autoria coletiva dos índios Kaxinawá, Shenipabu Miyui, constituída por 12 histórias de antigamente. PALAVRAS-CHAVE: literatura; mito indígena; escrita; Kaxinawá.
Literatura escrita indígena: uma breve contextualização
A pesquisa centrada na literatura contemporânea de autoria indígena em certa
medida ainda é “terreno virgem”, o que se deve ao fato de essa literatura ainda ser vista
basicamente como matéria de estudos antropológicos, mas não de estudos literários. A
matéria estética desses textos – universo composto de expressão de idéias, de
criatividade verbal e elaboração da composição narrativa – é defendida por vários
estudiosos acadêmicos; contudo, as vozes desses estudiosos ainda são bastante abafadas
pela falta de maior divulgação e pesquisa do veio literário indígena em nosso país,
principalmente na Região Sudeste.
Não podemos ignorar o fato de que, hoje, o próprio índio escreve sobre os índios
(e também sobre os brancos) para que, principalmente, outros índios leiam. Podemos
∗ Aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (Doutorado) da UNESP – Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara, sob orientação da Profª Drª Karin Volobuef e com apoio financeiro da FAPESP.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
210
dizer que está em processo de configuração, no Brasil, uma literatura do índio para o
índio. É a figura indígena que se apresenta como matriz criadora: o índio está se
firmando enquanto sujeito de sua própria história. É seu olhar diante do mundo que se
reflete naquilo que é contado e escrito. E, atualmente, a interferência do “branco” é cada
vez menor e menos modificadora e até mesmo bem menos devastadora.
Toda essa área é muito ampla e merece novas perspectivas de estudos, sendo um
horizonte que se abre diante das pesquisas acadêmicas. As professoras Maria Inês de
Almeida e Sônia Queiroz, ambas docentes e pesquisadoras da Universidade Federal de
Minas Gerais, em sua obra Na captura da voz, apresentam um panorama geral dessa
“recente” literatura no capítulo intitulado “Os livros da floresta”. Dizem elas que “Os
escritores indígenas estão descobrindo o Brasil” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 195).
Cabe, então, a nós RE-descobrirmos os índios, os “autores da floresta”, sob um aspecto
mais humano, mais democrático, mais literário.
Tanto a História do Brasil quanto a Literatura ditas “oficiais” contribuíram para
o surgimento de uma imagem do índio como fator ou símbolo de nacionalidade. No
entanto, ao longo desse processo, o índio não teve a oportunidade de reconfigurar suas
experiências através de uma produção literária própria. Nesse movimento recente de
publicação de suas histórias, cantos, mitos e poesias, os indígenas têm a possibilidade
de figurarem na História de uma nova maneira, instaurando seu próprio olhar sobre si
mesmos e não através da ótica do “escritor branco”. Esse processo de reconfiguração na
História exige um arrefecimento do modelo em vigor, a fim de permitir a revelação da
realidade existencial do índio.
De acordo com Souza (2003, on-line), a constituição brasileira de 1988
reconheceu oficialmente a existência de línguas indígenas no Brasil. Como
conseqüência disso, a partir da década de 90, escolas indígenas diferenciadas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
211
começaram a ser criadas em nosso país. Com a criação dessas escolas, algumas
personagens, antes inexistentes, começaram a atuar no cenário educacional brasileiro.
Professores indígenas passaram a ser formados e a lecionar nessas escolas para um
público discente composto em sua grande maioria (quando não em sua totalidade) por
indígenas. Dessa maneira, um material didático também diferenciado se fez necessário.
Além de aprenderem ou aprimorarem o domínio da língua portuguesa escrita, muitas
tribos indígenas, anteriormente ágrafas, intensificaram o processo de construção de
sistemas alfabéticos escritos de suas próprias línguas de origem.
No Brasil, existem cerca de 1500 escolas indígenas diferenciadas e também algo
em torno de 3200 professores índios, segundo Almeida e Queiroz (2004). São esses
professores que assumiram primordialmente a confecção de seus próprios materiais
didáticos, fazendo com que suas histórias, cantos, mitos e poesias passassem do âmbito
da oralidade para o âmbito da escrita. Eles têm construído, a partir de suas práticas de
trabalho, a literatura das suas comunidades: são os chamados “livros da floresta”
(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 196-297).
Naturalmente, vale ressaltar que, ao escreverem suas narrativas, os indígenas
deixam de lado toda a complexidade do processo performativo de narrar oralmente, mas
outras características da oralidade, como a repetição, a condensação dos enredos, as
expressões que marcam o início e fim das histórias, a informalidade e coloquialidade da
linguagem ainda são preservadas.
Antes, toda contribuição cultural indígena era coletada, selecionada, modificada
e registrada pelos brancos; certamente, essa intermediação fazia com que muito da
originalidade das narrativas fosse perdida. A figura do índio era vista apenas como
personagem das histórias dos brancos ou os brancos se posicionavam como “donos”/
autores das histórias dos índios. O que tem acontecido nas últimas décadas é que os
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
212
próprios indígenas têm assumido a voz narrativa, tornando-se sujeitos, autores/
criadores de seu legado cultural escrito.
Nesse processo de escrita indígena, vários são os envolvidos. Os narradores, na
grande maioria dos casos, são os índios mais velhos – considerados mais sábios –, que
narram as histórias de seus antepassados aos indígenas mais novos, que assumem,
então, o papel de coletores (função essa ocupada anteriormente por brancos,
principalmente antropólogos). O papel do escritor, diferentemente da tradição ocidental,
na maioria das vezes não é de apenas um indivíduo, mas sim de um grupo – geralmente
de professores – que, junto dos brancos ou não, discutem a escrita das histórias e
compõem em conjunto os textos. Já os processos de editoração e publicação estão
designados aos brancos e têm o apoio financeiro de instituições governamentais, já que
os indígenas não possuem meios financeiros ou práticos para assumirem completamente
suas produções escritas. Por fim, os leitores são compostos em maior escala pelos
indígenas, principalmente os alunos das escolas diferenciadas, mas também em menor
escala pelos brancos.
As produções indígenas são escritas tanto em suas línguas de origem quanto em
língua portuguesa. Há livros que utilizam apenas a língua indígena; outros, apenas o
português; outros ainda que apresentam as narrativas na língua indígena e traduzidas
para o português, e, por fim, aqueles que apresentam duas versões (e não traduções) das
histórias, uma na língua indígena e outra em língua portuguesa. O que podemos
verificar nesse processo é que a língua do branco, utilizada anteriormente como
instrumento de dominação e manipulação de saberes, passa agora para o domínio escrito
do índio. O que antes era uma “arma” contra passa agora a ser uma “arma” favorável ao
indígena, uma ferramenta que possibilita sua expressão imaginativa, comunicativa e
também um instrumento político para a divulgação e valorização de sua cultura, seus
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
213
costumes e, acima de tudo, de seus direitos. Diz Daniel Munduruku, um dos mais
importantes representantes da literatura escrita indígena contemporânea:
A escrita é uma técnica. É preciso dominar esta técnica com perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Técnica não é negação do que se é. Ao contrário, é afirmação de competência. É demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o Ser na medida em que precisa adentrar o universo mítico para dar-se a conhecer o outro. [...] Há um fio tênue entre oralidade e escrita, disso não se duvida. Alguns querem transformar este fio numa ruptura. Prefiro pensar numa complementação. Não se pode achar que a memória não se atualiza. É preciso notar que ela – a memória – está buscando dominar novas tecnologias para se manter viva. A escrita é uma dessas técnicas... (MUNDURUKU, 2008, on-line).
O que eu gostaria de salientar é que essa produção escrita indígena tem se
configurado como um movimento literário. Mesmo que esse processo venha ocorrendo
ainda de forma tímida e pouco visível, ele tem sido constante e persistente; por isso
surge a necessidade de se analisar e compreender essa recente expressão literária.
Dizem ainda as professoras:
Assistimos atualmente a uma espécie de eclosão do que nomeio a priori uma literatura indígena no Brasil, que, a meu ver, configura um movimento literário, na medida em que pode ser observado nos seus aspectos coerentes, como um grande texto que se dá a ler.(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 195).
As produções escritas indígenas brasileiras concentram-se na Região Norte,
havendo, assim, um deslocamento do centro. O produto final – o livro – é resultado de
um processo de editoração e aí estaria sua pertinência para os estudos literários, a partir
do momento em que se assume um conceito mais pragmático de literatura. Para as
autoras “os textos indígenas despolarizam, até quase a dissolução, os parâmetros
canônicos, deixando a descoberto a teoria literária baseada na tradição escrita”
(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 198). Nesses textos podem ser percebidos os
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
214
marcadores da tradição oral de cada povo e também a potência do diálogo formal com a
contemporaneidade artística.
A grande novidade das comunidades indígenas reinseridas na cultura brasileira é
que agora é possível colocar sua palavra em circulação independentemente de sua
presença corporal. Até então, o que o vinha ocorrendo com a literatura indígena era
apenas um processo de folclorização (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 205), com o
intuito do ocultá-la. O uso dos mitos indígenas nas escolas regulares é um exemplo
disso; suas entidades míticas são vistas como personagens folclóricas,
desespiritualizadas. A partir do momento em que os próprios índios escrevem seus
mitos como literatura, essas entidades se reespiritualizam.
Essa nova prática escritural indígena se reveste de um caráter literário na medida
em que vai sendo publicada, lida, transitando de um público a outro, de aldeia em
aldeia, de cidade em cidade. Dessa maneira, os índios estariam reivindicando, hoje, seu
espaço na sociedade brasileira também sob o aspecto literário, já que, historicamente,
toda a matéria literária indígena teria sido expropriada por outros discursos, não
permitindo que a prática de sua literatura se configurasse e solidificasse anteriormente
(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 209).
Da oralidade à escrita: os mitos indígenas
Os indígenas dividem suas narrativas em dois grandes grupos: as histórias de
hoje e as histórias de antigamente. As histórias de hoje são narrativas históricas,
geralmente de autoria individual, que tratam de fatos e acontecimentos situados no
presente atual, como por exemplo, a luta pela demarcação de territórios. Já as histórias
de antigamente são narrativas originadas da oralidade performática e mítica, geralmente
de autoria coletiva, que tratam de fatos e acontecimentos situados no “tempo de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
215
antigamente”, também chamado de presente anterior ou tempo mítico, segundo Souza
(s.d., on-line). No momento das histórias de antigamente, tudo ainda estava sendo
criado, por isso os seres não têm uma forma definida, podendo se metamorfosear
constantemente. No presente atual, por outro lado, cada ser já possui sua forma definida
e os processos de transformações cessaram. Em algumas culturas aborígenes, esses dois
planos – que poderíamos, simploriamente, denominar de “plano da História” e “plano
do Mito” – coexistem e é possível haver comunicação entre eles; são os pajés ou os
xamãs aqueles que possuem o poder de transitar entre os dois planos, geralmente após a
ingestão de alguma bebida alucinógena.
De acordo com Almeida e Queiroz (2004), as comunidades indígenas
consideram a escrita de seus mitos muito importante. Ao escreverem os mitos, os
indígenas buscam uma revalorização do passado; assim, os textos são uma forma de
criticar o progresso e mostrar os efeitos negativos da civilização moderna ocidental. Os
mitos são “colocados na sua potencialidade de circulação, como texto legível, mutável,
exógeno, por isso escrito como literatura (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 249)”.
A forma mais simples, e talvez a mais clara, de definir o mito é como a representação concreta da concepção do mundo de comunidades humanas. Dessa forma, a tradição mítica de cada povo constitui um esforço no sentido da representação de si próprio, do que é, do que faz, de como vive, e do estabelecimento de toda uma moral, um ritual, uma mentalidade, baseando-se nessa mitologia. A função social do mito, porém, não exclui a sua função poética ou recreativa (ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 233).
Podemos perceber que, escrevendo e publicando suas narrativas míticas, os
índios concretizam o universo de sua cultura, seus costumes, suas crenças. O que
acontece nos dias de hoje não é um simples processo editorial e literário, mas sim o
assumir, por parte dos índios, um novo posicionamento na História e na literatura, um
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
216
posicionamento mais ativo, coletivo e até mesmo político. Através da escrita de seus
mitos, os índios colocam-se como os verdadeiros autores de sua História.
Shenipabu Miyui: as histórias dos antigos Kaxinawá
É nessa linha que se dá a publicação de Shenipabu Miyui, uma obra de autoria
coletiva dos índios Kaxinawá** , organizada pelo professor indígena Joaquim Mana
Kaxinawá e constituída por 12 narrativas míticas ou histórias de antigamente.
O povo indígena Kaxinawá entrou em contato com o “homem branco” no final
do século passado, quando foram incorporados como mão-de-obra dos seringais.
Tentando compreender as relações econômicas com os patrões, os índios seringueiros
passaram a se interessar pela escrita (alfabética e numérica), já que, até então,
constituíam uma sociedade de tradição predominantemente oral. A dominação do
sistema escrito dos brancos serviu para que a cooperativa dos trabalhadores indígenas
tentasse garantir a legitimidade dos seus direitos.
Em 1983 foi criada a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/ AC), uma das primeiras
organizações não-governamentais de apoio à questão indígena no país. Essa
organização foi responsável pelo início do programa de formação de professores
indígenas na região. Através do projeto “Uma Experiência de Autoria” com o I Curso
de Formação de Monitores e Agentes de Saúde Indígenas, teve início o primeiro
processo de formação profissional de jovens indígenas no Acre, não só com o povo
Kaxinawá, mas também com os outros grupos Pano.
**
Os Kaxinawá compõem hoje a população indígena mais numerosa do Acre, com cerca de 5000 índios. Destes, 1500 estão distribuídos por nove aldeias no Alto Rio Purus e seu afluente, o Rio Curanja, no Peru. Outros 3500 vivem em onze territórios indígenas localizados no Brasil, ao longo do Rio Purus e de afluentes do Rio Juruá.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
217
Para a elaboração do livro Shenipabu Miyui, um dos professores dos primeiros
anos do projeto de formação profissional viajou para as aldeias Kaxinawá peruanas,
coletando as narrativas dos antigos e gravando-as em fitas K-7. Ao voltar para o Brasil,
apresentou o material coletado aos outros professores Kaxinawá do projeto. A partir daí,
todo o grupo passou a trabalhar em conjunto na confecção do livro, coordenados pelo
professor Joaquim Mana. Uma segunda parte do processo consistiu em coletar mais
versões das narrativas, agora dos mestres antigos das aldeias brasileiras. Várias versões
foram ouvidas e foi necessário realizar comparações, análises, escolhas até chegarem ao
grupo de doze narrativas de antigamente, que compõem a obra.
Inicialmente, os Kaxinawá optaram por publicar o livro apenas com as versões
das histórias escritas na língua indígena Hãtxa Kuĩ, sem colocá-lo em contato com a
língua portuguesa. Entretanto, após várias discussões, compreenderam que deveriam dar
a oportunidade a outros leitores, de outras etnias, de conhecerem as histórias Kaxinawá.
Assim, iniciou-se mais um processo, o de coletar entre os mestres da tradição, que
dominassem a língua dos brancos, versões das narrativas selecionadas para o livro, mas
agora em português. Portanto, Shenipabu Miyui é uma obra bilíngüe, porém não se trata
de traduções dos mitos Kaxinawá, mas sim de versões em língua portuguesa.
A primeira edição do livro, em 1995, aconteceu por meio do projeto da CPI/AC,
com o apoio financeiro da Unicef e da Coordenadoria Geral de Apoio às Escolas
Indígenas do Ministério de Educação e Desportos. A tiragem foi de 3000 exemplares,
visando à difusão principalmente entre os próprios Kaxinawá. Diz Joaquim Mana:
Só agora nos últimos anos é que estamos com os direitos de ter uma comunicação através da escrita na nossa língua própria. Sendo um processo novo para os índios e para os assessores, encontramos várias interrogações no ar. Como se fôssemos andorinhas voando para pegar as moscas de sua alimentação numa tarde de temporal de chuva. Mas o túnel do futuro mostra que somos capazes de realizar os sonhos que sempre tivemos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
218
como povos diferentes, valorizados dentro de nós mesmos e espiritualmente (KAXINAWÁ, 2008, p. 5).
De acordo Souza (s.d., on-line), outra característica importante da escrita
indígena é seu grande apelo visual. Praticamente todas as histórias são ilustradas com
desenhos feitos pelos próprios índios, estabelecendo um significativo diálogo entre os
textos verbais e não-verbais, processo que o autor denomina narrativas multimodais. As
produções narrativas escritas dos Kaxinawá são freqüentemente acompanhadas de dois
tipos de desenhos: kenê e dami. Os desenhos kenê compõem um conjunto altamente
codificado de traçados geométricos; são desenhos abstratos, em preto e branco que
podem aparecer sozinhos (em um dos cantos ou no final da página na qual está escrita
uma narrativa) ou junto com os desenhos dami. Os traços kenê possuem um significado
mítico, pois representam metonimicamente os desenhos da pele da anaconda-Yube, uma
figura central da mitologia Kaxinawá, responsável por trazer a cultura, a sabedoria e o
conhecimento a esse povo. A reprodução das formas geométricas que cobrem pele do
anfíbio tem caráter mimético, acompanhando o desenho que integra o tecido “vivo”.
Esses grafismos kenê seriam usados como marcadores de veracidade, funcionando
assim como fatores de legitimação das histórias contadas pelos Kaxinawá. Já os
desenhos dami, de acordo com informações de Souza (2003, on-line) são desenhos
figurativos, coloridos ou não, que acompanham as histórias, sugerindo uma cena
narrativa. Eles podem representar animais, objetos, seres humanos ou sobrenaturais e
não há, nesse tipo de desenho, preocupação com perspectiva.
Em 2000, a Universidade Federal de Minas Gerais realizou a segunda edição do
livro e incluiu a obra na lista de leituras exigidas para o Vestibular 2001 da instituição.
Acredito que medidas como essa são extremamente significativas, pois representam um
estímulo para a valorização da cultura indígena – que integra o leque cultural brasileiro
– e para o enriquecimento da literatura brasileira contemporânea. Pretendo, com minha
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
219
pesquisa, contribuir para a intensificação desse processo de reconhecimento e
solidificação de uma produção tão recente e rica.
Referências bibliográficas:
ALMEIDA, Maria Inês de; QUEIROZ, Sônia. Na captura da voz: As edições da narrativa oral no Brasil. Belo Horizonte: A Autêntica; FALE/UFMG, 2004.
KAXINAWÁ, Joaquim Paula Mana e outros (Org.). Shenipabu Miyui: história dos antigos. 2.ed. rev. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.
MUNDURUKU, Daniel. Literatura Indígena e o tênue fio entre escrita e oralidade, 2008. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/overblog/literatura-indigena>. Acesso em: 08 jul. 2010.
SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. As visões da anaconda: a narrativa escrita indígena no Brasil, 2003. Revista Semear 7. Disponível em: <http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/semiar_7.html>. Acesso em: 18 jun. 2010.
SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. Uma outra história, a escrita indígena no Brasil, s.d. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/autoria-indigena/uma-outra-historia,-a-escrita-indigena-no-brasil>. Acesso em: 18 jun. 2010.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
220
A LITERATIZAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS:
O CASO DA BORBOLETA ATÍRIA
Fabiana Rodrigues Santos* & Luís Paulo de Carvalho Piassi**
RESUMO
As obras literárias que compõe a Série Vaga-Lume da editora Ática estão presentes nas salas de aula e bibliotecas escolares, desde a década de setenta e fazem parte do repertório de leitura de muitos alunos atualmente. Tais livros estão repletos de conteúdos que permeiam várias áreas do conhecimento, possibilitando trabalhos interdisciplinares. Pensando nisso e sabendo que tal uso muitas vezes não é voltado para o Ensino de Ciências, tendo em vista que poucos são os trabalhos na área do Ensino de Ciências sobre a Literatura Infanto-juvenil, seu uso deve ser repensado, com o intuito de proporcionar um aprendizado diferenciado de conteúdos de Ciências. Com base nesses pressupostos, além do objetivo primeiro desta pesquisa, o qual visa uma maior valorização da Leitura, objetiva-se que o uso da literatura seja mais incentivado no ensino de Ciências. Propõe-se que a Investigação Científica seja abordada por meio do romance policial, tendo como modelo de análise, a obra “O caso da borboleta Atíria” de Lúcia Machado de Almeida, com enredo pautado em mistério e no tom maravilhoso. Na pesquisa buscou-se averiguar se o discurso é favorável para o debate a respeito da investigação científica e de como esse tema pode ser trabalhado por meio de analogias, além de evidenciar outros conteúdos científicos que possam estar presentes no enredo da obra e entender a finalidade e o intuito da autora. Para isso, estão sendo realizadas análises importantes para evidenciar elementos a serem considerados no processo de ensino-aprendizagem relacionados à estrutura da obra e ao contexto sociocultural em que está inserida. A análise é baseada no uso da semiótica de Greimas (1976) e Pietroforte (2007) e na análise do discurso tendo como aporte teórico Bakhtin (2004) e Maingueneau (2006). Neste evento a obra e suas possibilidades didáticas serão apresentadas, assim como, alguns resultados das análises. PALAVRAS-CHAVE: literatura infanto-juvenil; romance policial; investigação científica; ensino de ciências.
Introdução
Vive-se em uma época em que a tecnologia está tão presente na vida do homem,
modificando sua visão de forma tão invasiva, que reduz seu olhar filosófico, tendo
* Graduada em Ciências da Natureza pela USP, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação Interunidade em Ensino de Ciências pelo IFUSP/ [email protected].
** Doutor em Ensino, Professor Doutor da Universidade de São Paulo do programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências e da graduação na EACHUSP/ [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
221
como consequência a perda do hábito de apreender e pensar os problemas existenciais
da humanidade sem o uso das máquinas. Acredita-se que a leitura de obras literárias e
de outras linguagens recoloca-o na condição de ser pensante e reflexivo e resgata a
consciência de sua humanidade e de sua compreensão enquanto ser no mundo. Com
base nesse ponto de vista e refletindo sobre as significativas contribuições que este
recurso proporciona, no ensino de diversas disciplinas, propõe-se o incentivo do uso da
literatura no ensino, em especial, no Ensino de Ciências.
Quando se pensa no uso da literatura no ensino, geralmente se pensa na disciplina de
Língua Portuguesa. Porém, muitos livros que não são direcionados ao Ensino de
Ciências podem ser utilizados com essa finalidade, afinal, muitas obras literárias são
escritas por escritores interessados nos resultados da ciência, que por sinal, estão
presentes no dia-a-dia de todos. A ciência ao fazer parte do mundo, também faz parte do
mundo do escritor infanto-juvenil.
Segundo Linsingen, esse interesse resulta em sensações de temores e esperanças que
muitas vezes se transformam em ficção. Uma vez que a ficção tem a capacidade de
incidir na emoção das pessoas, Waal (2007 apud LINSINGEN, 2008, p. 6) defende que
as emoções faz com que as pessoas não se coloquem de forma indiferente perante as
informações, fazendo com que fiquem retidas na memória do leitor. Por esta razão, a
obra literária pode ser usada como um recurso didático, que poderá atuar nas emoções
das pessoas, possibilitando ao professor a abordagem de conteúdos de ensino por meio
dela (LINSINGEN, 2008).
Com base nisso, Linsingen ressalta que:
Entendendo o ser humano, e, sobretudo, a criança e o adolescente, como um sujeito em formação, e entendendo a cultura como uma série profusa e complexa de fazeres e saberes na qual estamos mergulhados mesmo antes de nascermos, não faz sentido desmerecer uma expressão literária em detrimento de outra. Mais ainda, se pensarmos que nenhuma obra humana é
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
222
isolada, que cada criação do Homem é um reflexo da realidade que o circunda, e ao mesmo tempo um diálogo com este contorno, então é razoável pensar a Literatura Infantil em um contexto como o Ensino de Ciências (LINSINGEN, 2008, p. 3).
No decorrer da leitura, a cumplicidade do leitor com o conteúdo vai aumentando e a
partir disso, ele vai tomando consciência de que, ao escrever, o autor concebeu um
projeto de comunicação. Nele, o autor, com maior ou menor margem de manobra, tem a
possibilidade de manipular restrições e liberdades linguísticas conforme a sua finalidade
textual. Juntas, elas atuarão como estratégias usadas na estruturação do texto, o que
Charaudeau, em Grammaire du sens et de expression (1992), denomina modos de
organização do discurso — narrativo, descritivo, argumentativo e enunciativo (LIMA,
2004).
A importância da leitura no processo de ensino e aprendizagem de um estudante é de
real e indiscutível importância, aperfeiçoando seu desempenho em toda e qualquer
disciplina, e também em sua vida pessoal. Ao entrar em contato com o mundo das ideias
e das informações, amplia-se a área de conhecimento.
Além da significativa contribuição que o ensino pode dar pela literatura, no plano da
educação geral, desenvolvendo sensibilidade, há uma capacidade crítica e senso
estético, para melhor compreensão do mundo e de si mesmo. A obra estudada neste
trabalho em específico poderá contribuir na abordagem de temas científicos, na
compreensão e no debate a respeito de conteúdos do Ensino de Ciências.
Professores e pesquisadores incorporam como recurso didático no Ensino de Ciências,
os diversos gêneros ficcionais tais como filmes (SANTOS, 2009 e ANDRADE, 2000),
poemas (MOREIRA, 2002), contos (SILVA, 2006), romances (PINTO NETO, 2004),
canções (RIBAS e GUIMARÃES, 2004) e teatro (OLIVEIRA e ZANETIC, 2004). A
partir das propostas de tais autores, é notável que o uso da obra de literatura no Ensino
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
223
de Ciências gere interesse ou motivação nos estudantes, assim como a formação de
hábitos e atitudes positivas em relação à Ciência causadas pela obra de ficção.
Porém, o uso da literatura será eficaz apenas se os mediadores (professores) receberem a
formação adequada para o seu uso. Quando a prática docente encaminha o aluno a um
contato direto com a obra de literatura infantil e infanto-juvenil, possibilita que o aluno
se identifique e enriqueça seu imaginário e a realidade por ela vivida. Em contrapartida,
Oliveira (2008: p.32,33) defende que o professor “amplia seu conhecimento sobre o
universo de vida de seus alunos e os valores que por ele transitam” e ao mesmo tempo o
deixa “atento às possibilidades de cognição dos alunos, decorrentes de seu estágio de
compreensão, e desenvolva estratégias que os levem a interagir com a leitura”. Haja
vista que a literatura traz uma gama de possibilidades, o seu uso deve ser cada vez mais
incentivado e pesquisas nessa área devem ser mais difundidas e realizadas.
A proposta do trabalho com a literatura infanto-juvenil no Ensino de Ciências surgiu a
partir de leituras sobre esse tema, que mostram os benefícios e quão poucos são os
trabalhos nessa área. Dentre os benefícios, podem-se citar os de cunho educacional,
como melhor desenvolvimento da leitura, escrita, oralidade e o estímulo ao debate. Em
relação aos benefícios transversais, nota-se que a leitura estimula a sensibilidade, a
capacidade crítica e senso estético, para melhor compreensão do mundo e de si mesmo.
Também se pensa nessa proposta como uma ideia diferenciada, que pode ser aplicada
no entretenimento e principalmente na inserção de temas científicos no Ensino de
Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental I e II.
Como a proposta é o ensino da Investigação Científica, que aborde a maneira pela qual
a Ciência é construída, tema que muitas vezes não é trabalhado em sala de aula, o
romance policial é gênero literário mais apropriado. Porque, mesmo que ele seja uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
224
ficção, um jogo de imaginação, vale ressaltar que esse jogo se utiliza dos processos
fundamentais da razão. Na ciência, o cientista transforma-se em detetive para descobrir
o enigma e, no romance policial, o enigma torna-se um crime misterioso, gerando prazer
em quem lê. É possível perceber as ligações existentes entre os dois e há possibilidades
múltiplas de trabalhá-los.
A obra “O caso da borboleta Atíria” foi escolhida por ser um romance policial que está
presente nas salas de aula e bibliotecas escolares como livro paradidático até os dias de
hoje. Também se deve levar em consideração, o fato de ela ser concebida em especial
para o público jovem, que a lerá tanto no espaço escolar como fora dele, assim como
para os professores, que são os mais interessados no seu uso em sala de aula. Sendo
assim, a obra agrada não somente o público infanto-juvenil como também aos
professores. Isso se deve a sua criação, voltada para a Escola de ensino formal. Além do
mais, a obra possui qualidade, tiragem grande e trabalha conteúdos científicos com uma
linguagem acessível aos alunos. Tais informações foram possibilitadas pela análise da
obra, por meio dos parâmetros de Maingueneau (2006), com o intuito de estabelecer as
implicações sociopolíticas nele veiculadas em relação a suas condições sociais de
produção, foi importante para que houvesse um melhor entendimento das intenções e
pretensões da autora, pautadas no contexto social de sua produção, afinal todo gênero
do discurso é portador de pressupostos ideológicos e de intencionalidades inerentes à
sua prática social.
Outra análise feita neste trabalho foi a análise semiótica estruturalista derivada do
trabalho de Greimas (1976), que procura estabelecer relações sintáxicas no interior de
um texto. Entendido como uma narrativa, o discurso encerra uma dinâmica entre
“personagens” ou actantes, objetos e programas narrativos. Uma narração completa
contaria com, ao menos, dois actantes e três etapas: a manipulação, a ação e a sanção.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
225
Esse esquema narrativo pode ser empregado na análise dos mais variados textos, mesmo
os não-verbais (PIETROFORTE, 2007, p.17).
Pensando no nível narrativo, que se refere às transformações de estados do percurso
gerativo de sentido, percebe-se na história de Lúcia Machado de Almeida, que por sinal,
é extensa, que há diversos sujeitos com seus respectivos objetos de valor e antissujeitos
relacionados. Os principais exemplos de sujeitos são Atíria, Papílio e o Príncipe Grilo.
Ao se fazer uma análise para o actante Papílio, que é o representante do investigador
que busca o conhecimento para desvendar a mistério da história, percebe-se que A partir
disso, vemos que existe na história uma busca de conhecimento (saber), indo de
encontro com a proposta de busca de conhecimento a partir da investigação científica.
Articulando o romance policial com a investigação científica
O livro “O caso da Borboleta Atíria” conta a história de uma borboleta órfã que foi
criada por uma Jitiranabóia, a Dona Jitirana. Devido a um defeito em suas asinhas, ela
não pode voar longas distâncias e por isso vive com a colaboração em suas revoadas, de
diversos insetos da floresta em que ela mora. No decorrer da história, acontece o
assassinato na floresta da noiva do príncipe Grilo chamada Helicônia, e a borboleta
Atíria junto com o detetive Papilio e com Caligo passam a investigar o caso. Porém, a
história não para por aí, um novo assassinato ocorre de forma misteriosa se tornado o
assunto das conversas da população da mata. O grandioso mistério sobre o culpado
norteia todo o desenrolar da história que é pautada por mistério e investigação. Quando
Atíria conhece o Príncipe Grilo sua vida também passa a correr perigo, e corajosamente
a borboletinha vai enfrentar alguns inimigos como o Esqueleto-vivo e vai suportar a
câmara de tortura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
226
Conforme já dito, no decorrer da história, acontece de forma misteriosa o assassinato da
noiva do príncipe Grilo chamada Helicônia, e posteriormente o da borboleta Vanessa
Atalanta, por quem o Príncipe Grilo estava começando a se interessar. Para desvendar
os assassinatos, o detetive Papílio possui muitas dúvidas e para solucioná-las, ele segue
pistas e levanta hipóteses que no decorrer da trama são confirmadas e refutadas. Esse
encadeamento também ocorre na pesquisa científica e permeiam as investigações de
cunho científico. Sendo assim, procurou-se estabelecer uma relação entre a história da
borboleta Atíria com o modo em que a ciência é construída.
Com base nisso, por meio de analogias foram feitas comparações entre os
acontecimentos da história e as etapas de realização de uma pesquisa científica,
possibilitando que o professor explique de forma mais facilitada tal conteúdo a seus
alunos.
Pode-se pensar em Atíria, o detetive Papílio e sua assistente Caligo como sendo os
integrantes de um grupo que estão fazendo uma pesquisa científica. Conforme a
história, os fatos são que duas mortes ocorreram na floresta, sendo assim, o objetivo da
pesquisa seria desvendar quem é (são) o (os) assassino (os). Primeiramente ocorreu uma
morte, a da borboleta Helicônia. De dados experimentais iniciais para a investigação, só
se sabia que a morte ocorreu no Antro das Bruxas, que a borboleta assassinada
Helicônia não tinha inimigos e que ela se tratava da noiva do Príncipe Grilo. A partir
desses dados surge a hipótese de que a morte tenha sido causada por aves que são muito
comuns na região.
No decorrer da pesquisa, surge um novo acontecimento, ou seja, um novo dado
experimental. A borboleta Vanessa Atalanta foi encontrada agonizando ao lado de uma
planta venenosa, no Antro das Bruxas e murmurando a palavra ‘coruja’. A partir dos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
227
novos dados, uma nova hipótese é levantada, a de que Helicônia pode ter sido morta da
mesma forma.
Surge um novo dado, o boato de que há um fantasma que aparecia nas noites de Lua, no
alto do morro. O pesquisador Papílio resolve verificar o caso e descobrir se tem alguma
relação com as mortes e descobre que o fantasma se tratava de um inseto e que este fato
nada tinha a ver com os assassinatos, refutando assim tal hipótese.
Conforme vimos nesses exemplos que permeiam o enredo da história, por meio de
analogias o professor pode explicar de uma forma mais fácil e simplificada aos alunos, a
maneira como os atuais pesquisadores realizam suas pesquisas científicas. Tal atitude
desmistifica a ideia de que a ciência é algo que está distante dos alunos e de que ela
pode ser compreendida, caso seja explicada de uma forma mais esclarecedora.
Conclusões
A obra de Lúcia Machado de Almeida se preocupa com a transmissão correta de
informações de cunho científico se tornando para o leitor uma incentivadora não só da
escrita, da leitura e da oralidade, mas também na transmissão de conceitos científicos e
na elaboração de pesquisa.
Na obra está presente além do caráter policial e fantástico, o mundo da ciência. Sendo
assim, por meio de analogias, o professor pode explicar de uma forma mais fácil e
simplificada aos alunos, como são feitas as pesquisas científicas. Tal possibilidade é
reforçada pela análise semiótica, que percebe no actante detetive Papílio, a busca do
saber, que por sinal é o componente fundamental da investigação científica. Essa
proposta tem a intenção de desmistificar a ideia de que a ciência é algo distante e
mostrar que ela pode ser compreendida pelos alunos, caso seja explicada de uma forma
mais esclarecedora.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
228
Tais informações contidas no livro levantam a possibilidade de sua aplicação didática
em sala de aula utilizando-o como um recurso diferenciado no ensino de conteúdos de
biologia. A abordagem dos temas de biologia por meio do livro sai da rotina dos
métodos de ensino tradicionais e pode gerar por meio da leitura e pesquisa um
aprendizado diferenciado e eficaz. É uma possibilidade educativa de fácil acesso que
pode ser aplicado tanto como entretenimento e lazer, bem como, na inserção de temas
de biologia no ensino de ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Por constatar-se que o livro trabalha em todo o seu contexto a investigação científica,
onde os personagens utilizam métodos para solucionar o mistério das mortes que
ocorrem no enredo da história, poderá ser trabalhado na aplicação que será feita em sala
de aula.
Bibliografia ALBUQUERQUE, Paulo M. O mundo emocionante do romance policial. Rio de Janeiro: F. Alves, 1979. ALMEIDA, Lúcia Machado de. O Caso da borboleta Atíria. São Paulo: Ática, 1991. BAKHTIN, M. e VOLOSHINOV V. Marxismo e filosofia da linguagem. 11ª edição. São Paulo: Hucitec, 2004. BARROS, Diana L. P. Teoria do discurso: fundamentos semióticos. São Paulo: Humanitas, 2001. BARTHES, Roland. et. al. Literatura e Semiologia – Seleção de Ensaios da revista “comunications”. Coleção Novas Perspectivas em Comunicação 3. Rio de Janeiro: Vozes, 1972. BOILEAU, Pierre; NARCEJAC, Thomas. O romance policial. São Paulo: Ática, 1991. BORELLI, S. H. S. Ação, suspense, emoção. Literatura e cultura de massa no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. CARVALHO, Bárbara V. C. Literatura Infantil: Estudos. Edição s. d. - 382 pp. São Paulo: Lotus, 1989. COELHO, N. N. Dicionário Crítico da literatura infantil e juvenil brasileira. São Paulo: Quiron, 1983. FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. O assassino é o leitor. In: Revista Matraga. V. 2, n. 4-5. Rio de Janeiro: jan./ago, 1988. GONNET, Jacques. Educação e mídias. Tradução brasileira: Maria Luiza Belloni; estado: Editora Loyola, 2004. GREIMAS, A. J. Semântica estrutural. 2ª edição. São Paulo: Cultrix: Edusp, 1976a.
____________. Semiótica do discurso científico. Da modalidade. São Paulo: Difel: Sociedade Brasileira de Professores de Linguistica, 1976b. GRILLO, Sheila V. C. Divulgação científica na esfera midiática. Revista Intercâmbio, vol XV. São Paulo, LAEL/-PUC-SP, ISSN 1806-275X, 2006. JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1974.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
229
JESUALDO. A literatura infantil. Trad: AMADO, James. São Paulo: Cultrix, 1993. LINSINGEN, Luana Von. Alguns motivos para trazer a literatura infantil para a aula de Ciências. Revista Ciência & Ensino, vol. 2, n. 2, junho de 2008. LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. MAINGUENEAU, Dominique. Discurso literário. São Paulo: Contexto, 2006. MENDONÇA, C. T. À sobra da Vaga-Lume: análise e recepção da série Vaga-Lume. Dissertação de Doutorado, UFPr - Curitiba, 2007. MOYA , Alvaro . Shazam. São Paulo: Perspectiva, 1977. PCN: O que são? Para que servem? Nova Escola. Edição Especial. Parâmetros Curriculares Nacionais fáceis de entender. São Paulo: Abril, 1999. PIETROFORTE, A. V. Semiótica Visual: os percursos do olhar. São Paulo: Contexto, 2007. PROPP, Vladimir I. Morfologia do conto maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense universitária, 1984. REIMÃO, Sandra. Literatura policial brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. ____________. O que é romance policial?. Brasiliense, 1983. TARDY, Michael. O professor e as imagens. Trad: BARROS, Frederico P. São Paulo: Cultrix, 1976. VAN DIJK, T. Cognição, discurso e interação. São Paulo: Contexto, 2002. WAAL, Frans de. Eu, primata: porque somos como somos. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 331p.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
230
O RELIGIOSO E O PROFANO EM “O JOVEM GOODMAN BROWN”
Fernanda Aquino Sylvestre*
RESUMO
Este artigo tem como objetivo fazer uma leitura do conto “Young Goodman Brown”, do autor norte-americano Nathaniel Hawthorne, destacando esta narrativa como parte do movimento romântico de cunho fantástico. Mais especificamente, deseja-se mostrar como o romantismo norte americano aproveitou a literatura gótica inglesa, mantendo suas características essenciais, como o mistério e o sobrenatural, e acrescentando a ela conflitos familiares e psicológicos, intensificando, assim, a atmosfera de mistério e horror. A literatura fantástica, por apresentar de modo associado o sobrenatural e o misterioso, acaba atraindo e fascinando o leitor, mantendo-o preso à narrativa, hesitando entre a fantasia e a realidade. PALAVRAS-CHAVE: literatura fantástica; Nathaniel Hawthorne; Romantismo. Abstract: This essay intends to read the short story “Young Goodman Brown” by the North-American writer Nathaniel Hawthorne, showing it as part of the Romanticism, specially the fantastic one. Specifically it aims to show how the North-American Romanticism utilized the English Gothic literature, keeping its essential aspects, as the mystery and the supernatural, and adding to it psychological conflicts and conflicts related to family problems. So the fantastic narratives intensify their atmosphere of horror and mystery. The fantastic literature associates mystery and supernatural aspects and, for this reason, it attracts the reader, holding him to the story. Key-words: fantastic literature. Nathaniel Hawthorn. Romanticism.
Na segunda metade do século XVIII, presencia-se o surgimento de uma
literatura desestabilizadora capaz de causar estranhamento ao leitor, questionadora dos
limites morais e sociais da humanidade, bem como do universo. Considerada uma
literatura de oposição ao racionalismo presente em sua época de origem, é afeita a
termos ligados ao horror, à morte, ao sobrenatural, acentuando as dicotomias
razão/desejo, luz/trevas, lei/subversão. À essa literatura que, de acordo com Kilgour
* Doutora em estudos literários, professora adjunta I da Universidade Federal de Campina Grande/ área de
atuação: Literaturas de Língua Inglesa/ Doutora em Estudos Literários pela UNESP de Araraquara [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
231
(1995, p.3), em sua obra “The rise of the gothic novel”, existiu entre 1760 e 1820, dá-se
o nome de gótica.
O romance gótico, de acordo com Botting (1996, p.8), tem como objetivos
transformar e revisar fronteiras e foi
Produced in the eighteenth century to distinguish good from evil, reason from passion, virtue from vice and self from other images of light and dark focus, in their duality, the acceptable and unacceptable sides of the limits that regulate social distinctions”
Se o iluminismo havia deixado sem explicação ou abandonado temas não
justificados pela razão, pela ciência e pela objetividade, o gótico assume como proposta
a tentativa de conciliar o racional com o irracional, respondendo aos medos e incertezas
de seu período.
Foi com a publicação, em 1764, da obra “O castelo de otranto”, de Horace
Walpole, que a literatura gótica começou a ser delineada, primeiramente na Inglaterra.
Botting (1996, p.45) ressalta diversas transformações do gótico ao longo do tempo, mas
reconhece, que a obra de Walpole, por meio da atmosfera sombria do mistério de
espaços como antigos castelos, labirintos, passagens subterrâneas, locais ameaçadores,
serviu como “framework” para as narrativas dela derivadas.
Com o tempo, o castelo foi substituído por locais como florestas e cavernas; o
tirano gótico cedeu espaço a vilões. Uniram-se, além disso, a obras góticas, elementos
como falsos religiosos, sociedades secretas e episódios assustadores como os da
inquisição.
O terror causado pela leitura de uma obra gótica ou dela derivada é também
motivo de fascínio, de atração, rompendo, assim, as barreiras entre a vida (ligadas ao
real) e a ficção (mundo em que há espaço para o lógico, o irracional, o não explicado).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
232
Nota-se, então, um papel desestabilizador da realidade segura. O leitor, ao se deparar
com esse tipo de obra, é levado, segundo Oakes (2000), a se questionar a respeito da
sociedade, de si mesmo e do universo.
O romantismo cujo início ocorreu na Alemanha, no século XVIII, foi
responsável pela retomada da fantasia e da liberdade de criação, interessando-se por
experiências extremas, como o medo, o amor e o horror. Por isso, retomou em uma de
suas facetas, os elementos da literatura gótica.
Entre os escritores americanos que se voltaram para as tradições românticas
estão James Fenimore Cooper, Washington Irving e os transcendentalistas Henry David
Thoreau e Ralph Waldo Emerson.
Os escritores românticos dos Estados Unidos, no século XIX, foram influenciados
pelo movimento romântico inglês, adicionando a ele, no entanto, cor local. Celebravam
a natureza e valorizavam a ideia do sublime, glorificando as belezas de seu país. Eles
também foram responsáveis pela criação do herói romântico americano, que vivia
solitário, próximo à natureza, como nos contos de “Leatherstocking”, escritos por James
Fenimore Cooper, ou na própria vida de Thoreau. Isolado no meio da floresta, às
margens do lago Walden, em Massachusetts, insatisfeito com sua vida em sociedade,
Thoreau justificou seu isolamento pela busca de uma vida deliberada e pela
oportunidade de, no campo, defrontar-se apenas com os fatos essenciais da existência,
em vez de, à beira da morte, notar que não havia vivido.
A preferência pela natureza justifica-se, conforme palavras do escritor
romântico inglês Wordsworth, em antologia de Álvaro Pina (1984, p.21), por uma
[...] vida humilde e rústica, porque, nessa condição, as paixões essenciais do coração encontram um melhor solo no qual podem agir sua maturidade, estão menos reprimidas e falam uma linguagem mais chã e mais enfática porque; nessa condição de vida, os nossos sentimentos elementares coexistem num estado
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
233
de maior simplicidade e, consequentemente podem ser mais correctamente contemplados, e mais convictamente comunicados; porque os costumes da vida rural brotam daqueles sentimentos elementares.
Além de celebrarem a natureza, muitos escritores americanos voltaram-se para
uma literatura fantástica, insólita, advinda da literatura gótica. Desta, mantiveram a
dualidade bem/mal, luz/trevas, adicionando a ela conflitos familiares e psicológicos,
como modo de intensificar o mistério, o horror.
Ao se observar o contexto histórico da formação dos Estados Unidos, nota-se
que os habitantes das colônias, quando essas se formaram, moravam em locais ainda
não explorados e tinham que conviver com a presença de habitantes nativos, os índios, o
que lhes causava receio em relação ao desconhecido. Corrobora para este receio do que
não se conhece ao certo, o episódio da caça as bruxas, ocorrido em Salem, Massachusetts,
em 1692, conhecido como “Salem Witch Trials”. Em uma noite de outubro do referido
ano, movido pela superstição, o povoado de Salem, por meio de seus representantes,
julgou em torno de vinte mulheres tidas pela população como bruxas. A história desse
fato teve início quando uma escrava contou para as amigas histórias relacionadas ao
vudu – religião tradicional da África Ocidental-, causando-lhes uma espécie de surto
coletivo, atribuído à bruxaria.
Por um período de um ano, a população conviveu com a suposta ameaça de
bruxaria, até que os “culpados” fossem executados por ordem de um pregador da
colônia e de um juiz que, mais tarde, reconheceu o erro de sua sentença.
O conto “Young Goodman Brown” situa-se no viés fantástico da literatura
romântica americana. Esse subgênero encontrou campo para se desenvolver no
Romantismo, já que o movimento em questão rejeita o pensamento teológico e a
metafísica, explorando as contradições do homem. Conforme Castex (1951), com o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
234
Romantismo, por volta de 1820, nasce uma nova escola, frenética (termo cunhado por
Charles Nodier pela primeira vez ao referir-se a um tipo de literatura francesa centrada
no terror e no sobrenatural), que apresenta novas configurações para expressar as
angústias do homem moderno, além do feérico: o fantástico, voltado para os ambientes
lúgubres, povoados por fantasmas e seres cruéis.
As histórias insólitas “frenéticas” caracterizam-se, em geral, por apresentarem
descrições vívidas de elementos mórbidos e sombrios combinados a problemas emocionais
e psicológicos, levando seus leitores a uma atmosfera de medo e ao questionamento de
elementos que cercam o ambiente de terror. Um dos escritores mais representativos do
gênero é Edgar Allan Poe. Hawthorne, assim como Poe, aborda o insólito com maestria
e, em “Young Goodman Brown” cria uma história em que a personagem Goodman
Brown, que dá nome ao conto, encontra-se supostamente com o diabo e, com ele, trava
uma batalha a princípio externa (em que tenta não sucumbir à maldade), transformando-
a em uma luta com seu interior, questionando os limites entre a bondade e a maldade.
Hawthorne, em “Young Goodman Brown” faz referência a três episódios da
história americana relacionados ao Puritanismo: o julgamento das bruxas de Salem, a
intolerância dos Puritanos em relação aos Quakers e a guerra promovida pelo rei Felipe.
A primeira referência, já comentada no texto, tem motivações baseadas na vingança, no
ciúme e em outras razões que nada tinham em comum com episódios de bruxaria. A
intolerância puritana em relação aos Quakers ocorreu na segunda metade do século
XVII, quando ambos colonizaram os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa.
Os Puritanos com o passar do tempo, isolaram os Quakers, proibindo-os de se
estabelecerem em suas colônias e de manter suas crenças religiosas, fato que ocasionou
a prisão e o enforcamento de muitos inocentes. A guerra promovida pelo rei Felipe
durou de 1675 a 1676, configurando-se, na verdade, como uma desavença entre índios e
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
235
colonizadores. Os índios da região de Massachusetts atacaram as fronteiras das colônias
e, como represália, tiveram suas tribos destruídas pelos colonizadores e o domínio do
local passou a ser totalmente dos Puritanos.
Os eventos históricos citados não são a energia motriz do conto de Hawthorne,
mas aparecem de forma significativa na ficção, por exemplo, quando o autor se apropria
do nome de duas mulheres tidas como bruxas (Goody Cloyse e Martha Carrier) no
episódio do julgamento de Salem e as toma como personagens de sua ficção. O diabo,
ao encontrar Goodman Brown, conta-lhe que viu o avô do protagonista da história
chicoteando uma mulher e que o pai do protagonista ateou fogo em uma aldeia
indígena, durante a guerra promovida pelo rei Felipe. Por meio dessas histórias,
Hawthorne mostra ao leitor que há outras histórias possíveis sobre a cidade de Salem e
seus antigos habitantes. No universo da narrativa, Goodman Brown também conhece
uma outra versão do local onde mora, apesar de não considerá-la digna de atenção, já
que acredita na bondade de seus antepassados. Para ele, os Puritanos eram altruístas,
comprometidos com a fé e a bondade, como se pode notar na seguinte passagem do conto:
“Meu pai nunca andou na floresta feito um vagabundo e nem o pai dele. Somos uma linhagem de homens honestos e bons cristãos desde os dias do martírio e eu serei o primeiro Brown a andar por este lugar.” “Meu caro, não diga uma coisa dessas,” observou o homem mais velho, tratando de parar. “Bendito, Goodman Brown! Sou tão íntimo de sua família a ponto de quase ser eu mesmo um Puritano; para mim é fácil dizer certas coisas. Ajudei o seu avô, o encarregado, quando ele prendeu a mulher Quakre tão habilmente através das árvores de Salem; e acompanhei de muito perto seu pai, quando ele ateou fogo a uma aldeia de selvagens, na guerra do rei Felipe. Éramos bons amigos, os dois, e tivemos caminhadas agradáveis por aqui. “Se for mesmo como você diz”, respondeu Goodman Brown, “admira-me que eles nunca tenham falado sobre isso [...] somos um povo de fé e boas ações, não toleramos tais vícios” (2004, p.176).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
236
O homem mais velho, supostamente o diabo, apresenta um discurso irônico,
considerando-se um Puritano. Para o diabo, os Puritanos não passavam de pessoas más,
disfarçadas de religiosos bem intencionados. Quem é capaz de matar e torturar não pode
ser considerado um representante da fé e da bondade. Hawthorne adverte o leitor de que
o homem apresenta em sua essência, tanto o lado bom quanto o mal e que a maldade é
relativa aos olhos de quem a pratica.
Todo o conto de Hawthorne é permeado pelo fantástico. A aura de mistério
pela qual é envolvida a narrativa, começa no início da história. O protagonista,
Goodman Brown, sai para uma missão, que não é explicada. Ao leitor somente é
revelado que Brown encontrará alguém e que receia por esse encontro. O mistério
aumenta quando o protagonista despede-se de Faith, sua esposa e ela parece sentir
medo. O marido aconselha-a então a rezar para sentir-se mais segura: “Reza, querida
Faith, e vai te deitar com o crepúsculo. Nada de mau vai te acontecer” (HAWTHORNE,
2004, p.174).
O narrador comunica o leitor, após a cena da despedida, a possível chegada de
novos e estranhos acontecimentos, ao relatar a preocupação de Faith, visível em seu
rosto, como se um sonho a tivesse advertido do que aconteceria naquela noite.
No início do conto, são utilizados alguns vocábulos de campo semântico
referente ao futuro terror apresentado na narrativa: diabólico empreendimento,
escuridão, árvores lúgubres, caminho solitário, selvagem cruel, entre outros, que
descrevem como sua o encontro de Brown com o diabo e os locais por onde ele passou.
As descrições são, portanto, uma maneira de instaurar os elementos insólitos da história.
A presença de elementos mágicos também revela o sobrenatural no conto. Ao
encontrar-se com Brown, o diabo carrega um cajado
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
237
[...] cuja curvatura era a perfeita imagem de uma grande cobra negra, tão engenhosamente forjada que poderia mesmo ser vista enrolar-se e retorcer-se como uma serpente viva. Com certeza tratava-se de uma ilusão de óptica causada pela escassez de luz do lugar. (HAWTHORNE, 2004, p.175)
O cajado é tão perfeitamente entalhado, que a imagem da cobra chega a parecer
real aos olhos do protagonista, mas a hesitação entre realidade e ilusão é mantida, como
cabe às narrativas fantásticas nas considerações de Todorov acerca do gênero. Para ele,
a literatura fantástica se instaura como invenção, ilusão, afastando-se, portanto, da
literatura realista. O fantástico opera, segundo Todorov (1992), em sua obra “Introdução
à literatura fantástica”, no campo da ambiguidade, da hesitação, situado em uma
fronteira tênue entre a possibilidade de uma explicação dos fenômenos tidos como
“estranhos” e a aceitação do sobrenatural. Há, de acordo com o autor, três condições a
serem preenchidas para que uma obra seja de cunho fantástico:
Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo dos personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem [...]. enfim é importante que o leitor adote uma certa atitude para com o texto: ele recusará tanto a interpretação alegórico, quanto a interpretação poética (TODOROV, 1992, p.38-39).
Se, de acordo com Todorov, os acontecimentos sobrenaturais forem explicados
racionalmente, não se estará no campo da narrativa fantástica em si, mas do que ele
denomina fantástico “estranho”. Caso o sobrenatural seja aceito sem questionamentos,
estabelece-se o “maravilhoso”.
No conto de Hawthorne prevalece o fantástico puro proposto por Todorov, já
que o leitor hesita entre o real e o sobrenatural, assim como a personagem Goodman
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
238
Brown. Essa hesitação é mantida até o final da história, pois o leitor, assim como o
protagonista da história não são capazes de dizer se o encontro de Brown e o diabo
realmente ocorreu, deixando-o cheio de culpas, ou se não passou de algo imaginado.
Brown tenta se livrar, ao longo da narrativa, do diabo, mas acaba encontrando
em seu caminho pessoas de sua comunidade, consideradas anteriormente por ele como
cristãs, em pecado, unidas à figura do diabo. Depara-se com o diácono Gookin e com
sua professora de catecismo Goody Cloyse e, movido pela curiosidade de entender as
relações entre o bem e o mal, decide continuar sua jornada, apesar de o diabo lhe
garantir que a maldade sempre prevalecerá. Goodman Brown apega-se a sua Faith (fé)
para prosseguir, gritando “com o céu sobre mim e Faith ao meu lado, vou me manter
firme contra o diabo” (HAWTHORNE, 2004, p.179). A palavra “faith” garante a
ambiguidade no trecho acima mencionado. Brown se agarraria à esposa, eixo de
estabilidade emocional, religiosa e à fé que possuía, posta em xeque pelo que
presenciou na floresta.
O clímax do conto ocorre quando Brown vê sua esposa convertida ao lado
demoníaco, ouvindo os dizeres do diácono Gookin:
[...] aí estão vocês, minhas crianças, disse o vulto em tom solene e profundo [...]. Confiavam um no coração do outro, ainda tínhamos esperança de que a virtude fosse mais que um sonho. Agora não restam ilusões. O mal é a natureza do homem. O mal deve ser a única felicidade. Uma vez mais, crianças, bem vindos à comunhão com seu povo.” (HAWTHORNE, 2004, p.184).
Goodman Brown ainda pede à esposa que olhe para o céu (portanto para Deus,
para o lado bom da alma humana), como forma de resistir ao mal, mas não sabe se a
esposa o atendeu, porque, misteriosamente, a noite se acalmou e ele pôde retornar à
cidade de Salem. Ao chegar, a ordem parece reestabelecida: o diácono Gookin havia
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
239
voltado a suas preces, Goody Cloyse foi vista catequizando uma garotinha e Faith
parece não saber do ocorrido na floresta. Contudo, apesar da ordem aparentemente se
recompor, Brown permanece atormentado, repleto de culpa até sua morte.
A história termina reforçando o teor fantástico da narrativa com o seguinte
questionamento feito pelo narrador: “Teria Goodman Brown apenas caído na floresta e
tido um pesadelo?” (HAWTHORNE, 2004, p.185).
Assim, o leitor hesita entre o real e o imaginário e é capaz de refletir sobre
questões como a fraqueza da moral pública, a perda inevitável da inocência e o medo do
desconhecido, guiado pela desconstrução que Hawthorne faz do real, buscando
deliberadamente a polissemia e a ambiguidade.
Referências bibliográficas
BOTTING F. Gothic. London: Routledge, 1996. CASTEX, P. Le conte fantastique en France: de Nadier À Maupassant. Paris: José Corti, 1951. HAWTHORNE, N. O Jovem Goodman Brown. In: CALVIN, I (org). Contos fantásticos do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. KILGOUR, M. The Rise of the Gothic Novel. New York: Routledge, 1995. OAKES, D.A. Science and destabilization in the modern american gothic: lovecraft, matheson and king. Westport: Greenwood Press, 2000. PINA, A. (org). Posições românticas na literatura inglesa. Lisboa: Livros Horizonte, 1984. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
240
O MARAVILHOSO E O DETETIVESCO EM O DETETIVE SENTIMENTAL
Fernando Henrique Crepaldi Cordeiro*
RESUMO
Boileau e Narcejac (1991) em seu O romance policial insistem que esse gênero narrativo é uma espécie de investigação científica aperfeiçoada, que os textos policiais de alguma maneira se ligam a “profissão de fé determinista” que vê o mundo, inclusive o homem, como uma máquina passível de ser desmontada e, consequentemente, explicada racionalmente. Nesse sentido, não é de se estranhar que, para eles, o romance policial funcione como uma operação matemática com uma estrutura bem determinada em que tudo o que faça parte da narrativa deva convergir para a resolução do problema. Esses críticos, por um lado, ressaltam a importância da invenção para captar a curiosidade do leitor, e, por outro, indicam como essa própria invenção pode ser uma arapuca na medida em que muitas soluções engenhosas tendem a fugir ao rigor científico que lhe seria característico. Tendo em vista essas questões, talvez, seja forçoso admitir que O detetive sentimental (2008), de Tabajara Ruas, seja uma obra que deliberadamente escapa, ou até mesmo subverte, esse rigor desejado pelos teóricos franceses, justamente pela introdução de elementos maravilhosos, tais como a insurgência do Capitão Marvel, super-herói dos quadrinhos, de jacarés-assassinos treinados e de lobisomens. Além disso, toda a narrativa de Ruas se constrói como que “caricaturizada” como se, ao invés de se prender à verossimilhança a que se prendem Boileau e Narcejac (aquela que diz respeito a tudo o que é aceito desde o ponto da vista da razão científica), se ligasse a um outro tipo de verossimilhança: aquela que ela mesma constrói em relação a si mesma e a outros textos com os quais ela interage. Nesse sentido, é importante destacar o jogo intertextual que essa obra promove com o “cinema B” norte-americano, com os quadrinhos, com as narrativas noir e mais especificamente com O longo adeus (1953), de Raymond Chandler. PALAVRAS-CHAVE: gênero policial; maravilhoso; Tabajara Ruas.
Para os Boileau e Narcejac (1991, p.7), o romance policial tem uma estrutura
fixa que “segura” seu autor e apresenta como fundamento a necessidade do homem de
explicar, racionalmente, o mundo onde vive. Nesse sentido, conforme esses teóricos, é
interessante notar que esse gênero tenha em Edgar Allan Poe um de seus criadores e
* Doutorando em Letras na Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP, São José do Rio Preto.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
241
expoentes, pois em sua “Filosofia da Composição” (1999) o escritor norte-americano
afirma:
Nada é mais claro do que deverem todas as intrigas, dignas desse nome, ser elaboradas em relação ao epílogo, antes que se tente qualquer coisa com a pena. Só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de conseqüência, ou causalidade, fazendo com que os incidentes e, especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento de sua intenção. (1999, p.130)
Esse fragmento traz em germe a base do romance policial – pelo menos do
clássico – em que se parte de um fato que já aconteceu, um crime, e o que se busca é
saber como, por quem e por que ele foi cometido, ou seja, o desfecho do
“acontecimento” é o crime, que é, por assim dizer, o “fim da ação propriamente dita”1‡‡
e o início da narrativa. O texto policial tem sempre em vista o desfecho, todos os
elementos que o compõem devem confluir para esse ponto que está presente logo no
começo.
Segundo os estudiosos franceses, ao aproveitar-se dessa concepção de literatura
em obras que, posteriormente, foram consideradas fundadoras do romance policial, Poe
não descobriu simplesmente uma técnica do raciocínio aplicável à ficção, ele inventou
um novo gênero: o policial. A partir dessa constatação, e pensando na estrutura
investigativa do romance policial, Boileau e Narcejac propõem uma relação entre o
detetive e o cientista, pois ambos devem se utilizar da lógica para explicar os fatos que
se propõem a investigar. Portanto, para esses autores, o romance policial seria uma
espécie de investigação científica que, estruturalmente, se constrói pela afirmação da
1‡‡
Há que se lembrar da conceituação de Todorov (1970, p.96-97) que diz que na segunda história ocorre pouca coisa e que os personagens dela não agem, apenas descobrem. Nesse sentido, a primeira história é conceituada como “o que se passou efetivamente”, ou seja, aquela em que há a ação, o acontecimento e não a explicação de “como o leitor (ou o narrador) tomou conhecimento dela”.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
242
razão, o que levaria esse gênero a exigir uma expressão clara e direta, alheia aos
“ornatos da narração” (1991, p.27). Assim, o papel do detetive nesse tipo de narrativa é
reunir e ordenar os fatos, sendo-lhe vetadas quaisquer interpretações subjetivas. Caberia
a ele, apenas, extrair da experiência a verdade.
Ainda na opinião de Boileau e Narcejac, o gênero policial não pode se repetir,
pois quando isso acontece, quando as soluções não são originais, o leitor consegue
prever o desfecho facilmente, matando sua curiosidade e, conseqüentemente, seu
interesse na leitura. Assim, o romance policial estrutura-se como uma espécie de jogo
em que se deve “oferecer ao leitor um enigma que ele não poderá resolver, mas que tem,
contudo, o poder de esclarecer. Eu o desafiarei a descobrir. O desafio espicaçará até o
fim a sua curiosidade, mas a natureza excepcional da intriga o manterá em malogro”
(1991, p.37). Note-se que a impossibilidade do leitor desvendar o enigma antes que o
detetive o faça é um dos aspectos significativos do romance policial clássico, sendo
necessário, portanto, mantê-lo com a possibilidade, mas impedido de descobrir, e, nesse
sentido, é interessante retomar a 15ª regra do romance policial proposta por Van Dine:
[...] se o leitor, depois de tomar conhecimento da explicação para o crime, voltar a ler o livro, perceberá que a solução, de certo modo, estivera bem clara - que todas as pistas realmente indicavam o culpado - e que se houvesse sido tão perspicaz quanto o detetive, poderia ele próprio ter solucionado o mistério sem chegar ao último capítulo. (apud ALBUQUERQUE, 1979, p.29)
Desse modo, a invenção deve estar sempre presente a fim de manter a curiosidade do
leitor; a tentativa de sempre surpreendê-lo é um ponto chave do romance policial, mas é
também, segundo Boileau e Narcejac, responsável por sua agonia. Para os autores
franceses, buscando surpreender o leitor os escritores procuram superar-se e, quando o
fazem, são espreitados pelo “sobrelaço” (1991, p.46), ou seja, para inventar, muitas
vezes, os autores recorrem à imaginação, o que seria um “pecado mortal” para um
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
243
escritor de romances policiais, pois a imaginação, segundo os autores franceses,
geralmente, se exerce “no sentido da inverossimilhança” (p.46) ou das soluções
acrobáticas ou maravilhosas, o que iria contra o rigor e os princípios racionais desse
gênero.
Pensando desse modo a escolha de O detetive sentimental, publicado em 2008
por Tabajara Ruas (1942-), deve ser entendida logo de cara como uma provocação a
essa definição do gênero policial, isso porque, como veremos, a narrativa do escritor
gaúcho é um prodígio em “recorrer à imaginação”, enredando seus leitores numa
frenética seqüência de aventuras nas quais muitas vezes nos deparamos com elementos
maravilhosos ou grotescos que dificilmente poderiam ser explicados por uma lógica
estritamente científica.
Em O detetive sentimental não apenas o elemento maravilhoso se faz presente,
mas se conjuga num plano mais amplo à paródia do gênero policial que o texto de
Tabajara Ruas nos permite ler. Paródia esta que poder-se-á dizer se dá em duas frentes,
primeiramente por referências e uma certa “reescrita” de O longo adeus, de Raymond
Chandler, em segundo lugar por um deslocamento do centro da narrativa policial,
tradicionalmente a investigação – onde como quer Todorov (1970) não acontece nada –
por uma espiral de ação2§§ que aproxima a obra a um “romance de aventura”, mas no
qual o elemento “sobrenatural” ocupa um papel marcante.
Quanto à primeira frente paródica do romance convém nos atermos ao início de
cada uma das narrativas:
2§§
Essa mudança de foco é, em certo sentido, notada por Todorov (1970) nos romances noir de um modo geral, embora, para o autor de “Tipologia do romance policial”, mais importante do que a ação propriamente dita nesse tipo de relato é a violência, que se não está ausente em O detetive sentimental (e não está) perde sua força pelo caráter hiperbólico e caricatural da narrativa.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
244
A primeira vez que vi Terry Lennox ele estava bêbado, num Rolls Royce Silver Wraith em frente ao terraço do The Dancers. O manobrista no estacionamento havia trazido o carro e ainda segurava a porta aberta pois o pé esquerdo de Terry se balançava do lado de fora, como se ele tivesse esquecido de que tinha um. (CHANDLER, 2007, p.5) Curvado sobre a porta do Rolls Royce prateado, segurando o molho de chaves, o bêbado ergueu um olhar interrogativo, onde poderia haver um anúncio de súplica. – Perdão. – Perguntei se posso ajudar. Eu tinha acabado de dar o último tapa no segundo baseado da noite, no lado mais escuro da fachada da boite, observando o bêbado se desentender com a porta do carrão [...] [...] Eu estava lá já há algum tempo observando o Rolls Royce Silver Wraith, perguntando-me quem seria o proprietário daquele portento. (RUAS, 2008, p.5-6)
Analisando esses dois fragmentos percebem-se algumas semelhanças entre os
dois textos, principalmente no que tange as situações que em ambas são descritas: um
detetive (Marlowe ou Espigão) em um fim de noite se vê diante de um bêbado, que
possui um Rolls Royce Silver Wraith, em dificuldades. Essa proximidade, no entanto,
acaba por revelar (ou começar a revelar) as diferenças entre as duas histórias.
Diferenças que se podem, logo de cara, perceber em pelo menos três níveis: primeiro,
num nível, digamos, “estilístico”, a narrativa seca e concisa de Chandler (que tem como
narrador o próprio Marlowe) contrasta com a narração mais caudalosa e digressiva
encontrada no texto de Ruas que, entre outras coisas, comenta sua própria narrativa
(p.108, p.132), colocando, por vezes, em foco o próprio processo de construção textual.
Num segundo nível poderíamos destacar as diferenças entre os dois detetives,
diferença que se coloca (ou parece se colocar) no livro como a entre um detetive
particular de Primeiro Mundo e um de Terceiro (lembrar que a história se situa em
1987), quanto a isso cabe ressaltar que, segundo o protagonista/narrador, “Fugas
arriscadas são façanhas para filme de ação americano, que tem recursos técnicos e
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
245
orçamento para esse propósito. Detetive particular brasileiro tem é que vigiar mulher
bonita de marido ciumento ou resgatar jóias baratas de prostitutas sentimentais” (p.148),
ou ainda “[...] para quem não sabe, informo que jacarés são rotina na vida de detetives
latino-americanos.”. Nesses dois fragmento se joga, por um lado, com as diferenças
econômico-sociais entre um detetive norte-americano e um brasileiro (e por extensão
entre os EUA e a América Latina), e, por outro, com os estereótipos que se julga que os
estadunidenses tenham em relação a nós (que na América do Sul haja apenas florestas,
índios, animais perigosos, entre eles jacarés). Ambos os excertos são, além do mais,
aproximados pelo tom cômico-irônico que lhes é subjacente. O primeiro trecho ao
demonstrar uma certa “inferioridade”, em termos financeiros e “aventureiros”, dos
detetives brasileiros, promove também uma crítica do protótipo de detetives americanos
que seria possível apenas nos cinemas (e não em qualquer um, apenas os com grandes
orçamentos) e na literatura, revelando, portanto, a sua ficcionalidade. O segundo, por
sua vez, implicitamente demonstra a “grandiosidade” do detetive sul-americano que
trabalha em um ambiente inóspito em que além de bandidos se vê frente a bestas tais
como jacarés treinados de 5 metros de comprimento.
O terceiro nível é o das narrativas propriamente ditas, pois enquanto em O longo
adeus Marlowe cuida do bêbado (Lennox) que foi abandonado por sua companhia, em
O detetive sentimental os dois (detetive e bêbado) são raptados por duas mulheres
carecas (usavam perucas quando os raptaram) que pretende sacrificá-los em nome da
seita a qual pertencem.
Introduz-se aqui uma fratura fundamental entre a narrativa de Ruas e a de
Chandler (que, no entanto, permite vários outros paralelos, contando inclusive com a
aparição de personagens de O longo adeus em O detetive sentimental), devido ao fato
de o romance do escritor brasileiro se embrenhar (e se constituir) numa sucessão de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
246
eventos “absurdos” que fogem do verossímil num sentido estrito, ou seja, do conceito
de verossimilhança ligado à aparência de realidade, em outros termos, do que se
considera plausível em nosso mundo.
Se a definição do gênero policial se basear nesse conceito de verossimilhança,
como ocasionalmente parecem sugerir Boileau e Narcejac (1991), talvez possa-se dizer
que o texto de Ruas seja uma espécie de anti-policial, contudo não é nisso que
acreditamos, pois a narrativa nos apresenta outras características que são típicas desse
gênero, entre elas, a principal, uma estrutura que conta com duas histórias, a da
investigação e a do crime, tal como postula Todorov (1970).
O fato de a obra do escritor gaúcho introduzir essa diferença em relação à
maioria dos textos policiais (ou pelo menos em relação aqueles que Boileau e Narcejac
consideram prototípicos), no entanto, não chega a ser novidade, pois há todo um filão de
narrativas que podem ser vistas como policiais que se utilizam de elementos fantásticos,
maravilhosos, estranhos, etc. Pensemos, por exemplo, em séries como Supernatural
(2005), The Mentalist (2008), Arquivo X (1993), Fringe (2008) entre outras. De fato, se
pensarmos nas origens do gênero policial com Edgar Allan Poe, de “Assassinatos na
Rua Morgue”, não será forçoso reconhecer a proximidade entre o policial e o
sobrenatural.
Retornando mais especificamente à presença de elementos maravilhosos em O
detetive sentimental deve-se ter em contra que, primeiro, eles impõe essa fratura com a
verossimilhança restrita abrindo as portas para a imaginação, segundo, contribuem para
a construção de um mundo “absurdo” 3*** , hiperbólico, caricaturalizado, que dá o tom da
narrativa, terceiro, o uso sistemático de elementos absurdos, grotescos, maravilhosos,
impõe uma nova visão de mundo que já não se importa com os limites do “mundo
3 Sobre o ponto de vista da verossimilhança restrita.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
247
científico” ao qual ele não mais se prende e ao qual não “deve” verossimilhança. Em
outros termos, a narrativa não é verossímil em relação ao que acreditamos ser a
realidade, mas continua verossímil a si mesma enquanto um mundo mais ou menos
coerente, sendo a sua coerência baseada na possibilidade de qualquer coisa acontecer.
Essa questão toca o centro de um dos elementos mais significativos da visão
irônica/paródica do romance, que se dá pela perspectiva que o leitor assume ao ler O
detetive sentimental como um mundo caracturizado, distorcido. Essa visão se dá pelo
fato de que, na leitura, o leitor mobiliza seu conhecimento de mundo e torna-se quase
impossível (se não de fato impossível) não realizar uma visão comparada entre o que se
supõe ser a (nossa) realidade e o que é a realidade da narrativa. Desse contraponto
resulta, por um lado, a comicidade do romance, pois, segundo Bergson (1943, p.25-26)
tudo que é exagerado ou repetitivo no homem causa o riso e, por outro lado, o traço
crítico da obra por meio da acentuação e da “ridicularização” de certas ações,
comportamentos, etc.
Ainda em termos de exagero e de caricatura deve-se ter em mente, no romance
de Ruas, o jogo com os estereótipos, entre eles, destacam-se o assassino oriental Chung
Ching Chin, e os nazistas e seus caçadores que parecem surgir no texto direto de um dos
filmes de Indiana Jones ou de outras narrativas populares. De fato, percebe-se na obra
um instigante jogo de referências e citações, em especial no que se refere a obras e
personagens do que alguns chamam de “cultura de massa”, por exemplo, temos
referências a westerns, ao John Wayne, ao Tarzan, ao Doutor No (personagem do filme
007), além de outras referências pop como Simon & Garfunkel, Gary Cooper e
Casablanca. Em termos do maravilhoso merece atenção a presença de lobisomens e
outros monstros, mas principalmente a do Capitão Marvel, personagem dos quadrinhos,
que aparece aqui descrito como um miserável, desprovido das características
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
248
prototípicas de um super-herói. Além disso, o fato de ele estar servindo um ditador sul-
americano (El Generalíssimo) parece sugerir uma discussão sobre o papel norte-
americano no estabelecimento e na manutenção de governos autoritários na América do
Sul durante o século XX.
Pensando nessas intertextualidades com textos da cultura popular pode-se dizer
que, por um lado, trata-se de um procedimento quase metalingüístico, pois revelando as
suas fontes, realizando seus diálogos, o romance de Ruas parece abrir a oficina do
narrador (e também do autor) e trazer o leitor para dentro, indicando, em certo sentido, o
cabedal de conhecimento de mundo e de cultura que ele mobiliza; por outro lado, com a
expansão daquele processo de caracturização de que falamos poder-se-á ler uma certa
ironia paródica no procedimento de reconhecer essas “fontes”. Nesse sentido, é possível
ler O detetive sentimental como uma obra que se compõe principalmente pela utilização
de uma certa tradição do imaginário popular (alguns diriam da “cultura de massa”) que
sofre uma espécie de “absurdização” que lhe confere um caráter cômico, mas também
crítico. Em outros termos, a obra é uma leitura a sua maneira da (ou de uma) tradição
literária-cultural pop na qual ela mesma parece se situar.
Retomando a questão da paródia do romance policial talvez seja instigante um
cotejo com a análise da obra O Anjo (Black Angel) de William Irish proposta por
Todorov em seu texto “Introdução ao verossímil” (1979). Trata-se de uma narrativa
policial em que uma mulher tenta provar a inocência de seu marido tendo como único
indício uma caixa de fósforo marcada com a letra “M”, deixada pelo assassino na cena
do crime. A partir da agenda do morto, ela passa a procurar as pessoas que ele conhecia
que tinham o nome iniciado pela letra “M”, descobrindo que o terceiro é o dono dos
fósforos, mas acabando por acreditar em sua inocência.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
249
Todorov afirma que esse texto se constrói sobre um erro de lógica, pois Alberta
perde o fio condutor de sua investigação quando descobre o dono da caixa de fósforos e
acredita em sua inocência. A partir desse momento o assassino pode ser tanto uma
pessoa que comece com a letra M quanto qualquer outra pessoa. Nessa configuração,
segundo Todorov, o quarto episódio (em que se conhece a quarta pessoa que tem nome
iniciado pelo M) “não tem razão de ser” (1979, p.99). Contudo, esse suposto erro
explica-se pelo fato de que se, por um lado, se subverte “uma lei narrativa geral [que]
pretende que, à sucessão temporal, corresponda uma gradação de intensidade. Seguindo
essa lei, a última experiência deve ser a mais forte, o culpado é o último dos suspeitos.”,
por outro, “É para se esquivar a esta lei, para impedir uma revelação demasiado fácil,
que Irish coloca o culpado antes do fim da série de suspeitos.”. Desse modo, Irish
“desobedece” uma “lei da narrativa” para atender a de um gênero específico, o policial,
que “procura mostrar-se perfeitamente livre, e, para o fazer, utilizou um meio
engenhoso”. Partindo dessa análise, o estudioso afirma que o gênero policial tem como
tema o verossímil, mas a sua lei é o “anti-verossímil”, uma vez que nessas narrativas
impera uma “lógica da verossimilhança invertida” na medida em que “são precisamente
os suspeitos que se revelam inocentes, e os inocentes, suspeitos. O culpado, no romance
policial, é o que não parece culpado.”. Assim, “A revelação deve obedecer a estes dois
imperativos: ser possível e inverossímil.”
Tendo em mente essa definição de Todorov e pensando em O detetive
sentimental poder-se-á dizer que o uso sistemático de elementos maravilhosos, da
paródia e da caracturização podem abrir novos caminhos para um gênero que têm na
constante necessidade de invenção um de seus fundamentos. Em outros termos, talvez,
o “inverossímil” esteja ampliando o que é possível no gênero policial, uma vez que este
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
250
não precisa simplesmente imitar a realidade e as limitações que a compreensão
científica do mundo impõe.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBUQUERQUE, P. M. O mundo emocionante do romance policial. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979. BERGSON, Henri. La risa: ensayo sobre la significación de lo cómico. Buenos Aires: Editorial Losada, S.A. 1943. BOILEAU, P.; NARCEJAC, T. O romance policial. Tradução de Valter Kehdi. São Paulo: Ática, 1991. CHANDLER, R. O longo adeus. Porto Alegre: L&PM, 2007. POE, E. A. Filosofia da composição. In:___. Poemas e Ensaios. Tradução de Oscar Mendes e Milton Amado. São Paulo: Globo, 1999. RUAS, T. O detetive sentimental. Rio de Janeiro: Record, 2008. TODOROV, T. Tipologia do romance policial. In:___. As estruturas narrativas. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Perspectiva, 1970, p.93-104. ______. Introdução ao verossímil. In:___. Poética da prosa. Tradução de Maria de Santa Cruz. Lisboa: Edições 70, 1979. p.95-102.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
251
ESQUERDA DE CORTÁZAR: UM ENFOQUE POLÍTICO PARA O CONTO O OUTRO CÉU
Gustavo da Silva Andrade∗
RESUMO
Adotando como fonte o livro Introdução à literatura fantástica, de Todorov (1980), procuraremos demonstrar a presença da função social dentro do conto fantástico O Outro Céu, de Julio Cortázar. Adotaremos Todorov como referência teórica já que, por reconhecer a presença de tal função em determinadas obras de natureza fantástica, permite uma leitura social da obra. Adotando a perspectiva do fantástico, devemos distingui-lo do conto maravilhoso, produzido oralmente, como os de Perrault, por apresentar, segundo Todorov (cf. p. 82), duas funções: a literária, que seria auto-reflexiva, como uma forma de explicação da criação da ficcionalidade dentro da obra; e a social, que seria a representação da Realidade dentro da Literatura e, também, a representação da Literatura na Realidade. Através desta função social do conto, que será vista como um reflexo mais forte da Realidade Política e, também, Ideológica vivenciada pelo escritor-empírico, somada à construção do conto por meio da criação dos duplos, procuraremos demonstrar como essa Realidade é feita presente, dentro da narrativa, na figura de um narrador que ao mesmo tempo é um duplo homogêneo do autor-implícito e é, também, um duplo heterogêneo dele, já que o conto trata da criação de diferentes realidades que, na verdade, aparecem duplicadas. Apresentaremos também os duplos internos, inerentes a cada personagem, e os externos, os temporais e os espaciais, e a sua relação intrínseca com a criação da função social dentro deste conto fantástico, mostrando assim que o contexto social de produção de uma obra literária pode ser projetado tanto no autor-implícito ou explícito, como no narrador ou em uma determinada personagem, que no caso do conto de Cortázar, é o narrador, a figura com o qual o leitor quase sempre se identifica. PALAVRAS-CHAVE: Literatura, fantástico; Todorov; função social; Cortázar.
Cortázar: um homem, politicamente, falando
“No campo revolucionário, você também encontra os bons e os maus, e no campo dos bons, os que podem ter razão e os que não têm... etc. etc. etc. quase ao infinito”.
∗ Licenciando em Letras, com habilitação em Português e Espanhol. Membro da Comissão Editorial da Revista Mosaico e do GPGF (Grupo de Pesquisas em Gramática Funcional).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
252
Julio Cortazar é um escritor argentino, auto-exilado em Paris durante 37 anos,
discordar do o regime político de Perón. É considerado um dos autores mais inovadores
e visionários de seu tempo, tanto na forma como no conteúdo de suas obras.
Sua heterogeneriedade é marcante: produziu desde romances, como Rayuela, até
poemas e contos. Dentre os contos, um dos seus livros mais citados é Todos os Fogos o
Fogo. O livro apresenta uma seleção de contos que refletem de modo geral a presença
do lado social de Cortázar. Dentre os contos do livro, o que melhor reflete a existência
da função social é o conto Reunião, onde um narrador asmático narra à história de uma
guerrilha, um narrador que referencialmente pode ser ligado ao revolucionário Ernesto
“Che” Guevara.
Mesmo durante seu auto-exílio Cortázar não deixou de produzir e de criticar os
dois lados, tanto os regimes ditatórias que assolavam a América - Espanhola, como os
revolucionários que abusavam de suas revoluções.
E onde está Cortázar?
Este trabalho tem por objetivo primordial apresentar uma leitura fantástica para
o conto O Outro Céu de Cortázar, enfocando-a na função social apresenta por Todorov,
em sua Introdução à literatura fantástica.
Ainda sobre isso, iremos demonstrar que a função social, tratada por Todorov,
pode ser observada dentro de algumas obras, como o conto de Cortázar, pela figuração
de uma duplicidade de ambientes, de tempos e de personagens. E que estas duplicidades
podem reforçar uma ideologia de mundo, que é sempre exterior a obra, mas que é
refletida nela por elementos internos.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
253
Deste modo, iremos observar que Cortázar, através da figuração de um narrador
autodiegético, faz-se transparecer na obra. Obviamente, a figuração de um narrador com
elementos que permitem o resgate do Escritor, só é possível quando o Escritor se faz
presente na estruturação de seu Autor-Implícito.
O que é? De onde veio?
Segundo Eoger Caillois, in Todorov (1980), todo o fantástico é uma ruptura da
ordem reconhecida, uma irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade
cotidiana (p.16). Deste modo, podemos entender que Cortázar rompe com o cotidiano
do conto, ao trazer para ele uma complexidade espacial e temporal e de personagens que
não era usual.
Assim sendo, devemos notar que o conto de Cortázar, dentro de sua estruturação
de duplicidade, rompe diretamente com o tradicionalismo formal e estuturacional do
conto. Mas, o que são e quais são os duplos?
Duplos, de acordo com Adilson dos Santos (2009), o duplo vem para simbolizar
o idêntico, deste modo, só podemos falar em duplos quando os dois ambientes físicos
ou temporais ou quando as duas personagens se apresentam de modo semelhante. Para
efeito ilustrativo, não podemos falar que no Cortiço, de Aluisio de Azevedo, temos
duplos, pois os dois ambientes físicos que existem na obra estão dispostos de modo
opositivo.
É interessante que, ainda segundo Santos (2009), existam duplos homogêneos e
heterogêneos, os primeiros, como dito anteriormente, figuram no âmbito das
semelhanças, já os segundo figura no âmbito das diferenças, mas, notoriamente,
diferenças que não são opositivas.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
254
Mais a frente em seu texto, Santos (2009), apresenta uma distinção entre os
duplos internos e os externos. Os internos seriam figurações das personalidades e do
âmago de cada personagem, já os segundos seriam formas exteriozidas, no sentido de
uma ambientação, de tais diferenças.
No conto de Cortázar, existe uma fomentação de duplos nos dois sentidos. Ou
seja, existem duplos homogêneos, tais como a duplicidade do espaço e do próprio
narrador, assim como duplos heterogêneos, como a duplicidade temporal e de
realidades.
Cortázar: um duplicista fantástico ou um fantástico duplicista?
De modo mais específico, temos um duplo interno ao narrador, que como já
dissemos, é uma projeção do Escritor-empírico. Assim sendo, temos uma divergência
de formas discursivas utilizadas pelo Autor-implícito para reforçar a distinção que faz
de Irma, sua noiva, e de Josiane, sua dita amante.
Observe os seguintes trechos:
“Minha noiva, Irma, acha inexplicável que eu goste de vagar à noite pelo centro ou pelos bairros do sul, e se soubesse de minha predileção pelo Pasaje Güemes ficaria escandalizada. Para ela, como para minha mãe, não há melhor atividade social do que o sofá da sala, onde acontece isso que chama de conversa, o café e o anis.” (COTÁZAR, 1994. p.137).
Dentro deste trecho temos uma pequena demonstração de como nosso narrador
trata de sua noiva, Irma, como uma mulher que mais parece uma projeção da mãe, ou
seja, uma forma de manutenção de uma visão social polida. Observe agora um trecho
sobre Josiane:
“O sentimento familiar de Josiane era muito vivo, cheio de respeito às instituições e aos parantescos (sic); sou pouco dado
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
255
às confidências, mas como tínhamos que falar de alguma coisa e o que ela me contava sobre sua vida já fora comentado, tornávamos quase inevitavelmente a meus problemas de rapaz solteiro” (COTÁZAR, 1994. p.138-139).
Já neste segundo trecho, vemos como a relação de nossa personagem, que é o
narrador da história, está mais intima, que com sua noiva. Isso se dá pela colocação do
ambiente familiar tradicional, refletido pela figura de Irma, ser um ambiente puramente
de convívio, um local onde o que é preciso é suportar a convivência; já o ambiente de
Josiane, esse outro céu, não é superficial, pois é um mundo criado pelo Autor-implícito
para a vivência de todas as personagens.
De fato este é o único duplo interno, pois figura no ambiente do narrador e na
forma como o Autor-implícito vê a relação dele com as demais personagens. Mas dentre
todos os duplos, o mais espetacular é o duplo espacial, que vem para reforçar a idéia de
que o conto mantém uma ligação intima com o mundo extra-literário. O duplo consiste
no trânsito de nosso narrador entre dois espaços geográficos muito distantes: a Pasaje
Güemes e a Galerie Vivienne.
Durante todo o conto o narrador fala da Pasaje e da Galerie, dando a entender ao
leitor que ambas se constituem no mesmo espaço físico. Porém, eis aqui o elemento que
concede ao conto a sua maior característica de fantástico. Segundo Todorov (1980), o
fantástico consiste basicamente em uma identificação do leitor para com uma
personagem, que na maioria das vezes é o narrador, e de um vacilo do leitor diante da
obra (p.19).
Fatidicamente, este vacilo prende o leitor ao conto de modo que ele não nota, em
uma primeira leitura, todas as significações do conto e, por conseqüência, o leitor perde
a amplitude de todos os duplos. Para efeito de compreensão, a Pasaje Güemes é um
conjunto arquitetônico que fica na cidade de Buenos Aires e a Galerie Vivienne, outro
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
256
conjunto que fica em Paris. Ambos são semelhantes, pois a Pasaje foi criada como uma
cópia da Galerie.
Por subseqüente, temos outro duplo, que se torna mais complexa e mais
profunda que é a duplicidade de realidades. Como sabemos, toda a obra literária é uma
ficção na medida em que cria uma nova realidade. Esta realidade é ficcional quando
pensada na sua relação com o mundo, porém é uma realidade empírica quando pensada
na sua relação com própria obra. Porém, a figuração de duplos no conto, causa-nos uma
segunda realidade dentro da obra: uma realidade criada, isto é, a ficção da ficção.
Cada uma dessas realidades é marcada por elementos duplos. A primeira, a
realidade empírica – na obra –, é aquela que apresenta Buenos Aires e a Pasaje Güemes
como duplos do âmbito espacial e a personagem Irma, pensando na forma como o
narrador a vê, como a duplicidade de personagem. Já a segunda realidade, a realidade
criada, tem como duplos Paris e a Galerie Vivienne, como duplos espaciais, e Josiane
como o duplo de personagens.
Todavia, qual a relação destes duplos com a criação de sentido da obra? Para tal,
recorremos à função social em Cortázar. Segundo Todorov (1980), todos os contos
fantásticos têm duas funções básicas, a literária, que trataria de modo metalingüístico da
criação literária, e a social, que seria a colocação do questionamento social dentro da
obra. Porém, qual é o questionamento que Cortázar apresenta?
Cortázar era argentino e viveu o período das ditaduras na América - Latina, logo,
vivenciou um período de censuras e de perseguições aos escritores que tinham em suas
obras algum tipo de crítica social ou política. Cortázar nunca escondeu sua inclinação
política de esquerda e nunca deixou de demonstrá-la em suas obras, porém, por herança
deste período, fez como a grande maioria dos escritores: fantasiar e mitificar tudo, em
uma tentativa de desfocar a real intenção da obra.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
257
Dentro dessa perspectiva da função social na obra de Cortázar, que se reflete nos
níveis de produção da obra, temos uma alusão implícita ao período sombrio da ditadura
de Perón na Argentina. Um período que acarretou no auto-exílio de Cortázar em Paris.
A função social e o homem
Depois deste pequeno percurso sobre os duplos e o fantástico mundo criado por
Cortázar, chegamos a um momento de apreensão. Um momento de entender a projeção
de Cortázar dentro de sua obra.
Como sabemos a voz que narra a história não é a mesma voz que escreve e que
produz a obra. Porém, neste conto em especial, o Escritor-Empírico, Cortázar, projeta-se
na figura de um Autor-Implícito que, por sua vez, projeta a criação de um Narrador sem
nome, numa tentativa de apagamento de qualquer vínculo do Narrador com o Escritor.
Todavia, dentro das argumentações apresentadas, podemos notar que o Narrador
tem elementos da vivência de Cortázar que são marcantes, p.ex., o fato de ele, o
narrador, transitar entre a Pasaje Güemes e a Galerie Vivienne, dois lugares físicos que
pertencem a Paris e a Buenos Aires. Dois locais que receberam o escritor argentino,
Buenos Aires como sua amada pátria e Paris como o seu auto-refúgio durante o regime
de Perón.
Este clima sombrio de mortes e de assassinatos, cometidos por Laurent, que é o
mesmo vivido na Argentina de Perón e na Paris revolucionária da segunda metade do
século XIX. E o momento onde esta ligação entre o Escritor e o Narrador fica mais
evidente e incontestável é no final do conto quando o narrador, depois de tantas
digressões e tentativas de fugir dessa estagnação que seria o seu casamento com Irma e
seu emprego na Bolsa, diz que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
258
“[...] entre uma coisa e outra fico em casa tomando chimarrão, ouvindo Irma que está esperando para dezembro, e me perguntando sem muito entusiasmo se quando chegaram as (sic) eleições votarei em Perón ou em Tamborini, se votarei em branco ou simplesmente ficarei em casa tomando chimarrão e olhando para Irma e para as plantas do pátio.” (COTÁZAR, 1994. p.138-139)
ALVAREZ, R. G. H.. O autor implícito e a instauração da ironia em Memórias Póstumas de Brás Cubas. In: Maria Celeste Tommasello Ramos; Sérgio Vicente Motta. (Org.). À roda de Memórias Póstumas de Brás Cubas. 1.ed. Campinas: Alínea, 2006, v., p. 203-220.
CORTÁZAR, Julio. Todos os fogos o fogo; tradução de Glória Rodrigues. – 5.ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. p. 133-157. FALQUETE, S.L.. (Re)Inventando realidades: jogos espacio-temporais em três contos de Julio Cortázar. / Solange Labbonia Falquete. São José do Rio Preto: [s.n.], 2007. Disponivel na Internet: http://www.athena.biblioteca.unesp.br/ SANTOS, Adilson dos. Um périplo pelo território duplo. Revista Investigações. Pernambuco, v.22, n.1, p. 51-101, 2009. (disponível em: http://www.revistainvestigacoes.com.br/Volumes/Vol.22.N1/Investigacoes-Vol22-N1-artigo02-Adilson-dos-Santos.pdf) SOARES, Angélica. Gêneros literarios. 7.ed 85p. – (Principios ; 166). São Paulo: Ática, 2007. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992. Outros sites http://www.juliocortazar.com.ar/
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
259
O FANTÁSTICO EM BORGES E OS ORANGOTANGOS ETERNOS (2000)
Isis Milreu*
RESUMO
Tzvetan Todorov, em sua obra Introdução à literatura fantástica (2004), considera que o espírito do fantástico pode ser resumido através da fórmula “Cheguei quase a acreditar”. Neste sentido, o autor aponta três condições para a existência do fantástico em uma obra literária. Para ele, o texto fantástico obriga o leitor a considerar o universo das personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e outra sobrenatural dos acontecimentos evocados. Segundo Todorov, esta hesitação nos remete à segunda condição do fantástico, já que ela pode ser igualmente experimentada por uma personagem. Deste modo, o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e, ao mesmo tempo, a hesitação encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra, chegando até, no caso de uma leitura ingênua, a identificação do leitor com a personagem. O autor também assinala a importância de o leitor adotar uma determinada atitude para com o texto, recusando tanto a interpretação alegórica quanto a “poética”. Partindo das considerações teóricas expostas anteriormente, nos propomos a examinar como o fantástico está representado no romance Borges e os orangotangos eternos (2000), de Luis Fernando Veríssimo, verificando em que medida esta obra pode ser inserida na categoria de literatura fantástica proposta por Todorov. PALAVRAS-CHAVE: Literatura fantástica; Todorov; Pós-modernismo.
Investigando o fantástico
Borges e os orangotangos eternos (2000) tem como narrador e personagem
principal Vogelstein, um professor, escritor e tradutor literário, morador de Porto
Alegre. De acordo com o relato do protagonista o seu maior sonho é conhecer Jorge
Luis Borges com o qual tivera desentendimentos por modificar, através de uma tradução
* Mestre em Letras (Área de Literatura e Vida Social); Professora Assistente de Literatura Espanhola e Hispano-americana da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
260
infiel, o final de um de seus contos. Este incidente ocorreu, segundo o narrador, no
início da carreira de Borges, quando sua produção literária era quase desconhecida fora
de seu país e escassamente divulgada na Argentina. Devido à carta de protesto enviada
pelo escritor argentino, Vogelstein informa-se sobre ele, lê sua obra, é seduzido pela
poética borgeana e passa a idolatrar o seu autor. Assim, suas pesquisas sobre o escritor e
as posteriores leituras de suas obras fazem com que reconheça o seu erro e tentar
desculpar-se com Borges por meio de cartas e até de uma infrutífera visita a Buenos
Aires. Vale a pena ressaltar que o protagonista também envia três contos para o autor
argentino, mas não obtém nenhum retorno sobre sua produção literária.
Embora o leitor seja informado de todo o contexto que permeia a relação entre
os dois escritores através de um relato posterior aos acontecimentos descritos é
importante destacar que a ação narrativa está localizada, predominantemente, em 1985,
um ano antes da morte do personagem histórico Jorge Luis Borges, o que garante a
verossimilhança da história. Vogelstein está novamente em Buenos Aires, pois um
congresso sobre Edgar Allan Poe que, tradicionalmente, era realizado na Europa foi
transferido para lá. Desta vez consegue encontrar o autor argentino, além de envolver-se
em uma investigação policial, visto que um dos congressistas é assassinado e ele é
considerado uma testemunha chave para o esclarecimento do crime, já que participou da
descoberta do seu corpo e detém o monopólio das informações. Surge então a
oportunidade de frequentar a biblioteca de Borges, definida como o paraíso, uma vez
que no romance o personagem ajudava a polícia argentina a desvendar enigmas. Desse
modo, Vogelstein não só realiza o seu sonho, mas também consegue ser tratado como
igual por seu ídolo, pois os dois encaram a investigação apenas como um pretexto para
se encontrarem e discutirem questões literárias. Assim, percebemos que eles não estão
realmente interessados em desvendar a misteriosa morte do congressista, visto que o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
261
protagonista modifica diversas vezes a sua descrição dos fatos e Borges acompanha-o
neste processo de construir versões do que poderia ter ocorrido. Ao agirem desta
maneira, deixam a solução do mistério de escanteio, situando o exercício ficcional no
centro do romance.
Tomando por base esta síntese, percebemos que o tema principal de Borges e os
orangotangos eternos (2000) é a literatura, uma vez que Veríssimo a partir da
ficcionalização de um célebre autor coloca em cena um intelectual brasileiro que
participa de um congresso sobre outro renomado escritor. Portanto, notamos que neste
romance a literatura se debruça sobre si mesma, já que além de ficcionalizar um
personagem histórico escritor, também reflete sobre o fazer literário. Ademais, o autor
gaúcho utiliza na construção de sua narrativa recursos típicos da poética que se
convencionou chamar de pós-modernismo, tais como a intertextualidade, a metaficção e
a paródia, que reforçam o caráter metaliterário do relato de Veríssimo.
Após estas considerações, é necessário retornarmos ao foco principal de nosso
trabalho: a presença do fantástico em Borges e os orangotangos eternos (2000).
Constatamos que este elemento surge no romance a partir do misterioso assassinato de
um especialista da obra de Poe, Rotkopf, em um quarto fechado, o que nos remete ao
conto do referido escritor norte-americano “Assassinato na rua Morgue”. Esta relação
intertextual é explicitada pelo narrador que exclama: “Um congresso sobre Edgar Allan
Poe interrompido por um assassinato num quarto fechado, como no conto do próprio
Poe! Era lamentável, mas era fantástico!” (VERÍSSIMO, 2000, p.43). Dessa forma,
instaura-se um grande mistério e é inevitável o leitor não se perguntar como o assassino
conseguiu fugir de um quarto trancado. Buscando encontrar a solução para este enigma,
os personagens do romance de Veríssimo constroem várias versões para o crime. Por
um lado, o chefe de polícia Cuervo, o qual também é estudioso da obra do escritor
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
262
norte-americano, utiliza-se de procedimentos científicos para tentar esclarecer a morte
do conferencista. Por outro lado, Borges e Vogelstein baseiam suas hipóteses a partir de
referentes literários. Assim, estabelece-se um explícito conflito entre a razão e a
fantasia.
O relato de Cuervo sobre as circunstâncias do assassinato é apresentado por
Vogelstein:
A causa da morte eram três punhaladas, duas no ventre e uma no pescoço. De um punhal hipotético, pois não o tinham encontrado. Hora exata do crime, difícil de dizer. Algo sobre o aquecimento excessivo no quarto interferindo na coagulação do sangue. Rotkopf ainda estava vivo quinze minutos antes de ser encontrado, quando telefonara para mim, as três da madrugada, mas poderia ter sido apunhalado em qualquer momento depois que eu saíra do seu quarto, ali pelas onze. A porta de entrada do quarto estava trancada por dentro, inclusive com a corrente, que se partira no arrombamento. As janelas também estavam trancadas por dentro. No banheiro não havia janela. Uma porta ligando o 703 com o 704 – o quarto de Xavier Urquiza- estava chaveada, e a chave não saíra de uma gaveta na mesa do gerente do hotel. (VERÍSSIMO, 2000, p.44).
Além de intensificar o mistério, também percebemos nesta descrição dos fatos a
paródia ao texto científico, já que, ao contrário dos informes policiais padrões, a
precisão é relativizada. Esta falta de rigor também irá marcar o relato de Vogelstein
sobre as condições em que descobriu o cadáver. Desse modo, o protagonista apresenta
diversas versões sobre o que testemunhou e a partir delas, ele e Borges constroem
algumas hipóteses sobre o assassinato do conferencista. Os dois partem do princípio de
que a posição do corpo de Rotkopf proporcionará a chave do mistério, uma vez que o
palestrante pode tê-lo usado para deixar uma pista.
No primeiro relato que Vogelstein faz sobre a postura do cadáver afirma que este
se encontrava em V. Relacionando a posição do corpo com o sussurro de Rotkopf ao
telefone, os dois escritores concluem que a mensagem do morto refere-se ao poema de
Lewis Carrol, “Jabberwocky”, do livro Alice trough the looking glass, visto que neste
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
263
escrito há a pista do nome do assassino. Além de tentar decifrar o enigma, é interessante
notar que Vogelstein aproveita para narrar um de seus contos em que o morto é
encontrado apontando para a linha “como del otro lado del espejo” e isso leva à solução
do crime. Em sua narrativa, as iniciais de Edgar Allan Poe no outro lado do espelho
formavam a palavra “pae” e, claro, o pai era o culpado. Por sua vez, na história de
Alice, o poema está escrito em uma língua estranha, que ela não consegue decifrar. Para
compreendê-lo, precisa colocar o livro contra um espelho, tal como Rotkopf colocou o
seu próprio corpo, e, desta forma, ler o poema. Baseados nesta ficção, os personagens
acreditam que as pistas devem ser lidas ao contrário e, assim, descobrem que um V com
o vértice encostado no espelho é um X. Desse maneira, chegam ao nome do doutor
Xavier Maldonado de Llentes y Urquiza, descrito como um aristocrático proprietário
rural de Mendoza, católico praticante e intolerante, além de representante da Sociedade
Israfel na Argentina.
Apesar de Xavier ter motivos para eliminar Rotkopf, os personagens recordam-
se do conto de Poe intitulado “X-ing a Paragrab” em que a letra O é substituída por X e
as suspeitas recaem em outro congressista: Oliver Johnson. Segundo o narrador, o
personagem “Era um homem de uns sessenta anos, mas parecia estar em boa forma
física, apesar da barriga de pashá. E com ódio suficiente para entrar no quarto do
inimigo, enfiar uma faca no seu pescoço e duas vezes na sua barriga, e sair.”
(VERÍSSIMO, 2000, p.58). Além disso, Oliver tinha um motivo para assassinar o
congressista, já que este afirmara que iria revelar, na conferência do dia seguinte,
algumas provas de que sua tese sobre Poe e Lovecraft era absurda e um plágio.
Continuando o seu exercício ficcional, os dois escritores fazem digressões sobre
o significado da letra O em diferentes culturas, além de abordarem as teorias de Jonhson
e o Necronomicon, o fictício livro de invocação de demônios escrito pelo também
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
264
imaginário Abdul Alhazred. Vale destacar que até hoje se discute a existência deste
livro, cujo mito foi fomentado, especialmente, pela publicação de falsos Necronomicons
e pela autoria de um texto de Lovecraft, explicando a sua origem e percurso histórico.
Em mais um exercício metaficcional, ao mesmo tempo em que busca elucidar o
mistério, Vogelstein aproveita para narrar mais um dos contos que enviara a Borges.
Também discorrem sobre as teorias de John Dee sobre o orangotango eterno, o qual
“munido de uma pena resistente, de tinta que bastasse e de uma superfície infinita,
acabaria escrevendo todos os livros conhecidos, além de criar algumas obras originais.”
(VERÍSSIMO, 2000, p.70).
Com a introdução destas referências a obras literárias, notamos que há um
gradual deslocamento do universo racional para o fantástico. Esta mudança de
perspectiva atinge o seu grau máximo quando Borges tece conjeturas sobre o
significado da posição do corpo em X, propondo que o congressista teria sido morto por
uma entidade denominada Hastur. Ampliando a sua divagação, também sugere que
Johnson teria incorporado Hastur, já que ele supostamente havia decifrado todos os
encantamentos do Necronomicon.
Intensificando o jogo ficcional, uma vez mais o protagonista modifica a sua
descrição dos fatos e declara que o corpo do congressista não estava em X, mas em W.
Dessa forma, Borges é desafiado a elaborar uma teoria plausível a partir desta
informação. Sua hipótese é a de que Rotkopf morrera atacado por seu reflexo no
espelho, o seu ser moral. Esta suposição irrita Cuervo que desiste da ajuda dos dois
escritores, visto vez que “Precisava continuar as investigações do crime com ciência em
vez de fantasias, e não podia mais contar com a nossa ajuda, pois era evidente que
estávamos delirando.” (VERÍSSIMO, 2000, p.92). É preciso ressaltar que, apesar de
descartar as explicações de Borges, o chefe de polícia não consegue esclarecer o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
265
enigma. Neste momento da narrativa o leitor precisa optar entre uma explicação
sobrenatural para o assassinato ou buscar uma solução natural para o misterioso crime.
A seguir, Borges resolve contar como construiria este relato. Em sua versão,
quem deveria ser assassinado era Johnson, pois “Era para Urquiza invocar as poderosas
entidades do Sul, Azathoth e Yog-Sothot, e incorporar Hastur, o que caminha no vento,
o destruidor, para impedir que Johnson revelasse ainda mais do que já tinha revelado,
inocentemente, da linguagem do Necronomicon.” (VERÍSSIMO, 2000, p.103). Para o
escritor tudo fora organizado para este fim, uma vez que “O congresso transferido para
Buenos Aires traria Johnson ao sul, onde Urquiza invocaria os poderes de Azatoth e
Yog-DSothot e a destreza letal de Hastur com “el vaivén” para eliminá-lo sem deixar
traços.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 103). Desse modo, através da metaficção acentua-se a
explicação sobrenatural do crime. O escritor também pondera que este plano foi
destruído por uma força poderosíssima: a vaidade intelectual. Assim, “Cansado dos
insultos do alemão, horrorizado com a perspectiva de ser ridicularizado em público,
Johnson bate na porta de Rotkopf. E o mata.” (VERÍSSIMO, 2000, p.104).
O fantástico no romance de Veríssimo também manifesta-se no caráter
misterioso da Sociedade Israfel, uma organização que tem a função de promover a obra
de Edgar Allan Poe, cujos membros organizam congressos sobre o escritor norte-
americano, mas nunca aparecem em público. Para Borges esta sociedade
[...] é uma de muitas organizações com representantes em todo o mundo que vivem em alerta contra a descoberta acidental de códigos gnósticos por quem não os entende, ou para manifestações de novas mensagens secretas na obra de autores que, muitas vezes, não se dão conta de que estão transmitindo quando escrevem para recordar o que nunca viveram. Todos fazem parte de uma espécie de sistema de alarme criado, se não me engano, há exatamente quatrocentos anos, numa convenção de correntes gnósticas reunida em Praga, na biblioteca do rei da Boêmia, provavelmente por um homem chamado John Dee. E que poderia se chamar “Operação orangotango eterno”. (VERÍSSIMO, 2000, p.105).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
266
Em seguida, o escritor apresenta a sua teoria, segundo a qual, já que a Sociedade
Israfel teria sido criada no ano da morte de Lovecraft, sua missão seria “controlar os
textos de seguidores e estudiosos de Poe para que nenhum imite Lovecraft e tropece
numa revelação explosiva como a do Necronomicon. Há sempre o risco de algum
Johnson interpretar Poe não sagazmente, mas bem demais, e precisar ser eliminado.”
(VERÍSSIMO, 2000, p.105).
Embora esta explicação sobrenatural de Borges para os fatos seja verossímil
dentro do relato, novamente o relato muda para de direção quando Vogelstein declara
que na verdade não era em W que o corpo encontrava-se, mas sim em M. Com esta
informação, o escritor passa a criar uma nova versão dos fatos em que M seria o
símbolo de mulher ou de mãe. Porém suas reflexões são interrompidas por Cuervo que
está muito irritado com a inconstância da memória do protagonista e desabafa “Talvez
tenhamos sorte e esta noite o nosso Vogelstein finalmente se lembre de que Rotkopf, de
alguma maneira, formou um S com o seu reflexo no espelho significando “Suicidei-
me”.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 111). Dessa maneira, intensifica-se o conflito entre o
universo fantástico, marcado pelo poder ficcional dos escritores, e o mundo racional,
representado pelo chefe de polícia.
Por fim, Borges aconselha o protagonista a escrever para recordar o que
realmente viu. Este segue o conselho do escritor e apresenta-lhe um romance, deixando
a última palavra a Borges, que além de ter sido transformado em detetive, passa a ser o
narrador, decifrando o enigma do assassinato do congressista no quarto fechado. Neste
ponto do relato, o mistério é esclarecido e o leitor, depois de acompanhar várias
soluções fantasiosas para o crime, é exposto a uma explicação racional dos fatos.
Algumas conclusões
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
267
Como vimos, apesar de Borges e os orangotangos eternos possuir vários
elementos fantásticos, esta narrativa não segue a principal regra do fantástico clássico
de acordo com Todorov, isto é, a fórmula “Cheguei quase a acreditar”. Embora, em
alguns trechos do relato, o leitor possa hesitar entre uma explicação sobrenatural e uma
natural dos acontecimentos, identificando-se com os escritores, o final do relato aponta
para uma solução lógica do enigma. Neste sentido, o leitor que, tal como Borges
personagem, leitor de Vogelstein, estava submerso no universo fantástico é transportado
para um mundo racional. Ainda que Borges apresente várias possibilidades fantásticas
para o misterioso crime, paradoxalmente, é ele quem aponta o culpado, além de
reconstituir a morte de Rotkopf.
Percebemos que o escritor desconstrói o relato do narrador-personagem,
alertando-o de que “Mesmo as histórias mais fantásticas, meu caro V., requerem um
mínimo de verossimilhança.” (VERÍSSIMO, 2000, p.130). Esta afirmação, ademais de
ser um claro exemplo de metaficção também nos permite aproximar o romance de
Veríssimo da categoria que Todorov denomina de “fantástico-estranho”. Para o autor,
neste tipo de narrativa “Acontecimentos que parecem sobrenaturais ao longo de toda a
história, no fim recebem uma explicação racional.” (TODOROV, 2004, p.51). O crítico
acrescenta que o “fantástico-estranho” ocorre predominantemente nos romances
policiais de enigma, uma vez que
O romance policial de mistério se assemelha ao fantástico, mas também se lhe opõe: nos textos fantásticos, ainda assim inclinamo-nos de preferência para uma explicação sobrenatural; o romance policial, uma vez terminado, não deixa qualquer dúvida quanto à ausência de acontecimentos sobrenaturais. Esta aproximação só vale aliás para um certo tipo de romance policial de mistério (o do local fechado) e um certo tipo de narrativa estranha (o sobrenatural explicado).” (TODOROV, 2004, p.56).
A partir das considerações que apresentamos sobre Borges e os orangotangos
eternos neste trabalho, notamos que esta obra pode ser interpretada como romance
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
268
policial de mistério de local fechado, e, portanto, aproximar-se do “fantástico-estranho”.
Vimos que a narrativa de Veríssimo tem como ponto de partida o enigmático
assassinato de um acadêmico em um quarto fechado e que, embora, este acontecimento
possibilite um intenso exercício ficcional que remete o leitor ao universo fantástico, o
final do relato invalida as explicações sobrenaturais expostas por Borges. Dessa
maneira, podemos inserir Borges e os orangotangos eternos na categoria de “fantástico-
estranho”, proposta por Todorov.
Entretanto, é preciso destacar que devido à riqueza poética do romance de
Veríssimo são possíveis várias leituras da referida obra literária. Por exemplo, para
ficarmos no âmbito do fantástico, também podemos classificá-la como pertencente à
vertente pós-modernista de literatura fantástica, definida por Mery Erdal Jordan em sua
obra La narrativa fantástica (1998) como “fenômeno de linguagem”. Segundo a autora,
este tipo de escritura anula a noção de ficção que não seja auto-representativa, utiliza-se
da metaficção e questiona a capacidade referencial da linguagem. Para ela,
Uno de los medios de enfatizar la disyunción lenguaje/mundo es convertir a la ficción en metaficción. Al convertir a la ficción y no al mundo en objeto del discurso, la función referencial pasa a un plano del secundario, y la ficcionalidad se convierte en el significado dominante del texto.” (JORDAN, 1998, p.59).
Conforme apontamos anteriormente, Borges e os orangotangos eternos tem
como tema central a literatura e esta ênfase é demonstrada não só através da
ficcionalização de um dos maiores escritores do século XX, considerado por muitos
críticos como o precursor da literatura fantástica na América Latina, mas também pela
presença da metaficção que valoriza muito mais o processo de elaboração de versões
sobre os fatos do que o esclarecimento do enigma. Nesta perspectiva, o fantástico no
romance de Veríssimo consistiria na exploração do poder criativo da literatura.
Referências bibliográficas JORDAN, M. E. La narrativa fantástica. Madrid: Iberoamericana, 1998.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
269
TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2004. VERÍSSIMO, L. F. Borges e os orangotangos eternos. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
270
A FÍSICA E A LITERATURA FANTÁSTICA, POSSIBILIDADES
João Eduardo Fernandes Ramos∗ & Luís Paulo Piassi**
RESUMO
O presente trabalho tem como proposta apresentar algumas das possibilidades de relação entre a física e a literatura fantástica. Para tanto, utilizamos três contos, de momentos distintos da literatura fantástica, que apresentam relação com a ciência. Os contos selecionados foram: “O Pirotécnico Zacarias” (1974) de Murilo Rubião, “Os Jardins de Veredas que se Bifurcam” (1944) de Jorge Luís Borges e “A Milésima segunda noite de Xerazade” (1845) de Edgar Allan Poe. O primeiro conto ao tratar da indeterminação entre a vida e a morte, permite uma analogia com o paradoxo do Gato de Schrödinger da Mecânica Quântica. Isso nos possibilitou observar que no conto, por ser fantástico, o absurdo é reduzido à normalidade, o que não ocorre no paradoxo. O segundo conto é, segundo o próprio autor, uma história policial que trata de um labirinto, representado por um livro, onde todas as possibilidades ocorrem, ao mesmo tempo, como um jardim de caminhos que se bifurcam. Ideia esta que dialoga com a Teoria dos Multiuniversos da Mecânica Quântica. Observamos também que o conto apresenta uma temática ligada às escolhas que realizamos e suas consequências. Já o terceiro conto, apresenta uma história na qual a ciência é disfarçada de magia. O conto mostra como é vista a ciência pelo olhar de quem não conhece a ciência, mostrando nesse sentido, que a ciência é inverossímil a certos contextos. Portanto, estes três contos exemplificam a proposta apresentada. Não desejamos com esta análise interpretar os contos, o que pode empobrecer a leitura da obra, desejamos mostrar como o conhecimento científico se configura na literatura. Nossa conclusão é de que o conhecimento científico, ao circular pelas diversas camadas da sociedade possibilita este diálogo entre ciência e literatura. PALAVRAS-CHAVE: Literatura fantástica; física; ciência; arte.
Física e arte!
Começamos este artigo com a provocação de se é possível pensar em um diálogo
entre física e arte, especificamente a literatura? Olhando um pouco para o passado, ∗ Aluno de mestrado do Programa de Pós-graduação Inter-unidades em Ensino de Ciências na modalidade Ensino de Física da Universidade de São Paulo.
** Doutor em Educação, na Universidade de São Paulo. Professor Doutor na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo na área de Ensino de Ciências.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
271
observamos a existência deste diálogo, na presença de artistas de veia científica e de
cientistas de veia literária.
No primeiro grupo encontramos escritores como Edgar Allan Poe (1809 – 1849),
que apresenta um diálogo muito forte com a ciência. Um exemplo disto está presente na
sua última obra, a intitulada Eureka (1848). Nesta obra, Poe realiza um ensaio sobre o
universo material e espiritual, e chega a analisar a criação científica com a criação
literária. Outro exemplo é o escritor H. G. Wells (1866 – 1946), tido como um dos
precursores da chamada ficção científica. Em sua obra A máquina do tempo de 1895,
antecipa a proposta de existência de uma quarta dimensão dez anos antes de Albert
Einstein publicar os trabalhos da relatividade restrita, em 1905.
Saindo um pouco da esfera literária, mas ainda dentro das artes, encontramos
outros exemplos como o do dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898 – 1956) que
escreveu a peça A vida de Galileu (1937-9), na qual descreve as implicações da teoria
geocêntrica de Galileu e a igreja; o do pintor espanhol Pablo Picasso (1881 – 1973) que
na obra Les demoiselles d’Avignon (1907) dialoga com a relatividade ao mostrar, a
partir de um quadro cubista, que não há referencial privilegiado para a observação de
um evento; o do cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil que compôs um disco sobre
a ciência, disco este intitulado de Quanta (1997); entre outros exemplos.
No segundo grupo, encontramos o cientista Galileu Galilei (1564 – 1642) que ao
publicar suas teorias contidas no livro Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno a
Due Nuove Scienze (1638) as fez na forma de diálogo entre duas personagens,
esperando dessa maneira uma melhor divulgação de suas ideias. Se fazem também
presentes neste grupo, o escritor Isaac Asimov (1920 – 1992), criador de obras ficção
científica e o físico ganhador do prêmio nobel George Gamow (1904 – 1968) que em
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
272
seu livro de divulgação científica As Aventuras do Senhor Tompkins (1940) utiliza-se do
sonho e do maravilhoso para introduzir as ideias científicas.
Portanto, é com estas relações em mente que respondemos a questão inicial:
Sim, é possível um dialogo entre a física e a arte! E partindo deste panorama que
observamos a possibilidade de relação entre a física e a literatura fantástica. Para tanto,
utilizamos três contos, de momentos distintos da literatura fantástica, que apresentam
relação com a ciência. Os contos selecionados foram: “A Milésima segunda noite de
Xerazade” (1845) de Edgar Allan Poe, “Os Jardins de Veredas que se Bifurcam”
(1944) de Jorge Luís Borges e “O Pirotécnico Zacarias” (1974) de Murilo Rubião. É
interessante notar que cada um destes autores de alguma forma tem a ciência como tema
em suas narrativas.
Duas visões do fantástico:
A escolha do fantástico para este diálogo com a física se baseou nas
características deste gênero presente nas definições do fantástico segundo Tzvetan
Todorov e Jean-Paul Sartre (1905 – 1980). O primeiro define o fantástico, em linhas
gerais, como a hesitação gerada pelo equilíbrio instável entre o real o maravilhoso, entre
o estranho e o maravilhoso, como podemos observar nas palavras do autor:
“Em um mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um acontecimento impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar. Que percebe o acontecimento deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis que desconhecemos.” (TODOROV, 2004, p. 15).
Assim, o fantástico, em Todorov, ocupa o tempo desta incerteza apresentada. E
ao escolhermos uma das respostas, saímos do terreno do fantástico para entrar no
estranho (real) ou no maravilhoso (imaginário).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
273
Somado a esta visão, adicionamos a proposta de Sartre, segundo o qual, se um
elemento fantástico pudesse convencer o leitor de que suas características não o fazem
pertencer ao natural, todo o mundo ao seu redor passaria a ser fantástico, mesmo não o
sendo a priori. Neste sentido o autor exemplifica, ao comentar sobre um cavalo falante:
“Se conseguir convencer-me que o cavalo é fantástico, então as arvores, a terra e o rio são fantásticos, mesmo se nada me dissestes a respeito.” (SARTRE apud SÁ, 2003, p. 54).
Assim, segundo esta visão, o fantástico é habitado principalmente por seres
humanos e naturais. Com isso, há também uma mudança no papel do homem e de como
ele é retratado. Nesta visão o homem passa a ser o fim a ser atingido.
Observamos com estas definições que a ciência e a física se apresentam como
elementos do real que normalmente terminam por anular o sentimento do fantástico. No
entanto, a física também pode apresentar características fantásticas, como
apresentaremos a seguir.
A ciência como magia:
Iniciamos pelo conto do Edgar A. Poe, que é uma alegoria às clássicas Mil e uma
noites. A milésima-segunda estória de Xerazade, narra como teria sido a milésima
segunda noite de Xerazade com o Sultão. No entanto, alguns pontos, presentes no conto,
diferem do clássico original, o que caracteriza certo humor na história, uma vez que são
acrescentados detalhes que não estão presentes no original, como o ronco do rei Xariar.
A história começa com o narrador contado que a história das Mil e uma noites
não é a verdadeira, uma vez que faltava contar a milésima-segunda noite, história essa
que, segundo narrador, está contida no livro Tellmenow Isitsöornot. Segundo consta
nesse livro, Xerazade acorda o rei para terminar de contar sobre a última aventura de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
274
Simbá. Nesta aventura, Simbá é seqüestrado por marinheiros e levado para fazer uma
circunavegação. Durante esta viagem, Simbá conhece e presencia muito fenômenos
estranhos, mas que, são fenômenos reais e documentados cientificamente. No entanto,
estes fenômenos, mesmo reais, não fazem parte da realidade do rei que passa a
questioná-los e que por fim, decide tomar medidas dástricas e termina matando
Xerazade.
Observando a presença da ciência no conto observamos que o texto apresenta
algumas notas de rodapé que comprovam a veracidade do que foi dito pela Xerazade,
fazendo com que as descrições sejam verdadeiras, mas inverossímeis ao Sultão (e
também ao leitor). Notas estas que já estavam presentes desde a primeira edição, em
1845, e que são apresentadas junto ao texto.
No âmbito da física, temos que num determinado momento Simbá fala sobre um
povoado de mágicos, que na verdade nada mais são que cientistas:
“Outro daqueles mágicos, por meio dum fluido que ninguém jamais vira, podia fazer com que os cadáveres de seus amigos agitassem os braços, dessem pontapés, lutassem, ou mesmo se levantassem e dançassem à vontade32. 32 A pilha voltaica.” (POE, 2001, p. 592).
Vemos nesta passagem como Poe se apropria do conhecimento ciência. Por
volta de 1780, Luigi Galvani observou um experimento curioso, a “eletricidade animal”.
Ele observou que a eletricidade estática gerava contrações nos músculos de rãs mortas.
Esse experimento acidental possibilitou a Alessandro Volta, em 1793, criar a chamada
“pilha de Volta”, que é a primeira fonte de suprimento de corrente elétrica feita pela
mão do homem. Isso foi possível, pois diferente de Galvani, Volta percebeu que o efeito
descrito por Galvani como “eletricidade animal” era puramente inorgânico.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
275
Em outra passagem, ainda sobre esse povoado de mágicos, há uma referência a
astronomia, relacionando a distância entre as estrelas e a velocidade da luz:
“Mas toda a nação é, na verdade, de tão surpreendente habilidade nigromântica que nem mesmo suas crianças nem seus mais comuns gatos e cachorros têm qualquer dificuldade em ver objetos que não existem absolutamente, ou que durante vinte milhões de anos antes do nascimento da própria nação tinham sido riscados da face da criação.38 38 Embora a luz viaje 167.000 milhas por segundo, a distância da sessenta e um do Cisne (a única estrela cuja distância está verificada) é tão inconcebivelmente grande que seus raios precisariam mais de dez anos para alcançar-nos. (…).” (2001, p. 593).
Poe trata nesse trecho, de um assunto que só será completamente esclarecido
após os trabalhos de Einstein e a relatividade restrita e geral. No entanto, mesmo
utilizando dados desatualizados, como o valor dado a velocidade da luz, ele realiza uma
análise muito pertinente da ideia da luz demorar a percorrer as distâncias astronômicas.
Ele ainda vai mais além ao admitir a velocidade da luz como uma constante, fato este
que não era tão claro para os cientistas da época. Hoje se sabe que a velocidade da luz é
de 800.000.000.000 km/s e que ela demora cerca de 8 minutos para sair do Sol e chegar
a Terra.
O jardim dos muitos-mundos
Partindo da leitura do conto O jardim de veredas que se bifurcam de Borges,
observamos que este narra à história do espião chinês Yu Tsun, infiltrado na Inglaterra
durante a segunda guerra mundial a serviço da Alemanha. No entanto sua identidade
secreta é revelada pelo implacável investigador inglês Richard Madden. Dessa forma, o
espião terá que fugir e ao mesmo tempo descobrir uma maneira de completar sua
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
276
missão, que consiste em descobrir o nome de uma cidade inglesa a ser atacada pelo
exército alemão e enviar esta mensagem para Berlim.
Yu Tsun decide fugir para se refugiar na casa de um sinólogo inglês, Stephen
Albert, no interior da Inglaterra. Conversando com este estudioso da civilização chinesa,
o espião descobre que ele possui um manuscrito antigo sobre um labirinto.
Coincidentemente, ou não, o criador deste labirinto, Ts’ui Pên, é um antepassado do
espião, que no seu tempo, tinha se proposto a construir um labirinto infinitamente
complexo e um livro interminável. O estudioso, então, termina revelando sua descoberta
de que o labirinto e o livro infinito nada mais são que o espaço-tempo e nossas escolhas.
Como nos mostra este pedaço do texto:
“(…) Acreditava em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que se aproximam se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram, abrange todas as possibilidades. Não existimos na maioria desses tempos; em alguns existe o senhor e não eu; noutros, eu, não o senhor; noutros os dois. Neste, que favorável acaso me depara, o senhor chegou a minha casa; noutro, o senhor ao atravessar o jardim, encontrou-me morto. Noutro, eu digo estas mesmas palavras, mas sou um erro, um fantasma.” (BORGES, 2007, p. 92).
Pensando nisso, o espião se consola ao assassinar o senhor estudioso,
acreditando que em algum caminho no espaço-tempo ele ainda continuará vivo. Por fim
o espião é capturado pelo implacável Richard Madden, e sentenciado à morte. No
entanto, sua missão foi realizada com sucesso uma vez que o nome do estudioso era
igual ao da cidade a ser bombardeada, fazendo com que a mensagem chegasse aos
alemães.
Relacionando este conto com a física temos que um diálogo possível é com a
teoria dos muitos mundos de Everett III, da mecânica quântica. Teoria esta que foi
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
277
popularizada por Bryce DeWitt como “a interpretação dos muitos mundos da mecânica
quântica”. Em linhas gerais, Everett propõe que:
“A “trajetória” de configurações da memória de um observador que realiza uma série de medições não é uma sequencia linear de configurações da memória, mas sim como um galho de árvore ramificado, com todos os resultados possíveis que existem simultaneamente.” (ROJO, 1990, p. 6)
Pensando nessa teoria, DeWitt, procurando explicar a quantização da
cosmologia, propôs que todo o universo se divide quando uma interação de medição
acontece. Assim, partindo da teoria de Everett III, surge a chamada interpretação dos
muitos-mundos. No conto de Borges, há uma proposta semelhante:
“Em todas as ficções, cada vez que um homem se defronta com diversas alternativas, opta por uma e elimina as demais; na do quase inextricável Ts’ui Pên, opta, simultaneamente, por todas. Cria assim, diversos futuros, diversos tempos, que também proliferam e se bifurcam.” (BORGES, 2007, p.89).
Assim, segundo o sinólogo Stephen Albert, o livro dos jardins de veredas que se
bifurcam representa todas as possibilidades de nossas escolhas juntas, criando assim um
labirinto. Em analogia ao que foi visto da teoria dos muitos-mundos, é como se o livro
fosse uma função de onda que não se colapsa e que terminar por permitir que todas as
possibilidades ocorram.
O pirotécnico gato de Schrödinger:
Olhando para o conto do escritor brasileiro, temos que o mesmo nos apresenta a
história de Zacarias, que morre após ser atropelado por um grupo de jovens. Deste dia
em diante, se colocou a questão: “Teria morrido o pirotécnico Zacarias?” (RUBIÃO,
2010, p. 14). De acordo com o conto, em relação à condição do personagem, temos as
seguintes opções:
Zacarias está vivo, quem morreu foi outro; Zacarias está morto, quem está vivo é outro; Zacarias morreu. Uma alma penada habita o corpo como uma carcaça; Zacarias morreu, mas continua ativo, fazendo as coisas de vivo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
278
Zacarias de certa forma ridiculariza as versões nº 1 e 2, tidas como lógicas, uma
vez que dariam uma explicação razoável em termos do que podemos chamar de mundo
conhecido. Mas a condição nº 3, também é descartada, pois, não há nada de sobrenatural
em sua condição. Ele simplesmente morreu e prossegue vivo.
Partindo para o âmbito da ciência, temos a física quântica, que começou por
impor novas formas de pensar o mundo físico, realizando a substituição do
determinismo, da mecânica clássica, pelo indeterminismo.
A questão central da indeterminação quântica levou a várias formulações de
aparentes situações paradoxais que visavam evidenciar contradições lógicas em uma ou
outra interpretação da teoria. Uma das mais famosas, ligadas ao problema da medição
na mecânica quântica, é o experimento-de-pensamento, conhecido como o gato de
Schrödinger, proposto pelo físico teórico Erwin Schrödinger (1887 – 1961).
De acordo com a interpretação de Copenhague, determinados fenômenos são
essencialmente probabilísticos. Um exemplo é a radioatividade. Um dado átomo tem
certa probabilidade de decair, ou seja, de emitir uma radiação. Digamos, por exemplo,
que seja de 50% em uma hora. Assim, colocando o átomo num compartimento fechado,
há 50% de chance de ele ter decaído ao final de uma hora. Só podemos saber o
resultado, no entanto, se observarmos. Na interpretação de Copenhague, enquanto não
fizermos isso o átomo não estará nem no estado “decaído” nem no estado “não-
decaído”, mas em uma estranha combinação dos dois estados conhecida como
superposição*.
* O princípio de Superposição afirma que uma combinação linear de vetores de estado é um vetor de
estado, uma vez que o espaço de Hilbert é um espaço vetorial. Portanto, se |Ψa> é um estado possível e |Ψb> também o é, então o estado |Ψc> = |Ψa> + |Ψb>, também é possível. No caso do paradoxo temos o estado: |gato> = |vivo> + |morto>.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
279
Schrödinger queria mostrar o absurdo da proposição e montou a experiência-de-
pensamento do gato. Colocamos o animal no compartimento fechado, juntamente com
um vidro contendo gás venenoso que pode ser aberto pelo decaimento radioativo,
matando o gato. Então, se não temos como observar o interior do compartimento,
podemos afirmar, de acordo com a interpretação de Copenhague, que o gato está em um
estado de superposição que combina “vivo” e “morto”.
O problema epistemológico está na condição indeterminada do gato, morto ou
vivo. Esta, por sua vez, é gerada pela indeterminação do estado de um núcleo atômico
radioativo, que ao emitir uma partícula, acionaria um dispositivo venenoso que o
mataria. Schrödinger está procurando mostrar uma inconsistência teórica da física
quântica empregando um raciocínio de redução ao absurdo, e para isso se vale de humor
e ironia, salientando o absurdo. Portanto, há uma coincidência de problemas
epistemológicos que surgem com a leitura do conto de Murilo Rubião em relação à
questão do gato de Schrödinger.
Conclusões
A análise destas relações apresentadas nos permite evidenciar a relação entre a
física e a literatura fantástica. Mais do que isto, esta interação se mostra bastante rica
uma vez que em é possível observar uma coincidência de problemas epistemológicos,
tanto nos contos apresentados quanto na ciência. Além do mais é possível observar que
com o fantástico estes problemas são reduzidos à normalidade, ou seja, o absurdo
apresentado é tido como algo corriqueiro e compatível com a vida humana, enquanto na
ciência isso já não é possível. A nosso ver isto se deve principalmente pelo gênero em
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
280
questão no qual as cadeias de causa e consequência são quebradas, no entanto, isto é
tido como algo normal.
Por fim, observamos que a física gera uma hesitação e até um estranhamento, no
sentido de que, nela o fantástico faz parte da realidade. Ou seja, a maneira com que a
ciência é construída alguns fenômenos podem fugir do senso comum e adquirirem uma
roupagem fantástica e maravilhosa, como é o exemplo da física quântica e até da física
clássica, por que não?
Referências:
BORGES, J. L. Ficções. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. POE, E. A. A milésima - segunda estória de Xerazade. In: Ficção completa, poesia e ensaios. Organização e tradução de Oscar Mendes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. RUBIÃO, M. O Pirotécnico Zacarias. In: Murilo Rubião – Obra Completa. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 14-20. ROJO, A. El jardín de los mundos que se ramifican: Borges y la mecánica cuántica. In: Ciberletras: Revista de crítica literaria y de cultura. Nº 1. 1999. SÁ, M. C. Da Literatura Fantástica (teorias e contos). Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2003. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. 3. ed. Série Debates Nº 98. São Paulo: Perspectiva, 2004. ZANETIC, J. Física também é cultura. Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Educação da USP, 1989. ________. Física e cultura. Ciência e Cultura. Vol. 57. N. 3, p.21-24. Jul/set. 2005.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
281
QUEM CONTA UM CONTO, AUMENTA UM PONTO – NARRAÇÕES INSÓLITAS EM VENENOS DE DEUS, REMÉDIOS DO DIABO,
DE MIA COUTO
João Olinto Trindade Junior∗ & Flavio García**
RESUMO O presente trabalho busca refletir sobre a questão da multipluralidade de vozes presentes em Venenos de Deus, remédios do Diabo, do escritor moçambicano Mia Couto, focalizando sua peculiaridade textual e narrativa. Voltada para a descrição de um tempo/lugar historicamente mestiço, a leitura dessa narrativa pode iluminar manifestações do insólito ficcional, apresentando-se como opção contra-hegemônica, que privilegia as diferenças culturais e sua incompreensão na visão do outro. Mia Couto insere não apenas elementos da cultura autóctone em seus textos como também transita pela sabedoria popular, em um jogo de palavras que, além de inaugurar neologismos, cria uma estrutura hibrida entre o oral e o escrito, promovendo um jogo narrativo entre o fatual e o ficcional, a criação e a invenção, onde as palavras, tendo seu lugar reconhecido como fonte criadora de cultura, são tão responsáveis pela manifestação do insólito quanto o próprio ambiente cultural no qual se manifestam. Através das vozes narrativas, a realidade conhecida, compreendida, interpretada, aceita se constrói, transitando para uma concepção fantástica, insólita e animista da realidade. PALAVRAS-CHAVE : Insólito; Narração; Jogo; Realidade.
Mia Couto é um escritor de extensa produção ficcional, tendo publicado poemas,
crônicas, contos e romances. Em Venenos de Deus, Remédios do Diabo, nos leva à
Vila Cacimba, distante cidade de Moçambique onde nada é exatamente como deve ser
tampouco seus moradores o são e, principalmente, dizem o que são, como já nos induz a
inversão proposta pelo título da obra. A ambigüidade característica de sua escrita, no
dizer de que, “Em África, existe oito e oitenta”, auxilia na reflexão sobre a questão da
polifonia presente na obra do escritor, focalizando sua peculiaridade textual e narrativa.
∗ Mestrando em Literatura Portuguesa e Africana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
** Pós – Doutor "Questões de gênero literário – em narrativas curtas da literatura da lusofonia" (UFRJ), Doutor em Letras (PUC-RJ) e Mestre em Letras(UFF). Professor Adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e do Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
282
Voltada para a descrição de um tempo/lugar historicamente mestiço, a leitura dessa
narrativa pode iluminar manifestações do insólito ficcional. Apresentando-se como
opção contra-hegemônica, que privilegia as diferenças culturais e sua incompreensão na
visão do outro, Mia Couto insere não apenas elementos da cultura autóctone em seus
textos como também transita pela sabedoria popular, em um jogo de palavras que, além
de inaugurar neologismos, cria uma estrutura hibrida entre o oral e o escrito,
promovendo um jogo narrativo entre o fatual e o ficcional, a criação e a invenção, onde
as palavras, tendo seu lugar reconhecido como fonte criadora de cultura, são tão
responsáveis pela manifestação do insólito quanto o próprio ambiente cultural no qual
se manifestam. Através das vozes narrativas, a realidade conhecida, compreendida,
interpretada e aceita se constrói, transitando para uma concepção fantástica, insólita e
animista da realidade.
No texto, Sidônio Rosa – ou Dotoro Sidonho, como é chamado pelos moradores - , vai
até Vila Cacimba para prestar apoio a uma organização internacional que tratava de uma
epidemia que se abatera na cidade. Seu verdadeiro intuito, na verdade, é reencontrar
Deolinda, uma mulher que conheceu em Portugal. É a partir dessa personagem, mulata
moçambicana filha de Munda e Bartolomeu Sozinho, que se desenvolve a história. Em
sua busca por Deolinda, segue procurando informações dela na vila, nos doentes de que
trata e nas conversas com seus “futuros sogros”. Sua permanência na vila - onde não a
encontra- se dá devido as cartas que recebe da mulata que, segundo seus pais, está no
exterior fazendo cursos de especialização pretendendo voltar em breve e pede que o
doutor, enquanto isso, cuide e trata bem de seus pais. Cartas essas que chegam até
Sidônio pelas Mãos de Munda, pedindo que ele vele e dê presentes a eles. Cartas essas
que, quando ele a questiona sobre sua origem, recebe como resposta o fato de serem
entregues por “familiares, pois em África, todos são familiares”(COUTO, 2008, p. 47).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
283
Firme nessa espera, Sidônio permanece na vila e acaba por se envolver numa nebulosa
teia de confissões antagônicas sobre o passado de seus habitantes e de confidências
confusas acerca de seu presente. É em meio a essas confissões que, em sua busca pelo
paradeiro de Deolinda que nunca retorna, que ele tenta procurar vestígios do seu grande
amor nesse vilarejo onde as pessoas tem estranhos hábitos. No desenrolar dessa espera,
além de conhecermos a complexidade de Vila Cacimba, vila cercada por nevoeiros –
como seu nome já sugere, pois “cacimba”, em uma língua local moçambicana, significa
“neblina” -, vamos conhecendo também a complexidade e dualidade de outros
personagens, como Bartolomeu Sozinho, ancião negro saudoso da época colonial.
Ironicamente, ele é o defensor da tradição e o saudoso da ruptura dela. Munda, mulher
mestiça de alemães que tem em sua história o resgate do preconceito as avessas – já que
é a família de Bartolomeu que foi contra o casamento - e Alfredo Suacelência, herói
nacional na luta contra o colonizador e “recontador da realidade alheia em proveito
próprio” pois, impossibilitado de servir durante o período colonial no mesmo barco que
Bartolomeu, conta para a população local uma história diferente, pintando-se como
herói da pátria.
Por trabalhar com o dual imaginário/quotidiano, Couto apresenta uma escrita híbrida,
revelando uma realidade onde tudo é possível, possibilitando a manifestação do
maravilhoso em suas narrativas ao nomear espaços de uma lógica contra hegemônica,
mesclando a realidade com as transgressões características do conhecimento popular.
Em um tempo localizado após a guerra colonial onde o pais recebe auxilio de nações
aliadas para superar dificuldades – temática também abordada em outros textos do
autor, como “O último vôo do Flamingo”(COUTO, 2005), sobre o apoio da ONU no
desarmamento das minas ou em vários de seus romances ao considerar personagens-
protagonistas que vem de fora e se deparam como uma realidade diferente da que estão
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
284
acostumados – e local “longe do centro de Moçambique, Vila Cacimba, um lugarejo
cercado em poeira e cacimbas enganadoras”.
Outros personagens, como Alfredo Suacelência, pouco contribuem para a busca de
Sidônio: ex-amigo de Bartolomeu que devido a invejas deturpa a história do
companheiro em proveito próprio, atingindo o cargo de administrador de Vila Cacimba.
Sua rivalidade é antiga, desde os tempos da colonização, quando incapaz de aceitar que
o amigo trabalharia na embarcação Infante D. Henrique e ele não, declara:
“esses colonos precisavam de um preto decorativo! Não era por méritos próprios que o mecânico negro seguia no navio. Ele era tripulante apenas como instrumento de uma mentira: de que não havia racismo no império lusitano” (Couto, 2008, p. 26)
Entretanto, soube manipular a seu favor sua não permanência na embarcação,
justificada como recusa em submeter-se aos portugueses, ganhando com isso prestigio e
alçando aos cargos burocráticos após o pais ter se tornado independente. Não podendo
ficar no navio por ficar gravemente doente, permaneceu um tempo a mais na capital e
trouxe consigo uma versão heróica de sua passagem pela embarcação, de como fora
expulso, como organizara uma revolta que fora prejudicada pela conveniência de
Bartolomeu com os portugueses. Rivalidade que perdura, a ponto de Suacelencia
informar a Sidônio que pode prendê-lo por “dar atenção demais” a Bartolomeu.
A busca por Deolinda se desenvolve como uma contação de histórias, história essa que
vai sendo contada enquanto ocorre, como se seguisse o conceito da narrativa
benjaminiana(BENJAMIN, 1985, p. 213). Preso a uma realidade – pelo tempo em que
decide entrar em seu jogo, o de esperar sua amada – cujas regras vai descobrindo
gradualmente que são diferentes do mundo do qual veio, Sidônio, em sua tentativa de
descobrir mais sobre Deolinda, busca informações dela na vila e em seus moradores.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
285
Assim, nos deparamos com a dicotomia criação/narração, de como ela – a moça - se
manifesta naquela realidade. Citando HAMPÂTE-BÂ,
A tradição bambara do Komo ensina que a Palavra(Kuma) é uma força fundamental que emana do Ser Supremo, Maa Ngala, criador de todas as coisas. É o próprio instrumento da criação: “O que Maa Ngala diz, é!”, proclama o sacerdote-cantor do deus Komo... a palavra humana pode tanto criar como pode destruir a paz... a tradição, portanto, confere a Kuma, a Palavra, não apenas o poder criador mas também a dupla função de conservar e destruir. Por isso a palavra é por excelência o grande agente ativo da magia africana. (HAMPÂTE-BÂ, 1993, p. 16).
Sidônio encarna um personagem-tipo da obra miacoutiana, aquele que trás o olhar do
outro diante de determinada realidade mas que, gradualmente procura - ou tenta -
aprender as regras desse jogo. Como um mito – pois o silêncio de Deolinda, a qual se
manifesta quase que essencialmente pela voz dos outros, seja nas memórias de Sidonho,
nos relatos dos outros personagens ou nas cartas de Munda – que vai sendo construído
ao contrário, a moça vai sendo desconstruída a maneira que vai sendo buscada. Citando
um provérbio Banto onde o mensageiro é o criador por que a palavra cria, cada história
de Deolinda a cria, embora de uma maneira insólita e incompreensível para o
protagonista. Essas narrações insólitas vão criando novas Deolindas sem nunca se
assumir um ponto em comum: É ela filha de Bartolomeu e Munda e/ou Irmã de Munda
criada como filha, é a filha que Bartolomeu teve em uma viagem e ao mesmo tempo a
filha que o pai tirou de Munda, assim com é a que teria sido amante de Suacelencia e
abusada pelo pai.
As próprias personagens possuem entre si relações conflituosas e confusas. É a zanga a
única jura de amor entre Bartolomeu e Munda, assim como é a inveja de ter tudo menos
a bandeira que tem Bartolomeu que desperta os últimos ódios de Suacelencia,
personagem corrupta mas que acaba sendo demitido de seu posto por ser contra a
derrubada ilegal de árvores na região, revelando a dualidade de seu caráter, já que gasta
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
286
suas últimas economias para realizar o último desejo de Bartolomeu, que era de realizar
seu enterro em um barco para levá-lo até o cemitério e caso sobrasse algum dinheiro,
pintaria no barco “infante D. Henrique”.
As dualidades não param, já que em uma das versões do paradeiro de Deolinda, a
mesma vai até outro país procurar a ajuda de um curandeiro, sábio-médico tribal
reconhecido pelo povo, ao contrário de Sidônio que não possui sequer habilitação para
tal, tendo abandonado o curso de medicina para vir até a Vila.
Mia Couto utiliza com versatilidade sua técnica de contador de histórias para manter
enevoada as vidas de seus personagens e o leitor é conduzido por imagens imprecisas,
recheadas de verdades e mentiras que se confundem e se revelam no decorrer das
páginas. E, assim, em meio a uma tentativa de construção de Deolinda em meio a essas
narrações, Sidonho vai gradualmente “desformando” a idéia que tem da moça, sem no
entanto perder seu amor, mas indeciso entre o que acreditar. Nas palavras dele para
Suacelencia, por não saber em que acreditar diante de tantas versões, as quais, mais a
frente, recebem uma resposta simbólica de Munda diante de tudo o que o administrador
disse: “Esta terra mente para viver”. O escritor, em entrevista, declara como resgatou
idéias pouco desenvolvidas a respeito de personagens não aproveitados para fazer, nesse
romance, o jogo da mentira.
Segundo Todorov, o fantástico se manifesta no espaço de uma hesitação, entre o aceitar
ou não, entre o se posicionar ou não, o que se revela pela incapacidade de escolher o
que acreditar. A hesitação todoroviana se faz presente ao longo do texto pela dificuldade
do personagem principal, Sidõnio, ser incapaz de se decidir sobre o que acreditar ou
não, entre encontrar uma solução ou aceitar por completo a total estranheza daquela
realidade. Citando Furtado,
De fato, a essência do fantástico reside na sua capacidade de expressar o sobrenatural de uma forma convincente e de manter
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
287
uma constante e nunca resolvida dialética entre ele e o mundo natural em que irrompe, sem que o texto alguma vez explicite se aceita ou exclui inteiramente a existência de qualquer deles. Em conseqüência, a primeira condição para que o fantástico seja construído é a de o discurso evocar a fenomenologia insólita de uma forma ambígua e manter até ao fim uma total indefinição perante ela. (FURTADO, 1980: 36).
Em seu projeto de manifestação do sobrenatural na Literatura Africana de Língua
Portuguesa, Mia couto aborda duas lógicas, a natural e a sobrenatural, que coexistem
sem provocar perplexidades. Como manifestação de um mundo onde tudo é possível,
entre margens e fronteiras, exibe faces insólitas, característica de um espaço onde o
maravilhoso se manifesta “livremente”, como maneira de representar uma realidade, por
si só, insólita. Nele, o fantástico se manifesta mais como modo do que gênero, ao
colocar o narratário frente as impossibilidade de, além de se decidir sobre o paradeiro de
Deolinda, escolher uma explicação definitiva para a realidade de Vila Cacimba e seus
habitantes, levando-o a, nas palavras de Todorov, a hesitar em relação a realidade que
presencia. (TODOROV, 1980: 45)
Dessa forma Deolinda, em uma de suas possibilidades, se apresenta como um mosaico,
uma criação dos moradores de Vila Cacimba, resgatando a proposta não da história
linear, mas das histórias que se cruzam, entrecruzam, divergem e se constroem, gerando
novas e fantásticas versões. Traço que se repete na escrita miacoutiana, onde seus
personagens, nas palavras de Maria Fernanda Afonso(Afonso, 2004), parecem seres
extraordinários que deambulam nos limites da vida, num espaço onde o sonho se
confunde com a realidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: AFONSO, MARIA FERNANDA. O Conto Moçambicano: escritas pós-coloniais. Lisboa: Editorial Caminho, 2004.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
288
BENJAMIN, Walter. "O Narrador- Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov" . In: Obras Escolhidas: Magia, Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1985. COUTO, Mia. O Último vôo do Flamingo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. ___________. Venenos de Deus, Remédios do Diabo. Lisboa: Editorial Caminho, 2008. FURTADO, F. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte, 1980. GARCÍA, Flavio. A construção do Insólito Ficcional e sua leitura literária: procedimentos instrucionais da narrativa. Anais do I Congresso de Linguagens e Representações: Linguagens e Leituras. Ilhéus – Bahia: UESC, 2009. HAMPÂTE-BÂ, Amadou. Palavra Africana. O Correio da Unesco. Paris, Rio, ano 21, nº 11, TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica – Coleção debates. São Paulo: editora perspectiva, 1980.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
289
A ADAPTAÇÃO DE A METAMORFOSE DE FRANZ KAFKA AO FORMATO DE NARRATIVA GRÁFICA
Juliana Vilar Rodrigues Cardoso∗
RESUMO
O objetivo deste trabalho é avaliar a adaptação de A metamorfose de Kafka realizada pelo artista norte-americano Peter Kuper para a linguagem das histórias em quadrinhos, utilizando elementos da análise literária e a descrição do processo de uso de imagens como ferramentas narrativas.
PALAVRAS-CHAVE: A metamorfose; adaptação; narrativa gráfica.
O fascínio pelas narrativas de metamorfoses está presente desde a antiguidade
em obras como Metamorfoses de Ovídio e o O Asno de Ouro de Lúcio Apuleio. O tema
ressurge na era moderna em A Metamorfose de Franz Kafka. Em seu livro Introdução à
Literatura Fantástica (2008), Tzvetan Todorov reflete sobre a transformação da
narrativa do sobrenatural no século XX e classifica A Metamorfose, de Kafka, como a
obra mais célebre dessa categoria narrativa nesse período. Mas para ele, a segunda
condição do Fantástico, observada principalmente em exemplos do século XIX, foi
superada: “Em Kafka, o acontecimento sobrenatural não provoca mais hesitação pois o
mundo descrito é inteiramente bizarro, tão anormal quanto o próprio acontecimento a
que serve de fundo” (TODOROV, p.181).
A Metamorfose de Kafka foi adaptada para o formato de narrativa gráfica pelo
artista norte-americano Peter Kuper em 2003 e publicada no Brasil pela editora Conrad
Livros em 2008. Segundo Claus Clüver, a “adaptação”, como forma de transposição
intersemiótica, adquiriu o “sentido de ‘reelaboração livre’, transformação, desvio
deliberado da fonte a fim de produzir algo novo”. O objetivo deste trabalho é analisar a
transposição intersemiótica realizada por Kuper, utilizando a descrição do processo de
contar histórias com desenhos, mais especificamente o uso de imagens como
∗ Aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
290
ferramentas narrativas, realizada por Scott McCloud. Discutiremos portanto, a maneira
pela qual Peter Kuper utiliza o texto-fonte de Kafka para contar a história através de um
outro meio, a grahic novel ou narrativa gráfica, e que elementos gráficos ele usa para
transmitir o horror e a angústia encontrados nesse clássico da literatura para produzir
novas significações artísticas.
Franz Kafka (1883-1924) nasceu na cidade de Praga, Boêmia (hoje República
Tcheca), então pertecente ao Império Austro-Hungaro. Ele era o filho mais velho de
Hermann Kafka, comerciante judeu, e de sua esposa Julie, e trabalhou como advogado
na companhia particular Assicurazioni Generali e no semiestatal Instituto de Seguros
contra Acidentes do Trabalho . Suas principais obras são A Metamorfose (1915), O
Processo (1925), O Castelo (1926).
Zygmunt Bauman em Modernidade e Ambivalência (1999), descreve a
essência da época em que Kafka viveu como o esforço para eliminar a ambivalência e
“definir com precisão - e suprimir ou eliminar tudo o que não poderia ser ou não fosse
precisamente definido” (p. 15). Bauman destaca o dilema da condição do judeu que não
podia voltar à proteção da comunidade judaica nem era aceito completamente pela
sociedade ocidental:
“Horrível como era, essa suspensão num espaço social vazio era ainda um demônio
menor. Muito mais macabro e pavoroso era o fato de que o vazio não estava “lá fora”,
mas dentro do homem que em vão tentava alcançar os dois suportes igualmente
ilusórios” (BAUMAN, 1999, p.99).
Na novela A Metamorfose, o narrador em terceira pessoa nos apresenta o
protagonista Gregor Samsa, um caxeiro-viajante que acorda transformado em um inseto.
Através do monólogo interior acompanhamos a evolução dos pensamentos de Gregor.
Ele hesita rapidamente sobre a sua condição, mas decide continuar a dormir e esquecer
tudo aquilo. Mas, ele não consegue dormir e começa a pensar sobre a vida que leva, o
seu cotidiano cansativo, as viagens que precisa fazer, “o convívio humano que muda
sempre, jamais perdura”, e com a hora de pegar o trem. Pensa então no chefe e o como
este vai reagir se chegar atrasado no trabalho.
Ao longo da história, observamos a reação dos pais de Gregor e de sua irmã,
que tentam se adaptar à transformação de Gregor cada um de sua forma, mas que no
decorrer do tempo passam a sentir medo, repulsa e raiva. Eles mantém Gregor trancado
no quarto e a irmã é a única que se dispõe a colocar alimento para ele. Até que decidem
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
291
que teriam que tomar alguma medida pois não suportavam mais a situação. Gregor que
trabalhava para sustentar a família e achava sentido para sua vida desta forma, agora se
vê rejeitado, isolado e incomunicável. Os pais e a irmã de Gregor começam a trabalhar e
cuidar de suas vidas. Já Gregor, morre incompreendido e resignado.
O tom da narrativa é frio e indiferente. Jean-Paul Sartre em Situações I:
Críticas Literárias (2006), comenta sobre a técnica escolhida por Kafka da seguinte
forma: “Se ele nos mostra a vida humana perpetuamente atormentada com uma
transcendência impossível, é que acredita na existência dessa transcendência.
Simplesmente, ela está fora de nosso alcance. Seu universo é ao mesmo tempo
fantástico e rigorosamente verdadeiro” (p. 147). Já Modesto Carone, tradutor de A
Metamorfose (2010) para o português, descreve a sintaxe pessoal do autor:
Esta se caracteriza por sentenças longas moduladas por enunciados breves, capazes de
cobrir um parágrafo inteiro, com uma carga abundante de subordinações, inversões ou
expletivos, que na realidade têm a função de assinalar, no recorte tortuoso e preciso da
frase, não só a trama em que se perde o personagem, como também sua necessidade de
“naturalizar”, pela lucidez o absurdo da situação descrita” (CARONE, 2010, p. 92).
Will Eisner, autor de Narrativas Gráficas (2008) e criador do termo Graphic
Novels, define ss histórias em quadrinhos como “um meio visual composto de
imagens”. E acrescenta que “apesar das palavras serem um componente vital, a maior
dependência para descrição e narração está em imagens entendidas universalmente,
moldadas com a intenção de imitar ou exagerar a realidade” (p. 5). Em Desvendando os
Quadrinhos de Scott McCloud, encontramos a segunte definicão: “Imagens pictóricas e
outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a
produzir uma resposta no espectador” (2005, p. 9). As principais características das
histórias em quadrinhos, segundo McCloud são:
• Representação realista x icônica : Ao trocar a aparência do mundo físico pela ideia da forma, o cartum coloca-se no mundo dos conceitos (p. 41).
• É no limbo da sarjeta (o espaço branco entre um quadrinho e outro) que a imaginação humana capta duas imagens distintas e as transforma em uma única ideia (p. 66).
• Os quadros das histórias fragmentam o tempo e o espaço, oferecendo um ritmo recortado e momentos dissociados. Mas a conclusão nos permite conectar esses momentos e concluir mentalmente uma realidade contínua e unificada (p. 67).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
292
• Tempo nos quadrinhos envolve som e movimento. O som se subdivide em dois subconjuntos, os balões e onomatopéias; e o movimento em conclusão de quadro-a-quadro e o movimento dentro dos quadros.
• Nas histórias em quadrinhos, tempo e espaço são uma única coisa. Assim sendo, como leitores, nós temos a vaga sensação de que movendo-se pelo espaço, nossos olhos também estão se movendo pelo tempo (p. 100).
A escolha de realizar a narrativa gráfica de A Metamorfose de Kafka em preto e
branco contribui para transmitir a atmosfera da história (ver figura 1). “Em preto e
branco, as ideias por trás da arte são comunicadas de maneira mais direta. O significado
transcende a forma” (McCLOUD, p. 192).
Na adaptação de Peter Kuper, podemos observar que as imagens algumas vezes
ampliam e elaboram sobre as palavras. Como exemplo, pode-se destacar o “M” de
McDonald’s desenhado no quadro em que Gregor pensa nas coisas horríveis que come
no caminho (ver figura 2). “As maneiras de combinar palavras e figuras nos quadrinhos
são virtualmente ilimitadas...” (McCLOUD, p. 152). McCloud vai denominar de
combinação aditiva para os casos em que as palavras ampliam ou elaboram sobre uma
imagem.
Figura 1. A metamorfose de Peter Kuper (p. 12 e 13)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
293
Pode-se também relacionar a técnica da ilustração do HQ, que se assemelha à
técnica da litografia, muito utilizada pelos artistas do expressionismo alemão no início
do século XX, com o tempo e espaço em que viveu Kafka (ver figura 3).“Um fundo
distorcido ou expressionista pode afetar nossa “leitura” dos estados interiores do
personagem” (McCLOUD, p. 132).
Figura 2. A metamorfose de Peter Kuper (p. 14 e 15)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
294
Sendo assim, podemos concluir que o ilustrador Peter Kuper realizou um
trabalho de qualidade ao adaptar o clássico A Metamorfose. Kuper transmite não só a
ideia de horror da história, mas contribui para que o leitor contemporâneo se identifique
com o que há de universal na obra. Pois como diz Sartre sobre os escritos de Kafka: “O
estranho é o homem diante do mundo... O estranho é também o homem entre os
homens... Enfim, sou eu mesmo em relação a mim mesmo” (apud BAUMAN, 1999, p.
96).
Referências
BAUMAN, Z. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1999.
EISNER, W. Narrativas Gráficas. São Paulo: Devir, 2008.
KAFKA, F. A metamorfose. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
KUPER, P. A metamorfose / Franz Kafka. São Paulo: Conrad Editora do Brasil,
2004.
Figura 3. A metamorfose de Peter Kuper (p. 18 e 19)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
295
McCLOUD, S. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2005.
SARTRE, J.P. Situações I: críticas literárias. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2008.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
296
“MINHA MÃE ME MATOU, MEU PAI ME COMEU”: A CRUELDADE NOS CONTOS DE FADAS
Karin Volobuef∗
RESUMO
Os contos de fadas, ou contos maravilhosos, têm como constante a presença de personagens malignos, a começar pelas bruxas, madrastas mal-intencionadas e o lobo mau. Fora isso, são inúmeros os episódios de brutalidade em que mãos são decepadas (“A moça sem mãos”), olhos furados (“Cinderela”), cabeças cortadas (“O rei da montanha de ouro”) e corpos esquartejados (“O camarada Lustig”). Para completar, incesto (“Bicho peludo”), canibalismo (“O junípero”), pacto com o demônio (“Pele de Urso”) e outros temas ligados à maldade ou torpeza povoam diversos contos. Ao contrário da opinião comumente difundida, as narrativas que circularam pela boca do povo muitas vezes tratam de assuntos escabrosos e chocantes. Trata-se de algo hoje desconhecido da maioria dos leitores de contos de fadas, uma vez que muitas narrativas chegam ao público em adaptações que expurgam as passagens sanguinolentas. Além disso, contos como “O pobre rapaz na sepultura” ou “História do jovem que saiu pelo mundo para aprender o que é o medo” sequer costumam são reeditadas. Os filmes de Walt Disney, por seu turno, alteraram bastante os enredos e, assim, colaboraram extensivamente para cunhar a ideia de historias ingênuas e inocentes. Em vista desse quadro, o objetivo do presente trabalho é abordar o viés “cruel” e “assustador” dos contos de fadas, buscando discutir sua participação no imaginário popular e sua recepção pelo público adulto e infantil. PALAVRAS-CHAVE: Conto de fadas; conto maravilhoso; Grimm; Crueldade; Moral.
Nos dias de hoje é comum as pessoas expressarem a convicção de que os contos
de fadas – ou contos maravilhosos – são textos inocentes e delicados, que se passam em
um mundo cor-de-rosa onde o Bem invariavelmente prevalece, os desejos das pobres
Cinderelas são atendidos por fadas carinhosas, e o casamento com o príncipe é feliz
para sempre. Contudo, a leitura extensiva de contos em sua forma original (ou seja, em
versões que não sejam adaptadas) mostra uma situação bastante distinta: da bruxa
∗ Doutora em Língua e Literatura Alemã pela FFLCH-USP em 1996. Desde 1992, docente da UNESP, campus Araraquara, no Departamento de Letras Modernas.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
297
canibal que planeja jantar Joãozinho e Maria, ao quarto ensangüentado em que a esposa
de Barba Azul encontra os corpos esquartejados das mulheres anteriores – os contos
trazem não poucas cenas violentas e macabras.
O título de minha apresentação foi abstraído de um conto menos divulgado: “O
junípero” [Von dem Machandelboom]. O conto traz um início que nos soa bastante
familiar: uma rainha sem filhos encontra-se sentada no inverno debaixo de um junípero
(ou zimbro), cortando uma maçã; ao ferir o dedo deseja “um filho corado como o
sangue e de cútis clara como a neve” (GRIMM, 1994, p. 396). Depois de dar à luz o
menino desejado, a rainha morre e é enterrada sob aquela árvore. Mais tarde, a madrasta
terá uma filha e, a partir daí, passa a odiar o enteado. Certo dia, a madrasta mata o
menino e serve sua carne ao pai no jantar; a irmãzinha, que presenciou tudo, recolhe os
ossos e os enterra sob o junípero. Dessa árvore acaba saindo um pássaro que canta:
Mamãe me matou, papai me comeu E minha irmãzinha os ossos colheu Num lenço de seda, piedosa, os guardou E embaixo do zambro o lenço deixou. E ave canora agora sou! (GRIMM, 1994, p. 404)
De que modo podemos entender a presença nos contos de episódios tão terríveis
como o expresso no refrão “Minha mãe me matou, meu pai me comeu”? Para o
historiador Robert Darnton, os contos exploram aspectos tão rudes e cruéis porque a
vida dos camponeses era marcada pelo sofrimento e miséria: trabalho árduo,
alimentação insuficiente, alta mortalidade (maior entre as mulheres devido aos partos).
Segundo o pesquisador, o grande número de madrastas e o tratamento desigual e
impiedoso que elas dispensam aos enteados não é invenção da Carochinha, mas
estratégia de sobrevivência para aumentar as chances de seus próprios filhos.
Propp (1997, p. 13) busca o substrato de narrativas como “O junípero” em
épocas arcaicas, quando o sacrifício humano se destinava a apaziguar monstros e ganhar
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
298
as boas-graças dos deuses. Com o tempo essas crenças foram sendo abandonadas e a
oferenda humana ganhou conotação negativa. Por isso, nos contos, o sacrifício é evitado
(resgate por um salvador) ou anulado (ressuscitação), como em “O junípero”. Segundo
o teórico, o resgate só é aceitável ao ouvinte porque este não mais acredita que o
sacrifício seja necessário para garantir o bem da aldeia. A mudança de crenças faz com
que o mito (que justifica o rito) se transforme em narrativa (que ficcionaliza o rito).
Assim, ao contrário do que vemos nos mitos de Tântalo, de Atreu** e outros,
Joãozinho e Maria derrotam a bruxa canibal; Branca de Neve é poupada pelo caçador
incumbido de arrancar-lhe o coração; e o menino morto em “O junípero” retorna à vida
depois de matar a madrasta. Como já afirmou Wilhelm Solms (2005, p. 207), em boa
parte os contos de fadas são histórias da vitória dos fracos sobre os fortes. E essa vitória
é alcançada de várias maneiras: enquanto Branca de Neve é doce e resignada, ganhando
dessa forma o coração de todos, em “O junípero”, a desconfiança, a astúcia e até a
inclemência em relação aos fortes (madrastas, bruxas) é fator decisivo para a vitória.
Em outras palavras, os protagonistas dos contos de fadas não são todos bons e
virtuosos, e a violência e desonestidades são cometidas tanto pelos vilões quanto pelos
heróis. Esse aspecto leva-nos a tratar de um outro ponto, que é o da moral transmitida
pelos contos de fadas. No entender de André Jolles (1976, p. 198-200), Bela
Adormecida e Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, realizam nada que as faça
especialmente merecedoras do final feliz. Outro personagem lembrado por Jolles é Gato
de Botas (Perrault) que mente e usa as botas de sete léguas para apossar-se da riqueza
alheia. Se a perspectiva dos contos fosse realmente moralizante, o leitor não deveria ser
estimulado a torcer pela vitória de personagens pouco ou nada virtuosos. Para Jolles a
**
Tântalo, segundo algumas versões (GRIMAL, 1993, p.428), serviu o próprio filho em um banquete oferecido aos deuses; Atreu matou três filhos do irmão, Tiestes, para servi-los como iguaria ao pai (GRIMAL, 1993, p.55).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
299
explicação está no fato de que esses protagonistas são inicialmente maltratados,
perseguidos ou injustiçados, tornando-se, aos olhos do leitor, representantes dos fracos e
desventurados – que, na vida extra-literária, costumam ser subjugados pelos poderosos.
Segundo pesquisador, se um personagem é prejudicado, instaura-se uma situação de
desequilíbrio no texto, fazendo o leitor ansiar pelo retorno ao estado inicial de
equilíbrio. Quando o protagonista alcança a vitória final, essa expectativa do leitor é
satisfeita, causando-lhe a sensação de que a justiça foi feita.
Wilhelm Solms (1999, p. 10), no entanto, defende ponto de vista contrário a
Jolles: em sua opinião, o final do conto não pode ser considerado um retorno ao
equilíbrio inicial já que Cinderela não apenas é resgatada dos maus-tratos e compensada
pelos seus sofrimentos, mas é escolhida dentre todas as moças do reino para casar com
o príncipe e viver feliz para sempre – alcançando uma posição suprema. Quanto à
madrasta e irmãs postiças, elas não apenas pagam pelo mal cometido, mas recebem um
castigo muito maior do que o sofrimento que infligiram. Para Solms, não se pode
afirmar que o conto de fadas mostra um mundo em que prevalecem a justiça e a
premiação/retaliação, pois, para isso, a justiça teria que ser para todos e na medida exata
do merecimento de cada um, o que não se verifica.
Segundo o pesquisador, para ser premiado no conto de fadas, pouco importa o
caráter moral do herói/heroína, mas sua competência em vencer provas e derrotar o
oponente. Assim (SOLMS, 1999, p. 113), ao invés de apresentarem uma lição de
virtude, muitos contos (em especial os contos com protagonistas animais e as facécias)
ensinam que, tendo coragem e astúcia, os fracos podem defender-se dos fortes,
resistindo a eles ou mesmo derrotando-os. A satisfação do leitor, portanto, não vem da
gratificação de seu sentimento de justiça – mas de sua identificação com o personagem
que alcançou o bem máximo, que é casar com o príncipe (Cinderela), enriquecer (Gato
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
300
de Botas), derrotar o gigante (Alfaiatezinho Valente), mesmo que essas vitórias sejam
alcançadas com malandragem ou desonestidade.
Outro estudioso, Max Lüthi (1968), discute essa questão. Ele define o herói do
conto de fadas como aquele personagem que, desde o início do conto, é premiado pela
sorte. Seja quem for (moleiro, pastora, princesa ou filho de rei), o herói sempre é
premiado pelas coincidências felizes, sempre recebe de antemão os objetos que
necessitará mais tarde e sempre opta por fazer aquilo que tinha que ser feito para o
problema ser solucionado – mesmo quando desobedece ordens ou pratica ações
condenáveis (se Branca de Neve seguisse o conselho dos anões e não abrisse a porta
para a bruxa, teria escapado de morder a maçã envenenada, mas também não teria sido
encontrada pelo Príncipe). O herói não vence porque é merecedor da felicidade plena,
mas porque é um felizardo que foi “escolhido” para desfrutar dessa premiação. Para
Lüthi, a Bela Adormecida se casa com o príncipe não porque tenha feito por merecer
essa recompensa, mas apenas porque é a heroína da história.
Quanto aos opositores, Lüthi (1969, p. 120-1) defende que os contos de fadas
estão imbuídos da noção de que o Mal volta-se contra si mesmo e que o malvado “cava
sua própria sepultura”. Lembremos das irmãs postiças de Cinderela que, na hora de
experimentarem o sapatinho, cortam: uma, o seu próprio calcanhar, e outra, seus dedos
do pé – sendo justamente o sangue que pinga do sapatinho a marca pela qual o príncipe
reconhece estar com a noiva errada. Assim vemos como os contos, em seu tratamento
do Mal e da violência, absorvem elementos arcaicos e míticos, mas também temas
inerentes à sociedade e ao próprio homem (como a oscilação entre justiça e injustiça, ou
o desejo de alcançar a recompensa mais elevada). Em um discurso aparentemente
simples e despretensioso, o conto dá respostas complexas sobre os anseios mais
enraizados na humanidade.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
301
Quanto a isso, cabe ainda observarmos como os mesmos tópicos são tratados por
adaptações posteriores a Grimm. Dentre as adaptações, provavelmente as mais
conhecidas são as dos filmes da Walt Disney. Conforme ainda aponta Jack Zipes (1994,
p. 75), Walt Disney não apenas levou os contos de fadas às telas como também os
revestiu de um espírito muito próprio. Em sua análise de Branca de Neve (Snow White -
1937), por exemplo, Zipes (1994, p. 86ss) enfatiza que Disney reduziu o papel da
protagonista (que, ao contrário da heroína corajosa e versátil dos Grimm, tornou-se uma
dona-de-casa sem grandes contribuições ao andamento da ação), ampliou os papéis
masculinos (o Príncipe já surge logo no início do filme e é um dos motivos para a inveja
da Rainha), transformando os Anões (que, em Grimm, são personagens secundários e
sem características individualizadoras) em figuras-chave da história, que encarnam
valores como trabalho, assiduidade, lealdade, etc.
De acordo com Robyn McCallum e John Stephens (2000, p. 162-163), os filmes
da Disney simplificam o material abstraído dos contos populares uma vez que
desconsideram os ricos e variados conteúdos culturais dos textos originais; por outro
lado, porém, ampliam o material advindo dos contos ao introduzirem elementos antes
inexistentes e alterando o enredo, a inter-relação entre personagens, etc. Na análise dos
estudiosos, os filmes giram em torno do eixo da oposição entre Bem e Mal e o humor é
usado como coluna de sustentação da polarização dos extremos. Assim, o lado do Bem
é reforçado por um amplo arsenal de personagens “engraçadinhos” que ocupam parte
substancial na história: animais de vários tipos, tamanhos e procedências, utensílios
domésticos animados, fada madrinha ou outros defensores, etc. Enquanto a narrativa do
conto popular é densa e bem amalgamada, não possibilitando elementos supérfluos ou
que atrasem o avanço da ação, o filme Branca de Neve dedica diversas cenas aos
animaizinhos da floresta, que guiam a princesa até os anões e depois auxiliam nas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
302
tarefas domésticas; cenas de canto e dança, que se destinam criar o efeito idílico da vida
doméstica; cenas protagonizadas pelos anões, que são mostrados trabalhando ou
envolvidos em pequenas escaramuças.
Em franca oposição a essas versões da Disney, diversos escritores
contemporâneos têm revisitado os contos de origem popular – da estirpe de Grimm,
Perrault, etc. – e criado narrativas que retomam a tradição, mas de modo a revestirem os
enredos e personagens de uma dimensão novamente complexa e instigante. Nesse
sentido, vale lembrar de Neil Gaiman, que em “Neve, vidro, maçãs” da coletânea
Fumaça e espelhos [Smoke and Mirrors - 1998], conta a história de uma Branca de
Neve vampiresca que subjuga tudo e todos. A madrasta é a única que identifica o
verdadeiro caráter da princesa, mas sua tentativa de resistência logo é desarmada. Bem e
Mal se inverteram e, com isso, foram mostrados por um viés que os problematiza.
Essas obras contemporâneas trazem não apenas uma elaboração rica e
inovadora, como também rejuvenesce contos que há muito conhecemos – ou pensamos
conhecer. Afinal, há muitas coisas nas linhas e nas entrelinhas dos contos em que
precisamos prestar a devida atenção para não cair em armadinhas aparentemente
ingênuas.
Referências bibliográficas
DARNTON, Robert. Histórias que os camponeses contam: O significado de Mamãe Ganso. In: ______. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Trad. Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. p. 21-101. GAIMAN, Neil. Fumaça e espelhos. São Paulo: Ed. Via Lettera, 2004. GRIMAL, Pierre. Dicionário da mitologia grega e romana. Tradução de Victor Jabouille. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. GRIMM, Jacob e Wilhelm. O junípero. In: Contos de Grimm. Trad. David Jardim Jr. Belo Horizonte: Villa Rica, 1994. p. 396-411. JOLLES, André. O conto. In: ______. Formas simples. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 181-204. LÜTHI, Max. Das europäische Volksmärchen. 3. Aufl. Bern: Francke Verlag, 1968.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
303
LÜTHI, Max. So leben sie noch heute: Betrachtungen zum Volksmärchen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. MCCALLUM, Robyn; STEPHENS, John. Film and Fairy Tales. In: ZIPES, Jack (Ed.). The Oxford Companion to Fairy Tales. Oxford University Press, 2000. p. 160-164. PROPP, Vladimir. As raízes históricas do conto maravilhoso. Trad. Rosemary Costhek Abílio e Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 1997. SOLMS, Wilhelm. Die Moral von Grimms Märchen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999. SOLMS, Wilhelm. Die Gattung Grimms Tiermärchen. In: ESTERL, Arnica; SOLMS, Wilhelm (Ed.). Tiere und Tiergestaltige im Märchen. Krummwisch: Königsfurt, 2005. p. 195-215. ZIPES, Jack. Fairy Tale as Myth, Myth as Fairy Tale. Lexington: The University Press of Kentucky, 1994.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
304
O MUNDO (ÀS AVESSAS?) DE MURILO RUBIÃO
Karla Duarte Carvalho∗∗∗∗
RESUMO Nosso artigo se propõe a discutir aspectos da obra de Murilo Rubião a partir de algumas teorias sobre gênero fantástico, dentre as quais, as do búlgaro Tzvetan Todorov e do português Filipe Furtado. Embora nossa discussão seja em torno da teoria compilada por Todorov e refinada por Furtado, não nos furtamos em recorrer aos textos: “Estranho” de Sigmund Freud; e “Aminadab, ou do fantástico considerado como uma linguagem” de Jean Paul Sartre. A título de desenvolver a nossa proposta escolhemos duas narrativas de Murilo Rubião presentes em sua Obra completa, são elas: “Teleco, o coelhinho” e “A Casa do Girassol Vermelho”. Em seu livro Introdução a Literatura Fantástica Tzvetan Todorov diferencia o fantástico do maravilhoso e estranho asseverando, grosso modo, que no fantástico há a subversão do real; no maravilhoso há a aceitação de outra realidade com regras próprias e diferentes da realidade cotidiana; no estranho o evento sobrenatural é explicado, em algum momento, de maneira racional. O teórico afirma que no gênero fantástico há uma hesitação experimentada perante um episódio sobrenatural, essa hesitação cercada de ambiguidade impossibilita o leitor de tomar uma posição diante de tal evento. Em vista disso, tentaremos discutir qual seria a atitude mais adequada que um crítico da atualidade poderia tomar diante da obra de Murilo Rubião? Onde a construção do texto não remete a nenhum tipo de hesitação, pelo contrário, os personagens (e com eles o leitor) não questionam aquele cotidiano que os cerca, os fenômenos são instaurados num mundo que é o “nosso mundo” onde levantamos; escovamos os dentes; tomamos café da manhã... PALAVRAS-CHAVES : Fantástico; Maravilhoso; Insólito
O que é o fantástico?
De acordo com a teórica e também professora Maria Cristina Batalha em seu
artigo “A Literatura Fantástica: Um Protocolo de Leitura”; “Até os estudos de Todorov,
a crítica se referia ao gênero como correspondendo a toda a narrativa de fatos que não
pertenciam ao mundo real, contrariando a realidade que nos cerca.” (BATALHA, 2005:
s/p). A partir de Todorov podemos, grosso modo, separar os gêneros maravilhoso,
∗ Mestranda em Letras, área de concentração Literatura Portuguesa, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bolsista CAPES sob orientação da Professora Doutora Maria Cristina Batalha.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
305
estranho e fantástico e fazer determinadas afirmações. Por exemplo, no gênero
maravilhoso o inverossímil é acatado desde o começo sem nenhum questionamento, no
gênero estranho a subversão do real é explicada realisticamente ao final da narrativa, e
no gênero fantástico a subversão do real não é explicada, o leitor hesita, fica em
suspenso. Ainda, de acordo com a teórica, Todorov ao distinguir fantástico, maravilhoso
e estranho “incorpora em sua definição o conceito de unheimlich, como experiência de
uma presença inquietante que irrompe no cotidiano” (BATALHA, op.: s/p).
A narrativa fantástica carrega em si a ambiguidade, premissa número um para a
existência do gênero, como traço característico. O espaço que essa ambiguidade
comporta tem de ser necessariamente amplo, para que as explicações insólitas sejam
naturais e a verossimilhança tenha uma sequência lógica – ainda que ela escape ao plano
da realidade. O teórico português Filipe Furtado em seu livro A Construção do
Fantástico na Narrativa assevera que só o fantástico confere sempre uma extrema
duplicidade à ocorrência insólita:
De fato, a essência do fantástico reside na sua capacidade de expressar o sobrenatural de uma forma convincente e de manter uma constante e nunca resolvida dialética entre ele e o mundo natural em que irrompe, sem que o texto alguma vez explicite se aceita ou exclui inteiramente a existência de qualquer deles. Em conseqüência, a primeira condição para que o fantástico seja construído é a de o discurso evocar a fenomenologia insólita de uma forma ambígua e manter até ao fim uma total indefinição perante ela. (FURTADO, 1980: 36).
Há, porém, grande dificuldade em ordenar o gênero fantástico. Quando lemos
um texto pensamos logo: “qual a melhor mordaça?”. Existe, no entanto, o problema da
nomenclatura, há autores que definem o fantástico como um gênero que comporta
determinadas regras, há autores que o definem como um modo discursivo – ou como o
que poderíamos chamar de insólito – onde encontramos gêneros; subgêneros e
categorias.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
306
Sabemos que a caracterização de um gênero tem de ater-se a traços que se
mantenham constantes, por exemplo, até pouco tempo a crítica do fantástico
considerava o medo causado ao leitor como característica fundamental do gênero – a
exemplo de H. P. Lovecraft. Ora, a reação do leitor é uma realidade completamente
exterior a obra. Não seria pertinente considerar qualquer fato subjetivo e extratextual
como característica básica de algum gênero literário, tentar caracterizar a narrativa
fantástica apenas pelo impacto causado sobre os destinatários reais, seria um erro
porque o leitor poderia aceitar; rejeitar; ou hesitar perante o sobrenatural. Se ele
aceitasse sem reservas a subversão do real, teríamos o gênero maravilhoso; se recusasse
completamente alcançaria o patamar do estranho. Só a construção de uma narrativa
indecisa, incerta entre aceitar ou rejeitar seria adequada ao difícil equilíbrio do
fantástico. Ao utilizarmos a estética da recepção do leitor para classificar um gênero,
deixamos as obras literárias em permanente flutuação entre vários gêneros, não
obstante, a capacidade de causar medo é extensível ao estranho e ao maravilhoso. Outra
questão é o enquadramento do alegórico e o poético – a dupla proibição todoroviana –
que estão fora da categoria do fantástico, além de, proporcionarem uma fuga à
ambiguidade – e sem ela não há gênero fantástico –, de acordo com o autor, o gênero
fantástico requer ficção:
Se, lendo um texto, recusamos qualquer representação e consideramos cada frase como pura combinação semântica, o fantástico não poderá aparecer; este exige, recordamos uma reação aos acontecimentos tais quais se produzem no mundo evocado. Por esta razão, o fantástico não pode subsistir a não ser na ficção; a poesia não pode ser fantástica (ainda que haja antologias de “poesia fantástica”...). Resumindo, o fantástico implica ficção. (TODOROV, 1975: 68).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
307
No entanto, isso não significa que dentro de uma narrativa fantástica não possa
existir algo alegórico ou o poético, pode, desde que não comprometa a ambiguidade da
diegese.
Com Todorov encontramos a delimitação do que é o fantástico, ele foi o
responsável pela formulação de uma hipótese teórica sobre o gênero, e todos os teóricos
e críticos posteriores, que contribuíram para elucidar a questão fantástica, travaram um
intenso diálogo com a sua obra – isto fica claro na escrita de Furtado, que ao refutar
Todorov sobre a hesitação, preenche com maestria os vazios deixados pelo búlgaro, nos
dando o aporte necessário para identificação do gênero.
Alguns teóricos franceses realizaram a análise objetiva de gênero e das formas
como é realizado pelas narrativas que nele se inscrevem. Contudo, é por intermédio de
Todorov, ao basear-se na hesitação do leitor entre aceitar ou recusar os fenômenos que o
enunciador narrativo lhe propõe como sobrenatural – embora hoje isso seja discutível –,
que a critica do gênero atinge de certo modo a maioridade.
De acordo com Filipe Furtado houve um grande marasmo nas investigações
sobre o fantástico até a metade do século passado, o que ocorreu ao gênero desde o seu
aparecimento foi uma negligência reflexiva. Alguns teóricos se furtaram a reflexão dos
textos por acreditarem que havia um impedimento para tal façanha, outros o abordaram
pela estética de recepção, outros perderam tempo na discussão de se a crença no
sobrenatural era uma qualidade necessária aos escritores do gênero – tendência absurda
que persiste em alguns nichos até os dias de hoje.
Outro subsídio importante para o conhecimento do fantástico é a obra Le récit
fantastique de Irene Bessière que, além de argumentar contra Todorov, avançou em
novas propostas; ao apresentar o fantástico como o lugar do não: lugar do não provável,
do não possível... Trazendo a idéia de um modo fantástico.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
308
Na atualidade encontramos teóricos, a exemplo de o professor Flavio Garcia,
que acreditam que o termo insólito seria o que melhor denominaria as narrativas
sobrenaturais.
Podemos asseverar que a narrativa fantástica encena a manifestação insólita
conferindo-lhe um grau de verossimilhança tão grande quanto possível, mas deixa a
porta entreaberta para uma explicação racional que “quase” conduza a sua reiteração na
natureza conhecida.
O mundo às avessas de Murilo Rubião
Já mencionamos que Todorov em sua Introdução a Literatura Fantástica diferencia o
fantástico do maravilhoso e estranho asseverando, grosso modo, que; no fantástico há a
subversão do real; no maravilhoso há a aceitação de outra realidade com regras próprias
e diferentes da realidade cotidiana; no estranho o evento sobrenatural é explicado, em
algum momento, de maneira racional. O búlgaro em capitulo “Narrativa fantástica”
presente em Poética da Prosa enfatiza que se o leitor decide que:
...as leis da realidade permanecem intactas e permitem explicar o fenômeno descrito, dizemos que a obra pertence ao gênero estranho. Se, ao contrário, ele decide que se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no maravilhoso. (TODOROV, 2003: 156).
O teórico afirma que no gênero fantástico há uma hesitação experimentada diante de um
evento sobrenatural, essa hesitação cercada de ambiguidade impossibilita o leitor tomar
uma posição diante de tal evento. Partindo desse pressuposto qual seria a posição que
um crítico da atualidade poderia tomar diante da obra de Murilo Rubião, onde a
construção do texto não remete a nenhum tipo de hesitação, pelo contrário, os
personagens – e com eles o leitor – não questionam aquele cotidiano que os cerca; os
fenômenos são instaurados e pronto.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
309
O grande achado de Rubião – e nisso consiste a genialidade de toda a sua obra, escrita,
reescrita ao longo dos anos – talvez esteja no equilíbrio de misturar sólito com insólito
de uma maneira incômoda, perturbadora, não obstante, crível. Poderíamos dizer que a
escrita de Murilo carrega uma verossimilhança que, apesar de o incomodo, faz com que
o leitor assine o pacto de leitura e entre na trama sem questionar a falta de explicações
racionais; o autor de “Bárbara” ao assinalar para o leitor essa realidade cotidiana, na
verdade está propondo uma nova realidade cotidiana – muito semelhante a nossa
realidade cotidiana, é verdade – a qual poderíamos chamar: o cotidiano dos contos de
Murilo Rubião? Ou o maravilhoso em Rubião?
Teleco, o coelhinho
A primeira frase de Teleco “Moço me dá um cigarro?” (RUBIÃO, 2010: 52), é
ignorada pelo narrador absorto em suas lembranças. A insistência “Moço, oh! Moço!
Moço me dá um cigarro?” (RUBIÃO, 2010: 52). Gera irritação, disposto a escorraçar o
pedinte, o narrador se desarma ao dar de cara com um coelhinho cinza. Todavia ele se
desarma, não pela surpresa de encontrar um coelho lhe pedindo um cigarro, mas pelo
jeito polido de o coelho dizer as coisas – fato que o comoveu. Em pouco tempo eles
conversavam como velhos amigos.
O texto não trabalha com um mundo às avessas, a exemplo daquele citado por
Sartre em “Aminadab, ou do fantástico considerado como linguagem” quando ele pede
um café e lhe trazem um tinteiro (SARTRE, 1958:114), muito menos com o
maravilhoso – um mundo diferente do nosso com regras próprias –, também não
estamos em território do estranho. Não, o mundo de Teleco é esse apreciado por nós,
onde o sujeito acorda, tome café, vai ao trabalho... Nesse mundo não ocorreu nenhuma
subversão do real, o fato de um coelhinho cinza falar e pedir um cigarro é acatado. O
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
310
narrador não questiona: estou sonhando? Como pode um coelhinho cinza falar? Estão
pregando uma peça em mim? Estou sob efeito de drogas? Logo não podemos acatar o
fantástico – a maneira de Todorov e Furtado – como gênero. Talvez possamos acatá-lo
como modo fantástico onde encontramos o metaempírico – um coelhinho que fala e tem
a capacidade de transmutar-se em outros bichos – a saber:
A partir desse encontro, narrador e coelho vão morar juntos. Teleco tinha o hábito
de metamorfosear-se em outros bichos como uma maneira de agradar ao próximo, era
gentil com crianças e velhos, contudo pregava peças nos vizinhos que não simpatizava –
não por maldade, mas por diversão. Também pregava peças narrador.
Decorreu-se um ano e tiveram o primeiro atrito: Teleco transmutou-se em um
canguru, arrumou uma namorada e afirmava-se homem “De hoje em diante serei apenas
homem” (RUBIÃO, 2010: 55). Isso incomodou deveras o narrador que fez de tudo para
dissuadi-lo, mas Teleco permaneceu irredutível “Teleco? Meu nome é Barbosa, Antônio
Barbosa, não é Tereza?” (RUBIÃO, 2010: 55). A partir desse dia o clima na casa
tornou-se tenso, a situação piora quando o narrador se declara à mulher de “Barbosa” e
é repelido. Uma tarde ao retornar do trabalho encontra o canguru dançando com a moça,
algo que considera indecente, tomado de ciúme, os expulsa de casa.
Uma noite Teleco volta transmutado num cachorro, ele fala coisas desconexas
sobre um grande incêndio no circo – a narrador havia ouvido falar num grande mágico
chamado Barbosa, mas pensou ser coincidência – enquanto se metamorfoseia em vários
animais diferentes consecutivamente; treme; não consegue se controlar; e assim passam-
se vários dias – Teleco já não se alimenta mais, pois as constantes mudanças de forma
não permitem – até que:
Na última noite, apenas estremecia de leve e, aos poucos, se aquietou. Cansado pela longa vigília, cerrei os olhos e adormeci. Ao acordar, percebi que uma coisa se transformara nos meus
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
311
braços. No meu colo estava uma criança encardida, sem dentes. Morta. (RUBIÃO, 2010: 59).
A casa do girassol vermelho
O conto passa-se no meio rural e narra à trajetória de seis irmãos, resgatados de
uma pobreza absoluta por dona Belisária, esposa do fazendeiro Simeão – homem rude.
Enquanto a mulher era viva, o fazendeiro não ousava tocar nos meninos, porém com a
morte de dona Belisária, Simeão separou os irmãos, as meninas Belsie – irmã de Nanico
e do narrador –, Belinha e Marialice (irmãs de Xixiu) dos meninos. Então começa os
percalços dos personagens: Xixiu é obrigado a casar-se com Belsie porque Simeão os
pega conversando, no entanto o velho não deixa que eles durmam juntos; as brigas entre
Xixiu e Simeão tornam-se constantes; Xixiu e o narrador – que não é nomeado no texto
– apanham; as meninas são vigiadas por uma negra e por isso mal conseguem falar com
os rapazes... Mas um dia Simeão morre, então vem a reviravolta – que eles comemoram
com um grande bailado, aliás tudo é celebrado com bailados coletivos – eles cospem na
face de Simeão, batem na negra, o narrador dar uma surra no capanga de Simeão.
De insólito, a maneira como estamos acostumados a concebê-lo, somente o
aparecimento de um minúsculo girassol vermelho no ventre de Belinha, contudo o texto
remete ao fantástico pela vertente concebida por Freud, Sartre e pelo próprio Todorov,
ao falar sobre Kafka em Introdução a literatura fantástica e ao citar “A queda da casa
de Usher” em Poética da Prosa. Como podemos entender de fato “A Casa do Girassol
Vermelho”? Talvez a exemplo de “A queda da casa Usher”, onde o insólito está
estabelecido nas relações entre os personagens e a casa. Todorov em seu texto “A
Narrativa Fantástica” presente em Poética da Prosa argumenta:
... é o estado extremamente doentio do irmão e da irmã que perturba o leitor. Em outras partes, serão cenas de crueldade, o gozo no assassinato, que provocam o mesmo efeito estranho.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
312
Esse sentimento parte pois dos temas evocados, os quais se ligam a tabus mais ou menos antigos. (TODOROV, 2003: 159).
O teórico explica que o escrito de Poe aponta para o estranho em duas fontes: o
número de coincidências e o que se poderia chamar de “experiências dos limites”.
Embora Todorov ainda trabalhe o estranho tal qual o concebeu em Introdução a
literatura fantástica “poderiam parecer sobrenaturais a ressurreição da irmã e a queda
da casa depois da morte de seus habitantes; mas Poe não deixou de explicar
racionalmente um e outro acontecimento” (TODOROV, 2003: 158), em Poética da
Prosa ele evoca ideias de “O estranho” de Sigmund Freud ao mencionar as
“experiências dos limites”, e são justamente essas “experiências dos limites” que
encontramos em “A Casa do Girassol Vermelho”, Freud exemplifica citando Schelling
“Estranho: algo que deveria ter permanecido oculto mas veio a luz” (FREUD, 1996:
258).
Sartre em “Aminadab, ou do fantástico considerado como uma linguagem” nos
apresenta um fantástico marcado pelo existencialismo, ao analisar que tanto o texto de
Blanchot quanto os de Kafka apontam para um homem jogado num mundo a procura de
sentido para esse mundo e seus desdobramentos “ora, tanto em Kafka como em
Blanchot, exprime-se apenas o humano” (SARTRE, 1958: 113). O fantástico é pautado
nesse homem e nas relações estabelecidas por ele (SARTRE, 1958: 112). Talvez seja
por essa vertente que devamos colocar o nosso olhar em “A Casa do Girassol
Vermelho”, enxergar o homem dessacralizado por intermédio de a sua própria violência
– o que o professor e teórico Flavio Garcia nomina “violência banalizada” e é explicada
por um simples mecanismo: o sobrenatural é algo além de o natural, não apenas
fenômeno empírico/metaempírico, mas algo que desordena o mundo, que ultrapassa o
natural, é o caso da violência – que nos causa estranhamento – presente no texto de
Rubião.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
313
Considerações Finais
Encaixar as narrativas de Murilo Rubião dentro do gênero fantástico formulado
por Todorov e refinado por Furtado parece-nos uma difícil tarefa. Rubião é um daqueles
escritores que se acomodam no modo fantástico, ou seja, no fantástico em sentido lato,
onde o sobrenatural é todo o evento que está para além do natural, por exemplo, a
aceitação da violência como algo cotidiano, sua banalização está para além do natural;
ou as relações doentias travadas entre os personagens. Logo, podemos afirmar que o
mundo alucinado de Rubião não se encaixa no fantástico em sentido strictu formulado
por Todorov e refinado por Furtado.
Referências Bibliográficas: BATALHA, Maria Cristina. “A Literatura Fantástica: Um Protocolo de Leitura”. 5° Semana de Letras Neolatinas: Saberes em Movimento. Rio de Janeiro: Cadernos Neolatinos, ano IV, nº3, 2005. FREUD, Sigmund. Uma neurose infantil e outros trabalhos. Volume XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. FURTADO, Filipe. A Construção do Fantástico na Narrativa. Lisboa: Livros Horizonte, 1980. GARCIA, Flavio. “A construção do insólito ficcional e sua leitura literária: procedimentos instrucionais da narrativa”. 1º edição. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2008. RUBIÃO, Murilo. Obra Completa. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010. SARTRE, Jean Paul. Situações 1: Críticas Literárias. Lisboa: Publicações Europa-América, 1958. TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1975. __________________. Poética da Prosa. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
314
NOITE FANTÁSTICA: LEITURAS DA OBRA NOITE NA TAVERNA, DE
ÁLVARES DE AZEVEDO
Karla Menezes Lopes Niels∗
RESUMO
Embora consagrada pela historiografia literária brasileira como narrativa pertencente ao gênero fantástico, Noite na taverna, de Manuel Antônio Álvares de Azevedo, não corresponde plenamente à concepção de “fantástico” desenvolvida pelo ensaísta Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura fantástica, subsídio fundamental para os estudos da ficção insólita. Entretanto, Cilaine Alves, em estudo recente, afirma que a obra “foi a precursora, no Brasil, da narrativa de horror, ambientada em lugares sombrios” (ALVES, 2004, p. 119). A afirmação se deve ao fato de não ser fácil rastrear exemplos desse tipo de narrativa anteriores à primeira publicação da obra, em 1855, e também à herança deixada pelos estudos críticos e historiográficos que enfatizaram, em alguns momentos, a sua vertente fantástica. “Fantástica”, “sobrenatural”, “de horror”, “sombria”, “macabra”, “mostruosa”, “dantesca”, “simbolista avant la lettre”, “gótica” são alguns dos termos empregados pela Crítica nos principais estudos publicados. Trata-se de uma multiplicidade de classificações que não a caracterizam adequadamente, e ainda demonstram a dificuldade de se definir seu gênero. Refletindo sobre tais aspectos e partindo dos textos de historiadores da literatura e críticos, como Joaquim Noberto de Sousa Silva, Afrânio Peixoto, Antonio Candido e Cilaine Alves, pretendemos considerar a pertinência de se classificar a obra como pertencente ao fantástico, seja como gênero, seja como modo narrativo. PALAVRAS CHAVES: fantástico, Noite na taverna, Álvares de Azevedo, recepção crítica
Introdução
Embora consagrada pela historiografia literária brasileira como narrativa
pertencente ao gênero fantástico, e de seu autor ter sido por muitos considerado o
principal nome do Romantismo Gótico no Brasil, a obra Noite na Taverna, de Manuel
Antônio Álvares de Azevedo, só veio a ganhar maior destaque entre os trabalhos
acadêmicos brasileiros nas últimas décadas do século XX e nos primeiros anos do
∗ Mestranda de Literatura Brasileira, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Campos Maracanã – Bolsista CAPES. Tutora à distancia, na Faculdade de Pedagogia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNIRIO, Campus Av. Pasteur. Bolsista UAB. [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
315
século XXI. Nos anos anteriores, os Estudos Literários dedicaram-se mais à sua obra
lírica do que à sua produção em prosa talvez porque, na curta vida do autor, tivesse essa
sido a sua única obra narrativa.
A julgar pelo que a tradição crítica e a historiográfica apresentam, não houve, no
Brasil do século XIX, literatura fantástica ou de horror, pelo menos não nas mesmas
proporções ocorridas na França e na Inglaterra. O projeto romântico brasileiro tinha
outros objetivos – institucionalizar a literatura nacional, afirmar a identidade brasileira
e, em consequência, inventariar o passado. Ganharam destaque nesse século aquelas
literaturas nacionalistas, que aclamavam a cor local. A crítica literária, por sua vez,
acompanhou o ideário dominante e ressaltou demasiadamente essa vertente literária,
dando destaque, no período romântico, a escritores empenhados em discutir a questão
da identidade nacional, tais como Gonçalves Dias e José de Alencar, por exemplo.
Se a literatura hegemônica da época era empenhada em exaltar “o elemento da
terra”, havia obras em que a valorização da nacionalidade não implicava abrir mão do
universal – seria possível ser, ao mesmo tempo, brasileiro e “civilizado”. A esse
respeito, Antonio Candido fala de algumas obras do período, a que “poderíamos chamar
excêntricas” por exprimirem “as diversas tendências da ficção romântica para o
fantástico, para o poético, o quotidiano, o pitoresco, [e] o humorístico”.
Complementando o argumento, Candido fornece-nos como exemplo o realismo de
Memórias de um Sargento de Milícias e o “satanismo d’A noite na Taverna”. Obras que
não se afastam e nem se opõem ao projeto literário do período, mas que “apenas
decantam alguns de seus aspectos” (CANDIDO, 1971, p. 195).
Levando-se em consideração que o Brasil do século XIX abrigava ávidos
leitores dos romances europeus, e que a França, em especial, exercia forte influência no
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
316
país é razoável esperar que, no Brasil, ocorresse uma produção de literatura fantástica,
mesmo que em menor profusão.
Álvares de Azevedo era um dos ávidos leitores de traduções europeias, tanto que
em grande parte de sua obra, lírica ou prosa, isso é evidenciado por meio das epígrafes
de seus textos. O romântico “conhecia todos os grandes autores europeus e foi por seu
intermédio que vários deles se tornaram conhecidos no Brasil” (LINS, apud: ROCHA,
1982, p. x). Tanto é assim que Antonio Candido em O Romantismo no Brasil afirma
que o jovem “possuía informação considerável para o tempo e a idade” (CANDIDO,
2004, p. 49).
Eugênio Gomes em estudo figurado no terceiro volume de A literatura no
Brasil, organizado por Afrânio Coutinho, comenta a tendência soturna e lúgubre da obra
alvarozevediana como sendo um produto da imaginação prodigiosa do autor, e que, se
sofreu alguma influência que o remetesse “às criações do elemento gótico”
(COUTINHO vol. 3, 1997,p. 142), para usar as palavras do historiador, essa serviu
somente para reforçar uma tendência sombria já existente no cerne do poeta.
Apesar da falta de provas conclusivas sobre as possíveis fontes de inspiração de
Azevedo, a quais obras teve ou não acesso, ou que autores europeus leu ou não,
podemos certamente concordar com Cilaine Alves num ponto: a obra “foi a precursora,
no Brasil, da narrativa de horror, ambientada em lugares sombrios” (ALVES, 2004, p.
119). A afirmação se deve ao fato de não ser fácil rastrear exemplos desse tipo de
narrativa anteriores à primeira publicação de Noite na taverna, em 1855, e também à
herança deixada pelos estudos críticos e historiográficos que enfatizaram, em alguns
momentos, a sua vertente fantástica.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
317
O Fantástico e a Recepção Crítica
A despeito do subtítulo que aparece nas edições de 1878 e 1902 – “Contos
Fantásticos” – e das menções feitas no texto a autores como Byron e, principalmente,
Hoffmann, a obra não fincou raízes no gênero, ao menos não no século da sua escritura,
talvez pela falta de uma tradição literária voltada para a produção deste tipo de literatura
e ao fato de a crítica da época, uma crítica voltada para o biografismo de Sainte-Beuve,
ter procurado, exaustivamente, relacionar o texto aos hábitos soturnos da Sociedade
Epicureia*. Entretanto, o subtítulo assinalou o seu aspecto incomum, assim como alusão
a Hoffmann, que também trouxe à tona a singularidade horrorífica da obra, conforme
podemos observar no primeiro conto – “Uma noite do Século” –, quando o personagem
Archibald sugere:
[...] entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carneiro no cepo gotejante, o que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos – como Hoffmann os delirava ao clarão dourado de Johannisberg” (AZEVEDO, 2000, p. 565).
A menção pelo personagem do escritor alemão parece ser responsável por
referências críticas futuras que o apontam como uma influência em Azevedo. Um
exemplo é o comentário feito por Agripino Grieco em Evolução da poesia brasileira, de
1932, ao dizer que “o rapazola que compôs, no ‘Se eu morresse amanhã’, o epitalâmio
das suas núpcias com a morte; [...] levou, na Noite na Taverna, Poe e Hoffmann à
Paulicéia [...]” (AZEVEDO, 2000, p. 47).
* A Sociedade Epicuréia foi um grupo criado em 1845 composto por universitários. Era liderado pelos seus fundadores, a saber, Aureliano Lessa, Bernardo Guimarães e o próprio Álvares de Azevedo. Segundo Couto de Magalhães, “tinha ela por fim realizar os sonhos de Byron” (MAGALHÂES, 1859, p. 264). Nas suas reuniões segundo alguns relatos duvidosos praticava-se orgias e outras depravaçõesinspiradas na literatura byroniana.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
318
“Fantástica”, “sobrenatural”, “de horror”, “sombria”, “macabra”, “mostruosa”,
“dantesca”, “simbolista avant la lettre”, “gótica” serão algumas das categorizações que
Noite na Taverna receberá da crítica precedente e subsequente a Agripino Grieco. Uma
multiplicidade de termos que demonstram a dificuldade de se caracterizar o gênero da
obra.
Entretanto, a obra de Azevedo não corresponde plenamente à concepção de
“fantástico”, ao menos não àquela postulada pelo ensaísta Tzvetan Todorov, em sua
obra, fundamental para os estudos do gênero, Introdução à literatura fantástica.
Segundo o ensaísta, o fantástico ocorre no momento de hesitação entre uma explicação
natural e uma sobrenatural, e a configuração do gênero só se daria quando a
ambiguidade causada por tal hesitação não se desfaz até o fim da narrativa. Quando o
personagem, ou o leitor, opta por uma das duas explicações, caminhamos para outros
gêneros, o estranho e o maravilhoso, respectivamente.
Roberto de Souza Causo corrobora isso, ao afirmar, em um estudo publicado em
2003, Ficção científica, fantasia e horror no Brasil - 1875 a 1950, que a obra não se
encaixaria estruturalmente nesse modelo teórico. Para o autor, a obra de Azevedo
amoldar-se-ia melhor ao entendimento de H. P. Lovecraft, para quem a atmosfera e o
medo são fatores essenciais ao fantástico. Causo argumenta que “apenas o Capítulo II,
intitulado ‘Solfieri’”, apresentaria a ambiguidade e a hesitação entre uma explicação
natural e uma sobrenatural” (CAUSO, 2003, p.104). Quando, nos termos de Todorov, a
hesitação é gerada somente “durante uma parte da leitura”, o que se tem é “o efeito
fantástico” (TODOROV, 2007, p. 48), e não a configuração completa do gênero −
justamente o que parece acontecer em Noite na Taverna, e que faz com que ela se ajuste
mais plenamente ao gênero estranho do que ao fantástico.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
319
Se a obra Noite na taverna não corresponde plenamente à concepção de
“fantástico” desenvolvida por Todorov, nos cabe perguntar: em que momentos da
história e da crítica literária brasileiras a obra foi classificada com termos que a
associam a uma forma de literatura incomum ao Brasil nacionalista da época?
No ano de 1872, Joaquim Norberto de Sousa Silva leu em uma sessão do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o ensaio “Notícia sobre Manuel Antônio
Álvares de Azevedo”, texto publicado no ano seguinte como prefácio das obras
completas. Parece ter sido o primeiro estudo a classificar a obra alvarozevediana como
inverossímil, ao afirmar que o “drama-romance é notável pela originalidade de suas
extravagantes cenas, uma sequência de narrações monstruosas [...]”, em que
“amontoam-se as inverossimilhanças”. Para o ensaísta os amores dos personagens dos
contos são “os gozos malditos de Satã e Eloá [...]”, que seduzem o leitor “com o
brilhantismo do estilo e arrebata com as palavras de fogo, adornando esses quadros de
delírios de sua imaginação com os arabescos da poesia dantesca e shakespeariana.”
(SILVA, 1873, p.160,161)
Poucos anos depois, em 1877, José Veríssimo, ao comentar a recepção literária
da obra, diz que “meninos de colégio [...] saturavam-se do horrores de Bertram e
Solfieiri”. Cabe ressaltar que no texto a que fazemos alusão o adjetivo “horror” não é
usado com o fim de classificar ou categorizar a obra, mas pejorativamente, uma vez
que, a seguir, Veríssimo afirma que a prosa de Álvares de Azevedo é a parte de sua obra
“que certamente não merece o apreço e sobretudo a estima, que lhe
deram.”(VERÍSSIMO,1977, p. 26-32). Opinião que evidentemente muda com o
amadurecimento da obra do ensaísta e historiador, posto que, na sua História da
Literatura Brasileira, tecerá elogios irrestritos à obra Noite na taverna, chamando-a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
320
“singular, extravagante”, e a “mais vigorosa, colorida e nervosa prosa que aqui [no
Brasil] se escreveu nesse tempo.” (idem, p.137)
Apesar da ênfase que o texto de Joaquim Norberto, ainda no século XIX, dá aos
aspectos inverossímeis da obra, será, sobretudo, Afrânio Peixoto, em 1931, ano do
centenário de Azevedo, que nos legará a categorização como de cunho fantástico das
narrativas de Noite na Taverna, através do estudo intitulado “A originalidade de Álvares
de Azevedo”, publicado pela Revista Nova. No texto, Peixoto postula que a obra foi
uma tentativa do “conto fantástico, da novela negra” em nossas letras, e conclui que se
trata de “ uma obra prima de puro romantismo, que pode estar e estaria bem, entre as
obras peregrinas desse gênero terrorífico, perverso e cruel” (PEIXOTO, 1932, p. 338-
345). É ainda mais claro quando na página 340 diz que
A Noite na taverna é um conto fantástico e um conto perverso, gótico: aí duas influências explicitas, citadas – de Byron, dominante na perversidade, de Hoffmann, na fantasia, que não chega ao mistério, mas vai até a fatalidade, que assombra. (IDEM, p. 340)
Arthur Motta, em artigo publicado no mesmo periódico sob o título “Álvares de
Azevedo”, parece seguir a mesma linha, classificando a obra como satânica, fantástica e
sobrenatural, e associando-a à escola gótica e às produções fantásticas anteriores à sua
publicação. Afirma o ensaísta:
[...] nos contos de A noite na taverna , externou-se numa superfetação de maneiras à Byron, cultivando o satanismo em fantasias loucas, com os desregramento dos artistas excêntricos ou desequilibrados, segundo as concepções fantásticas e extravagantes de Hofffmann e Poe, bizarro como Baudelaire e sugestivo como Goya em suas telas de admiráveis de originalidade e poder e de poder emotivo. (MOTTA, 1932, p. 397-415)
Agripino Grieco, no estudo antes por nós citado, no ano posterior, 1932, segue a
mesma linha de Arthur Motta e Afrânio Peixoto, e assim como Motta compara o
romântico brasileiro a “Poe e Hoffmann” (AZEVEDO, 2000, p.47), autores vinculados
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
321
ao romantismo gótico de língua inglesa e alemã, respectivamente. Ambos foram
considerados como precursores da literatura de ficção fantástica moderna; portanto, a
associação do autor brasileiro aos seus nomes, indiretamente, relaciona a sua produção
em prosa ao gênero do qual “Poe e Hoffmann” forma mestres.
Anos após a publicação do ensaio de Agripino Grieco, Bosi apresentou no
pequeno texto de duas páginas dedicado à Álvares de Azevedo em sua História Concisa
da Literatura Brasileira um raciocínio similar e, sinteticamente, em um único
parágrafo, resumiu a sua visão da prosa do escritor:
[...] das imagens satânicas que povoavam a fantasia do adolescente são exemplo os contos macabros de A Noite na Taverna, simbolista avant la lettre, e alguns versos febris de O Conde Lopo e do Poema do Frade. Também nessa literatura que herdou de Blake e de Byron a fusão de libido e instinto de morte, Álvares de Azevedo caminhava na esteira de um Romantismo em progresso enquanto trazia à luz da contemplação poética os domínios obscuros do inconsciente (BOSI, 1999, p. 113; grifos nossos).
Apesar de não usar precisamente os termos “fantástico” ou “horror”, assim como
outros estudos precedentes ao seu, a adjetivação utilizada não categoriza os contos de
Noite na taverna em um gênero específico, mas faz com que a obra flutue entre gêneros
que se imbricam, a saber: o fantástico, o estranho e o horror.
Alguns anos antes de Bosi publicar a sua historiografia , Antonio Candido, em
1981, publicara um ensaio que apresentava visão diferenciada sobre a prosa
alvarozavediana. O ensaio intitulava-se “Educação pela noite”. Para o estudioso a obra é
uma sequência narrativa de Macário, e pode ser lida e entendida como se as duas obras,
vinculadas, formassem “ uma grande modulação ficcional que vai do drama irregular à
novela negra”, como “um produto do romance negro, mais particularmente da
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
322
modalidade que os franceses chamam de ‘frenético’** ” (p.16-17), cuja ambientação
noturna e sombria seria o principal fator que ligaria o drama aos contos, além de
apresentarem uma possível continuidade narrativa, segundo sua hipótese.
A interpretação de Candido leva a crer que a cena de orgia observada por
Macário no último ato do drama, que acaba abruptamente, é a mesma descrita nos
contos inicial e final de Noite na Taverna. Ambientado em uma taverna, os contos
apresentam-nos cinco homens que, bebendo e fumando, declamam delírios poéticos,
conversam sobre imortalidade, crença em Deus, medo e orgias, até que um deles,
Archibald, sugere que cada um narre “uma história sanguinolenta, um daqueles contos
fantásticos – como Hoffmam os delirava ao clarão dourado de Johannisberg”
(AZEVEDO,2000, p. 565.).
A atmosfera construída por Azevedo – uma taverna, Paris, século XIX, homens
bêbados relatando histórias recheadas de promiscuidade, sexo ilícito, antropofagia,
necrofilia, sequestro, assassinatos bárbaros, ambientes lutuosos – para o autor do ensaio,
liga os contos ao drama “no que toca aos significados profundos” ali existentes, e
formula uma “pedagogia satânica visando desenvolver o lado escuro do homem, que
tanto fascinou o Romantismo e tem por correlativo manifesto a noite” (CANDIDO,
1989, p. 18).
Cilaine Alves, treze anos depois da publicação da primeira edição de “Educação
pela noite”, dirá que o texto de Candido é “uma das melhores pistas para a compreensão
de Noite na Taverna”. Em artigo publicado em 2004 no periódico Intinerários, Revista
** O romance frenético francês é herdeiro indireto da literatura gótica. Segundo Maria Cristina Batalha “O termo “frenético” é empregado pela primeira vez por Charles Nodier, em 1821, em um artigo dos Annales de la Littérature et des Arts (MILNER, 1960: 1, 269) e surge como um revigoramento do “roman noir”, devido ao grande sucesso angariado pelas traduções francesas de Maturin e de Byron, que vêm encontrar uma tendência, já manifesta, de uma literatura do terror e do sobrenatural” (BATALHA,s/d, p.2).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
323
de Literatura da UNESP, Cilaine acompanhará a visão de Candido e mostrará como a
obra é, para ela, um estudo metaliterário que apresenta uma concepção nacionalista
contrária ao indianismo da época. Aponta, como Candido, os personagens Satã e
Penseroso de Macário como encarnações de duas das tendências do nosso Romantismo,
a byronista e a indianista, e postula que “Noite na taverna pode estar contrapondo outra
concepção de literatura e de pátria” (ALVES, 2004,p. 123) que requer uma literatura
mais individual, subjetiva, porém, universal.
Considerações finais
Podemos notar que alguns padrões tendem a se repetir nos estudos críticos ao
longo dessas décadas, salvo o estudo-marco de Antonio Candido, “Educação pela
noite”, que, ao propor que Noite na Taverna poderia ser uma continuação de Macário,
foi inovador, e redirecionou os estudos sobre a prosa alvarozevediana. Entretanto, ao
classificar a obra como “romance negro”, assim como fizera Afrânio Peixoto, se
inscreve no rol de todos os outros trabalhos aqui discutidos, propondo uma classificação
um tanto incerta, no que diz respeito ao gênero da obra.
Entretanto, Jefferson Donizeti de Oliveira, em dissertação defendida
recentemente na USP, afirma que “a filiação de Noite na taverna com os romances de
horror, no entanto, foi feita unicamente por Afrânio Peixoto.” (OLIVEIRA, 2010, p.
29), afirmação com que concordamos em parte, uma vez que Peixoto é mais claro e
mais direto que os demais estudiosos aqui discutidos, ao dizer que a obra “pode estar e
estaria bem, entre as obras peregrinas desse gênero terrorífico, perverso e cruel”
(PEIXOTO, 1932, p. 345). Cabe ressaltar, porém, que tanto os críticos contemporâneos
de Afrânio Peixoto como os anteriores, de uma forma ou de outra, categorizaram a obra
como uma produção “fantástica”, “sobrenatural”, “horrível”, “sombria”, “monstruosa”,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
324
“dantesca” ou “gótica”, e assim contribuíram direta ou indiretamente para que Noite na
taverna chegasse ao século XXI com o rótulo de obra “fantástica”, “de horror” ou
“gótica”.
Tais referências, acreditamos, contribuíram para que a obra se aproximasse cada
vez mais do gênero fantástico, distanciando-se do gênero estranho. Mas não foram
suficientes para que a obra e as posteriores de inspiração fantástica ou sobrenatural
criassem, entre nós, a tradição de uma ficção sobrenatural à brasileira.
Referências bibliográficas
ALVES, Cilaine. “A fundação da literatura brasileira em Noite na taverna”. In: Intinerários. Araraquara. n. 22, 2004, pp. 115-133. AZEVEDO, Álvares de. Obra completa. Org. Alexei Bueno; textos críticos, Jaci Monteiro et alii – Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. BATALHA, Maria Cristina. “Hoffmann na frança: os caminhos da construção de um mito romântico”. Disponível em: http://www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno09-15.html. Acesso em 29/03/2011. CANDIDO, Antônio. Formação da Literatura Brasileira. São Paulo: Livraria Martins, 1971. CANDIDO, Antônio. Educação pela noite e outros ensaios. São paulo: Ed. Ática, 1989. CAUSO, Roberto de Souza. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil; 1875 a 1950. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. GOMES, Eugênio. “O individualismo Romântico”. In: A literatura no Brasil. v.3. São Paulo: Global Editora, 1997. MAGALHÃES, Couto de. “Esboço da história da Academia”. In: Revista da Academia de São Paulo, São Paulo, 1859, pp. 264-265. MOTTA, Arthur. “Álvares de Azevedo”, in: Revista Nova, p. 397-415. OLIVEIRA, Jefferson Donizete de. Um sussurro nas treva: uma revisão da recepção crítica e literária de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. USP, 2010. [dissertação de mestrado].
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
325
PEIXOTO, Afrânio. "A originalidade de Álvares de Azevedo". Revista Nova, ano I, n. 3, 1931, pp. 355-374. ROCHA, Hildon. Álvares de Azevedo: Anjo e demônio do romantismo. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1982. SOUSA E SILVA, Joaquim Norberto de. “Notícia sobre M. A. Álvares de Azevedo e suas obras”. In: Crítica Reunida 1850-1892 . Org. de José Américo Miranda et alii. Porto alegre: Nova Prova, 2005, p. 129-172. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Trad. Maria Clara Corrêa Castello. São Paulo: Perspectiva, 2007. VERÍSSIMO, José. Estudos de Literatura brasileira, 2ª série. Belo Horizonte, Itatiaia, 1977. VERÍSSIMO, José. História da Literatura brasileira: de Bento Teixeira, 1601 a Machado de Assis, 1908. 5ª ed. Brasília: ed. UNB, 1998.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
326
IL BARONE RAMPANTE, DE ITALO CALVINO, REALISMO MÁGICO,
FANTÁSTICO OU MARAVILHOSO?
Kelli Mesquita Luciano∗
RESUMO
A extensa produção de Italo Calvino (1923-1985) inclui contos, romances, ensaios, entre outros. Uma de suas obras de destaque é a trilogia I Nostri Antenati (1950-1960), em que estão reunidos os romances “Il visconte dimezzato”, “Il barone rampante” e “Il cavaliere inesistente”. Trata-se de textos pontuados de situações e personagens sobrenaturais, e ambientados em lugares imaginários. Buscamos a discussão das características que aproximam Il barone rampante a variedade do realismo mágico metafísico em contraposição aos sub-gêneros fantástico e maravilhoso.
PALAVRAS-CHAVE: Italo Calvino; Realismo mágico; literatura italiana.
Objetivos e metodologia
Na análise desse romance evidenciam-se as incertezas, o conflito entre o interior
do indivíduo e a realidade externa – o que se expressa mediante a ocorrência de
acontecimentos insólitos. O enredo se passa no século XVIII e os acontecimentos nos
são relatados pelo narrador-personagem Biágio de Rondó, irmão mais novo do
protagonista Cosme de Rondó, filho de uma família da aristocracia decadente em terras
genovesas. O protagonista discute com seu pai, o Barão Armínio de Rondó, e por causa
desse desentendimento passa a morar na copa das árvores, de onde nunca mais desce até
o resto de sua vida. A partir desse evento, Calvino aborda questões existenciais, que
traduzem a busca por uma totalidade inatingível, a fragmentação do homem
∗Aluna de mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários – UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Araraquara - Orientadora: Profa. Dra. Karin Volobuef e Co-orientadora: Profa. Dra. Claudia Fernanda de Campos Mauro.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
327
contemporâneo, a ruptura com a sociedade tradicional e a recusa dos papéis por ela
atribuídos ao indivíduo. É amplo o leque formado por esses aspectos – que inclusive
não excluem a interface com eventos da realidade sócio-histórica da Itália na primeira
metade do séc. XX.
Almejamos apontar semelhanças e diferenças entre o fantástico, o
maravilhoso e o realismo mágico, haja vista que esses sub-gêneros têm muitos
elementos próximos ou em comum. Com isso, pretende-se entender melhor a
adequação do romance Il barone rampante ao realismo mágico. Para tanto, será
realizada a análise dos elementos insólitos da narrativa, partindo-se das teorias de
estudiosos como Todorov, Coalla, Roas, Chiampi, e Spindler.
Resultados e discussões
Uma mesma obra pode apresentar características de mais de um gênero,
conforme lemos em Todorov, que em Introdução à literatura fantástica afirma que:
[...] não há qualquer necessidade de que uma obra encarne fielmente seu gênero, há apenas uma probabilidade de que isso se dê. Isto é o mesmo que dizer que nenhuma observação das obras pode a rigor confirmar ou negar uma teoria dos gêneros. (TODOROV, 1975, p. 26)
De acordo com o mesmo autor:
Num mundo que é exatamente o nosso, aqueles que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis, ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou então existe realmente, exatamente como os outros seres vivos: com a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
328
ressalva de que raramente o encontramos. (TODOROV, 1975, p. 30)
Vamos agora, comentar as características distintivas do gênero fantástico no
século XIX e na contemporaneidade, primeiramente, com base em Lo fantástico en la
obra de Adolfo Bioy Casares, de Coalla (1994, p.107) ela esclarece que o fantástico do
século IX apresenta transgressões referentes ao campo semântico, ao passo que, no
fantástico da contemporaneidade, percebe-se o esgotamento das situações escandalosas,
surpreendentes, destaca como infração, a ruptura da organização dos conteúdos, no
nível sintático. A aparição de fantasmas não é mais um fator determinante para a
classificação de um texto como fantástico.
David Roas, em Teorias de lo fantástico (2001, p.276), trata a distinção do
fantástico do século XIX em relação ao fantástico contemporâneo, optando por
denominar este último como “neofantástico”. Ele esclarece que o fantástico do século
XIX buscava provocar medo no leitor, ao passo que, isso não ocorre no “neofantástico”.
Neste são narradas situações insólitas que geram uma perplexidade, uma inquietação,
mas, na realidade, sua intenção é outra. Geralmente, são empregadas metáforas que
visam expressar acontecimentos sem explicação racional, pois escapam da linguagem
da comunicação habitual, isto é, não podem ser explicadas pelas leis naturais, além de
irem contra os conceitos científicos.
Há diversas definições de maravilhoso, dentre elas utilizaremos as de Irlemar
Chiampi, Tzvetan Todorov e David Roas. Para Chiampi:
Tradicionalmente, o maravilhoso é, na criação literária, a intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou legendários (deuses, deusas, anjos, demônios, gênios, fadas) na ação narrativa ou dramática [...] É identificado, muitas vezes, com o efeito que provocam tais intervenções no ouvinte ou leitor (admiração, surpresa, espanto, arrebatamento). (CHIAMPI, 1980, p. 49)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
329
Outra consideração da estudiosa é sobre a aceitação do sobrenatural no gênero
maravilhoso: “Nos contos maravilhosos (com ou sem fadas), não existe impossível nem
o escândalo da razão: tapetes voam, galinhas põem ovos de ouro, cavalos falam,
príncipes viram sapos e vice-versa” (CHIAMPI, 1980, p. 49).
Todorov, assim como Chiampi considera que:
No caso do maravilhoso os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor implícito. Não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. (TODOROV,1975, p. 59-60)
Roas chama a atenção para a concepção de maravilhoso:
Maravillosa en el sentido de que es la realidad cotidiana enmascara una segunda realidad que no es ni misteriosa, ni trascendete, ni teológica, sino que es profundamente humana, pero que por una serie de equivocaciones ha quedado como enmascarada atrás de una cultura en la que hay maravillas, pero también profundas aberraciones [...]. (ROAS, 2001, p. 275)*
Outro sub-gênero que precisamos abordar para nossa análise de Calvino é o
realismo mágico. Utilizaremos para tanto, O Realismo maravilhoso, de Irlemar Chiampi
e “Realismo mágico: uma tipologia”, artigo de William Spindler. A autora considera
que:
Quando em 1925, o historiador e crítico de arte Franz Roh cunhou o termo realismo mágico, já ficou patenteado o ponto de vista fenomenológico [...] Roh visava caracterizar como realista mágica a produção pictórica do pós-expressionismo alemão (afim à arte metafísca italiana da mesma época), cuja
* “Maravilhosa no sentido de que a realidade cotidiana esconde uma segunda realidade que não é nem
misteriosa, nem transcendente, nem teológica, mas que é profundamente humana, todavia por uma série de equívocos ficou escondida atrás de uma cultura, na qual existem maravilhas, mas também profundas aberrações [...]” (ROAS, 2001, p. 275, tradução nossa).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
330
proposta era atingir uma significação universal exemplar, não a partir de um processo de generalização e abstração como fizera o expressionismo de ante-guerra pelo reverso: representar as coisas concretas e palpáveis, para tornar visível o mistério que ocultam. (CHIAMPI, 1980, p. 21)
Spindler aponta que o Realismo Mágico não é uma junção de “realidade e
fantasia”, mas sim “uma maneira de revelar o mistério oculto nos objetos ordinários e
na realidade do dia-a-dia” (SPINDLER, manuscrito, p.1). Ele nos apresenta três
variações de realismo mágico: antropológico, ontológico e metafísico.
O realismo mágico antropológico está relacionado à especificidade de
referentes míticos e histórico-culturais num determinado grupo étnico ou social: “A
palavra ‘mágico’ nesse caso é tomada no sentido antropológico de um processo usado
para influenciar o curso dos acontecimentos fazendo funcionar os princípios secretos ou
ocultos controladores da natureza”, exemplo disso é Pedro Páramo, (1955) de Juan
Rulfo (SPINDLER, manuscrito, p.5-6).
Enquanto no realismo mágico ontológico: “Nessa forma “individual” do
Realismo Mágico, o sobrenatural é apresentado de um modo realista como se não
contradissesse a razão e não são oferecidas explicações para os acontecimentos irreais
no texto. Não há referência à imaginação mítica de comunidades pré-industrias”
diferindo do antropológico, além disso, o narrador não se apresenta alterado, intrigado
ou conturbado diante dessa realidade, como ocorre, por exemplo, em A Metamorfose
(1915), de Franz Kafka. (SPINDLER, manuscrito, p.7).
Embora considere difícil classificar a obra de Calvino, Spindler (p.8) aproxima
a narrativa em questão da variedade metafísica do realismo mágico, haja vista que a
história apesar de incomum não é totalmente impossível de acontecer.
Em literatura, Realismo Mágico Metafísico é encontrado em textos que induzem a um senso de irrealidade no leitor pela técnica do Verfremdung (estranhamento), por meio do qual uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
331
cena familiar é descrita como se ela fosse algo novo e desconhecido, mas sem lidar explicitamente com o sobrenatural, como por exemplo, em O processo de Franz Kafka (1925) e O castelo (1926); O deserto dos tártaros de Dino Buzzati (1940) [...]. (SPINDLER manuscrito, p.5)
Sobre o romance Il barone rampante, Spindler coloca que:
[...] O barão nas árvores (1957) conta a estranha, mas não completamente impossível história, de um garoto que sobe em árvores e se recusa a descer pelo resto de sua vida. Apesar desse incomum ponto de partida, o romance não narra qualquer acontecimento sobrenatural. (SPINDLER, manuscrito, p.8)
A decisão de Cosme de morar nas árvores e sua recusa a descer de lá, não
provoca nenhuma hesitação nos demais personagens, a história afasta-se do gênero
fantástico, e por não ser um acontecimento totalmente impossível, a narrativa distancia-
se do gênero maravilhoso, no qual não existe impossível. Por essas razões Il barone
rampante aproxima-se mais do sub-gênero realismo mágico.
Considerações finais
Calvino opta por tratar questões iluministas e da Revolução francesa a fim de
compará-las ao momento em que viveu, pois na primeira metade do século XX,
ocorreram a primeira e a Segunda guerra mundial, o que deixou um espírito de
descrença nos intelectuais do período, houve o Pós-guerra, o fascismo, liderado por
Mussolini na Itália, o nazismo, preconizado por Hitler na Alemanha, acontecimentos
que influenciaram a escrita dos escritores.
Em Il barone rampante são refletidos esses eventos, pois é abordada
essencialmente a questão do intelectual que tinha forte crença em ideais revolucionários
e, no entanto não consegue realizá-los, até porque se tratam de mudanças que exigem a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
332
transformação do pensamento coletivo, o que é representado por Cosme, este buscava
transformar a realidade da sociedade, mesmo estando sob as árvores, mas não consegue
porque está só, ou seja, falta apoio coletivo, apesar do protagonista ter integrado
diversos grupos de discussões e reflexões intelectuais, estes acabam se dissolvendo pela
falta de unidade, de força conjunta. Vale lembrar, que Calvino integrou por um tempo o
Partido Comunista, mas passou por algumas decepções, como o conhecimento de certos
campos de concentração “gulags” existentes na Rússia, que era governada por Stálin.
Desse modo, observamos a decepção dos intelectuais com a esquerda, pois mesmo
quando essa tinha acesso ao poder, tinha as mesmas atitudes dos governos déspotas de
direita.
A fuga de Cosme pelos ares através do balão de ar golfeniere, (galicismo
advindo da língua francesa), pode inferir nos avanços tecnológicos, nas formas de
locomoção, enfim no progresso que estaria por vir, tal representação nos sugere o apego
a um fio de esperança, pois desse modo o intelectual não deve deixar de lutar por seus
ideais, pois é reforçada a perseverança na melhoria das relações e formas de vida
humanas. Assim, pode-se dizer que se Cosme descesse das árvores e voltasse para a
terra, ele assumiria o fracasso, a não transformação no meio social.
Com a feitura desse romance Calvino ressalta a reflexão coerente em torno da
importância da busca pelo conhecimento aliado à ação consciente e coletiva da
sociedade, já que a função do intelectual é suscitar dúvidas que conduzem à reflexão em
torno da razão. Observamos neste romance a autodeterminação individual do
protagonista e sua aspiração a uma completude não individualista, ou seja, a realização
de melhorias que englobem a humanidade como um todo. Portanto, consideramos
pertinente a apresentação de um panorama sobre os possíveis gêneros a que se
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
333
aproximariam à obra, além de explanarmos algumas referências históricas para a análise
do romance em questão.
Referências bibliográficas
CALVINO, Italo. I nostri antenati: Il visconte dimezzato. Il barone rampante Il cavaliere inesistente. Milano: Mondadori, 1991. CHIAMPI, Irlemar. O Realismo maravilhoso. São Paulo: Pespectiva, 1980. COALLA, Francisca Suárez de. Lo fantástico en la obra de Adolfo Bioy Casares. Colección; Lecturas Críticas/18. Año del Cincuentenario de la Autonomia. Universidad Autónoma del Estado de México, 1994. ROAS, David (Org.). Teorias de lo fantástico. Madrid: Arco Libros, 2001. SPINDLER, William. Realismo mágico: uma tipologia. Tradução de Fábio Lucas Pierini. Texto digitado. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Trad. Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1975.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
334
A EXPRESSÃO DO FANTÁSTICO NOS CONTOS “LIGÉIA”, DE E DGAR ALLAN POE, E “VÉRA”, DE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM
Lígia Maria Pereira de Pádua∗
RESUMO
Mesmo nos séculos em que as luzes da ciência monopolizam todas as áreas do saber, os homens, insatisfeitos com as verdades limitadas que ela apresenta, procuram decifrar o mundo via filosofias menos ortodoxas. Essa curiosidade leva-os a se refugiarem em doutrinas esotéricas, ocultistas. No domínio literário, esse ímpeto foi expresso pela literatura cunhada de fantástica e caracteriza-se pela presença do sobrenatural, ou seja, pela intromissão brutal do mistério na vida real. A literatura de veia fantástica remonta à Idade Média, mas como afirma Joël Malrieu em Le Fantastique (1992), o seu estabelecimento enquanto gênero literário começa a ser ensejado pelos romances góticos na França e na Inglaterra no século XVIII, e sua autonomia só encontrou terreno fértil para florescer com o Romantismo. Assim, o conto fantástico ganha fôlego, primeiramente, com as obras do alemão E.T.A Hoffmann e, posteriormente, com as do norte-americano Edgar A. Poe em meados do século XIX. No final do século XIX, os autores decadentistas sentem, mais que os românticos, o ruir dos referentes morais e intelectuais; seus textos, entorpecidos pelo medo, pelo sentimento de “fin de siècle”, apelam ao mundo dos sonhos para fazer frente ao império da razão e recorrem às ciências ocultas e práticas supranaturais como meio de alcançar o nostálgico “au-delà”, o além. Dessa forma, o autor francês Villiers de l’Isle-Adam, um dos grandes inspiradores do movimento simbolista-decadentista, amplamente influenciado por Poe, pretende, através do uso dos contornos e conteúdos próprios do gênero, evocar a revelação de uma realidade superior, a qual, seguindo a mesma orientação platônica dos românticos, é representada pela busca ascética do Absoluto. Assim sendo, o objetivo do presente estudo é fazer uma leitura comparativa das obras “Ligéia” (1838), de Poe e “Véra” (1876), de Villiers no intuito de verificar a presença do fantástico como núcleo estruturador de ambas as narrativas. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Edgar Allan Poe; Villiers de l’Isle-Adam; Conto Poético.
O fantástico no século XIX
O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente
∗ Mestre em Estudos Literários, na Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, campus de Araraquara, na área de Letras.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
335
sobrenatural (TODOROV, 1992, p.31).
A literatura fantástica responde à sede metafísica proveniente da desmistificação
da ideia cartesiana do mundo como um todo inteligível. Hoje, vulgarizado pelo uso, o
termo “fantástico” é aplicável a qualquer situação, porem, no universo literário, ele
caracteriza-se pela presença do sobrenatural, ou seja, pela intromissão brutal do mistério
na vida real. Se a literatura de veia fantástica remonta à Idade Média, se estabelece
como gênero no século XVIII e adquire autonomia com a subjetividade aclamada pelo
Romantismo e pelas obras do alemão E.T.A Hoffmann; na França, o fantástico ganha
ímpeto em meados do século XIX com o Simbolismo/ Decadentismo pois, reproduz
artisticamente o sentimento de fin de siècle – sua linguagem foi usada para expressar
esteticamente os aspectos negativos da alma humana, outrora condenados pela estética
clássica. O gênero fantástico configura-se, assim, como um refúgio frente ao império da
razão e se estabelece como uma expressão de resistência à sociedade da época,
impregnada pelos valores burgueses, cujo epicentro era o capital.
Além disso, o cenário literário francês da época encontra no norte-americano
Edgar Allan Poe um grande expoente desse gênero. Introduzido na França por Charles
Baudelaire, os contos de Poe fizeram muito sucesso na França devido à influência de
suas reflexões estéticas na confecção de suas obras, apesar da “estranheza de suas
invenções”. Assim também o é o escritor francês: põe a lógica a serviço da poesia
burilando os conteúdos (desde os mais assustadores) em função do efeito que quer
produzir no seu leitor.
E é justamente nesse contexto que o autor francês Villiers de l’Isle-Adam,
grande inspirador do movimento simbolista, entra em contato com as obras do autor
norte-americano. Villiers encontra em Poe uma referencia, não só em questões místicas
e metafísicas, mas também estéticas. O seu gosto pelo macabro, herdado de Poe,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
336
encontra no gênero fantástico um meio profícuo para se propagar; também fiel ao seu
precursor, Villiers elege o conto – pela sua brevidade e seu estilo lacônico capaz de
engendrar o leitor em um mundo diferente do real – para exprimir suas criações.
O objetivo do presente estudo é, dessa forma, testemunhar o dialogo entre os
dois autores – embora inseridos em momentos históricos diferentes – no que toca,
especialmente, à expressão do fantástico. Para tanto, foram escolhidos dois contos
“Ligeia” (1838) de Poe e “Véra” (1876) de Villiers que, apesar de suas diferenças no
que concerne a sua estruturação formal e mesmo ao tratamento do gênero, são exímios
exemplos de contos fantásticos cujo discurso poético evoca o sobrenatural como meio
de transportar para o Absoluto os espíritos inadaptados à realidade burguesa.
A expressão do fantástico em “Ligeia” e em “Véra”
Tanto a trama do conto de Poe, “Ligeia”*, como a de “Véra”** de Villiers
obedecem a uma mesma dinâmica: o enclausuramento dos protagonistas depois da
morte prematura de suas respectivas amadas esposas; enviuvados, enlutados eles se
isolam em suas moradas e se fecham a qualquer contato com o mundo exterior.
Motivados pelo entorpecimento da consciência causado pela dor da perda (e também
pelo uso do ópio, no caso do protagonista de “Ligeia”), eles trazem suas amadas de
volta à vida, seja por meio da suposta transfiguração do cadáver de Lady Rowena,
segunda esposa do viúvo, no da falecida Ligéia; seja pelo delírio sonâmbulo do conde
de Athol, saudoso viúvo, que restabelece sua rotina com o fantasma de Véra “como se a
morte nunca tivesse existido”.
* O conto “Ligeia” foi publicado pela primeira vez no Americam Museum of Science, Literature and the Arts em setembro de 1838, e incluído em 1840 em Tales of the grotesque and arabesque. ** O conto “Véra” foi publicado em revistas em 1874, 1876 e 1910, e incluído no livro Contes Cruels em 1883.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
337
A epigrafe do conto “Ligeia” e a frase de abertura de “Véra” servem de mote
para a trama e prenunciam ao leitor os fenômenos extraordinários que estão prestes a
ocorrer. Em “Ligeia”, a epigrafe é supostamente atribuída a Joseph Glanvil: “ [...] o
homem não se submete aos anjos nem se rende inteiramente à morte, a não ser pela
fraqueza de sua débil vontade” (MENDES, 1981, p.64) – ideia que é reiterada pelo
poema “Conqueror Worm” (em português, verme vencedor) composto pela enferma
Ligeia em seu leito de morte; já em “Véra”, a frase que encabeça o conto – “O Amor é
mais forte que a Morte, disse Salomão: sim, seu misterioso poder é ilimitado”
(DOMINGOS, 2009, p.83) é, como se vê, atribuída a Salomão , porém, sua versão
original* diz: “O amor é forte, é como a morte”. Assim sendo, o narrador de “Véra” se
apropria da fala de Salomão transformando-a em favor da coesão da trama. Fica
evidente, dessa forma, o dialogo entre os dois contos, pois, ambos pregam que a força
da vontade e do amor é capaz, até mesmo, de superar a morte. Essa trama mirabolante
encontra, assim, no fantástico o meio propicio para ser concretizada uma vez que seu
intuito é penetrar no lado mais obscuro da mente humana, reconciliando o mundo
material e o espiritual. Os contos em questão responderão, dessa forma, aos
fundamentos básicos relativos à estruturação do gênero fantástico com o objetivo de
levar o leitor a indagar-se sobre a efetiva instauração do fenômeno sobrenatural.
Segundo Joel Malrieu (1992) em Le Fantastique, o gênero conta com dois
elementos constitutivos básicos: uma personagem e um elemento perturbador (seja um
fantasma, um morto-vivo, a presença do duplo, etc.) que se caracteriza, ou não, por
manifestações de loucura, alucinação, que possam desestabilizar profundamente o
equilíbrio da personagem e do leitor. Para facilitar a identificação entre ambos, a
personagem deve ter configurações bem realistas; verifica-se que grande parte dessas
* “Cântico dos Cânticos, VIII, 6”.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
338
personagens estabelece uma imediata empatia com o leitor, já que ela é um membro
benquisto pela sociedade (não raro são figuras ilustres e abastadas), porém, é uma figura
ensimesmada que está mais predisposta ao fenômeno sobrenatural por estar afetiva,
intelectual e socialmente isolada de seu contexto. Em “Ligeia”, essa personagem é o
próprio narrador que, apesar de anônimo, conta e escreve a sua história de amor com
Ligeia, antes e depois de sua morte. Entorpecido pelas penosas lembranças, ele se revela
ensimesmado e prefere o isolamento ao convívio social. É o que acontece quando,
devastado pela morte da amada, resolve refugiar-se em uma velha abadia em ruínas no
interior da Inglaterra:
Morreu. E eu, aniquilado, pulverizado pela tristeza (...) adquiri e restaurei, em parte, uma abadia, que não denominarei, em um dos mais incultos e menos frequentados rincões da bela Inglaterra. (MENDES, 1981, p.72, grifo nosso).
Em “Véra”, a personagem que presencia o elemento sobrenatural é o
protagonista conde de Athol, que, apesar do título nobiliárquico e das posses, prefere
exilar-se com sua amada na sua propriedade. E assim ele é apresentado ao leitor: um
jovem senhor (de trinta a trinta e cinco anos) de origem aristocrática – existe aqui
também o contraste entre o conforto financeiro e impotência perante a morte e a empatia
com o leitor é fomentada pela descrição do conde enlutado pela recente morte da
esposa:
Nos arredores do sombrio bairro Saint-Germain (...) Um homem de trinta a trinta e cinco anos, de luto, com o rosto mortalmente pálido, desceu (...). Era o conde de Athol. (DOMINGOS, 2009, p. 90, grifo nosso).
E quando o elemento perturbador entra em cena, os frágeis fios que ligavam a
personagem à realidade se rompem; na maior parte do tempo, todo esse episódio
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
339
mostra-se interno à personagem, revelando seus aspectos interiores mais doentios, o que
lhe atribui uma total duplicidade emocional e psíquica.
Em “Ligeia”, a revelação do fenômeno é sugerida gradualmente, mas sem a
presença de nenhum criado e estando a consciência do narrador abalada pela droga, a
percepção do fenômeno é confiada estritamente a ele. Porém, Lady Rowena, em uma de
suas crises, parece também testemunhá-lo, mas o narrador, incrédulo, não a leva em
consideração, uma vez que seu estado mental estava muito debilitado pela doença.
Já no conto “Véra”, o “delírio” da personagem é testemunhado pelo criado
Raymond. De início, ele fica estupefato com a atitude do conde, mas resolve não
contrariá-lo, temendo que outro choque com a realidade lhe seja fatal, como um
sonâmbulo que é acordado de seu sono, e por fim ele acaba sendo envolvido pela
situação. Raymond parece vivenciar o processo de “verossimilhização” evocado pela
teoria de ROAS (2001): tomado pelo sentimento de piedade, ele começa por
compactuar com o delírio de seu patrão, porém, ao passar pelo processo de
naturalização do fenômeno, ele o vive quase que na mesma intensidade que o
protagonista. Se a obra leva o leitor a sentir empatia pelo protagonista, pela sua
condição miserável (do ponto de vista existencial), o leitor identifica-se mais que
prontamente com Raymond, já que ambos são espectadores que acompanham de perto
as peripécias da alma atormentada do conde. Já a hesitação em relação ao fenômeno
fantástico é levada a cabo no final da narrativa, com o aparecimento da chave do túmulo
onde estava sepultada Véra, episódio que não é testemunhado pelo criado.
Para produzir esse efeito de hesitação, muitos autores lançam mão da narração
em primeira pessoa para conferir dubiedade ao relato. Como é consensual, em uma
narração desse tipo, a tonalidade do que está sendo relatado é dada pela personagem, é
ela quem manipula as informações, pois tudo é visto e sentido pela sua perspectiva.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
340
Assim, em “Ligeia” a primeira pessoa insere diretamente o leitor na narrativa; isso lhe
confere o sentimento de dominar toda narração, reforçando o processo empático com o
narrador personagem. Mas, por outro lado, ele também é engendrado na trama de
maneira a dificultar seu distanciamento crítico frente aos acontecimentos:
Mesmo na infância, eu tomara gosto por tais fantasias, e agora elas me voltavam como uma extravagância do pesar. Ai! sinto quanto de loucura, mesmo incipiente pode ser descoberta nas tapeçarias ostentosas e fantasmagóricas (...). Tornei-me um escravo acorrentado às peias do ópio, e meus trabalhos e decisões tomavam o colorido de meus sonhos.” (MENDES, 1981, p.73, grifo nosso)
Aqui, o narrador, em tom confessional, conta que sempre tivera a imaginação
fértil, e que, por conta do seu luto, do uso abusivo do ópio e do ambiente
fantasmagórico do quarto, seus trabalhos e decisões “tomavam o colorido de (seus)
sonhos”. Assim, o leitor é levado a desconfiar do poder de julgamento do narrador e, em
ultima análise, dos fatos por ele narrado. A trama é tecida de forma a provocar a
hesitação, a dúvida.
Já, em “Véra”, a narração é em terceira pessoa do singular. Segundo Grojnowski
(2000), esse tipo de foco narrativo favorece o desaparecimento do narrador para dar
mais destaque ao que está sendo narrado assim, o leitor tem a ilusão de que os
acontecimentos falam por si próprios. O narrador pode, desse modo, ser caracterizado
como onisciente, uma vez que relata as ações da personagem ao passo que sinaliza seus
impulsos interiores. Mas, apesar da narração em terceira pessoa se pretender mais
imparcial, a onisciência garante a hesitação por parte do leitor, uma vez que o narrador
onisciente reporta os fatos segundo a sua interpretação.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
341
Sendo assim, seja de primeira ou de terceira pessoa, o narrador e o leitor selam
um pacto no qual o fantástico se fundamenta: a hesitação diante do fenômeno
sobrenatural. Ora para que tal hesitação ocorra, o narrador deve ganhar credibilidade
junto ao leitor e, para tanto, ele se vale de atitudes realistas como a da documentação
espacial da trama. Assim, no que se refere ao espaço, a narração fantástica acontece em
locais aparentemente comuns, grandes cidades ou até mesmo em propriedades rurais,
porém em lugares isolados do convívio social – aí a literatura fantástica não economiza
nas referências góticas (castelos, mansões mal-assombradas, cemitérios). Como afirma
Gama-Khalil (2009), Poe, em seus contos, atribui a todos elementos ficcionais uma
função importante na geração de sentidos e, desse modo, a atmosfera fantástica dos
contos poeanos é, na maioria das vezes, desencadeada por intermédio da constituição de
espaços onde a história se desenrola; a opção pelo espaço fechado é determinada,
assim, não só em função da aclamada unidade de lugar, mas também pela necessidade
de gerar o sentido de insulamento. O insulamento espacial, dessa forma, faz eco à
personalidade hermética da personagem e às mudanças conferidas ao ambiente pela
presença do elemento perturbador. O espaço é configurado, então, pelas dimensões do
protagonista em uma perspectiva determinista, em voga no século XIX. Em sentido
amplo, o determinismo geográfico é a concepção segundo a qual o meio ambiente
define ou influencia fortemente a fisiologia e a psicologia humana. Em “Ligeia”, como
já foi dito, o narrador, devastado pela morte da amada, refugia-se em uma velha abadia
em ruínas (referência notadamente gótica) no interior da Inglaterra. A construção
espacial é muito rica e influi diretamente na percepção do fenômeno sobrenatural, ao
restaurar a velha abadia, o quarto onde o protagonista passará as noites com a sua
segunda esposa é reconstruído de modo a criar um cenário, pleno de sugestões
fantasmagóricas como uma câmara mortuária:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
342
O aposento achava-se numa alta torre da abadia acastelada [...]o leito nupcial –, encimado por um dossel semelhante a um pano mortuário. Em cada um dos ângulos do quarto se erguia um gigantesco sarcófago de granito negro tirado dos túmulos dos reis [...]. (MENDES, 1981, p.75, grifo nosso).
Se em “Ligeia” a ambientação fantasmagórica do quarto favorece a aparição do
elemento sobrenatural, em “Véra”, o elemento sobrenatural provoca uma mudança no
ambiente que pode ser visualizada pelo jogo entre claro/escuro atribuído a adjetivos que
simbolizam, respectivamente, a presença e a ausência de Véra. Como já fora antes
citado, a narração se abre com adjetivos que remetem ao sombrio (“sombrio”,
“mortalmente pálido”), porém quando o conde de Athol sente a presença de Véra, o
ambiente se ilumina:
Os objetos, no quarto, estavam agora iluminados por uma claridade até então imprecisa, a de uma lamparina, azulando as trevas, e que a noite, erguida no firmamento, fazia aparecer ali como uma estrela (DOMINGOS, 2009, p. 95, grifo nosso).
O personagem fantástico é desse modo, arrastado para um espaço singular de
onde se irradia o sentimento de estranheza que faz eco à sua solidão, à sua necessidade
de escapar da convivência social. Quanto mais ele penetra nesse espaço mais ele se
recolhe, mais ele adentra a penumbra de seu inconsciente.
A experiência vivida pelos heróis se faz sentir também na demarcação temporal.
Quanto a esse aspecto, a narrativa fantástica conta com o tempo histórico real, que
comumente costuma ser recente e historicamente datado em relação ao momento da
narração, porém, quando ocorre o fenômeno sobrenatural, há uma pausa, o arrêt du
temps, ou seja, a suspensão da linearidade temporal, conferindo uma ambientação mítica
e onírica ao que está sendo narrado. Assim, a personagem fantástica é desenraizada de
seu contexto social e espaciotemporal, pois prefere viver alienada e exilada.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
343
“Ligeia” é uma metaficção, pois o narrador conta e ao mesmo tempo escreve sua
própria história. Há, assim, a imbricação de dois tempos: o tempo da narrativa, presente
à enunciação, e o tempo da história, do passado, das reminiscências. Esse recurso
narrativo faz com que o narrador não enxergue os fatos contados com clareza já que a
distância temporal entre os acontecimentos e sua narração reveste o conto de um fog, de
uma nebulosidade eloqüente.
Em “Véra”, a superposição do irreal e do real faz com que o tempo da narrativa
esteja sempre no limiar entre o histórico real, medido pela linearidade, e o tempo
psicológico, interior à personagem, permeado por pausas, feed-back, culminando na
total paralisação do tempo. O arrêt du temps é levado a cabo no fim da narrativa,
quando o conde de Athol perde, pela segunda vez, a sua amada quando recobra a sua
consciência e se dá conta que ela está, efetivamente, morta:
[...] o balanço do pêndulo retomou gradativamente sua imobilidade. A certeza de todos os objetos desapareceu subitamente. A opala morta não brilhava mais. ( DOMINGOS, 2009, p. 102, grifo nosso).
A hesitação que anuncia o fantástico está justamente no fato de que,
assim, que o conde acorda de seu estado sonâmbulo, a chave do mausoléu onde estava
sepultada Véra cai no tapete do quarto nupcial. Se, para Todorov (1992), a referida
chave preconiza a presença do elemento maravilhoso, o presente estudo é tentado a
defender que, pelo contrário, ela ativa o fenômeno fantástico. Pois, uma vez que se é
levado a acreditar que de fato foi o espectro de Véra o responsável pelo reaparecimento
da chave, como fora sugerido pelo próprio narrador; o estado de espírito, abalado, do
conde pode induzir o leitor de que tudo não passa de outro delírio, causado pelo
impacto, quando confrontado pela segunda vez com a dura realidade.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
344
Uma vez superada todas as possíveis interpretações dos mais variados leitores,
nos seus diferentes contextos histórico-culturais (o leitor do século XIX poderia estar
mais propenso à explicação sobrenatural de ambos os contos, já o do século XX, depois
do incurso da psicanálise, poderia optar pela explicação lógica, recorrendo ao
entorpecimento da consciência pela dor), o que perdura é a hesitação. Em qualquer
época, o leitor encontra-se em uma corda bamba suspensa entre a realidade palpável e a
impalpável realidade sobrenatural, é o que, de fato, caracteriza a instauração do gênero
fantástico.
Já em “Ligeia”, essa hesitação vai sendo tecida ao longo do texto, seja pelo
recurso à narração em primeira pessoa, seja pelo constante uso de entorpecentes pelo
narrador, pela distância temporal entre os acontecimentos e sua narração, pelo ambiente
fantasmagórico, ou até mesmo pela declaração do narrador de que desde criança ele
tomara gosto pelas fantasias. Por outro lado, a epigrafe do conto, reiterada pela filosofia
de Ligeia de que “o homem não se rende inteiramente à morte, a não ser pela fraqueza
de sua débil vontade”, pode dar indícios ao leitor de que ela superou a barreira que
separa o mundo espiritual e o material para voltar ao mundo dos vivos se apropriando
do falecido corpo de Lady Rowena.
A presença da morte, desse modo, se faz mister em ambos os contos uma vez
que ela é trabalhada esteticamente pelo gênero fantástico como o elo entre o mundo
material e o espiritual. Porém, se em Poe o fantástico nasce não dos sonhos, mas de um
mórbido poder do terror exercido na consciência; em Villiers, predomina o fantástico
essencialmente simbolista, aquele marcado pelo apego ao onírico e à espiritualidade.
Conclui-se, dessa maneira, que “Ligeia” e “Véra” são contos elaborados
poeticamente através do discurso fantástico, de teor altamente transgressor. Assim, eles
se comunicam, já que em ambos a presença do amor e da morte é reivindicada como
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
345
meio de superação da realidade material para se alcançar o absoluto, levando o leitor,
por meio de um processo catártico de identificação com a personagem, a evadir-se das
concepções positivistas do mundo, taxadas como verdade absoluta.
Referencias bibliográficas
DOMINGOS, N. A tradução poética: Contes Cruels de Villiers de l´Isle –Adam, 2009, 278f, Tese (Doutorado em Estudos Literários) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2009. GAMA-KHALIL, M. “O espaço ficcional e a instauração do terror nos contos de Edgar Allan Poe”. In: Para Sempre Poe - Congresso Internacional 200 anos do nascimento de Edgar Allan Poe, 2009, Belo Horizonte - MG. Caderno de RESUMO s: Congresso Internacional para Sempre Poe. Belo Horizonte - MG : Fale - UFMG, 2009. GROJNOWSKI, D. Lire la nouvelle. Paris : Armand Collin, 2000. MALRIEU, J. Le Fantastique. Paris : Hachette, 1992. MENDES, O. “Ligeia”. In: Contos de Terror e Morte. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. ROAS, D. Introducción, compilación de textos y bibliografia. In: ALAZRAKI, J. Teorías de lo fantástico. Madrid : Arco/Libros, 2001. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1992.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
346
UMA INSÓLITA EXISTÊNCIA: “A GORDA INDIANA”, DE MIA COUTO, E
“BÁRBARA”, DE MURILO RUBIÃO SOB A ÉGIDE DO FANTÁSTI CO
Luciana Morais da Silva*
RESUMO “A gorda indiana”, de Mia Couto, e “Bárbara”, de Murilo Rubião, têm como elemento de interseção a vida de personagens, demonstrando a volúpia do amor que as consome ou que, consequentemente, as fazem engordar. Cada conto apresenta marca própria, porém convergente no que tange aos traços inesperados que os embebem. Notam-se, nas narrativas, ocorrências anormais que cercam as mulheres, tornando-as vítimas de circunstâncias insólitas. Por meio de comparatismos crítico-teóricos discutir-se-á a vinculação dos contos ao fantástico, mostrando de que forma os autores em questão estruturam suas narrativas, marcando o desconforto das personagens diante do absurdo do viver quotidiano, que imprime nelas desejos repulsivos, que corroem seus interiores ou os seres amorfos que as contemplam. Observar-se-á o acontecimento de eventos insólitos e sua irrupção na narrativa, percebendo-se a ocorrência ou não de traços do fantástico e como são desenvolvidos. Pretende-se demonstrar como os desejos insólitos impulsionam as narrativas, desenvolvendo, até mesmo, uma “espera” pelo próximo evento incomum que se irromperá. Indicando então, marcas da contemporaneidade na constituição de contos permeados por eventos insólitos. A narrativa de ambos os autores ocorre aparentemente em um mundo tido como real, assim, almeja-se mostrar como as ocorrências insólitas podem ser indício de uma inversão da realidade. PALAVRAS-CHAVE: Insólito; Narrativa; Fantástico; Personagens.
Apontamentos iniciais
Viver a vida em sonho e falso é sempre viver a vida. Abdicar é agir. Sonhar é confessar a necessidade de viver, substituindo a vida real pela vida irreal, e assim é uma compensação da inalienabilidade do querer viver. (Fernando Pessoa) O escritor diz que a vida sem o insólito é absurda e louca, que é mais fácil aceitar o onírico que os absurdos do real, pois o irreal e a fantasia parecem ser mais verdadeiros que o cotidiano. Murilo dirá que a linguagem do absurdo, ou do fantástico, foi a
* Mestranda no programa de pós-graduação em Letras – Literatura Portuguesa – pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sob orientação do Prof. Dr. Flavio García de Almeida; e no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas – Literaturas Africanas – pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sob orientação da Prof. Dra. Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
347
forma que ele escolheu para estar denunciando a realidade. (Sandra Nunes)
A narrativa contemporânea se instrumentaliza do mundo alucinado para discutir
o estar do homem no mundo. Focalizando personagens que percebem suas insólitas
vivências como possíveis apenas pela satisfação de um desejo, pretendeu-se mostrar de
que forma dois autores, um moçambicano e um brasileiro, estruturam suas narrativas.
Os objetos da presente análise são: “A gorda indiana”, de Mia Couto, e “Bárbara”, de
Murilo Rubião.
Dissolvidas as certezas fundamentais do homem, observa-se a necessidade da
demanda por novos valores que possibilitem uma reestruturação do universo
circundante. Mia Couto e Murilo Rubião, focando a nova composição do homem
contemporâneo, invocam sentidos de ontem e de hoje para construir narrativas que
discutam o lugar do homem no mundo. Nesse sentido, os autores lançam mão das
múltiplas significações presentes nos mundos que constroem e ainda nas personagens
que (des)umanizam.
“O insólito como parte do jogo”
Depreende-se enquanto insólito o que é imprevisível, o excepcional, ou seja, o
que rompe com o humano ou o natural. Segundo Flavio García, em “O ‘insólito’ na
narrativa ficcional...”, os eventos insólitos são os pouco comuns de acontecer, raros,
inusuais, os que contrariam o uso, os costumes, as regras e as tradições, enfim, os que
surpreendem às expectativas quotidianas de uma dada cultura, em um dado momento e
em dada e específica experiência da realidade (Cf. GARCÍA, 2007, p. 19). A partir
dessa noção de insólito, enfocou-se os traços inusuais, incomuns, que engendram o
deslanchar das ações intradiegéticas.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
348
Mia Couto e Murilo Rubião elaboram personagens que vivem em mundos
cercados por uma aura insólita, em ambientes permeados por elementos sobrenaturais,
já que é inusual seres humanos definirem-se por seus desejos, sendo algozes ou vítimas
de anseios inexplicáveis. Demonstra-se, assim, como os fatos insólitos tornam-se sólitos
em uma “realidade” que torna trivial algo estranho ao quotidiano das personagens. Os
eventos e elementos insólitos que se vão instaurando nas narrativas não são postos à
prova pela razão nem se dão como explicáveis pela lógica. Não são buscados pelas
personagens, senão que lhes acontecem abruptamente e sem avisar.
Em uma realidade familiar, existe a percepção de algo destoante, ou seja, algo
que foge ao ordinário, porém deve-se optar por uma explicação cabível: ou é uma
abstração da realidade, um produto da imaginação, mantendo assim as leis que regem o
mundo; ou é um acontecimento factual, representante de leis desconhecidas, mas tão
reais quanto às convicções de cunho público. De acordo com Todorov, em Introdução à
Literatura fantástica, “o acontecimento sobrenatural não provoca mais hesitação pois o
mundo descrito é inteiramente bizarro, tão anormal quanto o próprio acontecimento a
que serve de fundo” (TODOROV, 1992, p. 181).
É relevante dizer que os acontecimentos insólitos analisados na narrativa
miacoutiana “A gorda indiana”, bem como no conto rubiano “Bárbara”, apresentam-se
de maneira bastante diversa. Nos dois autores os eventos incomuns transbordam, e é por
intermédio de eventos insólitos que as personagens encontram soluções para suas vidas
também incomuns, visto que a invasão da irrealidade propicia uma resolução para a
problemática quotidiana. Sendo assim, observa-se que “o homem ‘normal’ é
precisamente o ser fantástico; o fantástico torna-se a regra, não a exceção”
(TODOROV, 1992, p. 181).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
349
Mia Couto e Murilo Rubião: narrativas insólitas
Em Mia Couto e em Murilo Rubião, as personagens femininas despertam o amor
nos homens deixando-os imersos em uma relação movida pelo objetivo de realizar seus
desejos, visto que elas os conquistaram simplesmente por existirem. O contista mineiro,
assim como o moçambicano, trabalha com o mistério e o fascínio evocado por mulheres
que, ora envolvem-se, submetendo-se, ora ignoram o ser amado, deixando os desejos
consumi-las. Em narrativas envoltas em relações confrontadoras e perturbadoras, as
personagens se interligam por amor ou interesse em relações que capturam e
amedrontam; cercadas por efêmeras emoções e/ou por um desejo inquietante.
A personagem Modari aparece na narrativa
atirada a um leito, tonelável, imobilizada, enchendo de mofo o fofo estofo. De tanto viver em sombra ela chegava de criar musgos nas entrecarnes. A vida dela se distraía. Lhe ligavam a televisão e faziam desnovelar novelas. Modari, chorava, pasmava e ria com sua voz aguçada, de afinar passarinho. Nos botões do controle remoto ela se apoderava do mundo, tudo tão fácil, bastava um toque para mudar de sonho. (COUTO, 1998, p. 9)
Modari, a protagonista de “A gorda indiana”, é uma mulher que ao final da
adolescência tornou-se “planetária”, sendo vitimada por sua própria gordura fez-se
mulher pelo desejo de um anônimo apresentado na narrativa, um amante que
inexplicavelmente a faz definhar. A jovem tem até musgos em suas carnes, pois vivendo
nas sombras, seu estado “planetário” a impossibilitava de ter cuidados com suas
“entrecarnes”, evento também insólito, já que não é comum uma mulher criar musgos
por seu corpo.
As peripécias de Bárbara, pedindo e engordando, podem ser observadas em:
Antes que tal acontecesse, lhe implorei que pedisse algo. Pediu o oceano. Não fiz nenhuma objeção e embarquei no mesmo dia, iniciando longa viagem ao litoral. Mas, frente ao mar, atemorizei-me com
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
350
o seu tamanho. Tive receio que a minha esposa viesse a engordar em proporção ao pedido, e lhe trouxe somente uma pequena garrafa contendo água do oceano. (RUBIÃO, 2005, p. 34-35)
Bárbara, a protagonista do conto rubiano, é uma personagem em constante
insatisfação, pois logo que pede já deseja algo novo, constantemente buscando uma
satisfação encontrada de modo efêmero a cada desejo realizado. Uma mulher permeada
por eventos sobrenaturais, visto que não é comum alguém engordar por ter seus pedidos
realizados. Não há hesitação em relação aos meios para a realização dos desejos,
naturais ou sobrenaturais, o homem simplesmente parte para buscar o elemento
almejado e quando o vê não discute formas de carregá-lo até a mulher.
Bella Jozef, em A máscara e o enigma, afirma “o fantástico se estabelece num
clima real violentado pela irrupção insólita da lógica” (BELLA JOZEF, 2006, p. 206).
Sendo assim, percebe-se que o elemento (sobre)natural ou (extra)natural ultrapassa os
limites da realidade, rompendo com a lógica, com o comum, constituindo, desta
maneira, uma ruptura, por meio de eventos insólitos que subvertem o esperado. Para
ela, “o fantástico, como categoria do literário, é um discurso que coloca em discussão a
lógica da realidade compreendida como real, acusando as contradições do mundo
contemporâneo” (BELLA JOZEF, 2006, p. 215).
Eventos insólitos, portanto, sobrenaturais compõem as narrativas aproximando-
as do discurso do modo Fantástico moderno, trazendo à cena uma invasão de irrealidade
que corrompe a apresentação gradual da realidade. O mundo problemático narrativo
consegue sanar as dificuldades quotidianas por meio de eventos insólitos. Em Murilo
Rubião, a insatisfação da mulher é um elemento estranhado até mesmo pelo narrador,
porém o homem lança mão de atitudes incomuns para realizar os desejos ainda mais
extraordinários de Bárbara. Na narrativa miacoutiana a jovem apresentada como um ser
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
351
sobrenatural, com seus problemas quotidianos, tem como fonte de liberdade, do mundo
que a sufoca, entregar-se a um insólito amor.
Comparatismos e distanciamentos
É curioso notar que nas narrativas apenas as personagens femininas apresentam
nomes, os homens que as “servem” são apenas o amante / viajeiro e o companheiro e
nada mais, visto que são personagens que dão prazer às mulheres. Na narrativa
miacoutiana esse prazer é alcançado pelo sexo e na rubiana pela realização dos desejos,
entretanto, nos dois autores isso se dá de maneira insólita, com a naturalização dos
elementos incomuns. Em ambos os contos, os pedidos das mulheres culminam em
eventos insólitos, isto é, as exigências desencadeiam ocorrências sobrenaturais
impactantes, uma vez que não há explicações nem estranhamento diante do inesperado.
Em “Bárbara” o auge do insólito é o homem temer buscar a lua, mas contentar-
se em encontrar uma simples estrela, como em:
Não lhe vira antes tão grave o rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o derradeiro pedido. Esperei que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas, ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado. Não pediu a lua, porém uma minúscula estrela, quase invisível a seu lado. (RUBIÃO, 2005, p. 39)
O sobrenatural tem o seu ápice com o pedido de Bárbara e a expectativa revelada pelo
marido em relação à realização do desejo do ser amado, pois inexplicavelmente o
mundo subvertido da narrativa abre espaço para mais um ato incomum. Entretanto, o
estranhamento, a angústia do esposo é dissipada diante de um pedido incomum, porém
menor que o esperado inicialmente. A solicitação sobrenatural da mulher não exigiu a
lua para si, apenas uma singela estrela, tão mais fácil de ser buscada.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
352
Em “A gorda indiana” o insólito instaura-se desde a apresentação de Modari,
uma mulher que “Não morreu, não envelheceu. Simplesmente engordou ainda mais.”
(COUTO, 1998, p. 9), sendo sobrenatural seu estado estranhamente “planetário”, visto
que não é esperado ninguém se “imensar” ao fim da adolescência. Essa gordura já é
incomum, porém começar subitamente a perder carnes apenas por ter contato com um
homem é ainda mais extraordinário. Entretanto, a mulher seduzida por um homem, seu
amante, se extingue em seus braços, indicando que a narrativa, assim como a rubiana
apresenta uma culminância dos elementos sobrenaturais, uma vez que a indiana
desaparece em meio a um beijo.
Nos contos as ocorrências insólitas são desencadeadoras do desenrolar das
histórias com os desejos de mulheres como ponto central de confluência entre o autor
brasileiro e o moçambicano. No entanto, os autores diferem no que tange às
consequências dos pedidos, pois em “Bárbara” a mulher engorda, mas mantém-se
irremediavelmente viva e pronta para o próximo pedido, já em “A gorda indiana” a
mulher se extingue em seu derradeiro momento de amor, visto que deseja continuar
sendo amada, acarinhada, ainda que com o risco de sumir.
Apontamentos finais
Em Murilo Rubião, a insatisfação da mulher é um elemento estranhado até
mesmo pelo narrador, porém o homem lança mão de atitudes incomuns para realizar os
desejos ainda mais extraordinários de Bárbara. Na narrativa miacoutiana a jovem
apresentada como um ser sobrenatural, com seus problemas quotidianos, tem como
fonte de liberdade do mundo que a sufoca entregar-se a um insólito amor.
Nos dois autores os eventos incomuns transbordam, porém, por intermédio de
eventos insólitos, as personagens encontram soluções para suas vidas também
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
353
incomuns, visto que a invasão da irrealidade propicia uma resolução para a
problemática quotidiana.
Os mundos construídos por Mia Couto e por Murilo Rubião apresentam
personagens angustiadas diante de seus quotidianos, declarando um desejo de mudança
que ocorre por meio de transbordamentos insólitos que transformam as vidas das
personagens. Tais transformações são passíveis de acontecerem nesse mundo, uma vez
que os eventos inesperados não são discutidos, mas tornados naturais por seres
ficcionais que aceitam situações irreais como comuns.
Em suma, os acontecimentos incomuns são apenas parte do quotidiano das
personagens, as quais vivenciam os eventos, naturalizando-os. Percebe-se assim, em
suas narrativas a constante presença de eventos insólitos essenciais, móveis do
desenrolar que ocupam um espaço destacado na estruturação do discurso.
Referências Bibliográficas
BELLA JOZEF. A Máscara e o Enigma – A modernidade: da representação à transgressão. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 2006. COUTO, Mia. “A Gorda Indiana”. In: _____. Contos do nascer da terra. Lisboa: Editorial Caminho, 1998, p. 9-10. GARCÍA, Flavio. “O ‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos gêneros literários”. In: GARCÍA, Flavio (org.). A banalização do insólito: questões de gênero literário – mecanismos de construção narrativa. Rio de Janeiro: Dialogarts, V.1, 2007. p. 11-22. Disponível em: www.dialogarts.uerj.br. Consultado em: 10/06/2008. NUNES, Sandra. Biografia – Vida. Online: disponível na internet via http://www.murilorubiao.com.br. Arquivo consultado em 06 de junho de 2010. RUBIÃO, Murilo. “Bárbara”. In: _____. Contos Reunidos. 2 ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 33-39. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
354
DA TRANSILVÂNIA PARA OS TRÓPICOS:
DRÁCULA NOS QUADRINHOS BRASILEIROS
Lúcio De Franciscis dos Reis Piedade∗
RESUMO
O trabalho estuda as relações entre o Drácula literário, os filmes de horror e as adaptações da criação de Bram Stoker para os quadrinhos brasileiros. Desde que Drácula foi publicado (1897), tanto na literatura quanto no cinema são inúmeras as produções relacionadas ao tema, que sofreu significativas alterações conforme diferentes abordagens e contextos. Essa diversificação aparece nos quadrinhos, onde o personagem é freqüentemente adaptado e representado por roteiristas e desenhistas, inspirados pela fonte original e pelas versões dos filmes. Foi em terras brasileiras que o vampiro alçou seus mais altos vôos na segunda metade dos anos 1960, se afastando do universo de Stoker. Ganhou na paulista Editora Taíka singular encarnação através dos desenhos de Nico Rosso, que deu forma aos textos de Francisco de Assis, Helena Fonseca e Maria Godói, responsáveis por conferirem ao vampiro personalidade única. Os roteiros do trio, se geralmente estavam repletos dos clichês do gênero e explicitavam influência dos filmes de ambientação gótica da época – notadamente da Hammer Films -, eram marcados por uma vitalidade e originalidade que superavam essas inspirações. Eles se apropriavam de personagens e enredos que viam nas telas, que reciclavam de acordo com as tramas que desenvolviam e o contexto cultural do período.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Fantástica; Horror; Histórias em Quadrinhos; Drácula.
Desde que Drácula foi publicado em 1897, a criação do irlandês Bram Stoker
ganhou projeção nos meios de comunicação e na indústria de entretenimento. Tanto na
literatura quanto no cinema são inúmeras as produções relacionadas ao tema, que sofreu
significativas alterações de acordo com diferentes abordagens e contextos culturais.
Essa diversificação aparece com destaque nas histórias em quadrinhos, meio em que o
personagem foi com freqüência adaptado e representado por roteiristas e desenhistas
∗ Doutor e mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – na área de Cinema, atualmente vinculado ao Mestrado em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi (UAM/SP) como Pós-Doutorando.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
355
mundo afora, algumas vezes em títulos periódicos, outras em edições especiais. Artistas
que se serviram não só da fonte literária, mas também das encarnações do vampiro no
cinema.
Se o príncipe das trevas e sua prole são presença constante nos quadrinhos desde
a década de 1930 – Batman já enfrentava um deles, denominado Mad Monk, nos idos de
1939 nas páginas da Detective Comics -, pouco em comum podemos encontrar da
caracterização do personagem de Stoker. Conforme sugerem Browning e Picard (2011:
239), o cinema foi diretamente responsável pelo Drácula dos quadrinhos. Segundo os
autores citados (2011: 240) essa preferência pela representação cinematográfica
sobrepujando a literária iria definir os parâmetros subseqüentes para o vampiro dos
comics.
O final dos anos 1960 e início da década seguinte foram promissores para
Drácula e os vampiros nos quadrinhos, graças à distensão do código de ética que
vigorou desde 1954 e baniu do meio o terror com seus monstros. A revisão do código
em 1971 permitiu um aumento da violência e a volta de seres sobrenaturais. O rei dos
vampiros ganhou espaço de honra na Marvel em A Tumba de Drácula (The Tomb of
Dracula, 1972). Ainda que não fosse o primeiro vampiro da denominada “casa das
idéias”, esse privilégio cabendo ao vilão Morbius, das páginas de Homem Aranha
(Amazing Spider Man 101, 1971), Drácula foi o primeiro a ganhar título próprio. A
Tumba de Drácula, que teve 70 edições até 1979, remete aos personagens criados por
Stoker através de descendentes que enfrentam o vampiro na Londres setentista. Uma
estratégia para atualizar os clichês do gênero para a nova geração, em sintonia com a
tendência do cinema de horror do período. É relevante que naquele mesmo ano a
Hammer – companhia cinematográfica britânica famosa por revitalizar os monstros
clássicos - lançava Drácula no Mundo da Mini-Saia (Dracula A. D. 1972), em que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
356
também um descendente do caçador de vampiros Van Helsing (Peter Cushing) luta
contra o arqui-inimigo de seu antecessor na Londres contemporânea do sexo, drogas e
rock’n’roll. Bastante influenciadas pelos filmes do lendário estúdio, as histórias
desenhadas por Gene Colan e roteirizadas principalmente por Marv Wolfman têm como
ponto de partida um herdeiro do conde, Frank Drake, que vai à Transilvânia tomar posse
do castelo da famíla, desencadeando o despertar de Drácula. Frank Drake acaba se
juntando a Rachel Van Helsing (neta de Abraham Van Helsing) e Quincy Harker (filho
de Jonathan e Mina Harker, citado no último parágrafo do romance) num time de
caçadores de vampiros que enfrenta as artimanhas do monstro a cada edição. Pouco
depois se juntaria ao time o vampiro renegado Blade (1973), que conforme sugestão de
Browning e Picard (2011: 240) pode derivar de inspiração do roteirista Wolfman nos
filmes blaxploitation do período, sendo a criação um cruzamento dos personagens-título
dos filmes Shaft (1971) e Blácula, o Vampiro Negro (Blacula/1972). Curiosamente a
caracterização de Drácula não ganhou as feições do ator Christopher Lee que encarnou
o vampiro em sete produções da Hammer entre 1959 e 1973, sendo agraciado por Gene
Colan com os traços de Jack Palance, que o interpretaria pouco depois em uma
produção para a televisão.
Contando 70 edições até 1979, A Tumba de Drácula foi um marco, tanto na
construção narrativa quanto na continuidade, com o desenvolvimento de tramas e sub-
tramas de profundidade psicológica e maturidade temática, que redefiniram o
personagem, criando um novo universo repleto de referências que funcionam como uma
extensão – e até mesmo um universo expandido - do romance de Stoker. Vale lembrar
também a interação desta versão do vampiro com outros monstros da Marvel, como o
Lobisomem e a criatura de Frankenstein; além de confrontos épicos com os carros-chefe
da editora: os super-heróis. Sendo assim, Drácula enfrenta desde o Homem Aranha, o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
357
Surfista Prateado e os X-Men, até o ocultista Dr. Estranho, que será o responsável pela
extinção dos vampiros com uma antiga magia: a Fórmula Montesi.
É curioso constatarmos que esse Drácula tão marcante, fielmente calcado na
tradição popular, como sugere Melton (1995: 221), “mau, mas com alguns traços de
sentimento humano”, nunca teve muita repercussão no Brasil. Publicado três vezes
durante os anos 1970 como título regular pelas editoras Saber (O Túmulo de Drácula),
Bloch (A Tumba de Drácula, com o selo Capitão Mistério) e RGE (Terror de Drácula),
sempre foi descontinuado após algumas edições. Principalmente numa época em que os
quadrinhos de terror ainda eram populares.
É importante ressaltar, e que talvez explique em parte o fracasso da iniciativa de
publicar o Drácula da Marvel no Brasil, é que quando este aportou por aqui já existia
um mercado direcionado ao gênero, formado nas décadas precedentes – a partir de 1951
com Terror Negro - e que começava a dar sinais de desgaste. Dentro desse filão ditorial
que era o horror, o conde vampiro passou a figura de destaque em 1966, oito anos antes
da Marvel lançar A Tumba de Drácula. Com título próprio publicado pela Outubro (que
em 1967 se tornaria Taika) e um considerável, ainda que irregular, repertório de
histórias, foi em terras brasileiras que o príncipe das trevas alçou seus mais altos vôos
em singulares narrativas, devendo-se a isso muita ousadia e certa falta de critério na
elaboração das tramas pelo trio Helena Fonseca, Francisco de Assis e Maria Aparecida
de Godói. Autores que conferiram ao vampiro uma personalidade única, forte e
diferente das demais caracterizações. Ao contrário do que Marv Wolfman faria na
Marvel, se afastaram do universo de Stoker e dos paradigmas vampirescos,
reinventando o personagem que, caminhando de forma autônoma, pode ser utilizado nas
mais inusitadas situações.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
358
E quem era esse Drácula tão singular? As histórias publicadas pela Taika o
caracterizavam como sacana e divertido, ao mesmo tempo em que era a própria
encarnação da maldade. Sua violência, vaidade e egocentrismo se desenvolviam nas
aventuras, em planos mirabolantes (nada infalíveis) para tornar-se cada vez mais
poderoso e assim infligir maiores tormentos aos seres humanos. Não tinha nenhum
sentimento de culpa ou amargura por sua condição de vampiro, coisa tão habitual nas
atuais produções literárias e cinematográficas sobre o tema, em que sanguessugas
relutantes choramingam pelos cantos ou viram purpurina. Sua presença causava medo
nas vítimas e ele não tinha nenhum charme sedutor, muito pelo contrário. Seu aspecto
era velho e mofado. Também raramente transformava alguém em vampiro. Egoísta, não
desejava concorrentes. Queria ser único. Só o fazia caso fosse necessário para atingir
algum objetivo, e mesmo assim de modo que esse novo vampiro não pudesse prejudicá-
lo. Era comum, portanto, após beber o sangue de suas vítimas, cravar ele mesmo uma
estaca nos cadáveres. Os roteiros geralmente tinham um tom irônico, mas mantinham
sua atmosfera de maldade presente. A continuidade bem estruturada era fiel às
características principais desse Drácula, mesmo que freqüentemente algumas liberdades
fossem tomadas para efeito narrativo. Criava-se assim uma identificação com o leitor,
mantendo o interesse. Essas características se mantinham, fossem nas histórias
ambientadas em séculos anteriores como nas passadas em tempos atuais. Onde
transitavam personagens recorrentes: o detetive Fred Carson (o arqui-inimigo do
conde), sua namorada Mary e o inspetor de polícia Barney. Mary é filha do Dr. Harold,
um cientista que revive Drácula a partir de suas cinzas e é morto por ele na história
Drácula volta a atacar. Fred, noivo da garota, jura perseguir o vampiro até conseguir
eliminá-lo. Já o inspetor tem a marca do vampiro. Quando morrer deverá ter o coração
atravessado por uma estaca para não se transformar, daí sua sede de vingança contra
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
359
Drácula. Outro ponto importante, não muito presente nos quadrinhos de terror feitos por
aqui na época, foi a utilização de uma linha narrativa seriada, com algumas histórias que
continuavam na edição seguinte.
Os roteiros, se geralmente estavam repletos dos habituais lugares-comuns do
gênero e explicitavam a cultura dos anos 1960-70, também evidenciavam marcante
influência dos filmes de horror do período. Certamente cinéfilos, os roteiristas se
apropriavam de personagens e cenários que viam nas telas e os reciclavam de acordo
com as tramas que desenvolviam. O que justifica a utilização, além das tradicionais
aldeias e castelos em ruínas tão recorrentes nas narrativas góticas, dos habituais parques
de diversões (O Parque dos Horrores), circos (Morte no Circo, O Estranho Mágico) e
asilos (O Castelo do Medo). Referências mais explícitas ao cinema encontramos, por
exemplo, em Museu do Horror, A Dança dos Vampiros e Fecundação Satânica. O
primeiro título remete à produção Museu de Cera (House of Wax, 1953), de Andre de
Toth, com Drácula se fazendo passar por atração em museu de cera para surpreender os
incautos. Já A Dança dos Vampiros é mais interessante: não apenas cita o filme de
mesmo nome dirigido por Roman Polanski em 1967, como os assassinatos da mulher do
diretor, Sharon Tate e amigos pelo bando de Charles Manson. Nesta, Drácula após
assistir o filme no cinema e impressionado com a beleza da atriz principal, vai até
Hollywood onde invade a casa do diretor e durante um baile de máscaras acaba
massacrando os convidados. Fecundação Satânica, primeira parte de O Príncipe tem
como base a obra de Mario Bava A Máscara do Demônio (La Maschera Del Demonio,
1960). A argumentista Maria Aparecida de Godoy nem se incomoda em trocar os
nomes dos personagens Asa e Javuto (que já tinha utilizado na história Sexta-Feira
Negra para a mesma editora), assim como no filme executados por feitiçaria no início
da narrativa passada em tempos medievais.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
360
O Príncipe foi incluído na revista Drácula lançada pela Spell Produções em
junho de 1976, edição luxuosa que pode ser considerada à frente de seu tempo pelo
acabamento, se assemelhando às graphic novels futuras. É dividido em três partes: a
citada Fecundação Satânica, O Herdeiro das Trevas e O Homem de Carlsbad.
Consideramos representativo por se inserir em outra vertente que encontramos dentro
das narrativas gráficas sobre Drácula no Brasil: as que recontam a origem do vampiro,
na maior parte das vezes ligada à magia negra. Em O Príncipe, ele é gerado numa
cerimônia satânica, quando a Condessa Asa Van Essen é sacrificada. Seu filho Draco,
tempos depois, volta da batalha contra os mouros e fica sabendo do destino trágico da
mãe e da vingança do pai contra os bruxos. Satã reanima o cadáver do sumo-sacerdote
Javuto, que vai ao castelo e mata o Conde. Draco encontra o corpo do pai e, incentivado
pela criada com quem tivera alguns momentos de amor, vai em busca do fruto da
imortalidade, gerado pela seiva da “árvore maldita”. Satã aparece e diz que a seiva da
árvore e seus frutos são oriundos do sangue do ventre de sua mãe. Ele agora é o herdeiro
das trevas, sendo a primeira vítima a criada que o motivou. A história termina com ele
se apresentando como o Conde Drácula.
Em Drácula Volta a Atacar, ele é retratado como um aristocrata estudioso que
faz um pacto com o Diabo para viver eternamente. Torna-se vampiro morrendo séculos
depois nas mãos do caça-vampiros Van Helsing em cena inspirada na emblemática
seqüência final da produção da Hammer O Vampiro da Noite (Dracula, 1958), com o
monstro sendo obrigado por seu perseguidor a ficar sob a luz do sol graças a dois
castiçais cruzados. O pacto diabólico é também a essência de Drácula: o conde da
Transilvânia torna-se o Vampiro da Noite, elaborada e ambiciosa história em
quadrinhos escrita por Francisco de Assis. Em suas noventa páginas, é narrada a saga do
personagem, desde o nascimento na Moldávia, filho do Conde Szekelys (referência à
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
361
palavra szeklers encontrada no livro de Stoker), passando por sua juventude como
estudioso das artes místicas, o encontro com Satã e a visita ao inferno, até sua
transformação.
Mas não eram os épicos elaborados e inspirações cinematográficas os elementos
dominantes das aventuras deste Drácula desenvolvido no Brasil. Na verdade,
encontramos nos episódios em que o vampiro se envolve em situações cotidianas os
fatores determinantes para a composição de sua personalidade tão singular, que iria
diferenciá-lo de outras personificações. E que colocaria pelo avesso os cânones do
vampirismo. Esse vampiro de fértil imaginação e malandragem à flor da pele está
presente em autênticos exercícios de nonsense como por exemplo: A Revolta dos
Mortos Vivos, em que Drácula decide reformar o seu castelo quase em ruínas usando
mortos vivos como operários. É claro que as coisas não correm como ele esperava,
enfrentando por fim uma rebelião de seus escravos por causa das condições de trabalho.
Em Hóspede Estranho, ele se hospeda em um hotel, onde recebe prostitutas com as
quais sacia sua sede de sangue. Como remoçar cem anos mostra o vampiro às voltas
com sua vaidade, ao notar no espelho (contrariando as regras de que vampiros não têm
reflexos) as rugas que marcam sua face. Acaba seqüestrando uma cirurgiã plástica para
dar um jeito na aparência. Já um carrão com chofer é o artifício usado por Drácula para
atrair jovens bonitas em Como conquistar garotas. Notamos que esse tipo de narrativa
predomina na produção dos quadrinhos nacionais sobre o vampiro, sendo que
freqüentemente encontramos convidados ilustres, como Frankenstein e sua criatura
(Drácula versus Frankenstein), a condessa Erzsebet Bathory – que no século XVI se
banhava no sangue de suas vítimas - em Banho de Sangue, e Joana D’Arc na única
história colorida, A Virgem de Orleans. Também merecem destaque os cenários das
aventuras, que não seguiam uma continuidade temporal, ora se desdobrando em
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
362
recantos europeus de inspiração medieval com suas aldeias e castelos, outras vezes em
ambientes urbanos contemporâneos. Viajado, nosso Drácula protagonizou histórias
passadas em lugares díspares como o Peru (O Segredo de Machu Pichu), o Marrocos (O
Pergaminho da Vida), a Índia (O Templo de Katmandu) e até – num arroubo do escritor
Francisco de Assis – no Egito dos tempos dos faraós (A Vingança de Drácula).
Ainda que outros desenhistas, como Juarez Odilon e Eugenio Colonnese – que
ilustrou a única adaptação fiel ao romance original para os quadrinhos -, tenham dado
forma às feições do vampiro nas publicações da Editora Taika, foi o traço do prolífico
artista italiano Nico Rosso (1953-1981) que mais se adequou à personalidade criada
pelos roteiristas. Assim como Gene Colan em A Tumba de Drácula, se distanciou da
descrição de Bram Stoker, do homem alto e idoso, de bigode branco comprido e farta
cabeleira. O vampiro de Rosso tinha rosto longilíneo, grossas sobrancelhas arqueadas
conferindo-lhe sempre um semblante maldoso, nariz adunco, cabelo em v e presas
pontudas sempre proeminentes. Vestia antiquado terno preto e a famosa capa,
imortalizada nos filmes por Bela Lugosi e Christopher Lee.
A arte de Rosso – finalizada por seu constante colaborador Kazuhiko Yoshikawa
– traduziu a ambientação gótica dos filmes da Hammer e American International para os
quadrinhos, na recriação de cemitérios, florestas densas, castelos e ambientes noturnos e
sombrios, engrandecidos pelo contraste entre branco e preto pintado a nanquim com
maestria. Suas cenas de cerimônias satânicas e infernos, com nudez, criaturas
deformadas, monstruosidades e demônios híbridos – ousadas para uma época de
censura - remetem às mais delirantes composições de pintores como Bosch e Brueghel.
Também são memoráveis as figuras femininas. Fossem inocentes vítimas ou ardilosas e
malvadas mulheres fatais, todas eram voluptuosas e sensuais. Desfilavam pelas páginas
das revistas seus corpos curvilíneos nunca totalmente despidos, como determinavam as
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
363
autoridades. O que era compensado pelos trajes sumários e na exibição dos seios,
sempre pequenos e bem delineados.
O legado das editoras que publicaram terror em quadrinhos no Brasil, como
podemos ver, é vasto, variado e bem característico. Obras que permanecem pouco
conhecidas das novas gerações e afastada dos estudos acadêmicos, seus exemplares se
perdendo com a passagem do tempo com poucas chances de reedição. Este breve estudo
é apenas um vislumbre da relevância e da riqueza que o resgate e análise dessa
produção podem trazer, preenchendo uma lacuna na história dos quadrinhos brasileiros.
Referências bibliográficas: BROWNING, John Edgar & PICART, Caroline Joan. Dracula in visual media: Film, television and electronic game appearances, 1921-2010. North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2011. MELTON, J. Gordon. O Livro dos Vampiros. São Paulo: Makron Books, 1995. MOYA, Álvaro de & OLIVEIRA, Reynaldo de. História (dos Quadrinhos) no Brasil, in: Shazam! – Série Debates. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977. PIPER, Rudolf. Terror à brasileira, in: O Grande Livro do Terror. São Paulo: Editora Argos, 1978. STOKER, Bram. Drácula. Rio de janeiro: Ediouro, 2001.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
364
IDENTIDADE LÍQUIDA EM O OUTRO PÉ DA SEREIA, DE MIA COUTO
Luís Francisco Martorano Martini*
RESUMO Como em outras obras de Mia Couto, O outro pé da sereia (2006) estrutura-se a partir de dualidades: sonho/realidade, vida/morte, etc., subordinando, assim, os temas a uma visão exótica (fora da visão/fora do oficial). Esse exotismo estabelece outra relação com a realidade, colocando em questão os discursos hegemônicos, principalmente os nativistas e essencialistas que moldaram a ideologia sobre a África e a africanidade. O tratamento deste exotismo requer outra abordagem ficcional, por isso o florescimento do insólito: a “ruptura” com a realidade (o discurso oficial) visível e performática e a aproximação de outro nível, fora do crivo oficial. Por ser parte do discurso oficial, a identidade, individual e coletiva, sofre a imposição de valores e normas etnocêntricas. No entanto, ao contrário do que tem sido apregoado pelos discursos oficiais, a identidade não é uma essencialidade a qual o sujeito está irreversivelmente ligado. Antes, constitui-se como um conjunto de características moventes, fluídas e disformes, oriundas de diferentes níveis da “realidade”. Por isso, a presença do insólito, na estrutura da obra, vem demonstrar a forma como a identidade dos países e sujeitos pós-coloniais deve ser compreendida. PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Exotismo; Insólito; Pós-colonialismo; O Outro Pé da Sereia.
As literaturas pós-coloniais, em especial aquelas produzidas por países
recentemente descolonizados, são uma extensa fonte documental a respeito da estrutura,
das condições e das transformações da identidade, o que nos obriga ao uso plural do
termo. Isso se deve ao fato de trazerem, desde o seu interior, a resistência aos valores e à
“verdade” eurocêntricos impostos pela metafísica ocidental.
Por esse motivo, devemos compreender a identidade não como uma
essencialidade, ou seja, não estando baseada em elementos dados a priori e fixados ao
grupo ou ao indivíduo, imutavelmente, por toda sua vida. Ao contrário, deve ser vista
* Mestre em Estudos Comparados das Literaturas de Língua Portuguesa, Universidade de Marília (Unimar).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
365
como fluída e disforme, sofrendo as influências e interferências da história em sua
composição. Assim, temos que a “identidade” – as aspas são propositais – estabelece
uma relação de resistência diante das imposições da realidade colonial, por não
pretender um centro comum e organizador.
Dessa forma, somos levados a classificá-las como “líquida”, para usar uma
expressão cara a Zygmunt Bauman (1925), uma vez que as noções de verdade e unidade
foram, se não totalmente destruídas, pelo menos desconstruídas e ressignificadas ao
longo de todo o processo histórico.
Com base nesse quadro, podemos nos aproximar da obra que pretendemos
analisar, o romance moçambicano O outro pé da sereia (2006), de Mia Couto. Nele, o
autor busca, por meio das trocas e negociações culturais, questionar o logos ocidental e
sua pretensão de centralidade ao “subverter a exatidão do realismo” em uma
“demonstração de resistência” (BONNICI, 2005, p.52). Por isso, a presença do
Realismo Mágico como elemento motivador para uma releitura e/ou para o
questionamento do discurso hegemônico.
Iniciemos nossa análise apresentando as duas epígrafes que encabeçam a
narrativa. Tais epígrafes apontam para uma atividade crítica, ao procurarem desconstruir
a lógica dos binários coloniais e apresentarem, a partir do hibridismo, outra
compreensão da realidade existente nas colônias. A primeira epígrafe, do poeta
senegalês Birago Ishmael Diop, propõe por meio da hibridação de termos antagônicos,
revelar outra ordem de significados, e assim preparar o leitor para tratar a ideologia
oficial como uma invenção do poder colonizador.
Os que morreram não se retiraram. Eles viajam na água que vai fluindo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
366
Eles são a água que dorme.
Os mortos não morreram. Eles escutam os vivos e as coisas Eles escutam as vozes da água (OPS, 2006, p.6)
Como notamos, a fronteira entre os binários, vida e morte, é fluída e
interpenetrante. Tais características se disseminarão ao longo da obra, principalmente no
que se refere às identidades tanto do colonizado quanto do colonizador. O que essa
epígrafe sugere é uma “leitura a contrapelo”, uma revisão dos significantes históricos
tais quais foram modelados pela metafísica ocidental.
A segunda epígrafe, de autoria de Guimarães Rosa, destaca o mesmo sentido da
de Diop, mas difere daquela ao apresentar a realidade como uma invenção onírica:
“desde que em alguma outra parte é que vivemos e aqui é só uma nossa experiência de
sonho…” (OPS, 2006, p.6).
A partir dessas duas epígrafes, podemos identificar o espaço exótico (fora da
visão hegemônica) em que a narrativa se desenvolverá. Esse exotismo, formado através
do hibridismo dos binários coloniais, faz com que o leitor não tenha dúvidas quanto aos
eventos que ocorrerão, e lhe será permitido participar da desconstrução da “verdade”
colonial.
Assim, a forma como Madzero anuncia a esposa o enterro de uma estrela:
“Acabei de enterrar uma estrela!” (OPS, 2006, p.11), não é tomado como um evento
que se ampare na necessidade de explicações, ou ainda tomado como um fato
transcendente. A associação entre o natural e o sobrenatural é, desde o início, colocada
como uma condição de existência da narrativa, pois o próprio espaço cultural – África –
remete, no senso comum, às intervenções místicas e sobrenaturais. Por isso, o elemento
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
367
místico não é visto sob suspeita, no entanto, conduz à desconfiança aquilo que procura
desconstruir: a essencialidade e nativismo das identidades, tais como impostos pelo
colonialismo e pelo eurocentrismo.
A união entre o real e o mágico confirma, a todo o momento, a liquidez das
identidades, uma vez que apela para o caráter ambivalente e, até mesmo, antagônico dos
sentidos humanos:
Olhou o homem em contraluz: parecia um fantasma, magro e sujo, carregando mais poeira que o vento do Norte. Um cheiro a queimado se espalhou na ensonada claridade do quarto.
(OPS, 2006, p.11, grifos meus)
O ambiente sinestésico e ensonado demonstra a fluidez do olhar que não permite
ao leitor, em nenhum momento, ser taxativo quanto às identidades presentes na obra.
Mwadia vê o marido, Zero Madzero, como um “fantasma”, no entanto,
concomitantemente, o olfato a traz de volta à “realidade concreta”: a existência física,
real e concreta do marido ou seu caráter fantasmagórico fica à deriva, indefinível.
Essa condição (visual e olfativa) conduz tanto a heroína quanto o leitor a aceitar
o achado e o enterro do astro sem se preocuparem em buscar explicações racionais ou
sobrenaturais para o fato, nem a se questionar se Zero estaria vivo ou morto.
Assim, tanto heroína quanto leitor consideram o mundo de O outro pé da sereia,
nas palavras de Todorov (1979, p.151), “como um mundo de pessoas vivas”. Um
mundo real, ainda que os acontecimentos deslizem entre duas realidades que se
justapõem. Em O outro pé da sereia, natural e sobrenatural caminham lado a lado,
mesmo que sejam consensualmente (na mentalidade eurocêntrica) antagônicos e
conflitantes, o que proporciona a desconstrução e ressignificação do natural e do
sobrenatural a todo instante. O que se verifica na ambivalência das reações das
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
368
personagens: ao mesmo tempo em que Mwadia vê o marido como uma “imagem
fantasmagórica”, o mesmo pede para “não ser tocado” (OPS, 2006, p.11).
Outro momento em que podemos verificar a hibridização de mundos
antagônicos (sonho e realidade) é por ocasião de um sonho de Zero Madzero. Como
exemplificado no excerto abaixo:
A presença da esposa deve ter invadido o espírito do adormecido burriqueiro. Pois, segundo contou mais tarde, Madzero sonhou que as suas mãos se juntavam, duas chamas numa única fogueira. Em lugar dos dedos, lhe doíam dez pequenas labaredas. Foi então que outras mãos, feitas de água, se aconchegaram nas suas e aplacaram aquele incêndio. Eram as mãos de mulher. Seriam as minhas, adiantou-se Mwadia. Não. Aquelas eram mãos de mulher branca. E a mulher do sonho vaticinou:
- As minhas mãos são de água. Sou feita para a sede dos homens.
A voz ecoou na cabeça do pastor. As palavras o sacudiram por dentro. A voz tomava posse dele, usando a sua boca para falar:
- Eu sou a mulher. - Está maluco, marido? Agora sonha que é mulher?
(OPS, 2006, p.19 e 20, grifo nosso)
Embora seja certo que Madzero dorme, enquanto sua esposa está acordada, a
fronteira entre o sonho e a realidade é permeável e passível de ser penetrada. Mwadia
dialoga com Zero como se ambos estivessem acordados (ou dormindo). Mwadia toma o
sonho com veracidade ao cogitar a possibilidade de Zero, mesmo mergulhado no mundo
onírico, estar dizendo a verdade.
Em outro momento, no plano histórico, podemos constatar a fusão entre o sonho
e a realidade.
A vela pincelou de luz a estátua da Santa. Naquele bruxulear, a Virgem parecia animada de vida interior. O padre certificou-se de que a imagem estava bem apoiada, a salvo dos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
369
balanços do mar. Depois, fechou os olhos, deixando-se possuir pelo duplo embalo: da obscuridade e do mar.
Acreditava estar dormindo quando um rosto pálido de mulher lhe inundou os sentidos. Era uma jovem despedindo-se na berma do rio Mandovi. Antunes seguia na canoa a caminho da nau e a moça ia caminhando sobre o lodo, arrastando as vestes pela lama. A roupa foi somando peso, dificultando-lhe a marcha. Até que ela decidiu desenvencilhar-se do vestido e passou a caminhar nua. Ela não apenas caminhava: circulava como se fosse a dona do mundo de lá. Por mais que quisesse, o padre não despegava os olhos do seu corpo.
- Você se lembrará assim de mim, disse a desconhecida. - Cubra-se, mulher… - Você se lembrará de mim quando for tragado pelo mar,
vaticinou a mulher. O padre despertou estremunhado.
(OPS, 2006, p.57, grifos nossos)
É possível notarmos que mundos tão antagônicos quanto os da realidade e do
sonho interpenetram-se e misturam-se. Sonho e realidade, no espaço da obra, não se
opõem, antes complementam-se, transformando o OPS, não só em “um mundo de
pessoas vivas”, como propõem Todorov, mas em um mundo líquido, de identidades
líquidas, em que todas as coisas são instáveis e diluídas, interpenetrantes.
Da confusão entre mundos tão diversos e antagônicos, a questão da identidade
racial é tomada como um meio de subverter os binários coloniais. Ao tratar da mistura
das raças, Mia Couto hibridiza o sonho e a realidade. Na passagem abaixo, o autor
busca apresentar a contínua e incessante comunicação entre esses mundos antagônicos e
conflitantes:
Um inesperado balanço fez verter o tinteiro. Para salvar os manuscritos o padre Antunes atirou-se sobre a mesa e o tampo cedeu, fazendo com que a lamparina tombasse no chão e o óleo ardente se espalhasse sobre o pavimento. Aflito, o sacerdote lançou o conteúdo do tinteiro sobre a pequena e, no entanto, ameaçadora fogueira. A tinta era pouca, mas suficiente para apagar o fogo. Antunes repôs a ordem no agasalho e saiu para o convés para recuperar do susto. Foi então que reparou que as mãos estavam sujas de tinta. Com as mãos negras, ele
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
370
reentrou no seu camarote. E com as mãos negras, ele se abandonou no rio do sonho.
(OPS, 2006, p.62, grifo nosso)
A partir das considerações feitas até aqui, e longe de ser um tratamento
exaustivo do realismo mágico na obra, pudemos verificar que, por se tratar de um
romance pós-colonial, OPS procura subverter a ordem instituída pelo poder colonizador
apresentando uma releitura da condição de existência da identidade do sujeito pós-
colonial.
Desde o título da obra, O outro pé da sereia, o leitor é impulsionado a colocar
sob suspeita os conceitos tomados como verdadeiros ou impostos como tais. Não se
trata apenas de se questionar a respeito da existência de um pé, em um ser que, por
definição, não tem nenhum, mas sim de questionar o próprio conceito de verdade e a
própria realidade em si. Desde o título, os signos são flutuantes, pertencentes a dois
mundos, hibridizados e antagônicos, cujo reflexo incidi sobre as identidades tornando-
as fluidas e líquidas.
BIBLIOGRAFIA
ASHCROFT, Bill; GRIFFITHS, Gareth; TIFFIN, Helen. Post-colonial studies: the key concepts. London and New York: Routledge, 2000. BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. BONNICI, Thomaz. Conceitos-Chave da Teoria Pós-Colonial. Maringá: Eduem, 2005. COUTO, Mia. O outro pé da sereia. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. TODOROV, Tzvetan. As estruturas da narrativa. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
371
OS DELÍROS DO SENHOR ANTONIO
Luiz Gonzaga Marchezan*
RESUMO
Há, no cinema de Fellini, uma diferença entre o pensar e o lembrar; percebemos nos seus filmes um pensar com e sem a memória do cineasta. Federico, com sua memória, retoma sempre algo do seu inconsciente, a fim de explorar sentidos novos do vivido. Noutros momentos, como em As tentações do Dr. Antonio (1962), pensa com a disposição de associar livremente, no interior da sua narrativa, motivos do inconsciente coletivo, da memória coletiva da sua cultura, a italiana. O surrealismo, o fantástico e o realismo mágico manifestam fulgurações do inconsciente e, por isso, trabalham nos limites da mente, o que percebemos na maneira como, artisticamente, aceleram percepções de idéias a partir de arquétipos. Federico Fellini é um surrealista nato; sempre perseguiu seus sonhos a ponto de não vê-los no seu termo final. O sonho, o delírio, movem As tentações do Dr. Antonio, algo, para nós, aqui, presente na matriz da narrativa que Federico parodia da pintura de Bosch, Tentação de Santo Antão (1450), que narra a resistência do santo às tentações do mundo. O inconsciente, de um ponto de vista estético, é lugar de imagens que ganham uma dimensão artística, momento em que configuram regiões do indistinto, instante em que a realidade não se objetiva e os símbolos são valorizados por meio das experiências oníricas, com significados deslocados. Para nós, por meio das disjunções surrealistas – o masculino x feminino/a divindade x demônio/o vigor x fragilidade -, vividas pelo senhor Antonio, uma sátira ao pensamento conservador italiano, à cultura romana. PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Inconsciente; Surrealismo; Paródia; Hipérbole.
A realidade da narrativa cinematográfica de Federico Fellini sustenta o
imaginário de um diretor cujo pensamento perpassa, sem censura, aspectos do sonho e
da realidade, momento em que transfere para o cinema o felliniano, exposto num
conjunto de idéias que migra muito fácil da instância do devaneio para a do verdadeiro.
As tentações do Dr. Antonio (1962)** situa-se entre as produções de A doce vida
(1960) e 8 ½ (1963), todos, diante da mesma Roma. 8 ½ retoma A doce vida, comenta-
* Doutor em Letras. Universidade Estadual Paulista. Professor Assistente-Doutor da FCL, no Campus de Araraquara, da área de Teoria da Literatura.
** Episódio entre três outros de Boccaccio 70: como os de Monicelli, Visconti e De Sica, todos voltados para a cidade e subúrbios de Roma e as intencionalidades de Boccaccio no seu Decameron.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
372
o; 8 ½ discute, expõe o processo criativo de Federico Fellini, a tendência do cineasta
sempre dirigida pelo universo dos sonhos, a região do indistinto, mas que revela, como
sabemos, por meio de significados descolados, conteúdos de intervenção e embates com
a consciência:
a) Marcelo, em A doce vida, é um jornalista que deseja mas não consegue escrever um
romance; prefere viver das notícias fáceis do jornalismo;
b) Guido, em 8 ½, é um cineasta que deseja mas não consegue implementar um roteiro
cinematográfico para o seu filme; prefere viver uma vida fácil em meio às mulheres a
fazer cinema;
c) Dr. Antonio não é, como acha, um homem de valor; é um hipócrita, recalcado, algo
que, como Marcelo e Guido, perceberá posteriormente.
Sensações, sentimentos, recordações, percepções, perpassam as mentes dos
protagonistas de Fellini que vivem, como nos sonhos, um tempo imóvel onde situações
ignoradas transparecerão, virão à tona e não podem ser mais reprimidas, ignoradas.
As certezas pretensiosas do Dr. Antonio, suas posturas moralizadoras,
conservadoras, findam a partir do momento em que um outdoor é instalado em frente à
sua casa; faz-se numa ruptura no momento em que vemos no cartaz a bela figura de
Anita Ekberg motivar os delírios do senhor Antônio, provocando-lhe no seu desejo
reprimido por uma tia. Temos, dessa maneira, no delírio compulsivo do pequeno Dr.
Antônio, um diálogo com a figura hipertrofia de Anita Ekberg, estampada num outdoor
e numa situação hiperbólica, uma vez que tal comunicação desenvolve-se diante do
disforme, do amplificado, do condensado.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
373
A hipérbole, para Reboul (1998, p.184), constitui-se num argumento grandioso,
cômico e, no caso, também condensado ao modo das imagens do inconsciente, lugar,
por excelência, de imagens que citam, por analogia, comportamentos da cultura italiana
arraigados em costumes ditados, para os italianos, pela igreja católica romana e vividos
pelo senhor Antonio. A hipérbole, para o surrealista Federico Fellini, é uma metáfora
ampliada envolvida, de um lado, com a caricatura delirante do Dr. Antonio diante de
um traço forte do inconsciente coletivo italiano, muito voltado para as censuras de um
pensamento religioso conservador; de outro, implicada com uma personagem constante
em A doce vida, 8 ½ e As tentações do Dr. Antonio – Roma, mediante o que
simbolicamente representa e, na época, extasiada com a beleza da recém-chegada Anita
Ekberg à Itália.
A ordenação visual do filme, narrado por uma criança, é indeterminada,
anárquica, até o momento em que o outdoor é instalado numa praça em frente à casa do
Dr. Antônio, inquietando-nos também. Assim, seguimos as consequências e a recepção
da sua instalação, onde perceberemos uma provocação, um chamado, conforme
etimologia da palavra provocação, chamado que se desdobra até o seu porquê, algo
acentuado do interior do cartaz do outdoor, na figura de Anita Ekberg, sua sensualidade.
Anita Ekberg, conhecida em Roma como modelo e depois como atriz e
protagonista de A doce vida, com os seus dotes físicos, aparece, no cartaz, quase
deitada, apoiada no próprio braço, em toda a extensão do outdoor, trajada de preto, num
vestido de cor e talhe muito próximos ao que vestiu naquele filme, propagando, em As
tentações do Dr. Antonio, uma marca de leite. Desde o momento da sua aparição passa a
provocar diretamente o Dr. Antonio, o seu inconsciente semi-adormecido, sua vida
pulsional, provocando-lhe, acima de tudo, alegorias íntimas, momento em que o divide
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
374
entre a realidade que vive e o delírio, uma vez que ele vê a atriz movimentar-se,
primeiro, no interior e, depois, para fora do outdoor, provocando-o. Dr. Antonio mora
num apartamento em frente ao outdoor; é um homem solitário, esgotado na sua
castidade e, em delírio, sente Anita provocá-lo, como dissemos, a partir do cartaz e,
depois, ao deixar o outdoor, nas mesmas dimensões da sua imagem na mídia, quando
lhe projeta desejos fantasiosos, prefigurando-nos, dessa maneira, o seu delírio.
Federico Fellini, pelo que vemos, mais uma vez, com seus exageros (um
comportamento, para ele, próprio da natureza italiana), desenha caricaturas, carrega,
sobrecarrega, deforma imagens na mente de quem as veem; sobrecarrega-as no
pensamento do espectador a fim de representar o delírio do Dr. Antonio e flagar, no
caricaturado, uma dissonância, uma insuficiência. A caricatura humilha, de forma
intensa, o Dr. Antônio na sua hipocrisia e conservadorismo. A figura de Anita, no seu
exagero, amplifica sua beleza, que extasia tanto o Dr. Antonio como os romanos.
As caricaturas de Fellini, no caso, apreendem o rígido, o desarmônico, o
desequilíbrio (hábitos, comportamentos adquiridos e conservados de forma
involuntária); amplia-os, no caso, de forma hiperbólica, a fim de nos revelar o
voluntário: de uma lado, a beleza e liberdade de Anita Ekberg, consagrada em Roma,
como dissemos; de outro, dá-nos um Dr. Antonio reprimido (desde sua fixação por uma
tia), refém de uma beleza estonteante em que se vê aprisionado e já no pecado. Na
trajetória desse embate contaremos com a disposição de argumentos trabalhados no
âmbito de uma sátira ao pensamento conservador italiano, à cultura romana.
Dr. Antonio, sua caricatura, não nos esqueçamos, é uma citação da figura de
Santo Antão, satirizada e associada à hipérbole que contorna a figuras de Anita diante
do êxtase do Dr. Antônio. Santo Antão, ou Santo Antonio, nasceu no Egito em 251 e
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
375
morreu em 356. Tornou-se, para as Artes, um herói da vida espiritual e da experiência
mística (divina, espiritual, contemplativa). Travou uma luta lendária, de 90 anos, contra
o demônio, tematizada pelas Artes. O demônio persegue-o com visões ora atrativas
(mulheres, comida), ora aterradoras (surras). Santo Antão mostrou-se sempre resistente,
infatigável, penitente. Habitou uma gruta, uma ruína, no deserto, onde viveu como
eremita, longe das possibilidades do pecado.
A metáfora ampliada felliniana, a partir do delírio do Dr. Antônio, por meio de
suas descontinuidades, argumenta de modo radical: Anita abandona o cartaz, dialoga
com o delirante senhor Antonio, com suas tentações, instante em que nos revela a
monstruosidade dos seus preconceitos: o senhor Antonio não vê beleza na mulher;
observa-a ou como mãe ou como prostituta; vê na mulher apenas o papel de mãe
sagrada. O final do episódio mostra-nos tais concepções do Dr. Antonio sobre o
feminino quando, convencido dos seus recalques, quase sorrindo, reconhece Anita como
atriz. Dr. Antonio, no final do episódio, como todos, mostra-se encantado com Anita,
com sua sensualidade.
Há, no cinema de Fellini, uma diferença entre o pensar e o lembrar; percebemos
nos seus filmes um pensar com e sem a memória do cineasta. Federico, com sua
memória pessoal, retoma sempre algo do seu inconsciente, a fim de explorar sentidos
novos do vivido. Noutros momentos, como em As tentações do Dr. Antonio, pensa com
a disposição de associar livremente, no interior da sua narrativa, motivos do
inconsciente coletivo, da memória coletiva da sua cultura, a italiana. O surrealismo, o
fantástico e o realismo mágico manifestam fulgurações do inconsciente e, por isso,
trabalham nos limites da mente, o que percebemos na maneira como, artisticamente,
aceleram percepções de idéias a partir de arquétipos. Federico Fellini é um surrealista
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
376
nato; sempre perseguiu seus sonhos a ponto de não vê-los no seu termo final; para o
cineasta, os sonhos têm sequências infindas, segundo depoimentos a Giovanni Grazzini
(1994, p. 128) em Conversaciones com Fellini. O sonho, o delírio, movem As tentações
do Dr. Antonio, algo, para nós, aqui, presente na matriz da narrativa que Federico
parodia a partir da pintura de Bosch, Tentação de Santo Antão (1450), que narra a
resistência do santo às tentações do mundo.
A paródia imita gestos copiosos utilizados do ponto de vista de um outro. A
paródia de Fellini é crítica: ao satiriza o comportamento do Dr. Antonio, quebra sua
atitude de devoto, traço que o aproxima do Santo Antonio de Bosch. A paródia de
Federico aproxima significados para invertê-los e distanciá-los, com o objetivo de
trabalhar o texto parodiado noutra proporção, noutra relação, noutra comparação, na
interação entre os imaginários da cultura italiana e o seu.
O inconsciente, de um ponto de vista estético, é lugar de imagens que ganham
uma dimensão artística, momento em que configuram regiões do indistinto, instante em
que a realidade não se objetiva e os símbolos são valorizados por meio das experiências
oníricas, com significados deslocados. O que, com As tentações do Dr. Antonio, quer o
surrealista Federico Fellini fazer figurar? Para nós, por meio das disjunções surrealistas
– o masculino x feminino/a divindade x demônio/o vigor x fragilidade -, valores vividos
a gosto e a contragosto pelo senhor Antonio, no âmbito de uma sátira ao pensamento
conservador italiano, à cultura romana, preponderantemente à sua igreja.
O cinema prevê para uma narrativa, por meio de gestos compostos numa
sucessão de planos, uma interlocução entre os atores e espectadores. Aristóteles, na
Poética, é quem primeiro observa que o ator, na ação de um gesto imitado, numa
mímese, representa para um auditório um caráter, algo do indivíduo. O gesto, enfim,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
377
exterioriza, teatraliza o comportamento de um indivíduo, divide-o, no drama entre o eu
que o representa e o outro que o vê.
O mesmo terno preto, com camisas brancas e gravatas na cor do terno vestem
Marcelo, Guido e o senhor Antonio (ao lado dos mesmos óculos com molduras negras
usados pelos três). Um mesmo vestido preto longo veste Anita Ekberg tanto em A doce
vida como em As tentações do Dr. Antonio. Os divididos Marcelo, Guido e senhor
Antonio, nos três respectivos papéis citados, de um lado, e, do outro, a inconstante
Anita Ekberg. Federico Fellini valoriza o ator, a personagem, com a finalidade de
dramatizar a incomunicabilidade humana. Mastroiani e Ekberg, conforme seus papéis,
nos gestos imitados, mostram, do felliniano, a difícil realização, na vida, dos desejos de
uma individualidade. O gesto hiperbólico do cineasta em As tentações do Dr. Antonio,
nas dimensões de um delírio, também acompanham, no papel do ator Peppino De
Filippo, as demandas das outras narrativas que compõem Bocaccio 70, inspirados no
Decameron, como nos episódios de Monicelli, Visconti e De Sica, em que teremos,
conforme as novelas de Boccaccio, a natureza humana sempre sufocada nas suas
paixões amorosas por um código de conduta hipócrita ditado, preponderantemente, pela
religião. Algo expresso, sem dúvida, de forma condensada, no delírio do senhor
Antônio, mas que também reverencia o felliniano, sempre voltado para gestos que
ridicularizam, no seu caráter, a conduta e o comportamento humanos quando regrados e
com o fito de, paradoxalmente, para Federico Fellini, pretender disciplinar a criatura
humana no seu mistério.
Bibliografia
AS TENTAÇÕES do Dr. Antonio. Direção: Federico Fellini. In: BOCCACCIO 70. Direção: Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica. Produção: Carlo Ponti, Tonino Cervi. São Paulo: Versátil Home Vídeo, 1962. 1 DVD. GAZZINI, Giovani. Conversaciones com Fellini. Barcelona: Editorial Gedisa, 1994.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
378
REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
379
RECRIAÇÕES DO MITO FÁUSTICO NA LITERATURA HISPÂNICA CONTEMPORÂNEA: A PULGA MEFISTOFÉLICA DE LÁZARO COVA DLO
Maira Angélica Pandolfi∗
RESUMO
A experiência com as forças sobrenaturais pode adquirir sentidos diversos na recriação moderna do mito fáustico. Na obra Criaturas de la noche (2004), do argentino Lázaro Covadlo, uma pulga estabelece um pacto com a personagem Dionísio Kauffmann. O pacto, seja com o demônio ou com outro representante das forças do mal aparece, quase sempre, como um elemento deflagrador, movido por uma carência de fortuna, amor, juventude e saber. O pacto torna-se evidente na relação de um homem que não consegue prosperar em seus negócios e conta com os valiosos conselhos da pulga para obter êxito. Em troca de seus conselhos, a pulga, instalada em sua orelha, alimenta-se de seu sangue e outros fluidos vitais. Nessa narrativa não presenciamos o clássico momento do pacto, mas uma invasão das forças obscuras, encarnadas em uma pulga, que toma posse do corpo do protagonista, fala em seu ouvido, canta e se deleita com seu sangue. É o vampirismo da pulga, em primeiro lugar, que nos remete ao pacto mefistofélico. Por isso, o sangue torna-se um importante elemento na atmosfera da recriação do mito. A substância do sangue tanto pode simbolizar o tormento como pode simbolizar a salvação e isso vai depender exclusivamente do ego que vai vivenciar a experiência. Dessa forma, objetiva-se apresentar os elementos que, na obra em questão, nos remetem diretamente ao mito fáustico. PALAVRAS-CHAVE: Mito Fáustico; Vampirismo; Mito de Dionísio; Fábula.
Em nossa leitura da obra Criaturas de la noche, de Lázaro Covadlo, objetiva-se
analisar a revisitação, empreendida pelo autor argentino, do pacto fáustico e seus
elementos na contemporaneidade. Desse modo, percebe-se, de imediato, que a releitura
do mito fáustico surge, na obra analisada, a partir de uma fábula que busca apregoar
uma moral “imoral”. Nesse sentido, estamos diante de uma fábula moderna que parodia
a própria estrutura do gênero, geralmente definido como uma “narrativa (de natureza
∗ Doutora em Letras, na Universidade Estadual Paulista, Professora Assistente-Doutora na UNESP, campus de Assis, na área de Língua e Literatura Espanhola.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
380
simbólica) de uma situação vivida por animais que alude a uma situação humana e tem
por objetivo transmitir certa moralidade” (COELHO, 2000, p.165).
Nessa fábula moderna o autor conta a história de um homem, Dionisio
Kauffmann, desajustado socialmente por não conseguir controlar o seu discurso,
tornando-se inadequado e fracassado tanto nos negócios quanto nas relações íntimas.
Contudo, certa manhã de inverno, Dionísio é subitamente invadido por uma pulga
milenar que se instala em seu ouvido, canta e lhe dita discursos convincentes por meio
dos quais pretende impor a sua vontade diabólica em troca de seus fluídos vitais e das
pessoas com as quais se relaciona.
A obra em questão está dividida em três partes. A primeira, intitulada “Só um
pouco de sangue”, é composta de cinco episódios; a segunda, intitulada “A Queda”,
integra quatro episódios e a última, “Renascer para a noite”, apresenta três episódios** .
Essa divisão revela a própria trajetória do herói mítico, marcada por uma nítida
ascensão, simbolizada tanto pela redução do número de episódios, que alude a uma
evolução piramidal, como pela divisão temática de cada parte. Na primeira, dá-se a
presença do insólito no cotidiano. O sobrenatural se insere naturalmente nas brechas
abertas pelo desejo do herói, que se culpa por ter perdido a noiva e por não ter
conseguido o mesmo sucesso profissional alcançado por Guillermo García, um antigo
companheiro de trabalho. O sangue, elemento que alude ao pacto mefistofélico, permeia
toda a narrativa e desde os primeiros episódios sua presença é fundamental na
composição da trama, reveladora das características essenciais do elemento
sobrenatural, a pulga milenar, que se alimenta de sangue, suor e lágrimas. É também na
primeira parte da obra que o herói vivencia o conflito do duplo, já que em troca de seu
**
Tradução nossa do índice em espanhol: “Sólo un poquito de sangre”; “La Caída” e “Renacer para la noche” (COVADLO, 2004).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
381
sucesso é obrigado a ceder aos caprichos da pulga, que lhe impõe a vivência de
experiências libertinas e que vão de encontro ao código de conduta moral adotado por
ele na sociedade vigente. Além disso, a pulga exige sempre que após o deleite sexual o
pactário retire sempre um pouco do sangue de suas vítimas agindo, assim, como um
autêntico vampiro. A segunda parte, “A Queda”, apresenta diversos relatos da pulga
sobre a sua experiência em antigos hospedeiros, tanto animais quanto humanos, e a
relação vampiresca que esta estabelece com todos eles. Além disso, revela as
conseqüências que tanto o herói quanto outros personagens sofreram por se recusarem a
cumprir todas as exigências impostas pela pulga. Após a experiência da queda, o herói
retorna totalmente transformado e esse fato promove o estabelecimento de uma nova
ordem moral compartilhada por ele e por suas antigas relações.
A narrativa de Covadlo traduz o jogo de máscaras ou de personas fundamental
na relação com o outro. Ao desempenhar um papel social, a máscara ou persona que
vestimos possibilita que, na maioria das vezes, a interação social transcorra de forma
mais fácil, sem causar muitos constrangimentos. Dionísio Kauffmann, apelidado de
“desastrado”*** no trato social, apresentava, a princípio, uma inadequação desse jogo de
personas e somente consegue um desempenho exitoso a partir de seu contato com a
sombra, símbolo de Mefistófeles (aquele que nega a luz). Segundo Stein, a pessoa que
sucumbe à sombra “fica manchada de imoralidade mas alcança um maior grau de
totalidade. Isso é, na verdade, um dilema diabólico. É o dilema de Fausto e o problema
essencial da existência humana” (2006, p.102).
Além disso, é importante observar que o nome atribuído ao protagonista,
Dionísio Kauffmann, oferece-nos um foco de imagens que nos faz relembrar, ao mesmo
tempo, o mito literário de Dionísio e o absurdo homem kafkiano, que desperta
***
Tradução da expressão em espanhol “metedor de pata” (COVADLO, 2004).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
382
metamorfoseado numa barata. À diferença deste, Dionísio é tomado por uma
transformação interna, pois apesar de não se transformar aparentemente em uma pulga
passa a agir de acordo com o temperamento desta, por meio de um processo de
simbiose. Por essa razão é que a pulga assim contesta ao questionamento “quem é
você”? “Sou a voz da sua consciência. Sou a engenhoca preventiva de situações
desastrosas que tanto desejava possuir. Sou a sua primitiva fonte de inspiração. Sou a
alma mater de sua futura vida, ida, ida, ida. Sou a sua nova consciência (COVADLO,
p.32)**** .
Utilizando procedimentos distintos de Kafka, Covadlo adere a uma das três
formas que Rosa Gómez Aquino (2006) considerou como procedimentos básicos para
se criar uma criatura fantástica: aglutinação, supressão e combinação. Todos esses
procedimentos têm como base, segundo a estudiosa, um referente da vida real. Assim, a
aglutinação opera o excesso, transformando a criatura fantástica maior do que o
referente da vida real; a supressão realiza o processo inverso ao da aglutinação e torna a
criatura fantástica menor do que o referente da vida real; e a combinação reune
elementos que não deveriam estar juntos, gerando um efeito antinatural.
Enquanto Kafka opera uma combinação de elementos responsáveis pela
deformação do humano, fazendo-o parecer cada vez mais com uma barata, Covadlo
adere ao que Gómez Aquino denomina de procedimento de supressão, tornando a pulga
ainda menor do que já é para que possa adentrar o humano e nele fundir-se:
Toco os peitos generosos das mulheres e as poderosas genitálias de alguns homens com as mãos de meus hospedeiros. Cheiro os maus odores e os gratos aromas com os narizes de meus hospedeiros. Ouço os
****
Tradução nossa do texto em espanhol: “Soy la voz de tu conciencia. Soy el artilugio preventivo de meteduras de pata que tanto deseabas poseer. Soy tu primordial fuente de inspiración. Soy el alma máter de tu futura vida, ida, ida, ida. Soy tu nueva conciencia” (COVADLO, 2004, p.32).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
383
sons do dia e os inquietantes ruídos noturnos com os ouvidos de meus hospedeiros. Também vejo a luz do dia com os olhos de meus hospedeiros, mas ao meu minúsculo corpinho está vedada a luz diurna. A escuridão é o meu refúgio. Em seu seio encontro amparo, porque sou uma criatura da noite, como tantas outras (COVADLO, 2004, p.57)***** .
Observa-se a configuração da simbiose, da relação vampiresca que a pulga, aqui
denominada mefistofélica, estabelece com seu hospedeiro. Este, por sua vez, mais do
que o conhecimento almejado pelo clássico Fausto de Goethe, deseja aprender a
dominar-se, a dominar os seus impulsos e tomar as rédeas de seu discurso. Esse
conflito, que representa o embate com seu ego, configura a impossibilidade de usar a
contento as personas (as máscaras sociais), logrando convencer seu interlocutor e obter
o sucesso profissional e pessoal almejados. O clímax do conflito com o duplo encontra-
se no meio da trama, cujos episódios remetem à queda, e ocorre com a recusa de
Dionísio em satisfazer os prazeres homossexuais da pulga. Com esse rechaço, o
discurso de Dionísio perde o brio e ele entra numa fase de decadência profissional. Por
outro lado, aprende a superar, a partir da vivência de uma diversidade de experiências
eróticas realizadas a mando da insaciável pulga, a hipocrisia das relações amorosas
monogâmicas e desenvolver a sua doutrina sobre o amor, convencendo a antiga noiva a
aceitar a poligamia:
O amor é como uma torrente de fogo que se expande em contato com a vegetação. O amor verdadeiro pode dividir-se sem que nunca se esgote. Contudo, é preciso considerar que ainda que nos entreguemos a outros amores essa entrega é, de fato, fruto da relação entre outras pessoas. São, na verdade, outras pessoas porque todos nós assumimos uma pessoa na relação com o outro. Quando você se relaciona com um empregado público já não é a mesma que se relaciona com um familiar. Nesse caso,
*****
Tradução nossa: “Toco los pechos generosos de las mujeres y las poderosas vergas de algunos hombres con las manos de mis hospedadores. Huelo los malos olores y los gratos aromas con las narices de mis hospedadores. Oigo los sonidos del dia y los inquietantes crujidos nocturnos con los oídos de mis hospedadores. También veo la luz del dia con los ojos de mis hospedadores, pero a mi minúsculo cuerpecito le está vedada la luz diurna. La oscuridad es mi refugio. En su seno hallo amparo, porque soy una criatura de la noche, como hay tantas” (COVADLO, 2004, p.57).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
384
tampouco será a mesma pessoa ao estabelecer uma nova amizade. Não, você não é a mesma pessoa porque pessoa é máscara, e mudamos de máscara conforme o interlocutor (COVADLO, p.164)******
Diante do exposto, podemos concluir que a releitura do mito fáustico por Lázaro
Covadlo nos propõe uma experiência de linguagem que nos faz refletir sobre a nossa
relação com o outro e com nós mesmos, denunciando um homem contemporâneo que se
perde em meio a uma infinidade de personas que tenta abarcar. A própria pulga assume
diferentes personas em sua relação com Dionísio, por isso oscila entre a mãe que
acalenta, a mãe que reprime e a esposa.
A experiência com a pulga mefistofélica na narrativa de Covadlo metaforiza a
experiência humana dos ritos de iniciação à vida adulta. Em virtude dessa associação,
não podemos deixar de relacionar o mito de Dionísio ao seu caráter de mito nitidamente
iniciático, tal como a experiência do protagonista que leva seu nome e que, assim como
Dionísio, renasce para a noite. Pierre Brunel assinala que “como os iniciados das três
primeiras classes da Índia antiga, Dionísio é o deus nascido duas vezes” (2005, p.245).
Essa configuração do mito de Dionísio cruza-se com o mito fáustico como evidencia o
episódio da cozinha da bruxa, no Fausto de Goethe, onde ele bebe a poção
rejuvenescedora, simbolizando a morte do Fausto velho do início da obra. Também não
podemos deixar de considerar que a obra desfaz a polaridade bem e mal, firmando a
liberdade de escolha do homem comum em compartilhar sua vivência com a sombra e
de ser feliz com suas esolhas, já que a qualquer momento Dionísio encontrava-se livre
para romper o pacto e arcar com as conseqüências desse ato sem que isso acarrete em
******
Tradução nossa do texto: “El amor es como un torrente de fuego que se expande entre la maleza. El amor verdadero puede repartirse sin agotarse jamás. Pero, sobre todo, debes tener en cuenta que aunque pueda entregarme a otros amores, en verdad en verdad son otras las personas que lo hacen. Sí, son otras, porque todos somos alguien diferente en relación con cada quién. Cuando tu te relacionas con un empleado público no eres la misma que cuando lo haces con un familiar. Y, en esse caso, tampoco eres la misma persona que habla con una nueva amistad. No, no eres la misma persona, porque persona es máscara, y tu cambias la máscara según el interlocutor” (COVADLO, 2004, p.164)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
385
sua danação eterna, mas simplesmente em perdas materiais que havia adquirido com o
auxílio da pulga. Por isso, essa fábula às avessas promove um final surpreendente e feliz
para o protagonista, evidenciando a ambigüidade da sombra, representada pela pulga,
que atua como Mefistófeles “que sempre o Mal pretende e que o Bem sempre cria”
(GOETHE, 1991, p.71).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BRUNEL, P. (org.) Dicionário de Mitos Literários. 4 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. COELHO, N. N. Literatura infantil: teoria, análise, didática. 7 ed. São Paulo: Moderna, 2000. COVADLO, L. Criaturas de la noche. Barcelona: Acantilado, 2004.
GOETHE, J. W. Fausto. Tradução de Jenny Klabin. Belo Horizonte: Villa Rica, 1991.
GÓMEZ AQUINO, R. Inventario de criaturas fantásticas: basiliscos, aluxes, mulánimas, elfos y otros seres fabulosos. Buenos Aires: Pluma y Papel, 2006. STEIN, M. Jung: o mapa da alma – uma introdução. Tradução de Álvaro Cabral. 5 ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
386
O FANTÁSTICO EM A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA, DE JORGE AMADO
Márcio Henrique Muraca∗
RESUMO
Elementos da literatura fantástica, em consonância com o realismo mágico, o qual se consolidou como uma importante vertente da literatura produzida na América Latina, podem ser encontrados em “Quincas Berro Dágua”. Um elemento essencial na obra está presente no próprio tecido narrativo, o qual faz lembrar um causo, a história de um homem que morre três vezes, mas que não se sabe quem a contou primeiro ou quem, de fato, presenciou os estranhos acontecimentos. Na tentativa (com êxito) de fazer-se ler/ouvir, esse narrador, deliberadamente, puxa os limites entre real e sobrenatural, lançando mão, ainda, de um tom bem-humorado que se aproxima do burlesco e ridículo, sem deixar de apontar a crítica ao pragmatismo e engessamento da classe média ambiciosa e travada, em contraposição à vida solta e ultra-hedonista dos errantes, bêbados e prostitutas. A atmosfera onírica e noturna do texto fermenta ainda mais aquele elemento básico, característica essencial dos textos fantásticos, posto em discussão por Todorov em Introdução à Literatura Fantástica, que seja: a dúvida. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Humor; Lirismo; Dúvida.
A inverossímil ideia de se morrer três vezes é algo que em uma narrativa só pode
tocar o fantástico. Mesmo que o narrador condicione tais mortes como metáfora, como a
transformação/transcendência de um ser ou sua rebeldia/desistência a um determinado
modo de vida social, parece haver mais sabor quando tal metáfora é deliberadamente
extrapolada, puxando a narrativa para uma dimensão mais poética e “maravilhosa”,
entre o real e o imaginário, o absurdo e o racional, a inverossimilhança em amálgama
com o desenrolar objetivo de fatos, normalmente posicionados no tempo e no espaço.
Considerada como a mais perfeita das criações de Jorge Amado, A Morte e a
Morte de Quincas Berro Dágua é um conto longo ou romance curto. Nas palavras de
∗ Bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) do Programa de Mestrado em Teoria Literária do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
387
um crítico como Alberto da Costa e Silva, a obra faz par com outras de extensão
semelhante como A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, A Sinfonia Pastoral, de André
Gide, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, e Campo Geral, de Guimarães Rosa.
Costa e Silva descreve o texto de Amado com “uma das mais bem-acabadas e tocantes
das novelas”, a “obra-prima” do baiano, autor de Gabriela Cravo e Canela, cujo
centenário se celebra em 2012. (COSTA E SILVA, 2010, p.209).
As três mortes do protagonista da obra de Amado compõem-se da seguinte
estrutura: 1. A morte social, aquela em que o “respeitável Joaquim Soares da Cunha, de
boa família, exemplar funcionário” deixa o lar e se torna uma vagabundo errante pelas
ruas e botequins de Salvador, na companhia de bêbados e prostitutas; 2. A morte física,
aquela em que a família esperava que “as manchas do passado” pudessem ser apagadas
e, por isso, organizou um sepultamento digno do homem que Joaquim (e não o Quincas
que berrava quando bebia cachaça) havia sido; 3. A morte escolhida pelo próprio
defunto, atirado à liberdade do infinito mar, aquela que em versos finaliza o conto:
No meio da confusão Ouviu-se Quincas dizer: “Me enterro como entender Na hora que resolver. Podem guardar seu caixão Pra melhor ocasião. Não vou deixar me prender Em cova rasa no chão”. E foi impossível saber O resto de sua oração. (AMADO, p.267).
Se a narrativa se estrutura nessas partes, Jorge Amado inscreve em suas linhas,
em seu contar que visa o fisgar do leitor, o caráter mágico, no sentido maravilhoso e
alegórico. O tom fantástico emerge desde o título, anunciando a dúvida, o mistério e o
estranho, linhas mestras do texto, ainda que quase justificadas pela voz irônica do
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
388
narrador, eivada de um bom-humor apimentado, um riso “esculhambado” à classe
média, em choque com a malandragem dos que estão à sua margem, os excluídos das
fileiras sociais higienizadas. Voz aquela permeada também pelo lirismo, pelo colorido,
pela atmosfera onírica e noturna do conto.
Na abertura, o narrador de Amado, que vai se expressar ao longo do texto muitas
vezes como um contador de causo, sintetiza o que o leitor vai encontrar: “Até hoje
permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro Dágua. Dúvidas por
explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas
diversas.” (AMADO, p.211).
As escolhas de percurso do narrador é que fazem dilatar, por assim dizer, os
elementos que dão o tom fantástico presente na tessitura da obra. Seu ponto de vista
parte da noção de quem certa vez – provavelmente mais de uma vez e em espaços
distintos – ouviu os fatos sobre a trajetória de Quincas Berro Dágua e, no momento da
enunciação, repassa tais acontecimentos, sempre na incerteza dos ocorridos: “há quem
negue”, “em hora duvidosa e em condições discutíveis”, e fundamentalmente:
Não sei se esse mistério da morte (ou das sucessivas mortes) de Quincas Berro Dágua pode ser completamente decifrado. Mas eu o tentarei, como ele próprio aconselhava, pois o importante é tentar, mesmo o impossível (AMADO, p.213).
Se as circunstâncias das sucessivas mortes são incertas, o narrador justamente
usa tais dúvidas e fragmentos de informação para conduzir seu público àquela atmosfera
onírica e com toques do real maravilhoso, segunda a noção descrita por Selma Calasans
Rodrigues, em sua obra O Fantástico, de que a realidade é relativizada quando o
insólito emerge. O produto dessa lógica é a hesitação que então “contaminará o leitor
que permanecerá [...] com a sensação do fantástico” (RODRIGUES, p.11).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
389
Ainda que minimizada por um narrador que parece tomar partido de Quincas e
dos companheiros excluídos que fazem questão de mitificar sua morte, em contraponto
à vida da família do morto, presa aos valores de ascensão burguesa e aparências, o
insólito surge no texto após as primeiras páginas, quando dos preparativos do funeral de
Quincas – e vai ganhando mais força à medida que a narrativa avança:
Viu o sorriso. Sorriso cínico, imoral, de quem se divertia. O sorriso não havia mudado, contra ele nada tinham obtido os especialistas da funerária [...] Por que Quincas ria daquilo tudo, um riso que se ia ampliando, alargando [...]. Ria com os lábios e com os olhos [...]
Algumas linhas abaixo:
– Jararaca! – disse de novo, e assoviou gaiatamente. Vanda estremeceu na cadeira, passou a mão no rosto – Será que estou enlouquecendo? [...] – Saco de peidos! Marocas, [...] sem olhar sequer o cadáver, escancarou a janela [...] Quincas ajeitou-se melhor no caixão. (AMADO, p.232-233).
Parece bastante razoável, conforme se nota nas citações, que a hesitação do
leitor é alcançada de imediato. Essa forma de composição escolhida pelo narrador, ao
dar crédito a essa versão da morte de Quincas Berro Dágua, converge para aquilo que
anunciou Todorov em sua obra Introdução à Literatura Fantástica:
Em primeiro lugar, é preciso que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e hesitar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem; desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
390
encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra. (TODOROV, 1992, p.39).
Se a hesitação, segundo as noções descritas acima, é elemento notável em A
Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua, outro fator – muito provavelmente maior e
mais marcante do que a própria hesitação – está na ambiguidade do texto amadiano. A
brincadeira do narrador-contador de histórias (em primeira pessoa) parte
especificamente do que aqui já foi mencionado: a estranhíssima história de um homem
que morre três vezes e que, teimoso, anuncia “que só um túmulo era digno de sua
picardia: o mar banhado de lua, as águas sem fim?” (AMADO, p.234).
O lirismo, como se vê na citação, mais o humor (eivado de crítica à burguesia)
combinado a uma história ambivalente por essência, ouvida e recontada, cantada até
mesmo em versos por trovadores no mercado popular, são os flancos que sustentam a
narrativa do conto amadiano. Talvez o equilíbrio entre esses três elementos (lirismo-
humor-ambivalência) seja aquilo que Filipe Furtado em seu estudo A Construção do
Fantástico na Narrativa, defende como fantástico:
Só o fantástico confere sempre uma extrema duplicidade à ocorrência meta-empírica. Mantendo-a em constante antinomia com o enquadramento pretensamente real em que a faz surgir, mas nunca deixando que um dos mundos assim confrontados anule o outro, o gênero tenta suscitar e manter por todas as formas o debate sobre esses dois elementos cuja coexistência parece, a princípio, impossível. A ambigüidade resultante de elementos reciprocamente exclusivos nunca pode ser desfeita até ao termo da intriga, pois, se tal vem a acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo que a narração use de todos os artifícios para nele a conservar (FURTADO, 1980, p.35-36).
Em conclusão, a novela curta ou o conto longo (como se refere Alberto da Costa
e Silva), A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua, de Jorge Amado, escrita em abril
de 1959, carrega em si elementos do se considera gênero fantástico. O sobrenatural
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
391
certamente não é a marca explícita da narrativa, mas efeitos buscados pelo autor por
meio de seu narrador tocam claramente noções como a hesitação e, sobremaneira, a
ambiguidade. Em ligação a esta, o humor e o lirismo que levaram tantos críticos e
leitores a ver a obra como uma das mais tocantes e acabadas de Jorge Amado.
Joaquim Soares da Cunha, pacato e respeitado funcionário público, subserviente
a uma família de classe média, rebelou-se, jogou-se errante pelas ladeiras de Salvador,
atingiu a Cidade Baixa, as aventuras pelos cais, o calor das mulheres, o jogo, a cachaça
– seu grito a cada vez que entornava a bebida lhe consagrou Quincas Berro Dágua.
Nem a morte impediu sua vontade: “No meio do ruído, viram Quincas atirar-se e
ouviram sua frase derradeira [...]” (AMADO, p.266). O inverossímil no verossímil.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMADO, JORGE. A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua. In: COSTA E SILVA, Alberto da. Essencial Jorge Amado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.206-267. COSTA E SILVA, Alberto da. Essencial Jorge Amado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. FURTADO, Filipe. A Construção do Fantástico na Narrativa. Lisboa: Horizonte, 1980. RODRIGUES, Selma Calasans. O Fantástico. São Paulo: Ática, 1988. TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
392
A PRESENÇA DE RIOS MITOLÓGICOS E A SIMBOLOGIA DAS Á GUAS EM LA DIVINA COMMEDIA , DE DANTE ALIGHIERI
Maria Celeste Tommasello Ramos∗
RESUMO
O presente estudo enfoca as alusões aos rios mitológicos realizadas em La divina commedia, do italiano Dante Alighieri, escrita no início do século XIV, e os sentidos gerados por tais referências no processo intertextual de retomada dos mitos clássicos, recurso simbólico para a Literatura antiga, antes sagrada para gregos e romanos. Em seu longo poema, composto por três Cânticos, Dante constrói diálogos com os mitos que estruturam muitas alegorias, transpondo, dessa forma, os limites da simbologia original dos elementos retomados (no caso específico: as águas) e construindo novos significados nesse espaço intra-ficcional fantástico por ele criado pelo descrever da peregrinação poética pelos reinos do Aldilà, ou seja, Inferno, Purgatório e Paraíso. PALAVRAS-CHAVE: Rios mitológicos; simbologia das águas; La divina commedia; Dante Alighieri.
O escritor italiano Dante Alighieri (Florença, 1265 – Ravena, 1321) em sua
obra-prima, La divina commedia, que começou a ser escrita por volta de 1306, quando o
poeta já se encontrava exilado há seis anos, retoma vários elementos simbólicos; visto
que, ao compor a obra, mergulhou em diversas tradições, entre elas a mítica greco-
romana e inseriu os personagens mitológicos escolhidos, simbólicos e alegóricos por
natureza, em meio a outros, literários ou somente históricos, construindo o que se
poderia chamar de sua própria Mitologia (entendida como conjunto de narrativas
mitológicas).
Inicialmente, chamada La commedia, sua obra-prima teve acrescido ao seu título
o adjetivo divina, por intermédio de Giovanni Boccaccio que foi convidado para fazer
∗ Professora Livre-docente em Literatura Italiana. Departamento de Letras Modernas da UNESP / IBILCE / Câmpus de São José do Rio Preto – SP.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
393
palestras sobre a obra a fim de defender os florentinos dos ataques que lhes eram
dirigidos por Dante nela. No entanto, apaixonou-se pela Commedia, quando então,
chamou-a pela primeira vez Divina. Dava-se o nome de comédia ao gênero literário que
de um início tumultuado ou turbulento terminava com final feliz e elevado, sendo
oposto, portanto, ao tema da tragédia, que culminava em eventos tristes e angustiantes.
Seu tema é conhecido: a peregrinação de Dante personagem pelos três mundos do
Aldilà, ou seja, Inferno, Purgatório e Paraíso. A viagem de Dante pelos mundos do além
túmulo tem início quando o poeta-personagem se vê perdido em selva escura, estando
próximo à cidade de Jerusalém, na Sexta-Feira Santa do ano de 1300. Como única
saída, envereda por caminho que o levará a descer os círculos do Inferno (no Cântico
“Inferno”), guiado por Virgílio (70 a.C – 19 a.C.), autor de A Eneida, para depois subir
os degraus do Purgatório (no Cântico “Purgatório”) e, em seguida, passar pelas esferas
celestiais; dessa vez guiado pela amada Beatriz e, por fim, ter a visão de Deus, guiado
por São Bernardo que o leva à experiência mística do encontro com o Deus cristão,
ocorrido no espaço paradisíaco descrito no Cântico “Paraíso”, em seu Canto XXXIII, da
seguinte forma:
O luce etterna che sola in te sidi, Ó eterna Luz que repousas só em Ti; sola t’intendi, e da te intelletta A Ti só entendes e, por Ti entendida, e intenente te ami e arridi! Respondes ao amor que te sorri! (...) L’amor che move il sole e l’altre stelle. O Amor que move o Sol e as mais estrelas.
(v. 124-126 e 145)
Não é somente ao Deus cristão – Amor que move o sol e as mais estrelas – que
Dante faz referência na obra, existem em La divina commedia referências à História
Antiga e à contemporânea de Dante, à Tradição Medieval, à Mitologia greco-romana e a
um número infindo de outras referências que já mereceram e ainda permitem tantos
outros estudos. No presente, interessa-nos enfocar os elementos mitológicos retomados
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
394
da fonte grega e romana na obra dantesca, mais especificamente os rios mitológicos,
que remetem à simbologia das águas e todos os significados alegóricos que às mesmas
foram atribuídos desde o início dessas civilizações ocidentais.
Desde o princípio de sua viagem, o protagonista Dante encontra seis rios
retomados dos textos que fixaram a Mitologia clássica, sejam eles atribuídos a Homero
ou a outros autores. Dos seis, quatro são infernais – Aqueronte, Estige, Flegetonte e
Cócito – muito abordados em estudos diversos, acrescidos do Letes e o Eunoé. Como
poema didático-alegórico, se insere na tradição medieval pelo uso de símbolos,
condensando a cosmogonia medieval por meio do conhecimento histórico, teológico,
filosófico, literário, natural (científico da época) e mitológico de Dante. D’Onofrio
(2005, p. 356) destaca que o poema dantesco fornece a representação plástica dos
vícios e virtudes, e, no estudo da presença dos rios mitológicos, podemos ter um
exemplo bastante significativo da simbologia das águas que corrobora a punição dos
vícios ou a sublimação do bem realizado.
No “Inferno” (Canto XIV, v. 112-120), Virgílio explica a formação dos rios ali:
Ciascuna parte, fuor che ‘oro, è rotta Cada parte, salvo a de ouro, é rota d’una fessura che lagrime goccia, por fendas de onde lágrimas gotejam le quali, accolte, foran quella grotta. que, recolhidas, cavam essa grota. Lor corso in questa valle si diroccia; No vale pelas fragas se despejam fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; e o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte, poi sen van giú per questa stretta doccia, deste estreito canal então ensejam, infin, là ove piú non si dismonta, até que lá, onde há o final desmonte, fanno Cocito; e qual sai quello stagno formam Cocito; e que lagoa é essa tu lo vedrai, però qui non si conta. verás, pois não precisa que eu te conte.
O primeiro rio mitológico a aparecer é o Aqueronte, que, segundo Grimal
(2005, p. 35), é filho da Terra (Géia), condenado a permanecer nas entranhas de sua
mãe (regiões subterrâneas) como um castigo pelo crime de ter dado de beber aos Titãs,
por ocasião de sua luta contra os deuses olímpicos, que estavam cheios de sede devido
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
395
ao esforço no embate. Há registro histórico de um rio com nome “Aqueronte”,
localizado na região chamada Épiro, na costa ocidental da Grécia continental. Ele
atravessava uma região muito selvagem e, em seu trajeto, desaparecia ao se derramar
por uma fenda profunda. Quando reaparecia, perto da foz, formava um pântano
insalubre, construindo uma paisagem desolada.
Seu nome vem do grego Akhéron (da ákhos, “sofrimento” e réo, “eu corro,
derramo”). No latim: Acheron. Os antigos afirmaram que era derivado de áhos, ou seja,
a corrente da opressão, da angústia. As principais fontes clássicas sobre esse rio
mitológico são: a Odisséia, atribuída a Homero; A Eneida, de Virgílio e Metamorfoses,
de Ovídio. Em Dante ele aparece da seguinte forma:
Ed elli a me: “Le cose ti fier conte “Claros terás, co’a razão que os confronte, quando noi fermerem li nostri passi os fatos”, respondeu, “quando alcançado su la trista riviera d’Acheronte”. Tivermos a orla triste do Aqueronte”. (“Inferno”, Canto III, v. 76-78)
Chevalier (1988, p. 15-22), a água simboliza a fonte de vida, centro de
regeneração, origem da criação, vida espiritual, meio de purificação; mas, em alguns
casos, simboliza também o sangue, a estagnação, ou as energias inconscientes,
chegando a ligar-se à morte quando é apresentado de forma poluída, suja, até mesmo
desintegradora. E é a essa simbologia desintegradora que se liga o Aqueronte dantesco,
tendo em vista que é representado por Dante com águas estagnadas e com margens
cheias de juncos e lodo.
Mas além da simbologia da água, existe também aquela ligada ao rio, que,
segundo Chevalier (1988, p. 780-782), liga-se ao fluir do tempo, à possibilidade
universal, à fertilidade, à morte e à renovação. E é a essa passagem entre morte e
possibilidade de renovação que estão interligados todos os seis rios mitológicos
retomados.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
396
Segundo a Mitologia grega, as almas podiam atravessar o Aqueronte somente se
o corpo já tivesse sepultado. No Inferno dantesco, o Aqueronte aparece como divisor do
Antinferno e do primeiro círculo.
Grimal (2005, p. 35) afirma que foi com a Odisséia que surgiu a descrição do
mundo subterrâneo do Inferno que mencionava o rio Aqueronte, ao lado do Flegetonte e
do Cócito. Nesse texto homérico, pode-se verificar que o Aqueronte é o rio que as almas
devem atravessar para chegar ao Império dos Mortos, usando um barco, cujo barqueiro
é o mitológico Caronte, que as transporta de uma margem à outra.
Depois de passar pelo Aqueronte, o protagonista Dante encontra o pântano
formado pelo rio Estige,
In la palude va c’ha nome Stige Estige é o nome do vasto palude questo tristo ruscel, quand’è disceso Onde essa triste corrente deságua, al pie de le maligne piagge grige. Chegando ao pé da fusca encosta rude. E io, che di mirare stava inteso, E eu, atento a um remexer na água, vidi genti fangose in quel pantono, Gentes lodosas vi no lameirão, ignude tutte, com sembiante offeso. Todas nuas, demonstrando irada mágoa. (“Inferno”, Canto VII, v. 106-111)
Mais uma vez podemos constatar a simbologia das águas do Estige que o ligam
à morte, pois é apresentado de forma poluída, suja, e até mesmo desintegradora, local no
qual eram imersos os violentos contra o próximo. Na Mitologia, existe um contraponto
para essa simbologia, pois tal rio é ligado à invulnerabilidade de Aquiles visto que foi
nele que sua mãe Tétis mergulhou-o em busca da invulnerabilidade. É nele que viaja o
mitológico Barqueiro Flégias, transportando passageiros. Dante também retoma o
barqueiro.
Depois do Estige, encontramos o Flegetonte, na obra dantesca: Mas olha abaixo
e verás lá adiante / O rio de sangue onde estão, na fervura, / Os réus de violentar seu
semelhante (“Inferno”, Canto XII, v. 46-48), onde estão mergulhados no sangue em
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
397
estado de fervura os violentos contra os semelhantes. O nome desse rio deriva do grego
Flegéthon (rio fervente), que se religa à raiz grega flégo (ardo).
Do fogo se passa ao gelo, e depois de caminhar por diversos locais de penas, as
bordas do último círculo do Inferno, Virgílio e Dante pedem ao mitológico gigante
Anteu (filho de Gaia e Poseidon) que os baixe ao ponto mais fundo, no qual está o rio
Cócito formando um lago congelado: Com que voltei-me e vi à minha frente / e sob
meus pés uma lagoa gelada, / de vidro mais que de água parecente. (“Inferno”, Canto
XXXII, v. 22-24)
Na Mitologia grega, o Cócito (do grego kokytós, “lamento”) é um rio do Hades,
o reino dos mortos. Na tradição romana (principalmente em Virgílio), foi convertido no
principal rio do Hades. Em La divina Commedia, é um dos rios do Inferno, emissário do
Estige, que circundava o Tártaro, e ao longo das suas esquálidas margens, se dizia,
vagam as sombras ou as almas dos mortos sem sepultura. Dante descreve-o congelado
pelo hálito de Lúcifer que está em seu centro, no nono círculo infernal, no qual são
punidos os traidores e os grandes enganadores.
No Inferno, faz-se referência ao Cócito de águas congelantes que simbolizam a
completa estagnação à qual estão submetidos os condenados ali encerrados. Frio intenso
com congelamento que leva à estagnação permanente constituem a pena aplicada aos
traidores cuja frieza de ações marcou sua vida na terra.
Mas Dante e Virgílio não ficam detidos nele. Por meio do murmúrio de um
ruscello encontram a saída do Inferno:
(...) d'un ruscelletto che quivi discende de um riachinho que pra cá descende per la buca d’um sasso, ch’elli ha roso, pelo sulco por ele consumido, col corso ch’elli avvolge, e poço pende. e em seu curso serpeja e pouco pende.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
398
Lo duca e io per quel cammino ascoso Tomamos esse caminho escondido intrammo a ritornar nel chiaro mondo; ele e eu, pra voltar ao claro mundo e sanza cura aver d’alcun riposo, e, sem repouso algum mais consentido salimmo sú, el primo e io secondo, subimos ele primo e eu segundo, até tanto ch’i’ vidi de le cose belle surgir-nos essas coisas belas, che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo. que o céu conduz, por um vazio rotundo; E quindi uscimmo a riveder le stelle. saímos por ali, a rever estrelas. (“Inferno”, Canto XXXIV, v. 130-39)
É o Letes que nasce como riacho e leva-os para fora do Inferno. Retomado no
sentido que possuía com os antigos: o rio do esquecimento (Leté, nome grego, que
significa “esquecimento” da raiz do verbo grego lantháno ‘esconder’). Mencionado por
Dante da seguinte forma: “E se daquilo tudo te esqueceste”, / tornou sorrindo, “ora
lembrar-te tenta / como ainda hoje do Letes bebeste. / (...) / “Muito mais coisas, além
desta, eu / Já tenho lhe explicado, e estou segura / Que a água do Letes não lho
escondeu” (“Purgatório”, Canto XXXIII, v. 94-96 e 121-123). A simbologia dessas
águas do esquecimento está ligada ao que Cirlot chamou de entrega das formas à
fluência que as desfaz para deixar em liberdade os elementos que hão de reproduzir
novos estados cósmicos (2005, p. 63).
Saindo do Inferno em direção ao Purgatório, que por sua vez, levará ao Paraíso,
as almas podem almejar novos estados cósmicos ao se esquecerem dos erros cometidos
e marcharem para a expiação que leva à rendenção apregoada pela religião. Ocorre o
que Cirlot chama de Nascimento psicanalítico, por meio da renovação gerada pelo
efeito do esquecimento provocado pelas águas e as novas possibilidades que a ausência
de culpa e o peso que as almas deixam de carregar por não terem mais consciência dos
erros cometidos. Nascendo no final do Inferno, correndo rumo ao Purgatório, o Letes
faz a mediação entre a vida e a morte (CIRLOT, 2005, p. 63) como corrente positiva
que promove a evolução, ligando-se também à simbologia do Rio levantada por
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
399
Chevalier (1988, p. 780-782) como fluir do tempo, ampliador da possibilidade
universal, passagem entre morte e renovação.
E chega-se, então, ao sexto rio, este de águas doces, o Eunoé. Em grego Éunoos,
de éu (bem) e nóos (mente), que significa “boa mente, bom pensamento”, ou seja,
recordação do bem. Seu poder é fazer recordar dos fatos já vividos, porém com
consciência de que serviram para evolução tanto o bem realizado quanto o mal
cometido, uma vez que já foi resgatado. Dante fala dele da seguinte forma:
Ma vedi Eunoè che là diriva: Mas vejas o Eunoé que lá deriva; menalo ad esso, e come tu se’ usa, a ele o leva e, como sóis lidar, la tramortita sua virtù ravviva” o amortecido seu poder reaviva”. (...) (...) Io ritornai da la santissima onda Refeito retornei da onda santa, Rifatto si come piante novelle como de novas folhas, ao rompê-las Rinovellare di novella fronda, de sua ramagem, se renova a planta: Puro e disposto a salire a le stelle. puro e disposto a subir às estrelas. (“Purgatório”, Canto XXXIII, v. 127-129 e 142-145)
O Eunoé é um rio do Paraíso terrestre, próximo ao Letes, segundo Dante
(“Purgatório”, Canto XXVIII, v. 131; Canto XXXIII, v. 127). No “Purgatório”
encontram-se ritos como o da suprema purificação nas águas do Letes, quando Matelda
emerge Dante (“Purgatório”, Canto XXXI, v. 91-105) para torná-lo digno de “subir às
estrelas”, até a regeneração espiritual produzida pelas águas doces do Eunoé, por meio
das quais o poeta se sente “refeito” e pode se lembrar dos seus pecados, mas apenas
como coisas passadas e superadas. Não sentirá vergonha ou culpa, pois as suas faltas
foram superadas e perdoadas por ele (perdoou a si mesmo).
As águas do Eunoé simbolizam, desta forma, o centro de regeneração que
Chevalier (1988, p. 15) abarca dentre os significados possíveis para a simbologia das
águas, além da simbologia do rio que é apontada como possibilidade universal, como
símbolo da morte e renovação (idem , p. 780-782).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
400
Picone (2005, p. 175), com relação à retomada da obra de Ovídio por Dante, em
La divina commedia, afirma que Dante promove a correção do texto clássico pois
retorna a alguns elementos constitutivos do texto ovidiano e os insere em nova trama,
para beneficiar a construção da estrutura do novo texto, desta vez cristão. Com a
retomada dos rios mitológicos Dante faz o mesmo, busca-os nas várias fontes greco-
romanas que os registraram, estilizando ao inseri-los no decorrer da peregrinação do
personagem para simbolizarem os caminhos possíveis que as almas podem realizar em
busca da evolução e ascenção ao Paraíso.
Assim, Dante Alighieri retorna à topografia primordial greco-romana, volta aos
textos clássicos para tomar deles seis rios mitológicos, começando pelo Aqueronte e
Estige, rios de águas conspurcadas, que simbolizam o lado inferior e negativo da
existência cósmica, psíquica ou espiritual. Retoma também o Flegetonte, rio de sangue
fervente; no qual insere os violentos em pena eterna, mergulhados no elemento líquido
que eles mesmos fizeram derramar durante sua vida na terra, para penarem enquanto se
recordam dos crimes cometidos. Após o rio de sangue fervente, ligado à morte, ao
sofrimento e à recordação da dor produzida, guiado por Virgílio, Dante chega ao Cócito,
símbolo da estagnação, que prende no gelo o anjo decaído Lúcifer.
Para sair da estagnação, novamente a fluência dos rios é convocada e a nascente
do Letes, localizada ao final do Inferno dantesco, leva ao que Cirlot chama de entrega
das formas à fluência que as desfaz para deixar em liberdade os elementos que hão de
reproduzir novos estados cósmicos (2005, p. 63). O esquecimento provocado pelas
águas do Letes desfaz o peso da culpa e permite a ascensão dos peregrinos pelo
Purgatório, de geografia montanhosa, e local de passagem, jamais de estagnação,
poisque leva ao Paraíso terrestre onde corre o Eunoé. Suas águas promovem uma
espécie de renascimento psicanalítico, ao promover a recordação acompanhada do
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
401
perdão ou do auto-perdão, completando a mediação entre a morte das almas e a
possibilidade de vida nova. Revela, ainda, uma dupla corrente positiva, constituída pelas
águas dos rios e toda a simbologia que elas trazem.
Mesmo que a maioria dos estudiosos não verifique e, portanto, não dê ênfase ao
percurso do protagonista da comédia dantesca pelos rios do Inferno e do Purgatório e
chegando, último local onde há a possibilidade geográfica de se encontrar um rio, visto
que o Paraíso celeste encontra-se completamente situado nos céus. O personagem Dante
e seu guia realizam uma viagem simbólica nas águas. Iniciam simbolicamente com a
morte, a desintegração, o sofrimento, a estagnação até chegarem ao esquecimento e à
recordação, acompanhada de recognição da vida pregressa. O que dá ao protagonista o
novo sentido buscado para a vida, propicia-lhe a purificação por meio da superação,
promove o movimento positivo e o progresso ou a evolução espiritual.
Assim, o mundo cristão após a morte física, representado por Dante se aproveita
da topologia fluvial pagã mitológica para simbolizar a evolução das almas também
apregoada pelo Cristianismo ao promover a estilização do espaço mitológico que é
revisitado e oferece poderoso e simbólico torrencial para a arte dantesca, mesmo que
baseada em seu pensamento cristão.
Referências Bibliográficas:
ALIGHIERI, D. A divina comédia. Edição bilingüe. Tradução e notas de Italo Eugenio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1998.
CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Tradução de Vera da Costa e Silva. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.
CIRLOT, J-E. Dicionário de símbolos. Tradução de Rubens E. F. Frias. São Paulo: Centauro, 2005.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
402
D’ONOFRIO, S. Literatura ocidental, autores e obras fundamentais. São Paulo: Ática, 2005.
GRIMAL, P. Dicionário da mitologia grega e romana. Tradução de Victor Jabouille. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
PICONE, M. Dante Alighieri: La riscrittura di Ovidio nella “commedia”. In: GIBELLINI, P. (org.) Il mito nella letteratura italiana I: dal Medioevo al Rinascimento. Brescia: Morcelliana, 2005. p. 126-175.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
403
ACERCA DO FANTÁSTICO E DA ICONOGRAFIA PARATEXTUAL
Maria Cláudia Rodrigues Alves∗
RESUMO
Em Palimpsestes (1982), e posteriormente em Seuils (1987), Gérard Genette desenvolve a teoria do paratexto, definindo-o como todo texto que se agrega a um texto base. Dentre as categorias elencadas por Genette, destacamos neste estudo as ilustrações, categorizadas como peritexto editorial, sendo que nos deteremos mais especificamente às capas de livros brasileiros e suas respectivas traduções no exterior, a partir da obra traduzida de Rubem Fonseca para o francês, propícia à observação das fronteiras do fantástico. O cotejo entre tal repertório brasileiro e o estrangeiro insere-se nos estudos de literatura comparada, na teoria da Imagologia, que busca estudar as relações culturais entre os povos. Acreditamos que a análise do material iconográfico paratextual pode nos conduzir a uma reflexão acerca de que maneira elementos extraliterários colaboraram com as expectativas dos leitores potenciais da literatura brasileira traduzida e em que medida esse material revela os projetos editoriais e uma certa forma de apresentar o Brasil, o autor brasileiro e sua obra, no exterior. PALAVRAS-CHAVE: paratexto; peritexto editorial; capas de livros; literatura brasileira traduzida; mercado editorial francês.
A análise paratextual, mais especificamente das capas de livros, nos permite
observar, quanto à publicação de literatura brasileira no exterior, que o mercado
editorial estrangeiro adota com freqüência, como vem ocorrendo há décadas, a opção
com forte apelo ao exotismo tropical: paisagens cariocas, frutas coloridas, biótipos
negro ou mestiço. Em algumas ocasiões, entretanto, notamos a preocupação na
correspondência temática ou de gênero com a obra. Em ambos os casos os resultados
podem ser surpreendentes, bem sucedidos ou provocar mal-entendidos e interpretações
ambíguas. Propomos neste trabalho a apreciação e análise de alguns desses casos na
∗ UNESP / IBILCE / Câmpus de São José do Rio Preto – SP. Professor assistente doutor do Departamento de Letras Modernas, área de Francês, Língua e Literatura Francesa.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
404
obra de Rubem Fonseca, traduzida na França e alguns dos desdobramentos resultantes
desse corpus inicial que vem se destacando e se consagrando no exterior.
Convém ressaltar que o embrião deste trabalho encontra-se no estudo, mais
amplo, de recepção da obra de “Rubem Fonseca na França”, objeto de nosso doutorado.
A partir de um recorte do que se tornou efetivamente a tese, derivamos para o estudo do
paratexto iconográfico de autores que configurariam, ulteriormente, nosso alvo de
pesquisa trienal: Patrícia Melo, Tony Bellotto e Luiz Alfredo Garcia-Roza. Esse
trabalho está sendo conduzido atualmente no âmbito de um grupo de pesquisa formado
com estudantes do Ibilce. Considerando, pois, este desdobramento que nos conduziu
outros autores, à sutileza de outros gêneros, e finalmente, ao romance policial suas
tênues fronteiras com outros gêneros, pensamos mostrar aqui parte desse percurso, seu
início, sobretudo, sempre observando as relações, que em nosso caso, partiram da
relação entre a língua portuguesa e a língua francesa, entre as duas culturas, entre o
Brasil e a França, entre a dita periferia e o centro, entre as mentalidades envolvidas
nessa relação maior, e enfatizando, desta feita, a presença do insólito, do inquietante e
do suspense.
Observemos, pois, algumas capas de livros brasileiros traduzidos para o francês,
partindo do corpus inicial, a obra de Rubem Fonseca, e inicialmente, os romances.
1 2 3 4 5 6
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
405
A sequência acima respeita a cronologia de publicação dos romances na França.
A capa da edição da Flammarion, de 1979, é bastante simples, sem ilustração. O papel é
fosco. O texto da capa compreende: autor, título e editora em branco ou em preto, sendo
que a única cor presente é o destaque, em quadro vermelho, dos títulos do romance, Le
cas morel, mais destacado, e da coletânea de contos Bonne et heureuse année, com
menor destaque. Optou-se por utilizar apenas letras minúsculas, fato que reforça a
simplicidade visual. Por fim, figura abaixo do quadro vermelho a indicação da coleção
“Lettres étrangères” junto à editora “Flammarion”. Não há indicação da tradutora
Margueritte Wünscher nem menção à origem ou natureza da obra na capa.
A edição de Du grand art de 1986 mostra uma foto (informação fornecida na
contracapa vertical sobre o ISBN, sem autoria: The Image Bank-France) de paisagem
carioca ao anoitecer. Trata-se da Baía de Guanabara com o Pão de Açúcar ao fundo. Em
destaque, na parte superior da capa, em letras brancas, aparecem o nome do autor, o
nome do romance com a especificação roman, entre dois traços amarelos e o crédito ao
tradutor: Traduit du brésilien par Philippe Billé. Este será o único romance a apresentar
esta especificação na capa. Na parte inferior, à esquerda, observa-se o nome da editora
Grasset.
Compreende-se a utilização da imagem do Pão de Açúcar por ser símbolo do
Rio de Janeiro onde se inicia e se passa parte da trama. No entanto, pode-se igualmente
considerar bastante exótico o estilo “cartão postal” da capa e intencional da parte da
editora, pois este é o tipo de capa que pode induzir o leitor à compra do livro, sugerindo
um conteúdo mais exótico.
Tanto Bufo & Spallanzani quanto Vastes émotions et pensées imparfaites
receberam tratamento especial.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
406
Bufo & Spallanzani, lançado em janeiro de 1989 na França, é a primeira das
edições da Grasset a apresentar uma capa diferenciada das edições precedentes. Uma
primeira capa, em papel couché brilhante 120gr, pode ser descartada e cobre o livro,
protegendo-o. Esta capa traz uma ilustração de Ken Woodard (informação figurando na
contracapa couché - apenas, deitada em vertical – à direita da inscrição ISBN:
Illustration Ken Woodard ) representando o Pão de Açúcar, durante o dia. Em
primeiro plano, a parte dianteira de um carro luxuoso cujo estandarte dianteiro sobre o
painel frontal é um sapo. Mais uma vez, pode-se observar o Pão de Açúcar como cartão
postal da cidade do Rio de Janeiro, onde se passa a trama. O carro de luxo, em primeiro
plano, sugere uma relação de poder monetário na intriga. O sapo no capô do carro é uma
alusão ao cientista Spallanzani, descobridor do veneno que será um elemento utilizado
no romance. Dessa forma, o Pão de Açúcar anuncia o espaço, porém, somente após a
leitura do livro é que se compreende o restante dos elementos da ilustração. No mínimo,
as informações visuais dessas duas primeiras capas da Grasset conduzem o
leiotr/comprador a deduzir que autor e obra estão vinculados à cidade do Rio de Janeiro.
Un été brésilien, de 1993, retoma o formato mais simples de Du grand art. A
capa traz destacado o nome do autor (em branco), em seguida, justificados à direita, o
título da obra, com a especificação roman e abaixo a editora Grasset, tudo em amarelo
sobre um fundo vermelho, negro e branco de uma foto solarizada de autoria do
fotógrafo e artista plástico Philippe Sohiez (informação fornecida sucintamente na
contracapa em vertical sobre o ISBN: Photo Philippe Sohiez), A foto representa em
primeiro plano um homem com chapéu e bigode fumando provavelmente um charuto,
em segundo plano uma mulher em pose sedutora e ao fundo de cada figura uma
palmeira ou coqueiro.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
407
Pode-se vislumbrar aqui a intenção do artista em representar elementos do
submundo (o malandro e a prostituta) em uma atmosfera tropical (charuto, palmeiras,
chapéu panamá). A cor vermelha também é sugestiva: tanto do clima tropical, como de
uma intriga criminal. Embora se reconheça aqui a qualidade do trabalho de Philippe
Sohiez, a capa não é completamente reveladora do conteúdo do romance – uma ficção
histórica, mas trata-se de uma ilustração bastante sugestiva, contendo os clichês de uma
capa de romance policial.
Observando a temática explorada nas capas dos romances acima expostos, que
enfatizam o exotismo e sugerem a ambientação carioca das narrativas, sugerimos a
observação de capas de outros autores cujas narrativas também são ambientadas no Rio
de Janeiro. Vejamos o tratamento distinto dado a essas publicações mais recentes.
7 8 9 10 11 12
Inferno, de Patrícia Melo, ganha na publicação francesa um toque carioca, com
conhecido Cristo Redentor em vermelho, que recupera a cor marcante da edição
brasileira (7) mantendo a sugestão da ambientação com a cor demoníaca, mas
igualmente acrescentando a ideia de “sangue”. Uma janela em Copacabana perde a
caracterização do ambiente, quando é publicada numa coleção de romances policiais,
cujas capas apresentam rostos femininos (9). O silêncio da chuva, na edição francesa,
retoma a opção editorial de explorar a paisagem carioca da orla marítima (11). Podemos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
408
constatar que as opções editoriais, embora variadas, tendem ainda hoje para o exotismo,
o Rio de Janeiro, o clichê tropical, que vende.
Retornando às publicações da obra traduzida de Rubem Fonseca na França,
evocaremos a seguir algumas capas de antologias ou coletâneas nas quais figuram
contos de Rubem Fonseca e de outros autores.
13 14 15
Considerado « Livro de bolso » (1x13x19), Des nouvelles du Brésil é uma
coletânea de 20 contos apresentada por Clélia Pisa.
A capa, uma composição gráfica cujo crédito figura na contracapa “couverture
Aparício & Hoch”, representa envelopes de cartas sobrepostas com moldura nas cores
brasileiras (esta apresenta a inscrição “via aérea-par avion”) e francesas, sugerindo o
diálogo entre os países e, conseqüentemente, entre as culturas em questão. Observa-se
igualmente alguns selos com timbre, nos quais se vislumbram muito sutilmente, em um
uma borboleta, e, em outro uma paisagem florida. Figura na parte superior à direita o
período cronológico “1945-1998”. O título aparece numa composição gráfica, central.
Na parte inferior à direita há o nome da editora “Métailié”, a coleção “suites” e um
lagarto, símbolo da editora.
A família Métailié é bastante cuidadosa em seus projetos editoriais. A qualidade
do prefácio de Clélia Pisa é uma prova do esmero dessa publicação
A antologia Contes de Noël brésiliens [Contos para um natal brasileiro] retoma
dezesseis contos publicados na antologia brasileira em 1996 pela editora Relume
Dumará. Dos contos selecionados, todos se referem diretamente às festas natalinas ou
sugerem, como o de Antonio Torres, “Segundo Nego Roseno” , um período de festas
com missas. O conto de Rubem Fonseca é o único a não se relacionar diretamente com
o tema.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
409
Considerou-se apropriado adiantar aqui algumas reflexões a respeito do conto
em questão a partir do material textual a fim de elucidar elemento tão obscuro, pois após
a descoberta da edição brasileira a questão tornou-se: Por que os brasileiros
selecionaram exatamente este conto para uma coletânea de contos de natal se seu tema é
tão mais universal que a festa natalina?
Em “O outro”, o narrador, um executivo é freqüentemente interpelado por um
pedinte na rua. Torna-se uma obsessão para o protagonista fugir do assédio da pessoa
que mendiga. Por um certo tempo, obtém sucesso em sua empreitada, mas em um
derradeiro encontro em que o mendigo o segue até sua casa, o narrador pede que espere
por ele na entrada e ao regressar atira no menino. O conto encerra-se da seguinte forma:
Fechei a porta, fui ao meu quarto. Voltei, abri a porta e ele ao me ver disse "não faça isso, doutor, só tenho o senhor no mundo". Não acabou de falar ou se falou eu não ouvi, com o barulho do tiro. Ele caiu no chão, então vi que era um menino franzino, de espinhas no rosto e de uma palidez tão grande que nem mesmo o sangue, que foi cobrindo a sua face, conseguia esconder.
Ao se comparar as capas das edições brasileira e francesa à primeira vista
observa-se a simplicidade da primeira e o refinamento da segunda. Esta apresenta uma
sobrecapa azul esverdeada escura, com ilustração colorida que envolve a capa dura
branca, sem ilustração com letras nos tons azul, claro e escuro. Nota-se na capa da
edição brasileira, de autoria de Victor Burton, uma maior generalização do tema: um
sol, um anjo, flores. Consta igualmente o nome de todos os autores, por ordem
alfabética (Antonio Callado, Antônio Torres, Carlos Drummond de Andrade, Carlos
Nascimento e Silva, Carlos Sussekind, Dalton Trevisan, Eric Nepomucemo, João
Ubaldo Ribeiro, Luis Fernando Veríssimo, Lygia Fagundes Telles, Machado de Assis,
Moacyr Scliar, Naum Alves de Souza, Nélida Piñon, Paulo Coelho e Rubem Fonseca),
assim como o nome das editoras Relume/Dumará/IBASE. Além do título, somente a
presença da iconografia do anjo remete o leitor ao período natalino. A colorida
ilustração de Luiz Carlos Figueredo na parte superior da sobrecapa da edição francesa
traz o Menino Jesus dentro de um mapa do Brasil descendo do céu e sendo recebido por
Maria e José, os reis magos e alguns animais, pássaros brancos aos pares e cabeças de
equinos, que estão sorrindo. Figura igualmente o nome da editora “Albin Michel”, em
rosa claro, abaixo da ilustração e do título que está centralizado, escrito com as cores
dourada, vermelha e branca, alusão ao Natal.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
410
O texto da contracapa francesa reforça esse descompasso, no que se refere ao
conto fonsequiano. De imediato, após a retomada do título, é afirmado em um texto de
apresentação do livro que “Les plus grands auteurs brésiliens contemporains se sont
donné rendez-vous pour célébrer Noel” [os maiores autores brasileiros marcaram
encontro para celebrar o Natal]. No segundo período do texto, o natal brasileiro é
inevitavelmente relacionado ao “rythme des airs exotiques” [ritmo de ares exóticos].
Para completar o quadro, três autores merecem destaque: o primeiro é Paulo Coelho,
cujo texto recebe o adjetivo de “merveilleusement simple” [maravilhosamente simples].
Há ainda a menção a um dos best-sellers do autor, L’Alchimiste [O alquimista]. O
segundo autor citado é Carlos Drummond de Andrade, atentando-se para o teor
sarcástico de seu conto. Finalmente, menciona-se o conto sensível e inquietante de
Machado de Assis. O final do texto convida o leitor, amante de literatura, a ler os contos
e a “rêver d’um Noël sous d’autres cieux” [sonhar com um natal sob outros céus],
festejando a data de uma maneira diferente, “entre samba et messe de minuit” [entre
samba e missa do galo]. Eis o texto da contracapa em sua íntegra:
Les plus grands auteurs brésiliens contemporains se sont donné rendez-vous pour célébrer Noël. Chacun à sa manière nous offre un tableau saisissant de cette fête universelle sous le soleil de l’autre hémisphère où, comme ailleurs, se retrouvent la ferveur, la prière, l’espoir, mais aussi la fête et la joie exprimées au rythme des airs exotiques.
Merveilleusement simple et sublime comme le texte de Paulo Coelho, l’auteur de L’Alchimiste, - la prière inattendue qu’un gamin adresse à Dieu- ; sarcastique comme la nouvelle de Carlos Drummond de Andrade avec son voleur déguisé en Père Noël ; sensible comme le troublant dialogue qu’échangent une femme et un adolescent mis en scène par Machado de Assis : les contes singuliers de ce recueil réservent quelques belles surprises aux amateurs de littérature ainsi qu’à ceux qui veulent rêver d’un Noël sous d’autres cieux, et le fêter autrement, entre samba et messe de minuit.
Embora a grafia do título na edição francesa siga o modelo da edição brasileira
(diferentes tipos gráficos para cada letra), há um flagrante descompasso na tradução do
título para a língua francesa pela mudança da preposição para/de e a atribuição do
adjetivo “brasileiro”. Em português trata-se de contos PARA um natal brasileiro,
enquanto em francês são contos DE natal brasileiros. Na edição brasileira, sugere-se
que os contos, tenham eles ou não o tema natalino, podem ser lidos na época do Natal,
ou servirão de alguma forma ao natal dos brasileiros. Já o título da edição francesa
promete ao leitor contos brasileiros de Natal. O descompasso é maior quando se leva
em consideração que o conto “O outro” de Rubem Fonseca não tem relação direta com
o natal, a não ser pela falta de solidariedade do narrador que ao final mata o pedinte que
o atormenta.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
411
O exame da contracapa brasileira esclarece quanto ao projeto editorial da
publicação:
Há três anos, Betinho vem lutando por um Natal sem Fome. Agora, um elenco expressivo de autores nacionais se junta a ele na luta contra a fome e a miséria, no sonho de um Natal mais solidário.
Este livro apresenta, em diferentes estilos, em contos já conhecidos e outros inéditos, a solidariedade e a esperança, o Natal e os sentimentos que desperta. Desde o Natal singelo do casal Maria e José até o Natal de strippers de São Paulo.
É muito o que a cultura pode fazer pelo país e Contos Para um Natal Brasileiro é apenas uma pequena amostra do que pode resultar o encontro arte e solidariedade.
Na versão francesa, a explicação consta da página 9:
Titre original: CONTOS PARA UM NATAL BRASILEIRO
Les auteurs, publié par relume Dumará, Rio de Janeiro Voir sources page 175
Traduction française :
Editions Albin Michel S. A., 1997 22, rue Huyghens, 75014 Paris
ISBN 2-226-09512-8
As fontes, elencadas à página 175, também não revelam o projeto social por trás
da edição brasileira. Não há na edição francesa nenhuma instância prefacial ou pasfacial
que indique o objetivo inicial da edição original. A edição brasileira apresenta, quanto a
ela, mais dois paratextos. O primeiro consiste em uma apresentação do próprio Betinho:
Desde 93, a sociedade civil, mobilizada, vem lutando contra a indigência. Neste processo, já aglutinou cerca de 3 milhões de pessoas em comitês de Ação da Cidadania, em todo país. O brasileiro se indignou com a miséria disseminada em sua terra. Descobriu que a pobreza pode ter rosto – muitas vezes, o de seu vizinho. E que bastava uma cesta de democracia para matar toda a fome de comida, justiça, trabalho, solidariedade.
Esta mobilização ganha força especial próximo ao 25 de dezembro. Quem consegue pensar em uma noite de Natal indigente, sem casa, sem comida? Assim nasceu, ou melhor, veio à tona, o sonho de um Natal sem Fome. Que, pelo menos uma vez ao ano, ninguém fique sem comida na noite de Natal. Com este projeto, mobilizam-se comitês em todo país, a fim de garantir mais justiça social. Que as crianças possam ter com o que brincar. Afinal, criança também tem fome de brinquedo.
Contos para um Natal brasileiro é contribuição dos autores para saciar a fome de nosso imaginário. O Brasil precisa construir o seu Natal. Em todos os sentidos. Precisa criar uma sociedade mais justa, fraterna, com igualdade de participação. Para isso, é preciso que ela exista antes dentro de cada cidadão e cidadã. O livro é uma possibilidade de mudança na cultura de cada leitor. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência; muda sim pela sua cultura.
Betinho (p. 7-8)
O segundo paratexto encontra-se nas orelhas da edição brasileira:
Contos para um Natal brasileiro torna explícita uma comunhão praticada sempre, e que aqui, neste livro e neste momento, manifesta-se na sua expressão mais aguda. Arte e solidariedade, mesmo quando praticadas isoladamente, são a mesma coisa: um gesto fecundo de amor à vida. Esta seleção de craques da literatura brasileira, convocada pelo Betinho, entra em campo para participar, com sua arte, da campanha Natal sem Fome.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
412
Tendo sido esta a primeira razão para a existência do livro, fica agora o leitor contemplado com um encontro que, do ponto de vista literário, traz algumas surpresas e muitos efeitos. Quem diria que existe entre nós uma produção de contos ancorados no ambiente natalino e nos sentimentos e expectativas – mesmo sendo os mais diversos e até mesmo contraditórios – que este momento desperta? Na tradição contemporânea da nossa literatura, tudo parece ter começado com o conto Missa do Galo, do mestre Machado de Assis. Nada de celebração explícita ao Natal, mas o ritual da festa e os sentimentos que ela evoca como pano de fundo. É na espera da hora da missa que alguma coisa, tão permanente e também tão fulgaz, se insinua.
De passo com a celebração com o nascimento do Menino Jesus, Conceição celebra a seu modo aquilo que seria apenas uma possibilidade, deixando para sempre impressionado o jovem Nogueira de 17 anos.
Propositadamente, incluiu-se nessa coletânea alguns contos em que não há nenhuma referência ao Natal, como O outro, de Rubem Fonseca, ou Segundo Nego de Roseno, de Antônio Torres, mas mesmo assim a evocação da solidariedade e da esperança surgem como temática principal. No caso do conto de Rubem Fonseca, aquele empresário moderno, acuado e solitário bem atualiza – sinal da globalização? – o avarento Scrooge, do Christimas Carol, de Charles Dickens.
Reunindo contos já conhecidos e outros inéditos ou até então somente publicados em jornais e revistas, estes textos assumem aqui uma nova vida e adquirem um significado muito especial: demonstram o vigor do conto brasileiro, mesmo quando reunidos em torno da temática do Natal.
Assim, a presença do conto justifica-se plenamente na edição brasileira, porém,
permanece o estranhamento na edição francesa que não apresenta nenhuma explicação.
A edição francesa é facilmente encontrada nas livrarias e custa aproximadamente 20
euros.
Duas outras coletâneas parecem, porém, nos fornecer exemplos do que
poderíamos chamar de uma abordagem mais voltada ao produto de origem e outra
abordagem que visa o universal.
16 17
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
413
A primeira capa concerne a Anthologie de la nouvelle latino-américaine** , na
qual figura o conto « Gazelle » [« Gazela »], de 1991. Sobre um fundo ocre-alaranjado,
figuram os nomes dos organizadores Rubén Bareiro Saguier e Olver Gilberto de Leon,
em seguida, o título da antologia e quatro ilustrações em cordel, aparentemente
independentes umas das outras. Na primeira (parte superior à esquerda), um homem e
uma mulher conversam, ele fuma cachimbo e ambos parecem beber algo. Na segunda
(parte superior à direita), três indivíduos cada um com uma faca parecem brigar entre si.
Na terceira gravura (parte inferior à esquerda), dois homens parecem confraternizar-se
bebendo. E na última (parte inferior à direita), uma mulher tenta pegar um objeto da
mão de uma outra mulher ou um padre....não se sabe ao certo. Independentes ou não,
pois podem estar contando uma estória. Finalmente figuram o nome da editora
BELFOND / UNESCO. Esta publicação encontra-se esgotada.
A capa da antologia Ménaces: Anthologie de la nouvelle noire et policière
latino-américaine, de 1993, apresenta o nome do organizador, Olver Gilberto de Leon, o
título em grandes letras vermelhas, seguido do subtítulo, uma ilustração e o nome da
editora: Atalante. Em Menaces - Anthologie de la nouvelle noire et policière latino-
américaine, foi publicado em 1995 “Relatório de ocorrência em que qualquer
semelhança é não mera coincidência”, traduzido como “Compte rendu de circonstances
où toute ressemblance n’est pas pure coïncidence” por Jean-Claude Vignol. A ilustração
da capa, de Xavier De Sierra, jovem artista uruguaio residente na França (indicação na
orelha da contracapa) é bastante sugestiva: um homem sentado perto de uma janela,
olha por essa janela, sem talvez perceber elementos inquietadores no interior da peça na
qual se encontra: ao fundo, uma janela de treliça deixa entrar parcialmente a luz do
exterior, no chão, um vulto de mulher em vermelho sugere a sombra de mais alguém
presente no cômodo e a parede atrás do homem apresenta um ameaçador efeito de
redemoinho. Eventuais cores pastéis contrastam com o negro e o vermelho
preponderantes.
A ilustração corresponde ao conteúdo do texto da contracapa:
« Quand il est sorti du Paris et que la nuit lui a cinglé les joues d’un coup de fouet glacial, il a su que le type l’attendrait près de la bouche du métro… » Sujet même de la nouvelle ou présence diffuse entre les lignes, la menace est là, émanation d’un pouvoir dénaturé, d’organisations occultes, ou expression du « double destructeur » tapi en chacun de nous. Cette présence insistante n’est bien sûr pas étrangère à l’histoire de l’Amérique latine. Une histoire à l’image de la violence qui traverse ces nouvelles : explosive, baroque ou
** Não se teve acesso direto à publicação Anthologie de la nouvelle latino-américaine, de 1991. Também não se teve acesso ao texto de apresentação da contracapa.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
414
contenue, elle se manifeste sous des jours aussi variés que les auteurs réunis dans ce recueil. De Borges à Juan Martini et Taibo II en passant par Rubem Fonseca, tous démontrent, au-delà des classifications et des genres, la vivacité de la littérature latino-américaine où la noirceur prend des accents profondément originaux et insolites. Par la diversité de ses choix, par le nombre de textes inédits, par son ouverture dans l’espace et dans le temps, cette anthologie ouvre à l’amateur de textes noirs comme au curieux un panorama des plus passionnants.
Segundo o texto, a « ameaça » é protagonista das 35 estórias reunidas no volume
que pode contemplar tanto os amadores de literatura “noire” como os curiosos de
literatura latino-americana. Os autores citados no texto correspondem a três
nacionalidades: os argentinos Borges e Juan Martini, o mexicano de origem espanhola
Paco Ignacio Taibo II e o brasileiro Rubem Fonseca. Vale salientar que dentre os
autores selecionados, cinco são brasileiros: Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu,
Dalton Trevisan, Carlos Drummond de Andrade e Josué Guimarães. É interessante
observar que dentre os cinco brasileiros, o nome de Rubem Fonseca tenha sido
escolhido para figurar no texto da contracapa, em evidência.
Procuramos expor, por meio das capas aqui apresentadas, as diversas
possibilidades gráficas adotadas pelos editores franceses quando da publicação de
literatura brasileira traduzida. Atentamos mais uma vez para o fato de o corpus aqui
apresentado representar um pequeno recorte, uma modesta amostragem. No entanto,
podemos afirmar que, por meio dele, vislumbramos a idéia de que ainda permanece no
meio editorial estrangeiro, embora talvez, em algumas ocasiões, de forma mais sutil, a
postura exoticizante, que busca vender, no objeto livro, um local pitoresco que atrai o
leitor mais para o ambiente carioca do que para a própria narrativa.
REFERÊNCIAS
FONSECA, J.R. Le cas Morel suivi de Bonne et heureuse année. Trad. Marguerite Wünscher.Paris: Flammarion, 1979.
_____________. Du grand art. Trad. Philippe Billé. Paris: Grasset, 1986.
_____________. Bufo & Spallanzani. Trad. Philippe Billé. Paris: Grasset, 1989.
_____________. Vastes émotions et pensées imparfaites. Trad. Philippe Billé. Paris: Grasset,
1990.
_____________. Un été brésilien. Trad. Philippe Billé. Paris: Grasset, 1993.
_____________. Du grand art. Trad. Philippe Billé. Paris: Librairie Générale Française/Grasset, 1995. (Collection Le Livre de Poche, n° 13694)
_____________. Un été brésilien. Trad. Philippe Billé. Paris: Librairie GénéraleFrançaise/Grasset, 1996. (Collection Le Livre de Poche, n° 13969)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
415
______________ Gazelle. In: Anthologie de la nouvelle latino-américaine. Tradução Lyne Strouc. Paris: Delfond, 1991.
____________. Compte rendu de circonstances où toute ressemblance n’est pas pure coïncidence. In: Menaces - Anthologie de la nouvelle noire et policière latino-américaine.
____________. L’autre. In: Contes de Noël Brésiliens. Tradução de Jacques Thiériot. Paris: Albin Michel, 1997.
____________. Le Ballon Fantôme. In: Des Nouvelles du Brésil. Tradução de Philippe Billé.
Paris: Editions Métailié, 1998.
LÉON , Olver Gilberto de (Org.). Tradução de Jean-Claude Vignol. Nantes: L’Atalante, 1995.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
416
ELEMENTOS FANTÁSTICOS EM EL CUARTO DE ATRÁS DE CARMEN MARTÍN GAITE
Maria de Fatima Alves de Oliveira Marcari*
RESUMO
El cuarto de atrás (1978), romance da escritora espanhola Carmen Martín Gaite (1925-2000), apresenta uma narrativa não-linear que mescla o relato metaficcional, o fantástico e as memórias. A protagonista C. - que funciona como um alter ego da autora - é surpreendida pela visita de um desconhecido vestido de negro com quem mantém uma conversação que dura uma noite. C. rememora o passado através da evocação do espaço onde brincava durante a infância em sua casa de Salamanca: o quarto dos fundos que dá titulo ao livro, o qual representava para ela um espaço lúdico e onírico, depositário de suas melhores lembranças, onde poderia usufruir de toda a liberdade. Com a eclosão da Guerra Civil Espanhola (1936-1939), C. deve abandonar o quarto e buscar outros espaços reais e imaginários. A narrativa alterna diálogos com monólogos interiores, em um jogo de perspectivas espaciais e mentais, reais e fantásticas. A evasão e a ambiguidade articulam a trama do livro, e não sabemos se o homem de negro, interlocutor da protagonista, é um personagem real ou uma personificação da consciência criativa da narradora-personagem, podendo até mesmo tratar-se de um ser demoníaco. As diversas interpretações críticas sobre o misterioso personagem, assim como os elementos fantásticos presentes no romance, serão objeto de nossa análise. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; memórias; hibridismo; narrativa histórica.
A escritora salmantina Carmen Martin Gaite pertenceu à chamada Generación
de medio siglo, ou dos anos cinquenta, da qual também fizeram parte, entre outros, os
escritores Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Ramón Pérez de Ayala, Ignacio
Aldecoa, Jesús Fernández Santos, cujas obras caracterizam-se pelo realismo social e a
crítica à burguesia espanhola daquele período, enfatizando o imobilismo político e
denunciando a situação do proletariado.
* Professora Assistente-Doutora na UNESP Faculdade de Ciências e Letras de Assis, área de Literaturas de Língua Espanhola.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
417
A partir dos anos setenta, com a publicação dos romances Retahílas (1974),
Fragmentos de interior (1976) e El cuarto de atrás (1978), a narrativa de Martín Gaite
passa a centrar-se em temas como a falta de comunicação, a busca por um interlocutor,
a solidão e a memória, passando a apresentar um estilo híbrido, que representa uma
ruptura com o realismo social, caracterizado pela presença de elementos metaliterários,
a preocupação com a recepção textual e a intertextualidade, além da forte presença de
elementos fantásticos e autobiográficos.
O romance El cuarto de atrás representou a culminação dessa nova fase da
carreira de Martín Gaite. O livro narra as memórias de uma escritora que se
autodenomina C. e vive em Madri com sua filha, assim como a própria autora. Em uma
noite de tempestade, C. rememora sua infância e adolescência durante os difíceis anos
da Guerra Civil Espanhola e a longa ditadura franquista e, ao mesmo tempo, revê
criticamente sua trajetória literária, por meio de uma narração que mistura elementos
autobiográficos e fictícios, borrando os limites entre autor e protagonista.
O livro compõe-se de sete capitulos, e a partir do segundo a protagonista aparece
acompanhada por um homem misterioso, totalmente vestido de preto. Os díálogos
alternam-se com monólogos interiores da protagonista C., que rememora seu passado,
ora de maneira ordenada através dos diálogos com o visitante, ora de maneira subjetiva
e descontínua através de monólogos interiores. Existem muitos estudos críticos sobre o
romance, elaborados a partir de diferentes perspectivas, dentre os quais destacamos a
análise de Jiménez Corretjer (2001). A crítica considera que o homem de preto
simbolizaria o Diabo, e a narrativa fornece muitos indicios para tal interpretação. Um
quadro de Lutero pendurado no quarto de C., que retrata o reformador protestante com
o demônio, representaria o elemento de ligação entre ela e o visitante. A figura do
demônio retratado no quadro associa-se à figura do homem misterioso e este com a
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
418
aparição de uma enorme barata na cozinha da casa no momento de sua chegada - um
símbolo kafkiano óbvio - por intermédio da menção da cor preta. Ao mencionar o
diabo retratado no quadro, a narradora o descreve como "totalmente negro: negra la piel
del cuerpo, negro el pelo rizoso, negras las orejas puntiagudas, negros los cuernos,
negras las dos grandes alas que le respaldan" (MARTÍN GAITE, 2001, p. 17). A
descrição do visitante - "(...) un hombre vestido de negro (...). Es alto y trae la cabeza
cubierta con un sombrero de grandes alas, negro también" (MARTÍN GAITE, 2001, p.
29) -, revela a conexão evidente entre ambos, assim como a alusão a Kafka, mediante a
comparação com barata: "sus ojos son también muy negros y brillan como dos
cucarachas" (MARTÍN GAITE, 2001, p. 30).
O desconhecido mantém um diálogo hipnotizante com a protagonista, que várias
vezes murmura rezas e conjuros para livrar-se do fascínio exercido sobre ela. O homem
pergunta duas vezes se ela acredita no diabo, e ela se esquiva das perguntas. Em uma
das ocasiões, o visitante tem nas mãos o quadro de Lutero, que estava antes pendurado
no quarto. Quando C. pergunta se ele entrou no seu quarto, o homem afirma que nunca
entrou no quarto de una mulher sem seu consentimento. E acrescenta: “a não ser que
considere o dormitório de Lutero como seu próprio dormitório.” (MARTÍN GAITE,
2001, p. 99, trad. nossa). As figuras de Fausto e Dorian Gray também são aludidas
quando a protagonista evoca sensações perdidas da infância e da adolescência,
afirmando que “daria o que fosse para reviver aquela sensação, minha alma ao diabo"
(MARTÍN GAITE, 2001, p. 10, trad. nossa).
Já no primeiro capítulo, a narradora tropeça em um livro que é nada menos que
Introdução à Literatura Fantástica, de Todorov e relembra a promessa que fez para si
mesma de escrever um romance fantástico. Ela comenta que o livro “fala dos
desdobramentos de personalidade, da ruptura de limites entre tempo e espaço, da
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
419
ambigüidade e da incerteza (MARTÍN GAITE, 2001, p. 6, trad. nossa).” A autora segue
as teorizações de Todorov ao criar um personagem ambíguo, que pode ser o próprio
demônio, ou o protagonista de seu primeiro livro El Balneario, ou o amante da heroína
de um romance inventado por ela em sua infância. Assim sendo, concordamos com
Cibreiro (1995), que considera que todos os personagens talvez possam ser o mesmo;
diferentes desdobramentos da consciência da protagonista.
A obra também rompe os limites tradicionais entre tempo e espaço, pois o tempo
da narração tem a duração de uma noite e se passa em um único espaço físico – a casa
da protagonista em Madri. Já a matéria narrada abrange o período que vai desde a
infância de C. até o presente do enunciado, quando a protagonista, durante uma noite de
insônia, rememora sua vida e pensa em escrever seu novo romance. O livro se articula
em torno dessa rememoração, da qual é, em ultima instância, seu resultado.
Os espaços também variam, passando da casa de Salamanca onde viveu, as
viagens que fez com pai para algumas cidades espanholas, e a sua primeira viagem ao
exterior, quando foi a Portugal estudar. A partir da evocação de cada um desses
espaços, a narradora reconstitui sua história e o contexto da ditadura franquista. Ao
retratar o espaço mais importante de sua infância, o quarto dos fundos que dá titulo ao
romance, ela o descreve como um reino onde nada estava proibido: podia saltar sobre os
móveis, cantar alto; era um espaço onde reinava a desordem e a liberdade. Mas C. tem
que deixar o quarto porque ele se transformou em um lugar cheio de odores
desagradáveis, uma despensa lotada de mantimentos para manter sua família nos tempos
de escassez da guerra. No presente narrativo, ela dá outra acepção ao quarto:
me lo imagino también como un desván del cerebro, una especie de recinto secreto lleno de trastos borrosos, separado de las antesalas más limpias y ordenadas de la mente por una cortina que sólo se descorre de vez en cuando; los recuerdos que pueden damos alguna sorpresa viven agazapados en el cuarto de atrás (MARTÍN GAITE, 2001, p. 96).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
420
Assim, o quarto dos fundos, enquanto dimensão física, é o quarto da
protagonista em sua infância, assim como é o dormitório do apartamento em Madri da
protagonista adulta. Esses espaços referenciais se relacionam com o quarto dos fundos
simbólico, que representa as memórias mais recônditas de C., o espaço mental que
induz ao fantástico.
Segundo observa Jiménez Corretjer (2001), o homem de preto funcionaria como
um agente mefistofélico dentro dessas diferentes dimensões espaciais e mentais. Já a
partir da dedicatória do romance, – "Para Lewis Carrol, que todavía nos consuela de
tanta cordura y nos acoge en su mundo al revés" – insinua-se o teor fantástico da obra.
Tal como Alice no país das maravilhas, a protagonista C. sofrerá uma queda, que
permitirá sua passagem a outro mundo, no seu caso, o das recordações. E ela cai ao
tropeçar justamente no livro sobre o gênero fantástico de Todorov: "ahí está el libro que
me hizo perder pie", afirma enigmaticamente. Também nos relatos tradicionais
fantásticos, as quedas se relacionam com as passagens de um espaço a outro. Por outro
lado, um descenso também pode representar uma passagem ao submundo, e o homem
misterioso pode ser o anjo caído que visita a narradora. Quando tropeça no livro, C.
também derruba a cesta de costura que pertenceu a sua avó, cheia de pequenos objetos
que recordam seu passado, além de carretéis de linha que simbolizam o tecer das
histórias, que desencadeiam suas recordações da infância e da adolescência.
Ocorre uma aproximação corporal entre os personagens, mas que nunca chega a
concretizar-se, que tem como ponto culminante a cena do visitante colocando um
comprimido na boca da protagonista. Embora não especifique a composição da
pastilha, - ele afirma que “ellas avivan la memoria, pero tambien las desordenan”
(MARTÍN GAITE, 2001, p. 106) - fica claro que se trata de um alucinógeno que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
421
romperia as barreiras do tempo e do espaço. Quando C. desperta no final do romance, a
caixinha dourada com os comprimidos trazida pelo homem está sobre a sua cama.
Nos diálogos do visitante com a protagonista, o fantástico e o metaficcional se
associam, e seus comentários demonstram seu conhecimento da obra da narradora-
autora, ao dar várias sugestões para o romance fantástico que C. quer escrever (e que,
evidentemente, já está escrevendo): "La ambigüedad es la clave de la literatura - no
saber si aquello que se ha visto es verdad o mentira, no saberlo nunca" (MARTÍN
GAITE, 2001, p. 53). Em suas observações sobre o primeiro romance da narradora-
autora El balneario, ele afirma que “hubiera podido ser una buena novela de misterio,
(...) empezaba prometiendo mucho, pero luego tuvo usted miedo, un miedo que ya no ha
perdido nunca.” (MARTÍN GAITE, 2001, p. 48). Para o visitante, C. tinha medo de
"perder-se", pois era uma escritora muito racional, que se refugiava na literatura:
— ¿Usted cree que yo tomo la literatura como refugio? (...) — Ningún refugio vale de nada, pero no se puede vivir al raso. — Se puede intentar. — Sería meterse en un laberinto. — En un laberinto, bueno, pero no en un castillo. Hay que elegir entre perderse y defenderse (MARTÍN GAITE, 2001, p. 51)
A narradora-autora assume que sentia um "vago deleite" em encastelar-se em
uma espécie de vitimismo ou autocompaixão prazerosa, o que caracterizava também a
maior parte das protagonistas de seus primeiros romances. O estranho a instiga a
enfrentar seus medos e ela resolve abandonar o discurso neorrealista, que havia
praticado durante quase toda a sua carreira, e "perder-se" em um relato fantástico. Ela
reitera ao entrevistador seu projeto de escrever um livro, “relacionando el paso de la
historia con el ritmo de los sueños” (MARTÍN GAITE, 2001, p. 104), unindo, assim,
em um relato fantástico, a dimensão subjetiva da memória ao referente histórico.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
422
Em suas rememorações, C. revê criticamente o discurso histórico tradicional que
era obrigada a escutar durante a sua formação escolar. Vale a pena mencionar a crítica
dirigida ao discurso unívoco e otimista da pós-guerra, que tinha na rainha Isabel a
Católica, a imagem mítica feminina a ser imitada:
Se nos hablaba de su voluntad férrea y de su espíritu de sacrificio, había (...) expulsado a los judíos traicioneros, se había desprendido de sus joyas para financiar la empresa más gloriosa de nuestra historia. (...) Orgullosas de su legado, cumpliríamos nuestra misión de españolas, aprenderíamos a hacer la señal de la cruz sobre la frente de nuestros hijos, a tejer bufandas y lavar visillos, reír al esposo cuando llega disgustado, a decirle que (...), la economía doméstica ayuda a salvar la economía nacional (...). Bajo el machaconeo de aquella propaganda ñoña y optimista de los años cuarenta, se perfiló mi desconfianza hacia los seres decididos y seguros, crecieron mis ansias de libertad (...) (MARTÍN GAITE, 2001, p. 80)
Por outro lado, a figura repressora do general Franco, que havia marcado sua
geração, aparece dotada de uma dimensão sobre-humana, fantástica: "desde el principio
se notó que era unigénito, indiscutible y omnipresente, que había conseguido infiltrarse
en todas las casas, escuelas,(...), despertar un temor religioso y uniforme, amortiguar las
conversaciones y las risas para que ninguna se oyera más alta que otra." (MARTÍN
GAITE, 2001, p. 122). C. comenta que foi a imagem do enterro de Franco que a fez
retomar o projeto de rememorar sua própria vida e o contexto histórico do franquismo,
pois, durante a ditadura, parecia-lhe que Franco tinha o poder de paralisar o tempo: "Se
acabó, nunca más, el tiempo se desbloqueaba, había desaparecido el encargado de atarlo
y presidirlo" (MARTÍN GAITE, 2001, p. 125).
Se o elemento histórico tenta conectar a matéria narrada com a realidade, o
elemento fantástico cumpre a função de afastar a trama dessa realidade e elevá-la a uma
esfera superior, conforme se pode notar, por exemplo, nas rememorações da ilha de
Bergai, o refugio fantástico da protagonista e sua amiga de infância, após terem que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
423
deixar o quarto dos fundos: "A Bergai se llegaba por el aire. Bastaba con mirar a la
ventana, invocar el lugar con los ojos cerrados y se producía la levitación. 'Siempre que
notes que no te quieren mucho —me dijo mi amiga—, o que no entiendes algo, te
vienes a Bergai. Yo te estaré esperando allí' (MARTÍN GAITE, 2001, p.148).
Assim, a mistura entre o real e o irreal se converte em um componente
imprescindível na narrativa. Os cruzamentos espaço-temporais reais e imaginários são
contínuos e toda a narrativa parecer passar-se em uma dimensão onírica , desde o
momento em que C. não consegue dormir, até seu despertar, o que situa o discurso em
um cronotopo fragmentado: “Ha empezado el vaivén, ya no puedo saber si estoy
acostada en esta cama o en aquélla; creo, más bien, que paso de una a otra" (MARTÍN
GAITE, 2001, p.4).
O final do romance é enigmático, como convém ao gênero fantástico: o homem
desaparece após deixá-la dormindo; C. desperta e vê a caixinha presenteada pelo
homem e uma pilha de folhas, a qual não se lembra de ter escrito, reencontrando-se
com o texto e o inicio do mesmo ao ler o primeiro parágrafo do romance intitulado El
cuarto de atrás.
Assim como a flor de Coleridge** , a caixinha dourada simbolizaria a
ambiguidade; a ideia de que tudo pode ter sido ou não um sonho. Ambiguidade e
hesitação, elementos fundamentais em um bom relato fantástico, conforme afirma o
visitante ao comentar sobre o protagonista do primeiro romance da narradora (aludindo
também, obviamente, a si mesmo): "Ese hombre que va con usted no se sabe si existe o
no existe, (...), eso es lo verdaderamente esencial, atreverse a desafiar la incertidumbre;
**
"Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano... ¿entonces, qué?" nota de Samuel Taylor Coleridge (1771-1834), poeta e ensaísta inglês, traduzida por Jorge Luis Borges en "La flor de Coleridge", Otras inquisiciones, 1952.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
424
y el lector siente que no puede creerse ni dejarse de creer (...), ésa es la base de la
literatura de misterio" (MARTÍN GAITE, 2001, p. 48).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: CIBREIRO, Estrella. Transgrediendo la realidad histórica y literaria: el discurso fantástico en El cuarto de atrás. Anales de la literatura española contemporánea. Ed. Univ. Colorado, E.U.A. v. 20, p. 29-46, 1995. JIMÉNEZ CORRETJER, Zoé. El fantástico femenino en España y América. San Juan: EDUPR, 2001. MARTÍN GAITE, Carmen. El cuarto de atrás. Madri: Ed. Destino, 2001.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
425
MOTIVOS FANTÁSTICOS Y MITICOS RECREADOS CON VARIANT ES EN
LA OBRA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES A PARTIR DE 1960
María del Carmen Tacconi*
RESUMO: El marco teórico de este estudio tiene como fundamento básico la discriminación de dos ámbitos nítidamente diferenciados, a nuestro juicio: el de lo fantástico y el de lo mítico. Lo fantástico se identifica en fenómenos extraordinarios que no tienen explicación de ningún tipo: simplemente se manifiestan en la ficción; lo mítico se vincula insoslayablemente con lo sagrado, tiene raíces culturales varias veces milenarias y está expresado por medio de representaciones del imaginario colectivo, caracterizadas por la polisemia simbólica y el sentido metafísico. En la producción narrativa de Borges, en el período que se inicia con El hacedor (1960), movilizan la trama de tres cuentos dos motivos fantásticos: el del doble (“El otro” y “Veinticinco de agosto de 1983”) y el del viaje en el tiempo (“Utopía de un hombre que está cansado”). "Tres motivos míticos hacen progresar la historia de tres cuentos del mismo período: la violación del tabú (“Los tigres azules”), el objeto extraordinario de origen sobrenatural (“Los tigres azules”) y la conquista del tesoro (“El Etnógrafo”). El análisis de estos textos se completa con el asedio de los niveles textuales: superficie textual, diégesis y estructura semántica profunda. La consideración de estos tres niveles textuales nos permite la labor hermenéutica que corresponde de manera particular a los enunciados que registran representaciones del imaginario mítico. Nuestro interés en esta oportunidad se centra en poner de relieve las diferencias de significado entre lo fantástico extraordinario y lo extraordinario sobrenatural, que se resultan relevantes en los cuentos seleccionados.
El marco teórico de este estudio se constituye como un sistema de conceptos
básicos que expondremos en síntesis. Reconocemos como literatura mimética aquella
que recrea la realidad empírica en la ficción; esa realidad responde a un conjunto de
leyes conocidas: el principio de identidad, el principio de no contradicción, la ley de
causalidad, la ley de gravedad, las diferentes leyes de la física y de la biología. La
literatura no mimética, en cambio, crea mundos ficticios que corresponden al territorio
de lo extraordinario, es decir, se fundan en la transgresión de las leyes que rigen el
mundo cotidiano.
Sin embargo, los fenómenos extraordinarios se diferencian según su origen.
Hablamos de lo extraordinario fantástico cuando las transgresiones de la legalidad
* Doctora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesora Titular de Literatura Argentina II
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Miembro Correspondiente por Tucumán de la Academia Argentina de Letras.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
426
cotidiana trastornan el orden habitual y no tienen ninguna explicación: simplemente
ocurren. Reconocemos lo extraordinario mítico cuando la transgresión del orden
habitual se explica por la intervención de fuerzas sobrenaturales sagradas.
Esta diferenciación nos permite distinguir el ámbito fantástico del ámbito mítico,
categorías diferenciadas de la literatura no mimética.
Lo fantástico se extiende por un espacio semántico muy amplio en el que podemos
discriminar categorías según sean las variantes que el fenómeno extraordinario asume.
Para establecer esas categorías hemos tomado aportes de autores reconocidos como
Roger Caillois* y Tzvetan Todorov** y los hemos adecuado a nuestra discriminación
fundamental de fantástico y mítico. Las categorías propiamente fantásticas que
reconocemos son: lo extraordinario, lo parapsicológico, lo extraño. No nos detendremos
en ellas.***
Lo fantástico extraordinario se manifiesta en motivos fantásticos repetidos en la
creación de ficción literaria: transgresiones de la fluencia temporal (viaje en el tiempo
como regreso al pasado o como viaje al futuro; o alteración de la fluencia temporal por
congelamiento, dilatación o contracción del tiempo); transgresiones de la ley de
causalidad; transgresiones de la ley de gravedad; metamorfosis inexplicables. La
metamorfosis de la ninfa Dafne en laurel, en la mitología griega, en cambio, está
causada por el poder de un dios.
II- Cuentos fantásticos: el motivo del doble y el motivo del viaje en el tiempo
De la producción narrativa de Jorge Luis Borges publicada a partir de 1960 nos
interesan tres cuentos fantásticos; estos cuentos hacen progresar la trama a partir de un
motivo principal y de motivos complementarios; esta jerarquización atañe únicamente a
la ficción de que se trata, porque los motivos que son complementarios aquí pueden ser
centrales en otros cuentos.
* Roger Caillois: Imágenes… imágenes, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
** Tzvetan Todorov: Introducción a la Literatura Fantástica, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.
*** Hemos expuesto esta propuesta teórica en Categorías de lo fantástico y constituyentes del mito en textos literarios, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 1995.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
427
En primer término abordamos “El otro”, de la colección titulada El libro de arena
(1975)*, que funda su trama en el motivo fantástico del doble; la trama transgrede el
principio de identidad (todo ente es igual a sí mismo). El autor histórico, Jorge Luis
Borges, se autoficcionaliza como protagonista de una historia fantástica extraordinaria
donde su individualidad casi adolescente, de diecinueve años de edad cronológica, se
encuentra con su doble de setenta años de edad cronológica.
En el cuento “El otro” Borges desarrolla el motivo del doble en variante original:
los dos personajes responden a una misma identidad, pero han encarnado en edades
diferentes; uno, es un joven que ya se han dedicado a la lectura y a la creación literaria y
rige su mirada del mundo según los parámetros de la razón; el otro, es un septuagenario
de larga experiencia en la literatura y la literatura y guarda la memoria de los afectos de
una larga historia familiar que aspira a hacer conocer al joven, como testimonio de su
propia identidad; por eso entrama en el relato aspectos documentables de su biografía.
Aún con la incorporación de esos datos fidedignos, la retórica del relato fantástico
hace necesaria la inclusión en el discurso de procedimientos fundantes de la
verosimilitud. Borges cumple con esta exigencia de rigor en el primer párrafo del texto,
cuando la ficción extraordinaria aparece confesada como una experiencia atroz, con
precisiones cronológicas y geográficas. Dice el narrador y autor histórico
autoficcionalizado: “El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston,
en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo,
para no perder la razón; ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán
como un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí.”
La diégesis de “El otro” está construida con otros dos motivos fantásticos que
resultan complementarios del primer motor de la diégesis: el motivo fantástico de la
transgresión de la unicidad del espacio y el motivo fantástico de la transgresión de la
fluencia irreversible de una única corriente de fluencia temporal.
El espacio donde se desarrolla la acción narrada hace confluir en cada uno de los
extremos de un mismo banco de paseo las orillas de dos ríos que pertenecen a dos
continentes distintos. Uno de esos ríos es el Ródano, en el tramo que pasa junto a
Ginebra, la ciudad de Suiza donde Borges había cursado el bachillerato; el otro río es el
Charles, que corre junto a Boston, en Estados Unidos, donde se encuentra la
* Obras Completas, Emecé Editores, Buenos Aires, Barcelona, 1996, Tomo III, pp. 11-16.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
428
Universidad de Cambridge, donde Borges fue a ofrecer conferencias en su alta edad, ya
escritor famoso.
El desdoblamiento del protagonista en encarnaciones que corresponden a distintas
edades de la vida implica otro motivo fantástico: el que postula la existencia de tiempos
paralelos en una dimensión extraordinaria. El motivo fantástico de los tiempos paralelos
ha sido explotado en múltiples relatos; el mismo Borges lo recreó en “Jardín de
senderos que se bifurcan”.*
Ambas encarnaciones de una misma identidad dialogan en ese extraño espacio, con
intereses distintos. Esta estrategia permite un atrayente juego de anticipaciones y de
evocación de hechos pasados para el doble de mayor edad, que atañen a la intimidad del
Borges histórico, intimidad que es conocida. La trama se va desplegando según un
esquema muy despojado: el encuentro de los dobles y su diálogo; ambos dobles hablan
de su vida y de sus puntos de vista.
El diálogo pone en contraste dos perfiles. El joven Borges profesa un socialismo
humanitario que lo lleva a entusiasmarse por la Revolución Rusa y a cantar a la Plaza
Roja de Moscú y a las victorias bolcheviques en su “Gesta Maximalista”** , poemas
vanguardistas de su primera época, la que Guillermo de Torre ha llamado “la prehistoria
ultraísta” de Borges. El Borges maduro piensa que un movimiento político, cualquiera
sea, es una abstracción y que los que cuentan en cualquier circunstancia son los
individuos.
El joven Borges sugiere que el encuentro puede estar siendo soñado y el Borges
septuagenario afirma que su sueño ya “ha durado setenta años”. El diálogo se inclina
hacia temas metafísicos predilectos de Borges: el problema de la naturaleza de la
realidad, el del tiempo y el de la identidad. La naturaleza de la realidad como sueño de
Alguien, que ha sido planteado por nuestro autor en cuentos, poemas y ensayos
constituye una metáfora que representa el carácter ilusorio de la realidad. Esta es una
concepción oriental, varias veces milenaria según la cual la vida humana e inclusive la
vida del planeta es apenas una ilusión, un soplo, si la consideramos en el marco
* Ficciones, Obras Completas, cit., Tomo I, pp. 472-480.
** Borges no ha recogido estos poemas en sus Obras Completas, que corresponden a lo que Guillermo de Torre llama “Para la prehistoria ultraísta de Borges” en Expliquémonos a Borges como poeta, Compilación y prólogo de Ángel Flores, Siglo XXI Editores, México-Madrid-Bogotá, 1984, pp. 27-42.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
429
inimaginablemente extenso de los ciclos de creación y destrucción del universo por obra
del Espíritu Creador”, Brahaman, mediante la fuerza mágica de Maya”.*
Este cuento establece una clara relación intertextual con “Veinticinco de agosto de
1983”, que integra la colección titulada La memoria de Shakespeare.** Mientras “El
otro” ofrece imágenes vitales y luminosas del Borges histórico, “Veinticinco de agosto
de 1983”. La fecha que da título a este segundo cuento con dobles se vincula con la
fecha de nacimiento de nuestro autor: el 24 de agosto de 1899. Un día después será
clave en su cuenta de años.
Nuevamente el Borges histórico se proyecta en dos dobles de distinta edad y se
repite el juego del encuentro. Esta vez la distancia temporal entre ambos personajes es
menor (sólo veinte años) y ya han tenido otro encuentro. Dice el Borges mayor: “–Sabía
que esto iba a ocurrir. Aquí mismo, hace años, en una de las piezas de abajo, iniciamos
el borrador de la historia de este suicidio”.
Por lo tanto, la relación que existe entre ambos dobles en este cuento es diferente
que la relación que había entre el joven Borges y el septuagenario. A lo largo del
diálogo se advierte que ambos han hablado sobre proyectos de escritura y, asimismo,
que en la historia ficticia que estaban escribiendo, se entramaba el suicidio de un
protagonista.
Hemos señalado en “El otro”, el cuento que hemos revisado previamente, que
Borges proyectaba su experiencia personal. En el caso de “Veinticinco de agosto de
1983” establece distancia entre su protagonista octogenario y su vida: la cosmovisión de
Borges hace imposible la posibilidad del suicidio. Como creyente en la reencarnación –
hay testimonios en su poesía de esta creencia– había considerado la ceguera como una
prueba final, la que lo liberaría de los reingresos en el tiempo. Nunca se hubiera
arriesgado a involucionar en su trayectoria de perfeccionamiento espiritual. Sobre el
final entendemos qué significa el doble que muere: es un reflejo imperfecto de lo que el
Borges autoficcionalizado como mayor, octogenario, quería ser y aspiraba a escribir.
Por eso el doble menor, imperfecto, decide suicidarse; el doble mayor se lo permite y,
auténticamente muere en la ficción. Este es el final impactante de todo buen cuento:
cierra la trama con un hecho realmente inesperado. El significado que llegamos a
* Braham Maya
** Obras Completas, cit., Tomo III, pp. 375-378.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
430
descubrir permite comprender, también, por qué el doble muerto no deja huella: ni
cadáver ni fantasma. Una manifestación muy original del juego de dobles.
Un segundo motivo fantástico vinculado con el espacio y distinto del que se
manifiesta en “El otro” advertimos en “Veinticinco de agosto de 1983”. El encuentro
final de ambos dobles parece realizarse en el hotel de Adrogué, villa veraniega que
frecuentaba Borges en su juventud con su familia. Es lo que interpreta y asume el doble
sexagenario. El Borges octogenario asegura, en cambio, que siempre estuvo en “la casa
de la calle Maipú”, la que históricamente compartió con su madre. Un juego semejante,
no idéntico, al que hemos señalado en el cuento de dobles de El libro de arena.
“Utopía de un hombre que está cansado” (1975)* nos permite descubrir el motivo
del cansancio de Borges: no es tanto la prolongada supervivencia cuanto algunos errores
odiosos de la vida social. Irónicamente, la fuga de esa realidad a otra que parece utópica
a través del viaje en el tiempo, incentiva la reflexión sobre la vida social y sobre las
utopías que se plantean como perfectas muchos hombres.
El viaje en el tiempo, que se produce en “Utopía de un hombre que está cansado”
de El libro de arena ha sido explotado por Borges como un recurso eficaz para la
crítica de aspectos negativos de la vida social y política. En sesgo de parodia apunta
contra los políticos y su desairado papel cuando dice al hombre del futuro que le había
preguntado qué sucedió con los gobiernos:
“-Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a
elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban
arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa
dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar
oficios honestos; algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad sin
duda habrá sido más compleja que este resumen.”
Este cuento desmiente rotundamente la acusación de que muchos hicieron víctima
a Borges de una presunta despreocupación por la realidad social.
III- Cuentos míticos: la violación del tabú y la conquista del tesoro
A pesar de los intentos de descalificación que debemos al ultrarracionalismo de
algunas épocas históricas, el mito constituye una de las formalizaciones culturales de
* Obras Completas, cit., Tomo III, pp. 52-56.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
431
más vigoroso arraigo en la vida social. Sus manifestaciones ya no tienen el
despojamiento y la frescura de los relatos míticos originados por la mentalidad arcaica,
pre-histórica; los mitos surgidos en épocas históricas atesoran gran riqueza de
significado y la complementariedad recíproca de unos con otros permite reconstruir
sistemas coherentes de sentido, que cumplen las tres funciones propias del mito: a) la
primera, ofrecer respuestas a los grandes interrogantes del hombre: de dónde venimos,
qué somos, adónde vamos, qué fuerzan rigen el destino, qué hay más allá de la muerte,
etc; b) la segunda, expresar esas respuestas siempre a través de relatos construidos con
imágenes simbólicas, para hacer más accesibles los mensajes al común receptor; estos
mensajes están destinados a cimentar la seguridad existencial del creyente,* que se
siente sostenido en la existencia y protegido por fuerzas sobrenaturales (aquellas a las
que ineludiblemente se refiere el mito); c) la tercera, ofrecer constituyentes semánticos
para la construcción de una cosmovisión compartida por la comunidad a la que el
individuo pertenece.
Estas características identificatorias que señalamos en el mito ponen de manifiesto
que lo concebimos según nos enseñan los más evolucionados estudios sobre la
fenomenología del mito y el análisis comparado de las religiones. En estos ámbitos, el
mito está concebido como un relato portador de verdades esenciales y no como un relato
fabuloso en el cual creen individuos supersticiosos, como lo caracterizaron los
positivistas decimonónicos. En muchos casos, se trata de verdades transmitidas con
carácter de revelación (estamos hablando de todas las grandes religiones), revelación
que un Todo Poder espiritual transmite a los humanos por medio de profetas. Esos
mensajes, que se expresan mediante relatos simbólicos, se transforman en dogmas y
doctrinas cuando nacen las religiones.
Borges enriquece sus textos con constituyentes míticos:** los cuentos, cuando
recrea los materiales culturales de los mitos como materia ficcionalizable; los poemas,
cuando transmite la complejidad luminosa de su pensamiento por medio de imágenes
simbólicas accesibles a un amplio espectro de lectores; los ensayos, cuando aborda
* Dice George Gusdorf: “La conciencia mítica permite constituir una envoltura protectora, en cuyo interior el hombre encuentra su lugar en el universo”, Mito y Metafísica, Editorial Nova, Buenos Aires, 1970, pág. 15. Traducción de Néstor Moreno.
** Proponemos el reconocimiento del relato mítico a partir de los que llamamos sus constituyentes. En Categorías de lo fantástico y constituyentes del mito en textos literarios, cit., pp. 59-95.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
432
temas metafísicos y analiza sus manifestaciones mítico-simbólicas son un excepcional
erudición cualquiera sea el universo cultural que enfoque.
Son diversas las posibilidades que las obras de Borges ofrecen para un asedio
desde la perspectiva del mito. En esta oportunidad nos centraremos únicamente en los
motivos míticos. Por esto se hace necesario consignar en qué sentido empleamos el
término motivo, puesto que en el ámbito de la teoría literaria la amplitud de sus empleos
ha dado cierta indefinición a sus significados.
Siguiendo a Sophie Irene Kalinowska* y adaptando su concepto al ámbito mítico,
reconocemos como motivo mítico a una situación que se repite en diversos relatos
míticos; que impulsa el progreso de la trama –no hay que olvidar que el término motivo
deriva del verbo latino moveo– y que encapsula temas metafísicos, propios del mito.
Estos rasgos identificatorios se advierten con claridad en el motivo de la violación
del tabú, presente en relatos míticos muy difundidos: en la historia de Adán y Eva, la
violación del tabú, la más grave de las culpas, la inexpiable, es la transgresión del
mandato que acarrea pérdidas ontológicas esenciales; estas pérdidas se representan en
las imágenes simbólicas de la caída y de la pérdida del paraíso. Este motivo mítico es
universal: la violación del tabú en la cultura griega se hace presente en el mito de Orfeo
y Eurídice y en el Epimeteo y Pandora.
El motivo mítico de la violación del tabú hace progresar la diégesis de “Tigres
azules”,** una historia que se instala en las remotas tierras del Punjab, en las
proximidades del delta del Ganges, tierras que aún merecen la reverencia de sagradas.
El protagonista narrador, obsesionado con los tigres –como Borges, desde
pequeño– tiene noticias de que en la región se encuentran tigres azules. Se traslada a
vivir allí, en una aldea próxima a la montaña sagrada e inicia su búsqueda de los tigres
azules. Descubre que los tigres singulares son sólo una estrategia de los creyentes para
ahuyentar a los intrusos de la montaña, porque un curioso tabú prohíbe el acceso a ella.
Pero el terco escocés que protagoniza la trama impulsado por la tentación de
develar el secreto de la montaña, transgrede la prohibición y se marcha hacia la cumbre.
Allí encuentra los portadores de la desgracia: unos discos azules que surgen de una
* El concepto de motivo en literatura, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 1972.
** La memoria de Shakespeare, Obras Completas, cit., Tomo III, pp. 379-386.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
433
grieta de la montaña y se multiplican constantemente, aunque puedan reducirse por unos
momentos. Alteran la vida del que violó el tabú.
La multiplicación es imperfección y desdicha en el plano simbólico; transgredir la
prohibición máxima constituye una muestra indudable de la imperfección del pecador.
Será muy poco probable deshacerse de los objetos malignos. Sin embargo, el motivo del
pecador que busca su castigo permitirá la liberación del escocés: un mendigo pide las
piedras y las pide a todas, porque ha pecado. El cuento se cierra con un enunciado
sugeridor y, a la vez, hermético. Dice el narrador protagonista: “–No oí los pasos del
mendigo ciego ni lo vi perderse en el alba”.
La trama del cuento “El etnógrafo”* está estructurada en base al arquetipo mítico
de la trayectoria del héroe, si bien se mencionan algunas pruebas, no se detallan y la
sugerencia cumple su función significante con eficacia. El protagonista alcanza la
condición de héroe cumplido porque conquista el tesoro como culminación del camino
de pruebas; ese tesoro simboliza el logro de la superación espiritual** . El etnógrafo
prefiere designar el tesoro como “el secreto” y mantenerlo como tal. Lo define como un
legado de los “hombres de la pradera”. “Lo que me enseñaron esos hombres —dice al
regreso— vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia.”
Que “el secreto” implica un conocimiento, no queda duda cuando asegura: “No sé
muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia,
me parece una mera frivolidad”. Esta afirmación del etnógrafo nos trae a la memoria
conceptos de René Guenon, que terminan de esclarecer estas referencias.*** Guenon
señala que existen dos concepciones radicalmente diferentes y aún incompatibles de las
ciencias; esas dos concepciones pueden llamarse “tradicional” y “moderna”. Las
“ciencias tradicionales existieron en la Antigüedad y en la Edad Media en Occidente y
* Elogio de la Sombra. Obras Completas, cit., Tomo II, pp. 367-368.
** Paul Diel distingue entre héroe fallido y héroe cumplido. El “héroe cumplido es el representante del empuje evolutivo, la personificación del impulso espiritualizante que ha sido capaz de conquistar el tesoro mítico: el equilibrio de la conciencia y el inconsciente; ese equilibrio proporciona paz y el autodominio”. Héroe fallido “es aquel que intenta cumplir la trayectoria de pruebas, pero no resiste la dureza de ellas; es decir, se niega a llevar a cabo la lucha contra el monstruo interior, símbolo que representa los lastres involutivos de la psique. Paul Diel: El simbolismo en la mitología griega. Editorial Labor. Barcelona. 1976. Traducción de Mario Satz de la edición original titulada Le symbolisme dans la mythologie grecque. Editions Payot. Paris. 1966. El cumplimiento de la trayectoria o la frustración de la aventura surgen de la postulación de Joseph Campbell: El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. Fondo de Cultura Económica. México. 1959. Vid. en particular: “La negativa del llamado”, pp. 61-70. *** La Crise du Monde Moderne. Éditions Gallimard. Paris. 1946 (12e édition), Cap. IV.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
434
siempre existieron y existen en Oriente, lo cual ocurre porque sus fundamentos son
ajenos al racionalismo a ultranza de los occidentales.
La concepción moderna se inclina por construir ciencias independientes —
sostiene Guenon—, niega las dimensiones del ser que superen el nivel empírico o las
declara ámbitos “incognoscibles” y se rehúsa a tener en cuenta las dimensiones
espirituales. En la concepción tradicional, una ciencia cualquiera centra menos su
interés en ella misma que en lo que ella significa como prolongación o rama secundaria
de la doctrina, cuya parte esencial está construida por la metafísica pura. Ya se sabe que
la metafísica occidental, como parte de la filosofía, no admite en su ámbito el concepto
de doctrina. Al respecto, resulta insoslayable señalar, para una cabal comprensión de la
diferencia, que las “ciencias tradicionales”, como aplicación de la doctrina, permiten
religar entre ellos todos los órdenes de la realidad e integrarlos en una unidad de la
síntesis total. Es decir, las “ciencias tradicionales” tienen un carácter verdaderamente
iniciático, de allí que, vinculadas con los principios metafísicos, son incorporadas de
manera efectiva a la “ciencia sagrada”. Es por esta razón que las ciencias modernas no
pueden tener otra calificación que la de “ciencia profana”* y se la considera un saber de
origen inferior.
Todas las consideraciones de René Guenon que transcribimos contribuyen a
iluminar las afirmaciones escuetas del etnógrafo. Este personaje ha conquistado el
tesoro que alcanza el héroe en la culminación de su trayectoria; lo llama “el secreto” y
lo caracteriza de este modo.
“—Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de cien modos distintos, y aún
contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la
ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad.”
Dos conceptos sintetizan el significado del mito que Borges recrea en “El
etnógrafo”: uno, el de “tesoro”, que puede comprenderse cabalmente sólo cuando se ha
cumplido el proceso de transformación personal que implica y exige y que es válido
para todos los hombres y para todas las latitudes; otro, el valor del proceso mismo de
transformación: “—El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me
condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos.”
En conclusión: En los cuentos que hemos enfocado, Borges explota los motivos
fantásticos para ficcionalizar experiencias de vida y para poner en cuestión situaciones
* Ibídem, pp. 56-57 y 62-63.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
435
sociales. En cambio, recrea motivos míticos para transmitir por la vía simbólica
mensajes sapienciales que aspira a dejar como legado.
Bibliografía
ANDERSON IMBERT, Enrique: Teoría y técnica el cuento, Buenos Aires: Ediciones
Marymar, 1979.
BORGES, Jorge Luis: Obras Completas, Buenos Aires-Barcelona: Emecé Editores,
1996.
CAILLOIS, Roger: Imágenes… imágenes, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
CAMPBELL, Joseph: El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México:
Fondo de Cultura Económica. 1959.
DIEL, Paul: El simbolismo en la mitología griega. Barcelona: Editorial Labor. 1976.
Traducción de Mario Satz de la edición original titulada Le symbolisme dans la
mythologie grecque. Paris: Editions Payot. 1966.
GUSDORF, George: Mito y Metafísica, Buenos Aires: Editorial Nova, 1970.
Traducción de Néstor Moreno.
KALINOWSKA, Sophie Irene: El concepto de motivo en literatura, Chile: Ediciones
Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1972.
GUENON, René: La Crise du Monde Moderne. Éditions Gallimard. Paris. 1946 (12e
édition).
TACCONI, María del Carmen: Categorías de lo fantástico y constituyentes del mito
en textos literarios, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán,
San Miguel de Tucumán, 1995.
TACCONI, María del Carmen: Mito y símbolo en la narrativa de Mujica Lainez. San
Miguel de Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.
TODOROV, Tzvetan: Introducción a la Literatura Fantástica, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
436
A PRESENÇA DO FANTÁSTICO NA LITERATURA AZEVEDIANA
Maria Imaculada Cavalcante∗
RESUMO
O presente estudo procura analisar, no drama Macário, a presença do fantástico como um de seus aspectos mais marcantes. Seguindo a trilha de seus contemporâneos europeus, Álvares de Azevedo foi um dos grandes representantes do fantástico na literatura romântica brasileira. O seu drama possui basicamente dois personagens, Macário e Satã e é composto por dois episódios, sendo o primeiro bem mais elaborado e notadamente melhor que o segundo, é quase uma obra completa com começo, meio e fim. O primeiro episódio, que inicia em uma estalagem onde Macário e Satã encontram-se, possui uma estrutura circular, visto que o final se dá exatamente no mesmo lugar do início – o quarto da estalagem – provocando dúvidas no leitor quanto à veracidade da presença de Satã. A dúvida lançada pelo personagem circunscreve a obra na categoria do fantástico que, para Todorov (1975, p.47), “dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à personagem que devem decidir se o que percebem depende ou não da ‘realidade’, tal qual existe na opinião comum”. A presença de Satã como personagem e a dúvida quanto a sua existência são elementos suficientes para circunscrever o drama no mundo do fantástico. Nesse estudo o embasamento teórico será a partir da obra Introdução à literatura fantástica, de Tzvetan Todorov.
PALAVRAS-CHAVE : Fantástico, Romantismo, Álvares de Azevedo
Diferente do Romantismo europeu, no Romantismo brasileiro pouco se
trabalhou com fantástico e dentre os autores que se utilizaram desse gênero temos
Álvares de Azevedo. Podemos classificar alguns de seus poemas como fantástico, como
por exemplo: “Meu sonho” e “Um cadáver de poeta”, ambos constante da Lira dos
vinte anos, mas suas obras mais representativas são, indubitavelmente, os contos de
Noite na taverna e o drama Macário.
∗ Doutora em Estudos Literários pela UNESP/Campus de Araraquara. Professora Adjunto do Departamento de Letras e do Mestrado em Estudos da Linguagem, da UFG/Campus Catalão, na área de Literatura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
437
Macário, obra a ser analisada nesse estudo, insere-se no rol da literatura
fantástica na medida em que conseguimos verificar nela características como: o alto
grau de intercessão entre o real e a fantasia; a criação de um mundo possível
entremeado de fatos impossíveis; a subjetividade permeada de objetividade; o profundo
senso de imaginação e criatividade; o ilogismo; a presença do satanismo e a dúvida em
relação à existência de Satã; enfim, a união paradoxal de contrários.
A presença de Satã como um dos personagens do drama propicia uma
atmosfera ideal para a realização do fantástico. Álvares de Azevedo apresenta em seu
drama personagens que vivem a agonia dos desejos não realizados, entabulando um
duelo entre razão e emoção, resultante de descrença e desencantamento. Dessa forma, o
fantástico aparece como uma das realizações desse mundo controvertido, criado pelo
excesso de imaginação e pela predominância do onírico.
A primeira publicação de Macário aconteceu em 1885, 33 anos após a morte
de Azevedo, talvez sua obra prima, “escrito numa prosa viva e insinuante, num tom
desabusado, mas cheio de poesia, que esconde nas dobras a dúvida e o desencanto do
mal do século” (CÂNDIDO, 1987, p.14). Um drama fascinante, mais feito para a
leitura que para a encenação, uma mistura de teatro, narração dialogada e diário
íntimo.
A obra inicia com um prefácio intitulado Puff, onde o autor faz considerações
gerais sobre o teatro e sobre a própria produção, afirmando que Macário não
corresponde à sua “utopia dramática”, mas apenas uma “inspiração confusa, que realizei
à pressa como um pintor febril e trêmulo” (AZEVEDO, 2000, p. 509). O drama segue
dividido em dois episódios, o primeiro possui cinco partes e o segundo 10 partes. Os
personagens mais importantes da obra são Macário, Satã e Penseroso, numa estrutura
em que se alternam cenas exteriores e interiores, narração dialogada e solilóquios. A
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
438
presença feminina na peça é quase inexistente, porém o assunto predileto dos
personagens é o amor e a mulher.
As cinco partes do primeiro episódio são todas intituladas, salvo a quarta que
possui apenas uma rubrica delimitando o espaço. Toda a primeira parte transcorre à
noite e os espaços privilegiados são: a taverna onde Macário e Satã pernoitam e a cidade
de São Paulo, destino final dos personagens. Candido (1997) afirma que a obra, mesmo
possuindo uma estrutura “sem pé nem cabeça”, provoca um “irresistível fascínio”. Para
o crítico a força da obra resulta de duas circunstâncias, a segunda consiste no
desdobramento do poeta em dois personagens Macário X Penseroso, já a primeira
consiste na presença da cidade de São Paulo, “como quadro dando realidade às falas e
atos do herói e seu companheiro infernal. A couve das estalagens, as veredas da Serra
de Paranapiacaba, a evocação dos costumes, a localização dos episódios banalizam a
imaginação e trazem o poeta à realidade vivida” (CANDIDO, 1997, p. 169).
A afirmação de Candido nos remete à fala de David Roas Deus** (2011) que
nos diz que a primeira condição do fantástico é a identidade do mundo do texto com o
mundo real. Para David Roas o texto fantástico se assemelha ao realismo, utiliza-se dos
mesmos procedimentos da literatura realista, descrevendo minuciosamente os objetos e
os espaços, mas haverá um momento em que essa linguagem falha e expressa o
impensado, o impossível de explicar. É justamente o que acontece: a realidade dos fatos
e a descrição dos espaços, em Macário, são transgredidas no momento em que o
desconhecido se apresenta como Satã e na medida em que a cidade de São Paulo se
transforma em uma “Piratininga fantasmal e noturna, onde fervia o devaneio cativo dos
moços possuídos pelo ‘mal do século’”. (CANDIDO, 1997, p. 169).
**
Professor Doutor da Universidad Autònoma de Barcelona, proferiu Conferência intitulada “Lo Fantático como problema de lenguaje”, no II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, realizado nos dias 03 a 05 de maio de 2011, na UESP – Campus de São José do Rio Preto.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
439
A primeira cena do drama inicia com Macário viajando para São Paulo. Ao
pernoitar em uma estalagem encontra-se com um desconhecido que se apresenta como
sendo Satã. Ambos se põem a fumar, a beber e a conversar sobre temas gerais, questões
morais, filosóficas, amorosas, religiosas. O debate entre eles mostra todo o pessimismo
de Macário diante da vida e, principalmente, do amor.
A dúvida sobre a identidade do desconhecido encontra-se em sua aparência
cavalheiresca, transgredindo a imagem lendária do diabo cristão, principalmente pelo
fato de Satã e Macário estabelecerem uma convivência harmoniosa. Esses aspectos
aumentam a hesitação, quebrando com o aparente realismo da obra. A transgressão à
imagem e aos atos de Satã é condição de fantástico.
Ao longo da leitura, o drama suscita diversas controvérsias pelo seu caráter
discrepante, circunscrevendo a obra na categoria do fantástico que, para Todorov (1975,
p. 47) “dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à
personagem que devem decidir se o que percebem depende ou não da “realidade”, tal
qual existe na opinião comum”. No final da primeira parte o desconhecido se identifica
como Satã, mais uma vez provocando hesitação e uma reação irônica em Macário:
Macário: – E tu és mesmo Satã?
Satã: – É nisso que pensavas? És uma criança. Decerto querias ver-me nu e ébrio como Calibã, envolto no tradicional cheiro de enxofre! Sangue de Baco! Sou o diabo em pessoa! Nem mais nem menos: porque tenha luvas de pelica, e ande de calças à inglesa, e tenha os olhos tão azuis como uma alemã! Queres que to jure pela Virgem Maria? (AZEVEDO, 2000, p. 527)
Nesse momento a hesitação se instala tanto em Macário quanto no leitor. Satã é
descrito como um cavalheiro distinto, um europeu de bela aparência, trajando
rigorosamente na moda, interessante e amigável. Em sua fala percebe-se a ironia e a
conseqüente desmistificação e dessacralização da religião através da invocação ao
tradicional juramento à Virgem. O sarcasmo de Satã contra os dogmas da igreja nada
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
440
mais é que a confirmação de sua eterna luta contra Deus e o Cristianismo. Mas, seriam
esses aspectos suficientes para se acreditar que ele fosse realmente quem dizia ser?
O diálogo entre Macário e Satã aumenta a dúvida quanto a identidade do
Desconhecido companheiro de viagem de Macário. Azevedo deixa em aberto se o rapaz
faz ou não um pacto com o diabo, “Aperta minha mão. Até sempre: na vida e na
morte!” (AZEVEDO, 2000, p. 522). Contudo, a partir desse momento até o fim do
drama, Satã torna-se presença constante e parceiro inseparável de Macário, uma espécie
de professor macabro. Segundo Antonio Candido (1987, p.14), Azevedo faz um
“desdobramento da clássica dupla Homem/Diabo, tão em voga no Romantismo,
principalmente sob o avatar mais famoso de Fausto/Mefistófeles”. A obra, além de
fantástica, pertence ao satanismo, se inserido, ainda, no rol da literatura faústica. As
palavras de Macário confirmam isso: “Macário - Boa noite, Satã. (Deita-se. O
desconhecido sai.) O diabo! Uma boa fortuna! Há dez anos que eu ando para encontrar
esse patife! Desta vez agarrei-o pela cauda! A maior desgraça deste mundo é ser Fausto
sem Mefistófeles... Olá Satã! (AZEVEDO, 2000, p. 522). O diálogo entre os dois é a
apologia do charuto e do vinho, criando uma atmosfera propícia ao sonho e ao devaneio.
Nisso dá meia-noite, hora amaldiçoada, aberta ao mundo fantasmagórico:
Macário – Sim. É a meia-noite. A hora amaldiçoada; a hora que faz medo às beatas, e que acorda o cepticismo. Dizem que a essa hora vagam espíritos, que os cadáveres abrem os lábios inchados e murmuram mistérios. É verdade, Satã. (AZEVEDO, 2000, p. 531)
A embriaguez causada pela bebida e a hora avançada, precisamente à meia-
noite, hora lúgubre em que os fantasmas se lançam ao mundo dos mortais, prepara o
leitor para a cena que transcorre em um cemitério, que apresenta Macário deitado sobre
um túmulo. Logo a seguir Macário relata a Satã o sonho tétrico que teve com uma
mulher com o cadáver de um homem nos braços. Ao acorda ele ouve um lamento
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
441
angustiado e Satã interpreta-o como sendo a voz da mãe de Macário. Angustiado o
rapaz expulsa seu parceiro:
Satã (desaparecendo). – É por pouco tempo. Amanhã me chamarás. Quando me quiseres é fácil chamar-me. Deita-te no chão com as costas para o céu; põe a mão esquerda no coração: com a direita bate cinco vezes no chão, e murmura – Satã! (AZEVEDO, 2000, p.536)
Satã sai de cena, mas apresenta de forma ridícula e exagerada o ritual de
invocação. Percebe-se aí a união dos opostos, céu/terra, ligando o homem a sua
condição existencial de transitar entre o paraíso e o inferno. O baixo e o elevado se
mesclam criando um mundo à revelia, onde o interdito passa a ser lei suprema.
Na última cena do primeiro episódio Macário acorda no quarto da estalagem e
lança dúvida sobre a presença de Satã. Sonho ou realidade? Sobre a cena Candido
afirma:
a ponta do fim engata na do começo, fechando o círculo como os dois únicos momentos de realidades indiscutível. O espaço inscrito é marcado por uma dubiedade de significado que talvez indique a estrutura profunda do drama, concluído sobre a reversibilidade entre sonhado e real, vacilante terreno onde, quando pensamos estar num, estamos no outro. (CANDIDO, 1987, p. 12)
A dubiedade da obra é marca do fantástico, visto que “o fantástico é a
hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, em face de um
acontecimento aparentemente sobrenatural”. (TODOROV, 1975, p 31). A dúvida se
instala em Macário e no leitor. Macário encontrou-se com Satã ou apenas sonhou? Não
se sabe ao certo. As marcas de um pé de cabra no assoalho do quarto não são suficientes
para afirmar a presença do diabo. A única constatação que o leitor pode fazer é que
Macário criou o seu Mefistófeles:
A Mulher (benzendo-se): – Se não foi por artes do diabo, o senhor estava sonhando
Macário: – O diabo! (Dá uma gargalhada à força) Ora, sou um pateta! Qual diabo, nem meio diabo! Dormi comendo, e sonhei nestas asneiras!... Mas que vejo! (Olhando para o chão) Não vês?
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
442
A Mulher: – O que é? Ai! Ai! Uns sinais de queimado aí pelo chão! Cruz! Cruz! Minha Nossa Senhora de S. Bernardo!... É um trilho de um pé...
Macário: – Tal qual um pé!...
A Mulher: – Tem pé de cabra... um trilho queimado... Foi o pé do diabo! O diabo andou por aqui! (AZEVEDO, 2000, p. 537)
Esse diálogo final reforça o sentimento de hesitação e dúvida. As reticências
contribuem para aumentar a incerteza; afinal, o fantástico ocorre da incerteza, “é a
hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face um
acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1975, p, 31) e “implica, pois
uma integração do leitor no mundo dos personagens, define-se pela percepção ambígua
que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados” (TODOROV. 1975, p. 37). O
leitor, ao longo das narrativas vai se deparar com uma atmosfera peculiar, carregada de
questões aparentemente inexplicáveis e absurdas, que vão se revelando ao longo da
leitura. A hesitação do personagem é transmitida ao leitor, o que segundo Todorov
(1975, p.37), é a primeira condição para que o fantástico se instale.
Segundo Todorov (1975, p.38-39), para se definir o fantástico precisa-se de três
condições básicas. Na primeira é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o
mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e hesitar entre uma
explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Nesse
caso – enquanto leitor – aceitamos o universo da obra como verossímil. A hesitação se
apresenta desde o início do diálogo entre Macário e o Desconhecido, que depois se
apresenta como sendo Satã. Outra causa de hesitação está no fato de Satã parecer um
distinto cavalheiro e não um ser repulsivo. A explicação dada por Satã para justificar
sua aparência parece não convencer. Essa é a segunda condição para o fantástico: a
hesitação experimentada por leitor e personagem. A terceira condição para o fantástico
está na atitude do leitor para com o texto, a sua escolha entre os vários níveis de leitura.
E este drama abre um leque para várias leituras. Temos uma série de acontecimentos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
443
quase que impossíveis, mas suscetíveis de acontecerem, apesar da aparente absurdez do
relato. Cria-se, aqui, a ambigüidade necessária para a instalação do fantástico. O
fantástico “dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à
personagem que devem decidir se o que percebem depende ou não da ‘realidade’, tal
qual existe na opinião comum” (TODOROV, 1975, p. 47).
Feito essas considerações podemos seguir para o segundo episódio do drama que
pode ser chamado de “O momento de Penseroso” (CANDIDO, 1987, p.13). Penseroso
ocupa boa parte desse episódio, contracenando com Macário que vai dividir os espaços
de cena com o jovem amigo e com Satã. Penseroso é um rapaz de feições angelicais,
opondo-se à figura de Satã e Macário. Este episódio é inferior ao primeiro sob todos os
pontos de vista, a começar pela composição desarticulada em dez partes sem nexo, duas
das quais desprovidas de indicação de lugar.
A primeira parte é tão desligada do resto que “chegamos a pensar ter o autor
querido incluí-la artificialmente como sobra do primeiro episódio, a fim de assinalar a
continuidade do mesmo universo fantasmagórico” (CANDIDO, 1987, p. 13). A partir
do título percebe-se um deslocamento de espaço, não mais São Paulo, mas a Itália.
Uma Itália indefinida, podendo ser qualquer lugar. Penseroso se apresenta e domina,
juntamente com Macário, quase todo o episódio, tomando o lugar de Satã até o final,
quando se suicida e Satã reassume seu posto junto a seu pupilo. A presença de Satã
nesse segundo episódio é aceita com naturalidade, a hesitação e a dúvida desaparecem
no personagem, inserindo-o no que Todorov classifica de fantástico maravilhoso:
Estamos no fantástico-maravilhoso, ou em outros termos, na classe das narrativas que se apresentam como fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural. Estas são as narrativas mais próximas do fantástico puro, pois este, pelo próprio fato de permanecer sem explicação, não-racionalizado, sugere-nos realmente a existência do sobrenatural. (TODOROV, 1975, p. 58)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
444
A presença de Satã não representa uma alegoria, mas alguém que se
relaciona naturalmente com Macário, evidenciando o fantástico-maravilhoso no
segundo episódio do drama. O aparecimento de Satã como personagem, longe de ser o
surgimento de monstruosidades e de vilanias do demônio é, antes, o recrudescimento da
rebeldia e da total transgressão do instituído. Processa-se uma posição de mística
invertida, onde os componentes mais intricados da sociedade e do bom senso são
ridicularizados. Essa postura transgressora não aparece apenas em Satã, mas
principalmente em Macário.
Há em Macário uma mudança do mito. O mito do diabo se transforma no
mito da rebeldia adolescente, que procura cortar as amarras com os padrões de
comportamento por meio dos vícios e dos prazeres. Nota-se um duelo entre Macário e
Satã. Macário é diabólico, irreverente, irônico, devasso e descrente, um adolescente que
luta contra as vicissitudes da vida, buscando um alento para suas desventuras.
Na penúltima cena do segundo episódio reaparecem Macário e Satã em um rápido
diálogo, onde os dois se encontram à janela de uma taverna observando seu interior:
“Macário – Eu vejo-os. É uma sala fumacenta. À roda da mesa estão sentados cinco
homens ébrios. Os mais revolvem-se no chão. Dormem ali mulheres desgrenhadas,
umas lívidas, outras vermelhas...Que noite!” (AZEVEDO, p. 562). Esta cena tem
causado comentários, sugerindo a continuidade de Macário em Noite na taverna, onde
cinco jovens, sentados ao redor da mesa de uma taverna, embriagados e envoltos na
fumaça do charuto, relatam suas macabras histórias de vida. Não se sabe exatamente
qual obra foi escrita em primeiro lugar pela falta de datas, mas pode-se afirmar que as
duas possuem uma ligação temática, a mesma ambientação noturna e o mesmo clima
satânico e fantástico.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
445
Os jovens de Noite na taverna são tão desencantados quanto Macário. São irônicos,
melancólicos e rebeldes. O que os diferenciam de Macário é que todos têm uma história
de vida cheia de vícios, assassinatos, traição; enfim, todo tipo de transgressão moral. Já
Macário é um jovem estudante que inicia sua vida, mas tem como mestre o transgressor
dos transgressores, o próprio diabo, que apresenta-o como lição os terríveis relatos de
Noite na taverna. Segundo Antonio Candido:
Se estruturalmente o Macário e Noite na taverna estão ligados no que toca aos significados profundos haveria nesta ligação uma pedagogia satânica visando a desenvolver o lado escuro do homem, que tanto fascinou o Romantismo e tem por correlativo manifesto a noite, cuja presença envolve as duas obras e tantas outras de Álvares de Azevedo como ambiente e signo. Estou me referindo não apenas às horas noturnas como fato externo, lugar da ação, mas à noite como fato interior, equivalente a um modo de ser lutuoso ou melancólico e à explosão dos fantasmas brotados na terra da alma.(CANDIDO, 1987, P. 18)
De fato a atmosfera das duas obras é noturna, ilusória e imaginária, a alma dos
personagens estão carregada dessa atmosfera noturna e desencantada. Sem sombra de
dúvidas, o poeta possuía uma exaltada imaginação, própria do adolescente que era,
influenciado pela criação de Goethe, seus contos e drama além de fantáticos, são
exemplos de literatura faústica, caracterizando a presença do satanismo na literatura
romântica produzida no Brasil. O exposto acima são expressões do fantástico em
Macário, uma força interior de rebeldia e de ceticismo diante da vida. O espírito de
irreverência possibilita ao poeta criar uma literatura bastante diferente de seus
contemporâneos brasileiros, O trágico e o fantástico ironicamente se fazem presentes.
Referência Bibliográficas
AZEVEDO, Álvares de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. CÂNDIDO, Antônio. A educação pela noite . In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
446
______. Álvares de Azevedo, ou Ariel e Caliban. In:___. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1997, v. 2, p. 159 - 172. DEUS, David Roas. Lo Fantático como problema de lenguaje. In: II COLÓQUIO “VERTENTES DO FANTÁSTICO NA LITERATURA”. 2011. UNESP – São José do Rio Preto. TODOROV. Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Trad. Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1975.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
447
O PROFESSOR E SEU DUPLO: UMA LEITURA DE DOIS IRMÃOS DE MILTON HATOUM
Maria Lucia M. Carvalho Vasconcelos* & Marlise Vaz Bridi**
RESUMO
A interação está na base das relações humanas assim como na da formação da identidade de cada indivíduo. A escola, palco da educação formal, proporciona múltiplas possibilidades de interação entre seus componentes. O presente artigo trata da interação professor-aluno, que se dá por conta do exercício de seus papéis sociais - complementares - e que se estruturam um a partir do outro: o duplo que é o outro que, por sua vez, constitui o primeiro, e vice-versa, porque a existência de um é condicionante da existência do outro; as ações de um são condicionantes das (re)ações do outro. A interação professor-aluno, presente em Dois Irmãos, de Milton Hatoum, é aqui analisada. PALAVRAS-CHAVE: Milton Hatoum; duplo; interação professor-aluno.
Em Dois Irmãos de Milton Hatoum, o recurso ao duplo está presente em vários
planos da narrativa. Os irmãos referidos no título, sendo gêmeos, são a dimensão mais
evidente disso. No entanto, de modo sutil a relação professor-aluno assume importância
insuspeitada na constituição do duplo, sendo, nesse sentido, a contrapartida exterior do
que já se manifestara no plano familiar.
Em tudo diferentes, os gêmeos Omar e Yaqub vão sendo atirados para campos
opostos pelo tratamento desigual que recebem, sobretudo por parte das mulheres da casa
– a mãe, a irmã e a empregada – o que os torna inimigos mortais.
A tensão entre o corpo familiar e os corpos pessoais está definitivamente
instalada por ocasião da agressão sofrida por Yakub, em uma seção de cinema e, a partir
* Doutora em Educação pela USP, Professora Titular na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Letras.
** Doutora em Letras pela USP, Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade de São Paulo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
448
dessa cena, rememorada por Domingas (a índia), a mãe de Nael (o narrador), muitos
outros fios vão sendo urdidos na construção da narrativa, das memórias pessoal,
familiar e coletiva.
Uma outra dimensão que não pode, por fim, ser descuidada no caso desse
romance, é o entrelaçamento entre a ficção e a Histórica do Brasil contemporâneo:
acompanhando a trajetória das personagens por três gerações, ao mesmo tempo é a
história do Brasil e, especificamente a história de uma cidade estratégica da Amazônia,
Manaus, que está sendo revisitada. Inserida no seio da trama principal e como dimensão
ambígua da leitura da História, acompanhamos alguns episódios do período da ditadura
militar, refletidos nas relações interpessoais das personagens.
Neste artigo, entanto, dispusemo-nos a centrar nossas atenções nas relações entre
professor e aluno. A análise de tal situação nos dará oportunidade de refletir acerca o do
duplo como recurso em seu desdobramento no plano pedagógico.
Na escola, palco da educação formal, são variadas as possibilidades de interação
entre professor e aluno e a influência recíproca, exercida sobre as ações respectivas de
uns e outros, revela-se persistente, alcançando espaços exteriores ao da sala de aula.
A interação está na base das relações humanas assim como na da formação da
identidade de cada indivíduo, na medida em que ele se percebe, influenciado pela
percepção que dele tenham.
Quando se trata da relação professor-aluno, tal interação dá-se por conta do
exercício de dois papéis sociais complementares, ambos fundamentais para a ação
educativa – o de professor e o de aluno.
As expectativas dos outros, baseadas em normas socialmente aprovadas,
determinam a maneira pela qual cada um deve desempenhar seu papel; entretanto,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
449
existe certa amplitude nessa determinação, permitindo variações individuais
(LAKATOS & MARCONI , 1999, p. 105).
Em Dois Irmãos, Milton Hatoum apresenta duas figuras de professores, que
ocupam papéis preponderantes em momentos cruciais da vida das demais personagens.
O primeiro deles, padre Bolislau, professor de matemática do colégio onde os
gêmeos Yaqub e Omar estudavam, teve importante participação – ainda que
diametralmente oposta – na vida de ambos.
Quanto ao primeiro irmão, foi o Professor Bolislau quem de pronto percebeu e
incentivou o talento de seu jovem aluno para o cálculo matemático.
Surgia ali, naquela situação de aprendizagem, as evidências de um talento que se
transmutaria, no futuro, em vocação. Anunciava-se, na esteira do incentivo do mestre,
um futuro profissional auspicioso. A descoberta desse talento devolveu ao tímido
Yaqub a altivez perdida ao longo de sua infância e pré-adolescência, quando se via
como perdedor na disputa do afeto materno, numa eterna comparação com seu irmão.
O mesmo Professor Bolislau, no entanto, interage de modo diametralmente
oposto quando se trata de Omar, o outro filho de Zana e Halim.
Numa relação marcada pelo autoritarismo do professor e pela falta de qualquer
noção de limites por parte do aluno, o resultado foi absolutamente negativo.
O processo de ensino-aprendizagem pressupõe a convivência pacífica entre o
professor e seus alunos e o exercício desses dois papéis sociais está claramente marcado
pelas normas institucionais.
No caso específico do Professor Bolislau e de Omar, o autoritarismo do primeiro
e a falta de limites do segundo provocaram uma situação que marcou o jovem Omar,
reforçando sua sensação de poder extremo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
450
Se o primeiro episódio marcante, ocorrido entre ambos, nasceu do ranço
autoritário do professor, que se permitiu castigar e humilhar o aluno, colocando-o de
joelhos diante de todos os colegas da escola, a reação do aluno teve origem tanto na
ação anterior do professor (o castigo) como na total falta de limites, permitida a ele por
sua família. “Contava a história para todo mundo ouvir. Contou-a diante dos alunos do
Galinheiro dos Vândalos, em voz alta, rindo [...]” (p. 29), vangloriando-se de ter sido
expulso do colégio dos padres por surrar um professor.
Um mesmo professor e dois momentos tão distintos. Se a Yaqub a convivência
com o Professor Bolislau auxiliou-o a resgatar sua auto-estima, com Omar o efeito foi
oposto. Um jovem que aparentava não ter problemas de auto-estima, sofre – além desse
episódio aqui comentado – tantos revezes que passa a se perceber - denunciado pelo
olhar do outro – diminuído.
Expulso do colégio dos padres, Omar é matriculado no Liceu Rui Barbosa, o
Águia de Haia, mais conhecido como o Galinheiro dos Vândalos, frequentado pela
escória de Manaus e onde “[...] reinava a liberdade de gestos ousados, a liberdade que
faz estremecer convenções e normas” (p. 28).
É nesse cenário que surge, na narrativa de Hatoum, o segundo professor:
Antenor Laval – “[...] um excêntrico, um dândi deslocado na província, recitador de
simbolistas, palhaço de sua própria excentricidade” (p. 28). Um professor que, abusando
da persuasão e da sedução, atraía seus alunos “[...] pelo encanto da voz [...]” ao recitar
poemas seus ou de seu poeta simbolista preferido. Esse professor, mesmo depois da
aula, acompanhado de seus alunos, continuava a exercer sua influência nos cafés da
cidade.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
451
Numa escola cujo apelido era Galinheiro dos Vândalos, frequentada, pela
escória da cidade, pouco se esperava dos professores, que, por sua vez, nada esperavam
de seus alunos.
Em situações mais típicas, a quebra de expectativas costuma ser geradora de
indisciplina, porém, no Galinheiro dos Vândalos, as expectativas eram raras. Para Omar,
a escola não tinha importância. Frequentou-a até o momento em que conseguiu deixar
de frequentá-la, quando logrou burlar a vigilância familiar e, simplesmente, evadiu-se.
No entanto, essa mesma escola, conturbada e de má fama, constituiu-se em
“alforria” para Nael, o narrador dessa história, filho bastardo da empregada doméstica,
que tinha expectativas quanto à escola, pois para ele, frequentá-la era a única
possibilidade de construir um futuro.
Quanto a esse segundo professor, o que Milton Hatoum nos conta é que Laval
influenciou substantivamente essas duas persongens: Omar e Nael.
Em sala de aula, Laval, distante da figura do professor tradicional e autoritário,
iniciava suas aulas com uma preleção, preocupado com a contextualização histórico-
social da obra em discussão. Assim, esse professor introduzia seus alunos no mundo da
poesia e, para conseguir sua atenção, seu discurso, marcadamente persuasivo, era
impregnado pelo lúdico, mas antes de tudo permeado pela argumentação. Assim, o
discurso de Laval, sendo um discurso democrático, pressupunha a intertextualidade, o
diálogo, a presença de opiniões controversas e de distintos pontos de vista.
[...] Era o momento em que ele falava francês, e nos provocava, nos estimulava, fazia perguntas, queria que falássemos uma frase, que ninguém ficasse calado, nem os mais tímidos, nada de passividade, isso nunca. Queria discussão, opiniões diferentes, opostas, ele seguia todas as vozes, e no fim falava ele, argumentava animado, lembrando-se de tudo, de cada absurdo ou intuição ou dúvida [...] (HATOUM, 2006, p.141-142).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
452
Quando o professor Laval foi preso, seus alunos presenciaram toda a humilhação
pela qual passou. Dois dias depois, estava morto e sua morte marcou, profundamente,
Omar – que pela primeira vez se manifesta em favor de outro que não fosse ele próprio;
um outro a quem dedicou uma amizade sincera cuja perda abala seu próprio equilíbrio.
Quanto a Nael, este apanha a pasta surrada do mestre morto com seus livros e
seus poemas para guardá-la como se uma relíquia fosse. No futuro, tornou-se, ele
próprio, um professor, que dava aulas no mesmo liceu onde estudara e fora aluno de
Laval, de quem reuniu os escritos e que certamente o influenciaram a tornar-se o
meticuloso e envolvente narrador dessa trama denominada Dois Irmãos.
Enfim, os lugares para os quais as pessoas podem ser deslocadas, fazendo delas
o outro diante de si mesmas é muito bem representado por essa obra em que o
sentimento trágico da vida se manifesta como, entre outras coisas, uma constante
sensação de encontrar-se fora de lugar.
Referências Bibliográficas
HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras (Companhia de Bolso), 2006. LAKATOS, Eva M. e MARCONI, Marina A. Sociologia Geral. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
453
O GROTESCO E O FANTÁSTICO POÉTICO NA OBRA DE ALOYSI US
BERTRAND, GASPARD DE LA NUIT: FANTASIAS À MANEIRA D E REMBRANDT E CALLOT
Matheus Victor Silva∗
RESUMO
Aloysius Bertrand inaugurou o poema em prosa na literatura francesa com sua obra Gaspard de la Nuit, publicado postumamente em 1842, que aliava a inovação formal ao gosto pelo grotesco. Em sua obra, Bertrand traz o cotidiano e os cenários da Idade Média. Em meio às ricas descrições da arquitetura e da vida dessa época, é feito um retrato do imaginário medieval europeu, por meio da representação de criaturas fantásticas e situações insólitas. O presente trabalho pretende estudar as manifestações do poético fantástico e do grotesco nessa obra como elementos constituintes do imaginário popular medieval, uma vez que a cultura popular paralela à mitologia cristã foi ignorada e combatida por muito tempo. Realizar-se-á, também, uma discussão acerca desses gêneros estéticos, com base em textos teóricos de autores como Wolfgang Kayser. Tzvetan Todorov e Mikhail Bakhtin. Assim, o grotesco está presente na obra não somente nas descrições e cenas, mas também nas criaturas e sonhos fantásticos que a permeiam, sendo um reflexo do imaginário medieval europeu e criando, como queria Victor Hugo, um pólo de tensão com o sublime.
PALAVRAS-CHAVE: Poema em prosa; Grotesco; Fantástico; Aloysius Bertrand.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo analisar a poética de Aloysius Bertrand e
avaliar de que forma o apuro formal utilizado pelo autor acaba por criar condições que
estabelecem uma atmosfera de dúvida e impasse, sugerindo uma linha tênue entre o real
e o imaginário.
Tal dualidade gera também um campo fértil para a irrupção de várias formas de
grotesco, entre elas, o onírico e o fantástico, dada a presença de criaturas do imaginário
da Borgonha medieval. O autor consegue, dessa forma, estabelecer tensões entre o real e
o imaginário sobrenatural em vários extratos do poema.
∗ Graduando em Letras, na Universidade Estadual Paulista.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
454
METODOLOGIA
A pesquisa se desenvolverá com a análise cuidadosa dos aspectos formais e
semânticos de alguns poemas selecionados, com base no estudo de autores como
Suzanne Bernard, Tzvetan Todorov, Wolfgang Kayser, Joël Malrieu, entre outros.
Buscando compreender a manifestação do fantástico e do grotesco na forma particular
como Bertand constrói seus poemas em prosa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO
Victor Hugo, em seu ensaio Do Grotesco e do Sublime, apresenta o grotesco em
oposição ao sublime, que por sua vez caracteriza-se como uma única forma de perfeição
e beleza, sendo o grotesco, em contrapartida, tudo aquilo que foge a esse ideal de
beleza, incluindo, portanto, desde a feiura e o abismal até o depravado e o luxurioso.
Kayser, em seu livro O Grotesco, vai além de Hugo. Em um estudo diacrônico do
termo, Kayser acaba por extrapolar a simples ideia de convivência dos opostos e passa a
colocá-los juntos. Temos, dessa forma, o grotesco como hibridismo, sendo não a
proximidade, mas a união insolúvel dos opostos em um único ser. Partindo disso, passa-
se a entender o grotesco como destruição da realidade, da ordem natural do mundo.
Em Gaspard de la Nuit, de Aloysius Bertrand, o mundo medieval compõe-se de
tensões, suscitando a forte presença do grotesco conforme o definiram Hugo e Kayser,
ou seja, enquanto presença simultânea do belo (altas catedrais góticas, reis e senhores) e
do disforme (mendigos, leprosos e anões, execuções e loucura) num mesmo ambiente; e
como destruição das noções mundanas e dos limites entre o real e o maravilhoso.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
455
Esse último aspecto demanda maior atenção não só por ser a manifestação do
fantástico na obra, como também por gerar conflitos frente a algumas linhas teóricas
como a de Todorov. Em Introdução à Literatura Fantástica, Todorov concebe o
fantástico como hesitação, podendo tornar-se o estranho (quando o acontecimento
insólito vem a ser explicado pela razão) ou maravilhoso (quando o insólito é admitido
como sobrenatural e alheio às leis da realidade mundana). Poder-se-ia, partindo de tal
conceito, classificar a obra de Bertrand como sendo fantástico-maravilhosa, uma vez
que a dúvida do eu lírico frente a fenômenos estranhos, ocorridos em ambientação
onírica e noturna é, por vezes, mas não sempre, confirmada como obra de forças
insólitas e sobrenaturais.
Todorov, contudo, afirma que o fantástico só pode estar presente na ficção, já
que a poesia constitui uma linguagem diferenciada, na qual não há representação da
realidade, mas sim, construção de imagens e metáforas nas estruturas semânticas,
fonéticas e morfológicas do poema. A obra de Bertrand, contudo, é constituída de uma
forma poética subversiva e aberta, caracterizada por sua maleabilidade e multiplicidade,
o poema em prosa. Partindo das teorias de Suzanne Bernard e Michel Sandras, podemos
entender as tensões que regem o poema em prosa enquanto gênero poético. Dessa
forma, a constituição do poema em prosa passa a ser muito particular. Em Bertrand, a
evocação repetida de certos elementos, a estrutura cíclica (tanto semântica quanto
fonética) e a divisão em couplets (alíneas) geram lacunas no texto e acabam por criar
condições para o surgimento da dúvida e da incerteza. Nesse espaço é que se inserem as
criaturas do imaginário medieval como as ondinas, os gnomos, os diabretes e os bruxos.
Isso posto, seria possível realizar uma leitura desses poemas em prosa aquém das
metáforas e sentidos figurados da linguagem poética e tê-los como representação do
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
456
mundo e do imaginário medieval francês relido por uma autor romântico. Ilustro, a
seguir, com o poema “Partida para o Sabá”:
DÉPART POUR LE SABBAT Elle se leva la nuit, et allumant la chandelle prit une boîte et s'oignit, puis avec quelques paroles elle fut transportée au sabbat. JEAN BODIN. - De la Démonomanie des Sorciers. Ils étaient là une douzaine qui mangeaient la soupe à la bière, et chacun d'eux avait pour cuiller l'os de l'avant-bras d'un mort. La cheminée était rouge de braise, les chandelles champignonnaient dans la fumée, et les assiettes exhalaient une odeur de fosse au printemps. Et lorsque Maribas riait ou pleurait, on entendait comme geindre un archet sur les trois cordes d'un violon démantibulé. Cependant le soudard étala diaboliquement sur la table, à la lueur du suif, un grimoire où vint s'ébattre une mouche grillée. Cette mouche bourdonnait encore lorsque, de son ventre énorme et velu, une araignée escalada les bords du magique volume. Mais déjà sorciers et sorcières s'étaient envolés par la cheminée à califourchon, qui sur un balai, qui sur les pincettes, et Maribas sur la queue de la poêle.
A figura dos bruxos, assim como seu aspecto maligno, eram uma crença real da
Idade Média. Nesse poema, contudo, eles aparecem de uma forma satírica na concepção
do riso satânico de Kayser: tomam sopa de cerveja em pratos fedorentos, mas têm por
colher ossos humanos; praticam magia de Grimórios antigos, mas um deles alça voo em
uma frigideira. A tensão grotesca aqui é perceptível, mas até que ponto isso infere na
verossimilhança desses bruxos? São verdadeiros, sua magia compõe a realidade, ou não
passam de caricaturas? É fato que crenças absurdas compunham a imagem do bruxo
medieval, mas o tom humorístico do poema nos leva a essa questão que deve ser
analisada com o devido cuidado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
457
BERNARD, S. Le poème em prose de Baudelaire jusqu'à nos jours. Paris: Librairie Nizet, 1959. BERTRAND, A. Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot. Paris: NRF Gallimard, 1997. Ed. Établie par Max Milner. HUGO, V. Do grotesco e do Sublime. São Paulo: Perspectiva, 2002, 2ª ed. KAYSER, W. J. O Grotesco. São Paulo: Perspectiva, 1986. MALRIEU, J. Le Fantastique. Paris: Hachette, 1992. SANDRAS, M. Lire le Poème em prose. Paris: Dunod, 1995. TODOROV, T. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. _________. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1975.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
458
UM PANFLETO MAGICO NA LITERATURA PORTUGUESA
Mauro de Sousa Ribeiro*
RESUMO
De acordo com Harry Belevan quando citado por Carlos Reis: "(...) toda obra de arte é produto da imaginação; a imaginação é parte integrante da realidade; toda obra da imaginação resume uma determinada realidade, assim a vontade do autor intervém."** Para a elaboração deste trabalho, entrelaçamos alguns pontos entre o imaginário das “Aventuras de João Sem Medo - Panfleto mágico em forma de romance*** ” e o "real" autobiográfico na constituição do eu herói infantil na “Memória das palavras ou o gosto de falar de mim”**** . Constituindo o universo de seres fantásticos no mundo de "João Sem Medo", José Gomes Ferreira reproduziu variadas faces permitindo-lhe a criação de novas idéias em defesa do seu semelhante. O ensaísta Alexandre Pinheiro Torres publicou uma crítica sugestivamente intitulada "Aventuras de João Sem Medo ou a chave da abóbada do mundo Gomes-Ferreireano"***** onde faz uma extensa comparação entre o mundo real e o imaginário do autor, sugerindo as “Aventuras de João Sem Medo” como o instrumento necessário para descobrir seu universo verbal. Nota-se que em todos os livros de José Gomes Ferreira a tendência autobiográfica vai tornando cada vez mais sólido o eu herói que conjuga os direitos do cidadão com a perspicácia artística. Este "agudo saber" próprio do artista investiga e institui uma lembrança dos acontecimentos para depois os comentar de acordo com seus objetivos sociais. Convencidos de tantas afinidades da vida do protagonista “João Sem Medo” com a vida do jovem José Gomes Ferreira****** , tornou-se inevitável a identificação entre criador e criação. Para isso, apontamos um dos caminhos a que nos poderia levar a pesquisa desta temática, a saber, a relação entre o eu herói infantil numa obra de pendor memorialista (com todos os cuidados que esta classificação suscita) e a construção alegórica do herói numa obra com elevado teor insólito. Vale salientar que, independente da forma de expressão ou do regime governamental, aprendemos que o papel do ser humano numa determinada sociedade deve se objetivar constantemente em * Graduado em Letras pelo Unisalesiano (2004) e Mestrado em Estudos Românicos com especialização em Literatura Portuguesa (2007).
** REIS, Carlos. "Homenagem a José Gomes Ferreira". Colóquio Letras, nº 53. 1980. p. 24.
*** FERREIRA, José Gomes. Aventuras de João Sem Medo - Panfleto mágico em forma de romance. 3ª edição, Lisboa, Portugália, 1974.
**** FERREIRA, José Gomes. A Memória das palavras ou O gosto de falar de mim. Lisboa, Portugália; 5ª edição, Lisboa, Publicações Dom Quixote. 1991. ***** TORRES, Alexandre Pinheiro. "Aventuras de João Sem Medo ou a chave da abóbada do mundo Gomes- - Ferreireano". Diário de Notícias. 13/03/1975.
****** Daqui pra frente passaremos a utilizar a abreviação JGF
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
459
melhores perspectivas de vida social, política e cultural. Quanto mais expressivos os objetivos, mais sintomática é a evolução e mais claro se torna que estamos efetivamente em desenvolvimento. Porém, é preciso ter meios de filtrar e interrogar a realidade para se criar bons cidadãos e é justamente essa certeza que JGF nos deixa ao (re)constituir o eu herói infantil.
Palavras chave: Panfleto mágico; José Gomes Ferreira; literatura fantástica.
1- Apresentação do autor
José Gomes Ferreira (1900-1985), poeta e ficcionista, nasceu no Porto, mudou-
se para Lisboa com três anos de idade, formou-se em Direito em 1924 e foi cônsul na
Noruega entre 1925 e 1929. Após o seu regresso a Portugal, enveredou na carreira
jornalística passando a colaborador em vários jornais e revistas, tais como a Presença, a
Seara Nova e Gazeta Musical e de Todas as Artes. Numa dialéctica constante entre a
irrealidade e a realidade, JGF destacou-se com representante do artista social e esteve
sempre politicamente empenhado nas suas reações e revoltas em face aos problemas e
injustiças do mundo. De leitura aparentemente simples transformou coisas vulgares do
quotidiano em símbolos de luta e persistência contra a paisagem do regime facista que
vivenciou grande parte da sua vida.
2- Apresentação dos livros a serem trabalhados
No livro “A memória das palavras ou o gosto de falar de mim”*, considerado
autobiográfico e que servirá de apoio, o escritor narra a história de sua vida desde a
infância até a idade adulta registrando todos os eventos históricos. Devido à
intertextualidade que os livros de JGF contem, optei pela constituição do eu herói
* Daqui pra frente passaremos a utilizar a abreviação MP
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
460
infantil, tendo, como principal instrumento um livro de pendor fantástico; “As aventuras
de João Sem Medo” * onde o herói pretende revolucionar a aldeia onde mora.
Primeiramente as AJSM foram publicadas em episódios esfacelados no ano de
1933 na Revista “O Senhor Doutor”, sendo, trinta anos depois, reunidas e publicadas
em livro. Uma obra prima da literatura de tamanha aceitação do público e da crítica que
a última edição (25ª) fora editada no ano de 2005, provando que mesmo com o passar
de mais de 70 anos permanece atual.
3- Fatores editoriais e para textuais das AJSM
Logo acima de cada aventura publicada no jornal, lia-se a seguinte epígrafe “...
histórias magníficas em que se conjuga a graça, a moral e os ensinamentos”,
despertando a consciência dos leitores para a pretensão do autor.
Ocorre que as atividades artísticas e outros tipos de manifestações contra o
governo português sofriam implacáveis perseguições da censura salazarista, daí a
hesitação para sugerir o local onde o povo deveria estar "bem acordado". Esta referência
dá-se no comentário paratextual em forma de dedicatória a seus filhos, onde JGF indica
o livro como um "divertimento (...) de um homem bem acordado", despertando-nos a
atenção para a realidade através da alegoria.
A capa da primeira edição, ilustrada por João da Câmara Leme chama a atenção
pelos seres extraordinários que são apresentados, uns com formas fixas e outros com
formas completamente desfiguradas ou misturadas da realidade. O título era “As
maravilhosas aventuras de João Sem Medo”.
Em 1973, quando o regime fascista estava chegando ao fim, houve a publicação
da segunda e terceira edição do livro que esgotava-se rapidamente nas livrarias. Uma * Daqui pra frente passaremos a utilizar a abreviação AJSM
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
461
das mudanças que chama a atenção é a inclusão do subtítulo “panfleto mágico em forma
de romance” possibilitando a interpretação de uma espécie de propaganda panfletária
contra o regime facista. Porém, há fronteiras problemáticas nesse subtítulo porque o
perigo que corremos ao deduzir algo é muito grande, afinal, como pode se catalogar um
autodenominado “panfleto mágico em forma de romance”?
4- Caminhos para a narrativa e para a escolha do nome do herói
Um posfácio passa a ser incluído a partir da segunda edição, oportunidade em
que o autor declara as inspirações e invenções para escrever as aventuras, evidenciando
a intenção de construir um livro maravilhoso por mencionar algumas características
dessa modalidade.
Por exemplo, na escolha do nome do herói, JGF cita Pedro Malas Artes,
personagem da cultura portuguesa e que também faz parte da cultura brasileira, famoso
graças à tradição oral, característica própria do conto maravilhoso afirmada nos
seguintes termos pelo autor: “Logo resvalei despreconcebido, para esse toque antigo,
actualizando-o embora, para lhe sugerir um estilo oral, tão de acordo com o tom popular
da obra” (AJSM, p. 228).
Na página 233, JGF diz que o livro é um divertimento pícaro, remetendo-nos
para o mito de Pícaro, personagem-tipo dos romances e novelas dos séculos XVII e
XVIII que em outras situações adquiri o papel de bufão. Também é chamado de bobo o
“funcionário” da monarquia encarregado de entreter os reis e as rainhas e fazê-los rirem.
Muitas vezes eram as únicas pessoas que podiam criticar o rei sem correr riscos.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
462
5-Semelhanças entre o “real” nas MP e o “maravilhoso” nas AJSM
Coadunando com eu herói infantil, chamamos novamente a atenção para o
tempo da narrativa das MP; o autor faz uma retrospecção a infância e relata sua vida até
a atualidade, rotulando esse tempo de “Aventura Poética” com letra maiúscula. A
semelhança com as AJSM está justamente no termo “aventura” porque seguindo o
dicionário de língua portuguesa, o termo equivale a ação arriscada; proeza guerreira;
acaso; sorte. Desse modo, somente um herói poderá empreender para ter sucesso, tanto
em uma aventura como na outra.
Mesmo porque o que acontece com a sociedade portuguesa nesse tempo, ou a
forma como as coisas, as gentes, ou os casos neles aparecem, é tão sempre sem
alteração que é necessária uma consciência de singularidade e ou de uma
responsabilidade social para revolucionar esse mundo.
A consciência de singularidade de JGF se manifesta várias vezes na MP,
especialmente em certa ocasião em que ele participa do Batalhão de Voluntários
Acadêmicos que enriqueceu-o de “ensinamentos profundos para a modelação definitiva
da minha personalidade...”:
o mundo camponês nada tinha a ver com o nosso, como bem o provava a indiferença, o desprezo inteiro, a incompreensão, o desconhecimento mesmo da gente rústica a respeito da guerra que naquele instante se travava entre monárquicos e republicanos. Monárquicos? Republicanos? Viva a República? Miravam-nos com suspeição de olhos caídos dum planeta distante. Não entendiam.... (MP p. 67)
A consciência do herói autobiográfico fica profundamente abalada ao constatar
que o "mundo camponês" era bem diferente da imagem romântica do "Paraíso que toda
a gente em redor da minha infância citadina exaltava com êxtase: o campo tal como os
pequeno-burgueses o sonhavam" (MP p. 24). Segundo Vítor Manuel Aguiar e Silva:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
463
O conceito de herói está estreitamente ligado aos códigos culturais, éticos e ideológicos, dominantes numa determinada época histórica e numa determinada sociedade. (...) Em dados contextos socioculturais, o escritor cria os seus heróis na aceitação perfeita daqueles códigos: o herói espelha os ideais de uma comunidade ou de uma classe social, encarnando os padrões morais e ideológicos que essa comunidade ou essa classe valorizam.*
JGF cria o herói aceitando esses valores e normas de comportamento que
passam a ser elementos constitucionais da sua personalidade heróica. Já nas AJSM, JGF
distingue o herói nos seguintes termos:
Preferiam chorar (...) os habitantes da aldeia a andarem de monco caído, sempre constipados por causa da humidade, e a ouvirem com delícia canções de cemitério ganidas por cantores trajados de luto, ao som de instrumentos plangentes e monótonos.
O único que, talvez por capricho de contradizer o ambiente e instinto de refilar, resistia a esta choradeira pegada, era o nosso João que, em virtude duma contínua ostentação de bravata alegre e teimosia na luta, todos conheciam por João Sem Medo.(AJSM p. 10)
Deste quadro imaginário podemos sugerir tratar-se dos camponeses, povo
simples do campo, os quais escutavam passivos, desinteressados e indiferentes às
imposições dos poderosos que governavam autoritariamente o país. A tendência natural
de contraposição de João Sem Medo que pretendia revolucionar a aldeia, assemelha-se
ao sentimento revolucionário do eu herói infantil em MP, herdado da figura heróica do
Pai, republicano convicto, e das influências dos escritores de "concepção republicana do
mundo" (MP p. 20), os quais contradiziam o ambiente repressivo da época. A "teimosia
na luta" pode sugerir a convicção republicana imposta por essas figuras exemplares.
Conferimos a seguir outros pontos de semelhanças entre os dois mundos:
* SILVA, Vítor Manuel Aguiar e. Teoria da Literatura. Coimbra, Livraria Almedina, 1992. p 700.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
464
Na verdade os aldeões, que naquele momento o rodeavam de mimos, tinham em vez de mãos cinco lâminas de facas. Segundo ela nos contou, a Cordilheira dos ventos aos Coices pertencera em épocas imemoriais ao Devorador de Sete Bocas que, com crueldade pavorosa, de chicote em riste, obrigava as gentes da região a trabalhar 16 horas por dia para lhe satisfazer o apetite insaciável. Como paga, os infelizes recebiam apenas a côdea de broa dos escravos, que mal se sustinham em pé, sujeitos a mais selvagem vassalagem de que havia memória. (AJSM p. 48)
As semelhanças entre o real e o irreal para impor a consciência social do autor
parece-nos explícita; de início sugerimos uma aproximação entre a fantasiosa "planície"
das AJSM com "uma terreola chamada Moçâmedes" (MP p. 65), quando JGF participou
do Batalhão Acadêmico. Do mesmo modo identificamos as "gentes da região" ou
"infelizes" que trabalhavam "16 horas por dia" das AJSM como as "fontes evidentes e
únicas da escassa vida moral, espiritual, social e artística daqueles pobres bichos quase
vegetativos. Lá os lobrigávamos, curvos de trabalho, nem alegres nem tristes, sujos
apenas" (MP p. 66). Para elucidação, vejamos o trecho mencionado acima narrado nas
MP:
Numa terreola chamada Moçâmedes, com boleto em casebres de camponeses remediados que nos miravam de esguelha... Só negridão por fora e por dentro em tugúrios fétidos. Só porcos, tojo, bosta, tremedais mal cheirosos e sendas íngremes ... fontes evidentes e únicas da escassa vida moral, espiritual, social e artística daqueles pobres bichos quase vegetativos. Lá os lobrigávamos, curvos de trabalho, nem alegres nem tristes, sujos apenas... (MP p. 66)
Neste momento afigura-nos propício ao surgimento de uma personalidade
heróica que contraponha o ambiente de modo fabuloso, como diz o narrador:
Decidi inventar um herói de sabor popular que desafiasse as forças enigmáticas da Floresta Branca (branca, cor convencional da infância), desmitificasse os Gigantes, os Príncipes, as Princesas, as Fadas, etc., me permitisse criar novos mitos, tornar mágicos os objectos vulgares da vida
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
465
diária, e dar contorno as minhas verdades mais profundas numa linguagem de acção poética (AJSM p. 228)
A cor branca atribuída à Floresta pode apontar inocentes qualidades às aventuras
de João Sem Medo para "parecer exclusivamente destinada a crianças (AJSM pp. 238-
239), "principalmente para a criança que brincava dentro de mim com a morte e o amor
e, por felicidade, ainda hoje continua a brincar" (AJSM p. 231). O "muro proibido"
pode indicar a intervenção política de "forças enigmáticas" contra todos os tipos de
manifestações do sistema governamental do país. Para resumir, JGF revelou por uma
vigorosa utopia as suas "verdades mais profundas numa linguagem de acção poética"
(AJSM p. 228).
6- Intencionalidade discursiva
Além das semelhanças sociais entre os heróis, vale a pena considerarmos outra
aproximação, da intencionalidade discursiva:
E com ímpeto de sentir um comício na garganta, galgou até o cimo de um penedo e desatou a discursar aos chorincas que o rodeavam:
- Cidadãos! Precisamos de organizar uma conspiração urgente contra as lágrimas mal choradas. E raspar o musgo das faces. E tirar o verdete das bocas. Viva a alegria revolucionária!
Mas, pouco a pouco, um a um, os choraquelobebenses, apavorados com estas palavras que perturbavam a vocação geral para mortos (...) começaram a esquivar-se à sorrelfa (...) Este agora, aquele a seguir ... (AJSM p. 219-220)
O discurso do herói nas ASM faz-nos lembrar instantaneamente dessa cena do
herói autobiográfico nas MP, senão vejamos:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
466
De súbito recordo-me daquela cena da Adega, trémula da luz da lanterna. E eu, de caneca em punho, aceso de vinho, a cantarejar a um grupo de campónios a beleza da verdade da nossa Causa, a Causa do povo teórico.
Alguns ouvintes arreganhavam sorrisos idosos com atenção velhaca. Mas os jovens, como que forrados de muro onde escorregavam todas as razões certas, sacudiam os ombros com teimosia alheada: "isso lá é com vossemecês".
A maioria, porém, nem reagia - rebanho relutante de bichos de cardos que falavam por acaso um arremedo da nossa língua comum... (MP p. 67)
No excerto acima parece-nos mais do que evidente a conciliação das imagens de
JGF e de João Sem Medo; a primeira cena que salta-nos aos olhos é o herói discursando
para os camponeses a causa revolucionária. A partir de então, a narrativa começa a
conciliar-se em outros vocábulos ou frases como "discursar aos chorincas" em AJSM e
"cantarejar a um grupo de campónios" em MP, ou "conspiração" nas AJSM e "Causa do
povo teórico" em MP. No final, os discursos realizados com ímpeto entusiástico pelos
heróis, tanto o fabuloso, como o autobiográfico, tornam-se em vão, pois os habitantes da
aldeia de "Chora-Que-Logo-Bebes" e o "grupo de campónios" de "uma terreola
chamada Moçâmedes" (MP p. 65) mostram-se indiferentes pela semelhante condição
social e governamental em que vivem.
Com todas comparações que tentamos evidenciar, não podemos deixar de
mencionar o final do herói das AJSM quando retorna vencedor das “forças enigmáticas”
da “Floresta Branca”, mas derrotado pela indiferença dos Chora-que-logo-bebenses:
“Provisoriamente, vendo tantos olhos a chorar... montou uma fábrica de lenços e
enriqueceu. (Ah! Mas um dia, um dia!...) (AJSM p. 18).
O desfecho final publicado a partir da primeira edição em livro no ano de 1963,
nos leva a deduzir que o escritor tenha persistido durante 30 anos na esperança de haver
uma segunda república, pois a primeira havia sofrido um golpe militar em 1926 e a
segunda só seria instaurada no ano de 1974. Senão, vejamos os comentários abaixo:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
467
O maravilhoso da história de José Gomes Ferreira só é
maravilhoso por razões de Estado, digamos uma vez que o objectivo das aventuras de seu herói é demonstrar que ele, seu autor <<está bem acordado>> e que <<bem acordados>> devem estar todos quantos vivem em ... Chora-Que-Logo-Bebes. (João Gaspar Simões - Diário de Notícias 5/12/63) – 1ª Edição em livro (Período facista)
Que terra é afinal, Chora-Que-Logo-Bebes? É suficiente para verificarmos que é Portugal. E da
intencionalidade política da alegoria não nos podem restar duvidas: Ninguém pode seguir o caminho... Em forma de sátira, o diagnóstico da doença portuguesa: a falta de liberdade de expressão e a alienação no plano político. (Alexandre Pinheiro Torres - Diário de Notícias 13/03/75) - Pós 25 de abril (Revolução dos Cravos)
Todavia, tanto na literatura fantástica como na literatura realista,
existe sempre uma inderrogável correlação semântica com o mundo real ... (Victor Aguiar e Silva - Teoria da Literatura. P. 646)
Sob a literatura fantástica, abarcamos um mundo que toca, em
especial, o maravilhoso, o extraordinário, o sobrenatural, o inexplicável. Em outras palavras, ao mundo fantástico pertence aquilo que escapa ou está nos limites da explicação científica e realista; aquilo que está fora do mundo circundante e demonstrável. (Tzvetan Todorov. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992.)
Bibliografia
FERREIRA, José Gomes. Revista O Senhor Doutor. Lisboa. 1933
___. Aventuras maravilhosas de João Sem Medo - Romance. Lisboa, Portugália, Colecção Contemporânea. 1963.
___. Aventuras maravilhosas de João Sem Medo - Romance. Lisboa, Portugália, Colecção Contemporânea. 1963.
___. Aventuras de João Sem Medo - Panfleto mágico em forma de romance. 3ª edição, Lisboa, Portugália, 1974.
___. A Memória das palavras ou O gosto de falar de mim. Lisboa, Portugália; 5ª edição, Lisboa, Publicações Dom Quixote. 1991.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
468
SIMÕES, João Gaspar. "Aventuras Maravilhosas de João Sem Medo, romance, por José Gomes Ferreira". Diário de Notícias. 5/12/63. SILVA, Vítor Manuel Aguiar e Silva. Teoria da Literatura. 8ª edição, Coimbra, Livraria Almedina, 1992.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992.
TORRES, Alexandre Pinheiro. "Aventuras de João Sem Medo ou a chave da abóbada do mundo Gomes-Ferreireano". Diário de Notícias. 13/03/1975
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
469
AS INSÓLITAS CONSTRUÇÕES QUE SOEM ACONTECER NA NARRATIVA
DE MIA COUTO: CHUVA PASMADA COMO EXEMPLO
Nanci do Carmo Alves∗
RESUMO
A Chuva pasmada (2004), do moçambicano Mia Couto, será norte para discutirmos a forma como escritor usa as palavras para transgredir, rever e reverter valores instituídos pela colonização do seu povo. Iluminada por lutas entre colonizador e colonizado, sempre transitando entre o real e o imaginário, entre o sólito e o insólito, a obra de Mia Couto transmite cultura e religiosidade. Nessa narrativa, temos reflexões sobre morte, luto e aceitação do desaparecimento de alguém querido. Trata-se da estória de uma família, em que todos podem se identificar através das lendas, religiosidade e costumes. Fernanda Cavacas afirma que “Mia Couto diz Moçambique através da palavra oral de sabor quotidiano reinventada na palavra escrita de saber literário” (CAVACAS, 2003, p. 71) PALAVRAS-CHAVE: Insólito ficcional; Cultura; Fantástico.
A chuva pasmada, narrativa curta do escritor Mia Couto, é objeto de análise
desse trabalho, que tem por objetivo discutir as ocorrências insólitas e a natureza de seu
surgimento. Alguns acontecimentos nessa narrativa, levam, o leitor, a perceber, que ele
está diante de um texto fantástico. Segundo Todorov:
Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. (TODOROV, 2004, p. 30) N
∗ Professora da Unisuam; mestranda do programa de pós-graduação em letras pela UERJ sob orientação do professor doutor Flavio García.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
470
Na leitura dessa narrativa ficamos de frente com alguns acontecimentos que em nosso
mundo, não seriam explicados pelas leis que são familiares, mas na narrativa aceitamos
como se fosse natural. Vejamos alguns desses acontecimentos:
Espreitámos na janela: era uma chuvinha suspensa, flutuando entre o céu e a terra. Leve, pasmada, aérea, Meus pais chamaram aquilo de “chuvilho”. E riram-se, divertidos com a palavra. Até que o braço do avô se ergueu: - Não riam alto, que a chuva está é dormindo... Durante todo o dia, o chuvilho se manteve como cacimbo sonolento e espesso. As gotas não se despenhavam, não soprava nem mais a pequena brisa. A vizinhança trocou visitas, os homens fecharam conversa nos pátios, as mulheres se enclausuraram. Ninguém se recordava de um tal acontecimento. Poderíamos estar sofrendo maldição. (COUTO, 2004, p.1)
A família se da conta que a chuva não cai, e começa a busca por explicações:
uma maldição, os fumos da fábrica, tia que não se casou, entre outras. Algumas
explicações tentam racionalizar a questão, como em:
Ao fim de um tempo, meu pai se afastou de nós para não vermos uma sombra pousar em seu rosto. - De onde vem isto? – perguntou ele em voz quase viva, não querendo ficar calado, mas evitando ser ouvido. - Deve ser feitiço – sugeriu o avô. - Não disse a mãe. – São fumos da nova fábrica. -Fumos? Pode ser sim, isso só aconteceu depois dessa maldita fumaça... (COUTO, 2004, p. 2)
Poderia ser a fumaça a atrapalhar a vida das pessoas daquela aldeia e os
questionamentos e a tentativa de resolver o problema, que a falta da chuva causa,
continua. A mãe pede que o pai vá à fábrica, e, nesse momento de grande resistência por
parte dele, percebemos que há ainda o problema do branco ex-colonizador, que ainda
tem o domínio pelo trabalho que as pessoas da aldeia necessitam manter. O narrador
diz:
Entre indagações e suspeitas, os nervos floriam na pele de todos. Minha mãe era a mais inconformada. - Marido você que é o mais senhor, vá à fábrica e fale com eles... - Está maluca mulher? Sou pobre, quem vai escutar um ninguém como eu? - Pobre é estar sozinho. Você junte os vizinhos, fale com eles...
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
471
- Não vale a pena, a maior parte ganhou emprego nessa fábrica, não vão nem abrir a boca... (COUTO, 2004, p. 4)
Com um problema socioeconômico claro, as pessoas da aldeia dependiam do
trabalho que a fábrica oferecia, apesar do resultado ruim na natureza, eles não decidem
quanto a questionar os donos da mesma.
Segundo Flavio García:
Nos textos do insólito ficcional, é comum a explicitação do(s) narratário(s) pela voz do narrador, podendo corresponder ou a outras personagens da história, a quem o narrador se dirige e transmite as mesmas sensações que os leitores reais, em seus atos de leitura, vão experienciar, ou, mesmo e diretamente, aos leitores, chamados no texto, muitas vezes, com o emprego de vocativos, com o que se resgata e ressignifica um recurso muito utilizado pelo sistema real-naturalista. Essa estratégia tem por efeito de recepção socializar com o leitor – representado pelo narratário – a dúvida, a insegurança e a hesitação do narrador, fazendo daquele seu cúmplice na fragilidade das (in)certezas narradas. Assim, a sensação de estar travando contato com o insólito chega ao narratário e, portanto e por extensão, aos leitores. (GARCÍA, 2009, p. 3- 4)
Assim, as personagens, de A chuva pasmada, ajudam a construir o espaço do
insólito, e do fantástico, nessa narrativa, ao questionar os acontecimentos. Vemos,
também, outros acontecimentos insólitos quase sempre relatados pelo avô, o ancestral
da família. Ele segreda ao neto algumas histórias:
Sua tia prefere padres porque eles desculpam o crime dela. -Crime? Nunca lhe disseram? Sua tia matou um homem! Pousei as escadas para melhor escutar. O velho não esperava por outra coisa: Foi soltando as falas. Tinha sido num baile, um forasteiro tinha chegado ao lugar e se decidiria a pernoitar. Havia nessa noite,festa no clube. A tia era mais jovem, mais fogosa, mas já sofria da doença de esperar homem. A enfermidade lhe deu coragem e, para espanto de todos, ela cruzou a multidão e convidou um moço para rodar. O forasteiro, primeiro, se envergonhou: já se vira mulher tomar dianteiras? Na nossa aldeia mulher que toma iniciativa não o faz por coragem, mas por desespero. Ou pior, por razão de feitiço. Todavia, o fulano lá se ergueu e, meio contrafeito, foi rodopiando com ela pelo átrio. Então, sucedeu: o braço da tia cingindo o pobre desconhecido
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
472
em aperto de jibóia esfaimada. O moço começou por ficar sem fôlego, depois foi perdendo as cores e, quando se deu conta, a nossa tia já lhe tinha perfurado as costelas. O estranho caiu fulminado, por cima do último suspiro. (Couto, 2004, p.12)
Nesse relato o avô conta como insolitamente a tia teria matado um homem. O
neto dúvida da história do avô, mas quando a tia o convida para dançar ele teme:
Desça, sobrinho, que eu quero desafiá-lo para uma surpresa. - Surpresa?! A tia ligou o rádio, fazendo soar uma música roufenha, quase asmática. - Venha dançar-me sobrinho! O mel na voz me fez arrepiar. As recentes revelações do avô ainda em mim ecoavam. À minha frente, não se desvanecia o dançarino estrafegado pelo sequioso abraço. Mas já os meus passos tonteavam, ao compasso do rádio de pilhas. - É verdade, tia, que houve um homem que morreu num baile? -Num baile? -Foi há muito tempo, tia. -Ah, tenho uma vaga idéia, sim. Mas como é que sabe? - Foi o avô que me contou. -Se foi o avô, é porque é mentira. E ela me apertou mais. Senti o seu corpo se esmagar de encontro ao meu. (COUTO, 2004, p. 13)
Seria verdade esse fato, ou uma invenção do avô? Estaria a tia mentindo ou o
avô? Acontecimentos insólitos, como, por exemplo, um homem que se deixa esmagar
em uma dança por uma mulher que já passou da idade de casar-se. Permeados por
ocorrências que nos fazem passear pelo problema da chuva, que não cai, o avô conta
mais uma história: a de Ntoweni sua esposa e de sua ancestral, a responsável pela água
que a aldeia tem até os dias de hoje. Uma lenda insólita que se compara a ida da mãe
para falar com o dono da fábrica no decorrer da narrativa. A mulher tomando para si a
responsabilidade de trazer água para a aldeia. Vejamos:
Mandaram então Ntoweni, a avó de sua avó, para que fosse ao Reino dos Anyumba e trouxesse provisões de água para a aldeia. Ntoweni era como a neta: uma mulher de extraordinária beleza. Pois ela levou uma cabaça grande e prometeu que voltaria com ela cheia. Beijou os filhos, abraçou o marido e despediu-se dos filhos.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
473
Ntoweni chegou à cidade e, logo, o imperador soube da sua chegada. Mandou que ela comparecesse na sua residência. O grande senhor apaixonou-se pela beleza daquela mulher e disse-lhe: -Só lhe darei água se nunca mais sair daqui. Hoje mesmo você vai ser minha esposa. Ntoweni pensou e decidiu fazer-se de conta. Entregou-se ao rei naquela noite, deixou que ele dela abusasse. Antes de adormecer, o monarca ainda ameaçou: - Se fugir eu lhe mandarei matar. Na manhã seguinte, Ntoweni escapou por entre a poeira dos caminhos. Assim que se deu pela ausência, o rei mandou que a seguissem. Quando ela se aproximava da sua casa, uma azaguaia cruzou o espaço e se afundou nas suas costas. A cabaça subiu, subiu desamparada, pelo ar e a água se derramou, desperdiçada. Mas quando a vasilha se quebrou no chão, os céus todos estrondearam e um rasgão se abriu na terra. Das profundezas emergiu um rugido e uma imensa serpente azul se desenrolou dos restos da cabaça. Foi assim que nasceu o rio. (COUTO, 2004, p. 24)
A lenda de Ntoweni, narrada pelo ancestral que mais tarde também, vai, na
canoa rio abaixo, um rio que secou pela falta da chuva, em busca do mar e de sua
passagem, para a outra margem onde sua amada o espera, conta da água que foi trazida
insolitamente para a aldeia, que volta a acontecer quando o avô resolve “navegar” em
um rio que não tem água. Então não mais o neto, porém, o pai que antes tinha desistido
da vida, leva o mais velho para fazer a passagem: “Foi assim que o avô falou. Meu pai
entendeu, sem mais explicação O avô queria a viagem. No outra margem estava
Ntoweni. Do outro lado o chuvilho parado”. (COUTO, 2004, p. 42)
Flavio Garcia ainda nos diz sobre o insólito:
Sob a perspectiva crítico-teórico-metodológica que aqui se adotou para abordar a leitura do insólito ficcional, não se admitiu, de forma alguma, que o efeito insólito produzido na leitura, em seus variados atos, possa ser produto de algo exterior e estranho ao texto. Está-se assumindo uma postura que afirma ser a leitura literária, em sentido lato, no qual se inscreve, também, a leitura do insólito ficcional, condicionada por procedimentos instrucionais que estão presentes na narrativa. Esses procedimentos configuram-se através do narrador e do narratário, construtos discursivos, que veiculam o autor e o leitor-modelos, representantes das estratégias eleitas e adotadas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
474
pelo autor real, ser da realidade – em oposição distintiva àqueles, seres de papel. (GARCÍA, 2009, p. 5)
O avô fez a passagem, a chuva volta a cair e o rio a encher, essa narrativa
fantástica permeada pelo insólito nos leva trilhar os caminhos dos ex-colonizados,
narrando suas lendas e crenças.
Nessa obra percebemos que narratários, narrador, tempo e espaço constroem
uma narrativa que faz parte do insólito e do fantástico.
Referências Bibliográficas
COUTO. M. A Chuva pasmada. Lisboa: Caminho,2004 FURTADO, F. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte, 1980. GARCIA, F. “A construção do insólito ficcional e sua leitura literária: procedimentos instrucionais da narrativa”. In: KANTHACK, Gessilene Silveira; SACRAMENTO, Sandra Maria Pereira do (org.). Anais do I CONLIRE – Congresso Nacional Linguagens e Representações. Ilhéus: UESC, 2009. Disponível em http://www.uesc.br/eventos/iconlireanais/index.php?item=conteudo_anais.php. TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
475
“SALVO ENGANO!” , DE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM
Norma Domingos∗
RESUMO
Com uma estrutura arquetípica das narrativas fantásticas, o conto “A s’y méprendre!” (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986) – “Salvo engano!” (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009) –, de Villiers de l’Isle-Adam (1838-1889), coloca-nos desde o início em uma ambientação de inquietude e suspense. Várias são as indicações: o título, que foge aos cânones sintáticos tradicionais, sugere que se trata de algo duvidoso; a epígrafe baudelairiana ressalta “glóbulos tenebrosos” voltados para lugares desconhecidos; a estação é outoniça, sempre acinzentada e úmida; os passantes são negros; o prédio está envolto por uma névoa “fantástica”; o narrador, como em outros contos fantásticos do autor, tem ideias pálidas e carregadas de brumas; enfim, tudo conduz o leitor ao cenário característico das histórias de terror. Estamos, então, diante de uma narrativa que emprega a lógica do irracional, aquela do discurso fantástico. Entretanto, o estudo apresentado quer destacar que esse discurso primeiro, ou seja, o discurso fantástico, esconde uma simbologia: mais uma vez, como em outros textos do autor, emerge uma crítica aos burgueses. Nesta narrativa, Villiers constrói um paralelismo entre os mortos e os homens de dinheiro, e tal comparação é valorizada, ainda, no plano espacial do conto, visto que se estabelece uma equivalência entre o salão de um café – lugar privilegiado para os homens de negócios – e o imóvel da rua de La morgue – necrotério parisiense; mesmo recurso para a estruturação do conto, pois com uma repetição obsessiva, as expressões são retomadas inúmeras vezes. Para Villiers, os burgueses, absorvidos em suas ocupações, esquecem de sonhar pois estão presos às contingências do mundo terrestre, privilegiam os interesses materiais em detrimento de uma consciência espiritual voltada para o mundo superior, são “manequins”, sonâmbulos”, “ridículos” e seus olhos não possuem “a luz divina”. PALAVRAS-CHAVE: Villiers de l’Isle-Adam; Contes cruels.“À s’y méprendre!; . Narrativa fantástica; Simbolismo; Literatura francesa.
Villiers de l’Isle-Adam e a narrativa fantástica
O gosto pelo mistério, pelo sobrenatural e a ânsia do absoluto propiciaram,
na França, uma grande produção de contos fantásticos entre 1830 e 1840. Nesse período
∗ Doutora em Estudos Literários, pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”– UNESP. Professora Assistente-Doutora na UNESP, campus de Assis, na área de Francês, do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
476
os românticos franceses estão influenciados, principalmente, pela repercussão das obras
do autor alemão Hoffmann, no país. Posteriormente, no último quarto do século, uma
nova onda coincide com o Naturalismo e com o Simbolismo e está ligada ainda ao
grande interesse pelas ciências ocultas, pelas práticas do magnetismo, do hipnotismo e
pelo sonambulismo.
Edgar Allan Poe é um dos autores que mais influenciaram os escritores
franceses do gênero nesse período. Segundo Castex (1962), os contos de Poe foram bem
recebidos na França porque são extremamente elaborados e preenchem melhor os
anseios dos poetas franceses atraídos por sua grande preocupação estética. Seus contos
tiveram na França um sucesso imediato e durável sobretudo porque, apesar da
estranheza da elaboração, a lógica não se perde nas mãos de seu ordenador, o escritor. A
influência do poeta americano também é enfatizada por Cumminskey (1992) que lembra
que suas obras mudaram o conceito do público, visto que, diferentemente do primeiro
período, o elemento fantástico ultrapassa o mero domínio convencional do sobrenatural
e instaura um aspecto idiossincrásico e é induzido pela realidade positiva.
Frequentemente, os teóricos caracterizam o gênero fantástico respaldados
em três elementos principais – vida real, intrusão e sobrenatural, ou seja, ele é definido
pela violenta irrupção de um fenômeno inexplicável na realidade cotidiana. É
importante destacar, entretanto, no que diz respeito aos contos do segundo período,
além dos aspectos comuns ao gênero, os aspectos diferenciais, isto é, o grau de
intromissão do fantástico, a economia de incidentes, a rigorosa organização, a
composição condensada, a necessidade de resolver o fantástico e o tom controlado em
relação ao efeito que produzirá. É, principalmente, a evocação psicológica do elemento
fantástico por meio da sugestão, algo que os autores do período compartilham com o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
477
movimento simbolista, que faz os contos desse período diferir daqueles que se inserem
no Romantismo. (CUMMINSKEY,1992).
Os textos fantásticos desse período e, em particular, as narrativas fantásticas
de Villiers de l’Isle-Adam são produzidas como poemas fantásticos, cuja expansão
depende de um estado de exceção do poeta – devaneio desperto ou a própria inspiração
– e cuja transmissão demanda uma exposição estática do poeta diante da imagem, ou
seja, “[...] o que Rimbaud denomina a alquimia do Verbo e que supõe uma estreita
cumplicidade entre o criador e uma realidade misteriosa que está em nós e que não é
revelada pelo mundo ambiente.* (VIRCONDELET, 1973. p. 18, tradução nossa).
Vircondelet (1973. p. 18, tradução nossa) ressalta também que a poesia
fantástica nunca é gratuita e que não pode ser relegada ao status de moda: autores como
Villiers ou Mérimée utilizam os liames do fantástico sempre conscientemente, visando
produzir “impressões de angústia, de terrores, de curiosidades das quais explica-se ou
não a causa”** .
É exatamente a forma da evocação que marca a diferença entre o
Simbolismo e o Romantismo. Os simbolistas defendem a ideia de que a função do poeta
é resgatar o sentido misterioso da existência por meio de símbolos e em seu projeto
acreditavam que só haveria criação se esse mistério fosse evocado pouco a pouco para,
então, manifestar o estado de espírito do poeta. Poder sugestivo que, segundo
Vircondelet (1973), as ideias de Rimbaud tão bem ilustram, pois foi ele quem
manifestou primeiro o papel do poeta fantástico, e no qual ressaltava a força do vidente
* “[...] ce que Rimbaud appelle l’alchimie du Verbe et qui suppose une étroite complicité entre le créateur
et une réalité mystérieuse qui est en nous et qui ne lui est pas révélée par le monde ambiant." (VIRCONDELET, 1973. p. 18).
** "[...] des impressions d’angoisse, de terreus, de curiosités dont on explique ou non la cause." (VIRCONDELET, 1973. p. 18).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
478
que, em seu desregramento de todos os sentidos, tinha a capacidade de produzir a
imagem.
A partir de 1850, mesmo com o predomínio do realismo e do naturalismo no
domínio romanesco, autores como Villiers, Barbey d’Aurevilly, Huysmans, Charles
Cros, recusam essa visão de mundo cartesiana e mecanicista e influenciados por
Baudelaire, seguem os rastros deixados por Charles Nodier e Gerard de Nerval. Muitos
são católicos, que alimentam um ódio vivo contra a modernidade e estão em busca da
espiritualidade que foi massacrada pelo materialismo cego do século; essa
espiritualidade, eles buscam-na além do real, no misticismo e no sobrenatural.
Villiers de l’Isle-Adam é considerado um dos maiores autores do gênero
fantástico da segunda metade do século XIX. Ele retoma a preocupação metafísica dos
poetas românticos, sobretudo em suas obras de inspiração fantástica. Segundo Castex
(1962), ele solicita sempre a reflexão do leitor sobre as questões capitais da existência
humana das quais o Positivismo os afasta e quer, sobretudo, tirar o homem de sua
condição miserável no mundo terrestre e transportá-lo ao eterno. O discurso onírico e
metafórico, característico das narrativas fantásticas, constitui um instrumento estilístico
do qual Villiers faz uso a fim de exprimir suas críticas à sociedade e expressar seus
ideais de esperança. Para tanto, usa símbolos que representam seus ideais e que servem
para sugerir o projeto sagrado do poeta: a evasão para um mundo ideal.
O discurso fantástico torna-se, então, o instrumento que permite a expressão
de seu idealismo, embora, como bem destaca Grünewald (2001, p. 25), Villiers
[...] nos contos raramente recorre às tintas do fantástico, do modo como
se consagrou esse gênero em seu tempo. Utiliza-o em fórmula peculiar, traçando o relato com detalhes inusitados ou insólitos que se mesclam à objetividade da narrativa, de forma a garantir a aceitação do amálgama por parte do leitor – elemento externo à ação, sem os mesmos álibis do narrador. A essas gotas do inusitado, acrescenta descrições de ambientes com clarões que passam e sombras que se adensam, dosando os efeitos pictóricos na narrativa que amplia, por vezes, em pura magia verbal.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
479
Em 1867, ele publica, na Revue des Lettres et des Arts, "Claire Lenoir" e
“L’Intersigne” e, em 1874, em La Semaine Parisienne, “Véra” (CASTEX, 1962).
Essas histórias transmitem sua contrariedade em relação à base materialista na qual se
apoia a sociedade burguesa, representam uma reação contrária ao Positivismo e
expressam sua desesperança com relação aos avanços da ciência. ‘Véra’, ‘L’Intersigne’
ou ‘L’Annonciateur’ são histórias, segundo Citron (1980), atemporais que poderiam se
situar em qualquer época: são irreais e não se desenrolariam com verossimilhança no
mundo que conhecemos.
“À s’y méprendre!”
Publicado pela primeira vez em 16 de dezembro de 1875, em Le Spectateur,
o conto “À s’y méprendre”, sofreu algumas alterações em sua publicação na coletânea
Contes cruels em 1883. (RAITT ET AL., t. I 1986). O título já antecipa que se trata de
algo duvidoso. Villiers emprega uma estrutura que foge aos cânones sintáticos
tradicionais e o estranhamento, associado ao sentido da expressão, revela-nos que
estamos diante de algo capaz de enganar facilmente.
Nessa narrativa, Villiers constrói um paralelismo entre os mortos e os homens de dinheiro, e tal comparação é valorizada, ainda, no plano espacial do conto, visto que o autor estabelece uma equivalência entre o salão de um café, lugar privilegiado para os homens de negócios, e o imóvel da rua de La morgue, o necrotério parisiense.
Primeiramente, deparamo-nos, com o ambiente inquietante da morgue: Donc, le plus poliment du monde, l'air satisfait, le chapeau à la main, – méditant même un madrigal pour la maîtresse de la maison, – j'entrai, souriant, et me trouvai, de plain-pied, devant une espèce de salle à toiture vitrée, d'où le jour tombait, livide. À des colonnes étaient appendus des vêtements, des cache-nez, des chapeaux. Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts. Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête élevée, les yeux fixes, l'air positif, paraissaient méditer. Et les regards étaient sans pensée, les visages couleur du temps. Il y avait des portefeuilles ouverts, des papiers dépliés auprès de chacun d'eux.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
480
Et je reconnus, alors, que la maîtresse du logis, sur l'accueillante courtoisie de laquelle j'avais compté, n'était autre que la Mort.* (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.628-629 ).
Posteriormente, encontramo-nos, provavelmente, no antigo e renomado café
parisiense Divan Le Peletier onde se falava “a língua em cifras da Bolsa.” (RUDE,
Máxime, apud RAITT ET AL., t.I, 1986, p. 1375):
A son extrémité, j'aperçus, tout justement vis-à-vis de moi, l'entrée d'un café, – aujourd'hui consumé dans un incendie célèbre (car la vie est un songe), – et qui était relégué au fond d'une sorte de hangar, sous une voûte carrée, d'aspect morne. Les gouttes de pluie qui tombaient sur le vitrage supérieur obscurcissaient encore la pâle lueur du soleil. «C'était là que m'attendaient, pensai-je, la coupe en main, l’œil brillant et narguant le Destin, mes hommes d'affaires! Je tournai donc le bouton de la porte et me trouvai, de plain-pied, dans une salle où le jour tombait d'en haut, par le vitrage, livide. À des colonnes étaient appendus des vêtements, des cache-nez, des chapeaux. Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts. Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête levée, les yeux fixes, l'air positif, paraissaient méditer. Et les visages étaient couleur du temps, les regards sans pensée. Il y avait des portefeuilles ouverts et des papiers dépliés auprès de chacun d'eux.** (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.629-630).
* Então, o mais educadamente do mundo, com um ar satisfeito, chapéu na mão, – meditando até mesmo um madrigal para a dona da casa, – entrei, sorrindo, e deparei-me, no mesmo nível, diante de uma espécie de sala com o teto de vidro, de onde o dia caía, lívido. Em colunas estavam penduradas roupas, cachecóis, chapéus. Mesas de mármore estavam dispostas por toda parte. Vários indivíduos, com as pernas esticadas, a cabeça levantada, os olhos fixos, a aparência disposta, pareciam meditar. E os olhares estavam sem pensamento, os rostos eram cor do tempo. Havia carteiras abertas, papéis desdobrados junto a cada um deles. E, então, reconheci que a dona da casa, com cuja acolhedora cortesia havia contado, não era outra senão a Morte. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v. 1, p. 131). ** Em sua extremidade, percebi, bem a minha frente, a entrada de um café, – hoje consumido num célebre incêndio (pois a vida é um sonho), – e que estava confinado no fundo de um tipo de galpão, sob uma abóbada quadrada, de aspecto triste. As gotas de chuva que caíam sobre a vidraça superior obscureciam ainda o pálido clarão do sol. «Era lá que me esperavam, pensei eu, com a taça na mão, o olho brilhante e desprezando o Destino, meus homens de negócios!» Girei, então, o botão da porta e deparei-me, no mesmo nível, numa sala onde a luz caía do alto, pela vidraça, lívida. Em colunas estavam penduradas roupas, cachecóis, chapéus. Mesas de mármore estavam dispostas por toda parte. Vários indivíduos, com as pernas esticadas, a cabeça levantada, os olhos fixos, a aparência disposta, pareciam meditar. E os rostos eram da cor do tempo, os olhares sem pensamento. Havia carteiras abertas e papéis desdobrados junto a cada um deles. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1, p. 133-133).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
481
O autor utiliza o mesmo recurso, o paralelismo, em toda a estruturação do
conto e, com uma repetição obsessiva, as expressões são retomadas inúmeras vezes. A
construção do texto revela uma escritura circular, pois, no final, até mesmo o narrador
acredita ter voltado ao ponto de partida:
«À coup sûr, me dis-je, il faut que ce cocher ait été frappé, à la longue, d'une sorte d'hébétude, pour m'avoir ramené, après tant de circonvolutions, simplement à notre point de départ? – Toutefois, je l'avoue (s'il y a méprise), LE SECOND COUP D'OEIL EST PLUS SINISTRE QUE LE PREMIER!...»* (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.630, grifos do autor).
Construído com grande rigor formal, o conto assemelha-se aos poemas em
prosa baudelairianos. A intertextualidade já é anunciada na epígrafe que foi extraída do
poeta de Les Fleurs du mal. O verso do poema “Les Aveugles” de Baudelaire (1964, p.
113) antecipa o ambiente de obscuridade que permeia toda a história. A ambientação do
conto remete-nos, também, aos “Tableaux parisiens”: estamos diante de uma visão
embaçada e carregada de brumas e chuva. Com efeito, as elaboradas escolhas efetuadas
por Villiers, tanto no vocabulário quanto nos detalhes formais, permitem uma analogia
constante com a obra baudelairiana.
Efetivamente, qual seria o sentido dessa repetição pretendido pelo autor?
Para responder a essa questão, é preciso remetê-la à estrutura arquetípica das narrativas
fantásticas, pois desde o início do conto a ambientação da história aponta para um clima
de inquietude e suspense. Várias são as indicações que apontam para a narrativa
fantástica:
* “ – Certamente, disse a mim mesmo, é preciso que aquele cocheiro tenha sido atingido, com o passar do
tempo, por um tipo de estupidez, para ter-me reconduzido, depois de tantos caminhos sinuosos, simplesmente a nosso ponto de partida? – Todavia, eu confesso, salvo engano, O SEGUNDO OLHAR É MAIS SINISTRO QUE O PRIMEIRO!...” (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.133, grifos do autor).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
482
1 - o título, como ilustrado anteriormente: “À s’y méprendre!”*;
2 - a epígrafe baudelairiana que ressalta “glóbulos tenebrosos” voltados para lugares
desconhecidos: “Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux"** (Baudelaire, 1964,
p.113);
3 - a estação outoniça, sempre acinzentada e úmida: “Par une grise matinée de
novembre, je descendais les quais d'un pas hâtif. Une bruine froide mouillait
l'atmosphère.” *** (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.628);
4 - os passantes são negros: “ [...] De passants noirs, obombrés de parapluies difformes,
s'entrecroisaient. ” **** VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.628);
5 - o prédio está envolto por uma névoa “fantástica”:
L'heure me pressait: je résolus de m'abriter sous l'auvent d'un portail d'où il me serait plus commode de faire signe à quelque fiacre. A l'instant même, j'aperçus, tout justement à côté de moi, l'entrée d'un bâtiment carré, d'aspect bourgeois. Il s'était dressé dans la brume comme une apparition de pierre, et, malgré la rigidité de son architecture, malgré la buée morne et fantastique dont il était enveloppé, je lui reconnus, tout de suite, un certain air d'hospitalité cordiale qui me rasséréna l'esprit.***** (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.630, grifos do autor);
* “Salvo engano!” (tradução nossa).
** “Lançando não sei onde os globos tenebrosos” (BAUDELAIRE, 1985, p. 178).
*** Numa cinzenta manhã de novembro, eu descia ao longo do rio num passo apressado. Um chuvisco frio molhava a atmosfera. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.130).
**** Passantes negros, assombreados por guarda-chuvas disformes, entrecruzavam-se. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.130).
***** A hora apressava-me: decidi abrigar-me sob o alpendre de um portão de onde seria mais cômodo para fazer sinal a algum fiacre. No mesmo instante, percebi, bem a meu lado, a entrada de uma construção quadrada, de aspecto burguês. Ela erguera-se na bruma como uma aparição de pedra†††, e, malgrado a rigidez de sua arquitetura, malgrado o vapor úmido e fantástico no qual ela estava envolta, reconheci nela, imediatamente, um certo ar de hospitalidade cordial que me acalmou o espírito. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.130-131).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
483
6 - o narrador, como em outros contos fantásticos – “L’Intersigne” , por exemplo – tem
ideias pálidas e carregadas de brumas: “Mes idées étaient pâles et brumeuses; la
préoccupation d'un rendez-vous d'affaires, accepté depuis la veille, me harcelait
l'imagination.”* (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.628).
Ainda, como faz com frequência em seus contos, em “À s’y méprendre”, nas
descrições iniciais, Villiers coloca-nos, de imediato, em um ambiente inquietante:
La Seine jaunie charriait ses bateaux marchands pareils à des hannetons démesurés. Sur les ponts, le vent cinglait brusquement les chapeaux, que leurs possesseurs disputaient à l'espace avec ces attitudes et ces contorsions dont le spectacle est toujours si pénible pour l'artiste.** (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.628).
Tudo conduz o leitor ao cenário característico das histórias de terror.
Estamos, então, diante de uma narrativa que emprega a lógica do irracional, aquela do
discurso fantástico. Entretanto, um leitor experimentado do texto villieriano, sabe que
esse discurso primeiro, ou seja o discurso fantástico, esconde uma simbologia. É preciso
então buscar os detalhes que poderão trazer a verdadeira significação. Esse discurso
fantástico aponta, mais uma vez, como em outros textos do autor, para uma crítica
frequente aos burgueses: aqueles que não foram escolhidos pelo divino o que
procurariam no céu? Não há o que procurar.
Temos, dessa forma, ressaltada no texto de Villiers a ideia de que os
burgueses privilegiam os interesses materiais em detrimento de uma consciência
* Minhas ideias estavam pálidas e brumosas; a preocupação de uma reunião de negócios, marcada desde a véspera atormentava minha imaginação. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.130).
** O Sena amarelado arrastava seus barcos mercantes semelhantes a besouros desmesurados. Sobre as pontes, o vento fustigava bruscamente os chapéus, que seus donos disputavam no espaço com aquelas atitudes e contorções cujo espetáculo é sempre tão penoso para o artista. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.130).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
484
espiritual voltada para o mundo superior. Eles são “manequins”, sonâmbulos”,
“grotescos” e seus olhos não possuem “a luz divina” (BAUDELAIRE, 1985, p. 178).
Para o autor, os homens, absorvidos em suas ocupações, esquecem de
sonhar e estão presos às contingências do mundo terrestre. Villiers, como Baudelaire,
acredita que a morte deveria estar presente em nossas mentes porque somos, aqui, na
terra, neste mundo, meros “passantes”. Para ele, a decadência da alma, do espiritual, é
muito mais assustadora que a degradação material do corpo: “Le fiacre venait, en effet,
de dégorger, au seuil de l'édifice, des collégiens en goguette qui avaient besoin de voir
la mort pour y croire.”* (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 1986, t.I, p.629).
Finalmente, é preciso lembrar, que todo esse discurso fantástico carregado
de ironia, e que conduz a uma crítica feroz à sociedade burguesa, pode trazer ainda uma
outra inquietação do autor: a da obsessão do olhar, também, já enunciada na epígrafe.
Como para Baudelaire, para Villiers o sentido das coisas é construído pela consciência
do olhar: viver é, acima de tudo, saber olhar!
Referências: BAUDELAIRE, Charles.. Les fleurs du mal et autres poèmes. Paris: Garnier-Flammarion, 1964. p.113. _______. As Flores do Mal. Tradução Ivan Junqueira. As Flores do Mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985 CASTEX, Pierre-Georges. Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant. Paris: J. Corti, 1962. CITRON, Pierre. Introduction, notices et notes. In: VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste, comte de. Contes cruels. Paris: Garnier-Flammarion, 1980.
* O fiacre acabava, de fato, de despejar, na entrada do edifício, colegiais bem humorados que tinham
necessidade de ver a morte para nela acreditar. (VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 2009, v.1 p.132).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
485
CUMMINSKEY, Gary. The changing face of horror: a study of the nineteenth-century french fantastic short story. New York: Peter Lang, 1992. (The Age of Revolution and Romanticism: Interdisciplinary Studies, 3). GRÜNEWALD, Ecila de Azeredo. Villiers, entre o sonho e o escárnio. In: VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste, conde de. A Eva Futura. São Paulo: Edusp, 2001. p. 11-40. RAITT, Alan W. et al. (Ed.) Préface, notes, variantes. In: VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste, comte de. Œuvres Complètes. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Éditions Gallimard, 1986. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste, comte de. «Salvo engano!». Tradução Norma Domingos. In: DOMINGOS, NORMA. A tradução poética: Contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam. Araraquara, 2009. 2 v. Tese ( Doutorado em Estudos Literários) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2009. p. 130-134. ______. «À s’y méprendre!». In.: ______. Œuvres Complètes. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Éditions Gallimard, 1986. T. I. p. 628-630. VIRCONDELET, Alain. Préface. In: ______. La poésie fantastique française. Paris: Seghers, 1973. p. 7-40.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
486
BALZAC E O FANTÁSTICO
NormaWimmer∗
RESUMO
Em Balzac e o fantástico pretende-se apresentar considerações acerca de algumas idéias que norteiam a composição dos Estudos filosóficos, que com os Estudos de costumes e os Estudos analíticos, compõem a Comédie Humaine. E.T.A. Hoffmann, os sábios cientistas do século XVIII, Mesmer, Lavater o iluminista Swedenborg deixaram marcas evidentes na obra de Balzac. Procurar identificá-las é o objetivo do texto apresentado. PALAVRAS-CHAVE: Balzac; Estudos filosóficos; Comédie Humaine; Fantástico. Balzac divulga ao público seu projeto de obra concebida como um todo em 1842,
ano em que parte de sua produção já havia sido publicada (Les chouans e Physiologie
du mariage são bem anteriores a essa data) explicando ali também a origem do título
La comédie humaine proposto por seu amigo e secretário Auguste de Belloy, em
oposição à Divina comédia.
Norteava a concepção balzaquiana a comparação entre a humanidade e as espécie
zoológicas (como as classificava Saint-Hilaire). Nesse sentido, o romancista acreditava
que todos os seres vivos haviam sido criados em conformidade com um único e mesmo
padrão. Segundo Saint-Hilaire, o animal constituiria um princípio cujas formas
sofreriam modificações em conformidade com os diferentes meios nos quais viriam a
desenvolver-se. Balzac transfere essa concepção para a sociedade julgando que o
homem sofria transformações decorrentes de sua adaptação ao meio em que vivia.
Classificar as espécies sociais de acordo com critérios de observação rigorosa,
apresentar um inventário de sua maneira de ser, de sua relação com os objetos e os
∗ Professora Adjunta do Depto de Letras Modernas do IBILCE/UNESP – Área de Língua e Literatura Francesa
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
487
meios – na época da restauração – torna-se seu objetivo. Nesse sentido, Balzac diz-se
secretário de um historiador – a sociedade francesa de sua época – e propõe seu objetivo
de escrever a história dos costumes da França do século XIX.
Para tanto, o romancista descreveu duas ou três mil figuras marcantes e agrupou-as
em quadros e galerias. Dai, a divisão de sua obra em "estudos" (Estudos de costumes,
Estudos filosóficos, Estudos analíticos) e, destes, em "cenas" (Cenas da vida parisiense,
Cenas da vida militar, Cenas da vida política etc.) – terminologia evidentemente tomada
à pintura. Os Estudos de costumes tratariam da vida social em sentido amplo; acerca dos
Estudos analíticos, Balzac pouco informa no Prefácio de 1842, pois até então havia
redigido apenas a Physiologie du mariage). Quanto aos Estudos filosóficos, estes
deveriam demonstrar as conseqüências do meio social sobre o homem e explicar os
desgastes causados pelo pensamento. As obras que integram os três tipos de estudo não
foram escritas em conformidade com a ordem estabelecida no plano, uma vez que o
processo criativo seguia seu próprio percurso. Além do mais, a regularidade do trabalho
não combinava com o temperamento de Balzac; havia sempre problemas com os
editores ; o escritor precisava atender as necessidades do mercado. Finalmente, o plano
não antecedeu a construção da obra.
Contrariamente ao que ocorre nos Estudos de costumes, os Estudos filosóficos não
apresentam nenhuma subdivisão. Estes, em sua maioria, remetem a temas do fantástico
e fundamentam-se em duas tendências: a temática inspirada por Hoffmann e as
concepções de "cientistas" e "místicos" do século XVIII : Mesmer, Lavater,
Swedenborg, Cagliostro.
Hoffmann obteve sucesso de público e de crítica na Alemanha, o mesmo ocorrendo
na França, já a partir das primeiras traduções de Loeve-Veimars. Este sucesso decorreu
ainda, na opinião de MILETT e LABBÉ (2055) a razões de ordem sociológica: graças
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
488
ao ensino obrigatório, formaram-se leitores "populares" na França. No final do século
XVIII foram impressos, no país, apenas dois mil livros por ano; em 1889, o total de
quinze mil é ultrapassado. Ocorreu ainda que, em 1836, Émile Girardin teve a idéia de
publicar, em seu jornal, não apenas anúncios publicitários visando baixar os preços dos
livros, mas também os depois famosos romances-folhetins ( La vieille-fille teria sido a
primeira publicação do gênero). Convém ainda acrescentar que, talvez por razão de
mercado, o próprio Balzac, quando abriu sua editora, publicou, traduzidos para o
francês, contos de Hoffmann. SCHNEIDER (1985) julga, entretanto, tomando como
ponto de partida o trecho de um bilhete endereçado à Mme. Hanska, datado de 1833,
que o autor da Comédie Humane não teria sido grande entusiasta da obra de Hoffmann.
Esta não tratava do medo, das coisas físicas... e ficava, na opinião de Balzac, abaixo de
sua reputação. Ainda em conformidade com o mesmo crítico, o caráter extremamente
particular do bilhete garantiria a sinceridade de Balzac. Percebe-se, portanto, que alguns
fenômenos considerados pelo menos estranhos por Hoffmann teriam, para o romancista
francês, interpretação fundamentada nas leis da física. O próprio Schneider, no entanto,
acena com a possibilidade de Balzac ter tomado a Hoffmann a idéia da existência de
uma misteriosa ameaça manifestando-se sobre o homem incapaz de respeitar os limites
que se estabelecem entre a vida e a criação artística, como ocorre com Louis Lambert do
romance homônimo (1832), Frenhofer, de Le chef d'oeuvre inconnu (1831), Gambara
(1837)... Neste sentido, Hofmann teria indicado caminhos a Balzac, o qual, no entanto,
em seu percurso para a redação dos Estudos filosóficos, perseguiu também idéias de
outros mestres.
La peau de chagrin (1830-1831) constituiu um divisor de águas na concepção da
Comédie Humane por constituir, ao mesmo tempo, um romance fantástico com nuances
filosóficas e um retrato da sociedade parisiense dos anos 1830. Na opinião de Balzac,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
489
esse romance constituiria o elo de união entre os estudos de costumes e os estudos
filosóficos, revelando-se uma fantasia quase oriental na qual a própria vida é retratada
em seus embates com o desejo, princípio da paixão. À Peau de chagrin remete o
princípio norteador dos Estudos filosóficos: trata-se das idéias do protagonista Raphaël
de Valentin, expostas em seu Traité de la volonté, (retomadas, pouco tempo depois, por
Louis Lambert) no qual o personagem-escritor procura demonstrar o poder destruidor
do pensamento enquanto racionalização dos desejos. Balzac anuncia essa mesma idéia
no Prefácio de 1842, afirmando serem, o pensamento e a paixão elementos sociais, mas
também, elementos destruidores. Assim, a premissa que norteia o fantástico de La peau
de chagrin é a de que o poder e o querer destroem o homem; apenas o saber lhe
concede um estado perpétuo de calma. A premissa repousa, em La peau de chagrin,
sobre o poder de uma pele mágica capaz de realizar todos os desejos de quem a possui.
Entretanto, realizado o desejo, a pele encolhe e, com ela, a vida de seu proprietário; ao
tamanho da pele conforma-se a duração da existência...
CASTEX(1974) observa a filiação ocultista dos textos de caráter fantástico de
Balzac e ele os remete às fórmulas do magnetismo de Mesmer, à fisiognomonia de
Lavater, ao iluminismo de Swedenborg. MILLET e LABBÉ informam que o último
levou Balzac a explicar fenômenos como a impressão do "déjà vu" – o fato de alguém
encontrat-se pela primeira vez em um lugar qualquer diante de uma pessoa ou de uma
situação e de ter a certeza de já ter estado naquela "cena".
Isto ocorre, por exemplo com Louis Lambert, quando o personagem, diante do castelo
de Rochambeau, reconhece o lugar onde ele vai pela primeira vez, julgando haver uma
separação entre o corpo e a mente, ou ainda, uma possível faculdade locomotora do
espírito.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
490
Na concepção de Balzac, os sentimentos experimentados pelos seres humanos
desencadeariam efeitos sobre o mundo físico. A prova estaria, segundo ele, nas relações
que se estabelecem, comumente, em nossa convivência com os animais. Neste sentido,
já no Prefácio de 1842, Balzac afirma ter pretendido divulgar os prodígios da
eletricidade e seu poder sobre os homens e ter-se familiarizado, a partir de 1820, com o
"magnetismo animal" – portanto, aos princípios divulgados por Mesmer, de quem foi
grande admirador e cujas teorias encontraram relevante acolhida na Comédie Humaine.
O "sábio" alemão acreditava no princípio da unidade cósmica e na inter-influência entre
o macro e o microcosmo, entre a alma universal e o ser humano individual. Sua grande
revelação foi o magnetismo animal que, no século XVIII, abalou os conhecimentos
científicos. Ao magnetismo animal associava-se também o hipnotismo: Mesmer julgava
que uma pessoa poderia impor-se a outra através da hipnose ou por meio da magia de
sua vontade. Todo ser humano transmitiria uma energia determinada. Esta, fugindo das
fibras nervosas, teria a capacidade de projetar-se, de modo quase mágico, sobre a
vontade do outro e de agir sobre ele. Totalmente desprovidas de rigor científico, estas
teorias acabaram transformando-se em pretexto para jogos de salão. Une passion dans
le désert exemplifica, com propriedade, o poder do magnetismo animal como o
concebia Balzac.
A fisiognomonia de Lavater parece ter-se dispersado no conjunto da obra da
Balzac. Lavater pressentia traços animais no ser humano e ele fazia desenhos em que os
demonstrava, a partir da "animalidade". Assim, uma pessoa com unhas em forma de
garra seria ambiciosa, outra com alguma característica de gato, teria o comportamento
daquele animal, etc.
Finalmente, se no conjunto da Comédie Humaine podemos notar ressonâncias do
trabalho dos sábios cientistas do século XIX, estes são mais marcantes nos Estudos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
491
filosóficos, mais propensos às reflexões despertadas a partir das idéias por eles
divulgadas, sugerindo, assim, caminhos e explicações para a face oculta e misteriosa da
existência do homem e das sociedades.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CASTEX, P.G. Le conte fantastique em France de Nodier à Maupassant. Paris: José Corti, 1974. MILLET, G.; LABBÉ, D. Le fantastique. Tours: Belin, 2005. SCHNEIDER, M. Histoire de la littétature fantastique en France. Paris: Fayard, 1985.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
492
TENDÊNCIAS DOMINADORAS EM VAMPIROS
Patrícia Maia Quitschal∗ & Luís Paulo de Carvalho Piassi**
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar comportamentos dominadores e sua relação com a sexualidade de vampiros em comparação a seres humanos. Os objetos de estudo são as vampiras da série de livros “The Vampire Diaries” e sua respectiva versão em formato de seriado para televisão. O enfoque em vampiras é justificado por permitir a discussão de gênero, considerando papéis atribuídos e comportamentos sexuais esperados.
PALAVRAS-CHAVE: Vampiros; literatura fantástica; gênero; sexualidade.
Vampiros e The Vampire Diaries
É possível perceber, através da descrição da imagem e do comportamento sexual
exibido por personagens vampiros em diferentes produções culturais, a presença de uma
sexualidade bastante ativa e desprovida de culpa no mito. A postura dominadora em
relação ao ser humano é um dos mais importantes aspectos eróticos associados à sua
figura.
Todos estes fatores podem ser percebidos claramente na série The Vampire
Diaries (SMITH, 1991; PLEC J.; SIEGA M.; WILLIANSON K. 2009). Os vampiros se
mostram dominadores na série de livros, mas na adaptação para a TV em formato de
seriado, seus instintos dominadores aparecem de maneira mais evidente.
O tipo de dominação exercida pelos vampiros é a carismática. Ela aparece em
virtude de devoção afetiva à pessoa do senhor e a seus dotes sobrenaturais (carisma).
Também particularmente a faculdades mágicas (WEBER, 2003).
∗ Aluna de mestrado em Estudos Culturais na EACH-USP São Paulo/SP, Brasil, E-mail: [email protected] ** Professor do programa de mestrado em Estudos Culturais da EACH-USP São Paulo/SP, Brasil, E-mail: [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
493
Fascinante para os jovens por sua sexualidade, força e poder de vida e morte, o
vampiro constitui um dos grandes mitos do imaginário urbano do início do século XXI
(RIBEIRO, 2009).
No século XVIII, uma das formas de se reconhecer um vampiro no caixão era
caso o corpo tivesse o pênis ereto. Isso seria prova de que o defunto possuía pulsões
sexuais que o incitavam a atacar mulheres (LECOUTEUX, 2003). Percebe-se aí um
indício da crença no excesso de desejos sexuais do vampiro.
“The Vampire Diaries” (Diários do Vampiro), é uma série de televisão baseada
na série homônima de livros de L.J.Smith, (SMITH, 1991) que misturam sobrenatural,
terror, fantasia e romance. Os episódios têm uma duração média de 42 minutos e são
gravados em Atlanta, no estado da Geórgia. É produzida por Bonanza Productions Inc.,
Outerbanks Entertainment e Alloy Entertainment em associação com Warner Bros.
Television e CBS Television Studios. A transmissão fica a cargo da rede CW nos
Estados Unidos, no Brasil pela Warner Channel. Seus produtores executivos são Kevin
Williamson (também produtor de "Scream" e "Dawson's Creek"), Julie Plec, Leslie
Morgenstein (também produtora de "Gossip Girl") e Bob Levy (também produtor de
"Gossip Girl").
Interpretada pela atriz Nina Dobrev, a rsonagem principal é Elena Gilbert, uma
adolescente que acabou de perder os pais num acidente de carro. Ela volta às aulas e
conhece o vampiro Stefan Salvatore, misterioso aluno novo interpretado pelo ator Paul
Wesley.
Além de Stefan, seu irmão vampiro Damon Salvatore, interpretado pelo ator Ian
Somerhalder, também aparece na cidade. Os irmãos possuem uma rivalidade de 145
anos por terem amado a mesma mulher no passado, a vampira que os transformou,
conhecida como Katherine Pierce.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
494
A série também enfoca a vida da família e amigos de Elena, principalmente seu
irmão Jeremy (interpretado por Steven R. McQueen), a bruxa Bonnie Bennett (Katerina
Graham), Caroline Forbes (Candice Accola) e Matt Donovan (Zach Roerig), entre
outros habitantes da cidade fictícia de Mystic Falls, no estado de Víriginia Ocidental.
The Vampire Diaries, segundo informações do CW, é uma das maiores
audiências do canal, registrando cerca de 4 milhões de telespectadores. (FURQUIM,
2011). Em 16 de fevereiro de 2010, a CW anunciou que renovou a série para uma
segunda temporada, que estreou em 9 de setembro de 2010. Já foi inclusive renovada a
terceira temporada.
A série recebeu também indicações para vários prêmios, ganhando no ano de
2010 um People's Choice Awards de favorito novo programa adolescente e sete Teen
Choice Awards (GOMES, 2010).
A classificação etária dos episódios transita nos Estados Unidos entre 14D
(diálogo insinuante) e 14V (violência intensa). A exibição acontece às quintas no
horário 8/7c, ou seja, às 20h00 no fuso de Nova Iorque e às 19h00 no fuso de Chicago.
No Brasil, o Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e
Qualificação (DEJUS) recomenda o DVD para 16 anos, o que significa que a série só
pode ser exibida na TV após as 22h00; sendo assim exibida neste horário às quartas
pelo canal fechado Warner. Essa classificação é justificada pela presença de: relação
sexual, nudez e carícias íntimas, violência detalhada (assassinato e agressão física grave,
tortura, mutilação) e consumo explícito e repetido de drogas ilícitas e lícitas (BRASIL,
2006).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
495
Katherine von Swartzschild: a personagem da série de livros
A Katherine dos livros é uma garota alemã que sofria de uma doença incurável
no início do renascimento. Sua babá Gertrud a leva para que o vampiro Klaus a
transforme em vampira para assim salvar sua vida.
Para que a transformação ocorra, é preciso que o humano morra com sangue de
vampiro em seu sistema. Como Katherine já havia bebido o sangue de Klaus, ela acorda
como vampira após morrer vitima de sua doença.
Katherine viaja para a Itália e se hospeda na casa da família Salvatore. Os irmãos
Stefan e Damon se apaixonam por ela, mas pedem que ela escolha um deles. Ela não
consegue escolher, então troca sangue com os dois na véspera de comunicar a decisão.
Embora sinta medo, Stefan Salvatore permite nessa ocasião que ela o morda, pois essa é
a forma como ela demonstra seu afeto. No momento do encontro, os dois acreditam
terem sido os escolhidos, mas são surpreendidos com a revelação de que ela desejava
transformar os dois.
Como eles não aceitam sua decisão, ela forja suicídio. Deixa um monte de cinzas
ao lado de seu anel no jardim. Dessa forma, eles acreditam que ela tirou seu anel
protetor sob a luz do sol e morreu queimada. Também deixa uma carta dizendo que não
poderia conviver com a ira dos dois e que cederia sua vida em troca da paz entre eles.
Transtornados com a perda, eles pegam em espadas e brigam até a morte, acordando
depois como vampiros, pois ambos morrem com sangue de Katherine em seus corpos.
Porém, ao fingir suicídio, Katherine perdeu a companhia de sua família. E como
sua tentativa de trazer a paz entre os irmãos teve o efeito inverso, ela não se conforma e
nutre um profundo ódio pelos dois, que culmina em um complexo plano de vingança
que ela vai executar quinhentos anos depois (SMITH, 1991).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
496
Katherine Pierce: a vampira do seriado
Nascida Katerina Petrova na Bulgária, Katherine Pierce engravidou solteira
durante a adolescência no final do século XV. Sua filha foi dada para a adoção e seu pai
não permitiu nem que ela visse o bebê após o parto. Ela foi punida com o banimento,
tendo então ido para a Inglaterra e se tornado Katherine Pierce.
Lá ela conhece Klaus, um vampiro original, ou seja, um dos primeiros vampiros
a surgir no mundo, que não foi transformado por ninguém. Ele a seduz, pois deseja
utilizá-la num ritual.
Ela então descobre que foi amaldiçoada, pois seria a reencarnação de uma forma
física que se repete ao longo dos anos, um doppelgänger. O doppelgänger, também
chamado de duplo, é um ser fantástico que representa uma cópia idêntica de uma
pessoa.
Nesse caso, o sangue de um doppelgänger foi utilizado para selar um feitiço
antigo: o que mantém os vampiros como reféns da noite e os proíbe de ter qualquer
contato com o sol. Esse feitiço teria sido feito por bruxas para reduzir os poderes de
vampiros e lobisomens, já que também restringe a transformação dos lobisomens ao
período da lua cheia.
Existe então uma competição entre vampiros e lobisomens para quebrar esta
magia, pois o grupo que conseguir primeiro vai se libertar, enquanto o outro ficaria
eternamente aprisionado a ela.
Para realizar tal ritual, entre outros elementos, seria necessário o sacrifício dessa
doppelgänger da família Petrova. Mas Katherine não estava disposta a morrer, então se
transformou em vampira, ocasionando assim a fúria de Klaus, que matou toda sua
família.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
497
Por anos acreditou-se que jamais haveria outro doppelgänger, porque o bebê de
Katerina havia sido mantido em segredo. Mas no século XXI, Elena Gilbert tem a
mesma forma física que Katerina, sua ascendente. E Klaus volta com seu plano
diabólico de sacrificar Elena para eliminar o feitiço e vingar-se de Katherine.
A personalidade dominadora de Katherine Pierce: análise de uma cena
Através da análise de uma cena do episódio 13 da primeira temporada, Children
of the Damned, é possível extrair diversos aspectos dominadores da personalidade de
Katherine.
A cena se passa em 1864, na cidade fictícia Mystic Falls, Virginia Ocidental.
Katherine Pierce e Stefan Salvatore estão sozinhos em um quarto. A ação começa com
ela sentada em frente à penteadeira com um colar na mão. Stefan está sentado na cama
sem camisa, quando o diálogo começa.
Stefan pergunta se o colar é presente de Damon. Ela responde que é na verdade
de Emily (sua dama de companhia) e questiona a preocupação dele a respeito de
Damon. Stefan deixa claro que a quer somente para ele.
Neste momento, a cena passa para uma atmosfera mais sensual. Katherine veste
um casaco de seda diante de Stefan ao mesmo tempo em que diz (0:15): “Assim como
ele me quer, mas sou eu quem consegue fazer as regras”.
Esta declaração por si só já define a forma como a personagem encara a relação
com os dois irmãos. Mas essa postura continua a se aprofundar conforme a cena
prossegue, pois Katherine empurra Stefan sobre a cama e começa a distribuir beijos
sobre seu peito, enquanto enumera razões que justificam sua posição de poder (0:22):
“Porque sou mimada, egoísta e porque posso fazer isso [ela o beija] e isso [ela o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
498
morde]”. Neste ponto, ela ainda segura os braços dele, a fim de evitar que seus
movimentos atrapalhem o ato de beber o sangue.
O fato de Katherine citar os beijos e a mordida como razões de seu poder
permite inferir que ela entende sua sexualidade e sua condição de vampira como
justificativas para sua posição de domínio.
Conclusões
A conduta da vampira Katherine não é a esperada de uma mulher, especialmente
na época em que a ação se passa (1864), quando ainda não era sequer permitido o voto
feminino nos EUA. Mesmo porque, ainda hoje, as mulheres são julgadas pela conduta
sexual. A libertinagem que chega a ser esperada de um homem é repudiada socialmente
numa mulher. Apesar disso, Katherine vive sua sexualidade como deseja, exibindo suas
tendências dominadoras de forma explícita. Ela é egoísta, manipuladora e se relaciona
com vários homens ao mesmo tempo, seja para obter o que deseja ou por mera diversão.
Conforme a fala de Katherine, o direito ao poder é concedido à vampira pelo
simples fato de que ela é uma vampira. E ela não só considera a posse desse poder
inquestionável, como não tem medo de perdê-lo, pois ambos os amantes sabiam que
dividiam a mesma mulher.
A condição de vampiro é, de maneira geral, encarada como uma justificativa
para a libertação sexual. Na série Twilight, após a transformação da personagem Bella
em vampira, ela passa a trocar carícias lascivas em público com Edward. Nessa série os
vampiros são apresentados com um elevado teor de desejo, sendo a relação sexual algo
que excita seus instintos da mesma forma que o sangue. Como eles jamais se cansam
nem têm necessidades humanas, a relação sexual pode durar várias horas (MEYER,
2008).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
499
Inserir uma mulher no papel de vampira, sendo sujeito e não objeto da relação,
sugere a necessidade de adaptar os conflitos da série a seu público alvo,
predominantemente feminino. A atual conjuntura social permite que as mulheres
desejem estar em posição de poder e viver a sexualidade livremente. Assistir a essas
cenas permite, através da identificação com a personagem dominadora, que as
telespectadoras vivam suas fantasias.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Manual da nova classificação indicativa. Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação Brasília, 2006 Disponível em <http://portal.mj.gov.br/Classificacao/data/Pages/MJ6BC270E8ITEMID66914BCA346A4350800CB04EBF2D6BD7PTBRNN.htm>. Acesso em 04 mar. 2011. BRITNEY F. Full list of People’s choice awards winners. The Hollywood Gossip Lighthouse Point, jan 2010. Disponível em <http://www.thehollywoodgossip.com/2010/01/full-list-of-peoples-choice-awards-2010-winners/>. Acesso em 04 mar. 2011. FURQUIM F. CW renova quatro séries. Veja São Paulo, abr. 2011 Disponível em <http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/series-anos-2000-2009/cw-renova-quatro-series/>. Acesso em 26 abr. 2011. GOMES, C. Conheça os Vencedores do Teen Choice Awards 2010. NaTV Guarapuava, ago. 2010 Disponível em <http://blogna.tv/2010/08/09/conheca-os-vencedores-do-teen-choice-awards-2010/>. Acesso em 04 mar. 2011. LECOUTEUX C. História dos Vampiros. 1. ed. São Paulo: Unesp, 2003. p. 14, 29-31, 137, 139, 170, 179-184. MEYER S. Breaking Dawn. 1. ed. Nova Iorque: Little Brown, 2008. p. 482-485. PLEC J.; SIEGA M.; WILLIANSON K. The Vampire Diaries - Children of the Damned. [Filme-vídeo] Atlanta, 2010. DVD 42 min. Son. Color. RIBEIRO R. Do vermelho-sangue ao rosa-choque: o mito do vampiro e suas transformações no imaginário midiático do século XXI. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 32., 2009. Curitiba. Anais eletrônicos ... Curitiba: INTERCOM Disponível em: < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/RESUMO s/R4-1707-1.pdf >. Acesso em: 06 jul. 2010.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
500
SMITH L.J. The Vampire Diaries: The Return: Nightfall. 1. ed. Nova Iorque: Simon Pulse, 2009. p. 94-99, 110-111. SUBMARINO. [Site] Comercializa e fornece informações sobre DVDs para uso doméstico. Disponível em <http://www.submarino.com.br/produto/6/21856993/box+vampire+diaries+-+1%C2%AA+temporada-+5+dvds#A1>. Acesso em 04 mar. 2011. THE INTERNET MOVIE DATABASE. [Site] Apresenta informações sobre conteúdo audiovisual e profissionais do ramo. Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt1405406/>. Acesso em 04 mar. 2011. THE VAMPIRE DIARIES – O AMOR SE ESCREVE COM SANGUE. [Site] Site oficial de Vampire Diaries da Warner Channel Brasil. Disponível em <http://www.warnerchannel.com/series/vampirediaries/?idlanguage=por>. Acesso em 04 mar. 2011. THE VAMPIRE DIARIES. [Site] Site oficial de Vampire Diaries da CW. Disponível em <http://www.cwtv.com/shows/the-vampire-diaries>. Acesso em 04 mar. 2011. TV AND PARENTAL CONTROLS. [Site] Apresenta informações sobre classificação indicativa na TV dos EUA. Disponível em <http://reboot.fcc.gov/parents/tv-and-parental-controls>. Acesso em 04 mar. 2011. WEBER M. Sociologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2003. 134 p.PEDRA, SAL E LUZ: O
INTERDITO DO OLHAR NA DIVINA COMÉDIA , DE DANTE ALIGHIERI
Regiane Rafaela Roda*
RESUMO
Dante Alighieri apresentou em sua obra máxima, a Divina Comédia, uma sucessão de quadros imagéticos ao longo de seu percurso pelos mundos do além túmulo em que não faltaram a plasticidade descritiva e o alto teor de emotividade. Essas impactantes descrições poéticas denotam justamente o apreço da cultura da Idade média pela visão, sentido pelo qual o homem recebia as primeiras informações para a construção de seu conhecimento. Dessa forma, a sociedade medieval era cotidianamente instruída por meio das imagens de vitrais, mosaicos, afrescos e iluminuras que adornavam suntuosamente catedrais, castelos, fortificações e manuscritos que, em primeiro lugar, deveriam impressionar aos olhos. No entanto, em algumas passagens do poema o personagem Dante é proibido de ver ou de contemplar os mistérios e apenas pode fazê-lo após uma autorização divina. Este trabalho tem como objetivo analisar quais as implicações e interpretações suscitadas pela presença do interdito do olhar na obra do
* Mestranda em Letras, na área de Teoria Literária, pela Universidade Estadual Paulista – UNESP,
campus do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) de São José do Rio Preto. Bolsista CNPq
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
501
poeta italiano, no que tange a presença dos elementos míticos, num universo, em que “ver” é a prerrogativa colocada desde o princípio da viagem dantesca para então, a partir de seu conhecimento, transmitir aos homens tudo sobre as três regiões visitadas: o inferno, o purgatório e o paraíso. PALAVRAS-CHAVE: Literatura italiana; mitologia; alegoria; símbolo.
Os três interditos na viagem de Dante
Durante a viagem do personagem Dante, três foram os momentos em que ele
recebeu ordem direta para não ver os mistérios que ainda estavam por vir em seu
caminho, sendo que um deles relacionava-se com o caminho já percorrido.
O primeiro interdito, e entende-se por interdição uma proibição ligada
estreitamente aos mistérios da religiosidade não revelados no percurso de Dante, ocorre
no cântico “Inferno” quando, prestes a atravessar os portais da Cidade de Dite, ele tem
sua passagem interrompida pela chegada das Erínias que convocam Medusa* para
barrar-lhe a entrada nos círculos seguintes do inferno e é protegido por Virgílio que o
mantém de costas para o monstro:
“Vem, Medusa, e os faremos de basalto”, diziam, pra baixo olhando, e : “Quão errado foi não vingarmos de Teseu o assalto!”. “Volta-te!”, ele avisou, “e olho fechado! se a Górgona colher o teu olhar já estará o teu retorno cancelado.” E ele mesmo agarrou-me e fez virar, e os meus olhos, pra amparos mais cuidadosos, com suas mãos sobre as minhas fez tampar.”
(Inf. Canto IX, v. 52-60)
* “Havia três górgonas, denominadas Esteno, Euríale e Medusa, todas as três filhas de duas divindades marítimas: Fórcis e Ceto. Das três, apenas a última, Medusa, era mortal, sendo as outras imortais. O nome da Górgona é geralmente dado a Medusa, considerada como a Górgona por excelência. A sua cabeça era rodeada de serpentes, que tinham grandes presas. Os seus olhos eram cintilantes e o seu olhar tão penetrante que quem quer que o visse era transformado em pedra. Perseu consegue cortar a cabeça à Medusa. Para evitar olhá-la serviu-se do seu escudo polido como espelho e, assim, não receou o olhar terrível do monstro.” (GRIMAL, 2005, p. 187)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
502
Medusa traz em si mesma a representação da morte para o poeta, não apenas a
morte física, iconizada pela transformação em pedra daqueles que olham diretamente
para ela, mas também a morte espiritual, mais grave dentro da ótica do Cristianismo,
uma vez que, com a morte do espírito cessam as chances de uma ressurreição com o
advento do Apocalipse e da escolha dos eleitos por Deus e impossibilitando também a
redenção dos pecados. Ela simboliza o primeiro desafio àqueles que são postos à prova,
pois, “personifica o inimigo terrível, e na simbólica cristã, se torna uma encarnação do
Diabo” (BRUNEL, 2005, p. 621), fato que se relaciona diretamente à imagem desse
personagem mítico formada no imaginário: uma mulher que porta serpentes no lugar
dos cabelos, sendo a serpente um ícone também de ordem diabólica, uma vez que
retoma o mitema da Criação, tal como referido no Gênesis; associada à questão de a
mulher ser referida como tendo sido aquela quem primeiro sucumbiu às provocações do
diabo e também a responsável direta pela expulsão e perda do Paraíso.
No poema, as duas mortes encontram paralelo com o final da jornada de Dante e
com uma “terceira morte”, que analogamente pode ser interpretada como a morte da
poesia bem como a perda do estado e da sensibilidade criativa do poeta, lembrada pela
transformação em pedra, e a impossibilidade para compreender os mistérios do percurso
que deveria ainda realizar. Sem poder seguir adiante na viagem de conhecimento
autorizada pela divindade, ele estaria também perdido como poeta e não seria mais o
herdeiro escolhido pelo panteão dos grandes poetas clássicos com quem havia dialogado
no Limbo e a quem rendera homenagens.
O segundo interdito ocorre no cântico do “Purgatório”, logo à entrada dos sete
círculos correspondentes aos sete pecados capitais. Após ser recebido pelo anjo
guardião da entrada e ter sua testa marcada com sete letras “P”, uma para cada pecado
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
503
capital que deveria purgar durante a subida pela montanha, Dante recebe um aviso desse
mesmo anjo:
E abriu o batente da porta sagrada dizendo: “Entrai, mas volta – eu vos previno – Aquele que para trás der uma olhada.” de seu fechar-se o som deu-me a visão: e, se pra lá eu tivesse o olhar voltado, Como pra falta invocaria perdão?
(Purg. Canto IX, v. 130-132 e Canto X, v. 04-06)
O poeta não deve olhar para o caminho já percorrido sob o risco de novamente
se contaminar com os pecados que ficaram para trás, no Inferno. Em contrapartida,
Dante deve passar por uma prova, sua capacidade de obediência é testada, assim como a
mulher de Ló, personagem da narrativa bíblica à qual se une os motivos apresentados
nesta parte da viagem, e que tal como Dante, também não deveria voltar-se para trás
para ver a corrupção e o castigo imposto por Deus às cidades de Sodoma e Gomorra e
transformada em uma estátua de sal ao incorrer no erro e desobedecer às ordens
recebidas.
Entende-se, com esta passagem, que uma primeira etapa havia sido vencida por
Dante em seu percurso em direção à ascensão e evolução de sua própria condição
humana e só lhe resta seguir em frente em seu caminho para a salvação. Aqueles que
são salvos da perdição devem assumir um novo compromisso com a divindade e deixar
para trás a corrupção dos pecados, ou seja, a vida vivida até aquele momento e iniciar
uma nova aliança com Deus. Essa aliança entre Deus e o homem é representada pela
presença do sal na narrativa bíblica, relacionada com a desobediência da mulher de Ló,
uma vez que o sal designa a “incorruptibilidade e a purificação” (CHEVALIER, 2008,
p. 797), e referido em alguns episódios bíblicos significativos. Outro exemplo encontra-
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
504
se nos Evangelhos , em Mateus 5, 13: “Vós sois o sal da terra” e marca o início de uma
nova aliança entre Deus e seu povo.
Na Idade Média, o Antigo testamento era visto como um livro profético e
alegórico que preparava para os eventos do Novo testamento. Assim, a esposa de Ló
transformada em estátua de sal encerra um ciclo em que o homem se distanciara de
Deus por meio do erro e inicia um novo ciclo com a salvação e obediência de Ló.
Semelhante a este personagem, Dante fora salvo e agora deveria trilhar um novo
caminho de redenção e essa redenção é o cumprimento de sua missão como homem e
como poeta.
Dante Alighieri utiliza para a construção deste sentido o recurso alegórico
voltado para os temas teológicos que deve sustentar-se pela “interpretação religiosa de
coisas, homens e eventos figurados em textos sagrados” (HANSEN, 2006, p. 08),
denominada “alegoria dos teólogos” que é marcada pela repetição dos temas religiosos.
Afinal, como afirma Hansen (2006, p. 82), “na Idade Média” este “princípio de
interpretação como repetição é levado às últimas conseqüências”, não sendo diferente
no poema dantesco que se utiliza dessa “técnica de interpretação que decifra
significações tidas como verdades sagradas em coisas, homens, ações e eventos das
Escrituras” (HANSEN, 2006, p. 91), para transportar também para seu texto uma
verdade sacralizada e revelada no nível literal, no sentido de que “a letra, littera, é um
índice das coisas, uma vez que a vida humana e seu sentido último estão escritos numa
Palavra que se interpreta” (HANSEN, 2006, p. 120), algo também característico da
idade medieval.
É sabido que para o poeta Dante Alighieri, sua poesia tinha como intuito
primordial levar ao povo das cidades italianas o conhecimento dos eventos históricos e
de sua cultura:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
505
O exílio distanciava-o assim de uma orientação municipal e ampliava sua visão de Florença para a Itália e daí para o mundo; sobretudo, dava-lhe a certeza de ser um mártir e um combatente em nome da justiça e de ter, por isso, o direito de falar aos homens, de guiá-los ao caminho justo para a conquista da verdade e da paz. É esta a vocação profética e reformadora da qual nasce a Divina Comédia (PAZZAGLIA, 2000, p. 177) (tradução nossa).*
Assim, apenas com a obediência aos princípios divinos, Dante poderia realmente
assumir as funções audaciosas de grande libertador e fundador de uma nova ordem e
cumprir a missão superior que a divindade lhe havia designado: a missão de levar
através da Arte o conhecimento da Verdade. Une-se à missão do personagem a missão
do estudioso e poeta Dante que deveria trilhar um novo caminho por meio de sua Arte e
não voltar-se para os modelos poéticos infrutíferos que não haviam sido utilizados com
a finalidade de transmitir uma mensagem superior, a da própria construção artística que
permanece e supera o próprio tempo e, dessa forma, iniciar uma nova etapa na poesia
recuperando os exemplos poéticos sublimes e inserindo-os em uma nova construção
artística da qual se valeram poetas ao longo do tempo e que o designaram como grande
mestre logo no período que seguiu na Itália, o Renascimento.
O terceiro interdito está relacionado com a luz divina, a luz que forma e
preenche os espaços do cântico do “Paraíso”:
Já estava o meu olhar fixo no rosto da minha dama e, nele a persistir, meu pensamento a nada mais proposto. E ela não sorria: “Se eu fosse rir”, começou ela então, “tu haverias, qual Sêmele, de em cinzas te esvair”; Se não se temperar, tão mais resplende Que o teu mortal poder, ao seu fulgor,
* “L’esilio lo allontanava cosi da ogni considerazione municipalistica, ampliava il suo sguardo da Firenze all’Italia e al mondo; soprattutto gli dava la certezza di essere martire e combattente della giustizia, di avere per questo il diritto di parlare agli uomini, di guidarli alla riconquista di essa, della verità e della pace. È questa la vocazione profetica e riformatrice da cui nasce la Divina Commedia.”
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
506
Fronde qualquer seria que um raio fende. Fixa, ora, atrás dos olhos teus, a mente, E deles faz espelhos à figura Que nesse espelho te será aparente.”
(Par. Canto XXI, v. 01-06; 10-12; 16-18)
Ao avisar Dante dos riscos de se contemplar a luz pura da divindade sem estar
preparado, Beatriz cita o mito greco-romano de Sêmele*, princesa tebana mortal que
desejou ver toda a majestade do brilho de Zeus e foi fulminada por seus raios.
Beatriz ainda sugere que Dante se concentre em uma imagem mental e que sua
imaginação da realidade seja o espelho da Verdade que ele ainda não pode contemplar.
Ora, tem-se um complexo jogo entre visão e imaginação, verdade e criação nas palavras
da musa do poeta. A visão contemplativa é para os beatos admitidos nos céus do
paraíso, assim como a imaginação está para a mente dos poetas que aguardam a
inspiração artística simbolizada pela autorização da divindade para a visão beatífica dos
mistérios do céu. Neste ínterim, são imagens especulares, representativas de uma ilusão,
tudo aquilo sobre o qual os poetas falam e apenas a visão da verdade confere realidade
àquilo que se criou ou se desejou criar. Dante retoma, portanto, o mote da alegoria da
caverna de Platão, transformando as pálidas sombras da caverna em imagens luminosas
em uma inversão dos sentidos. A luz do paraíso é a verdade e apenas ela confere a
realidade poética criativa de que os homens têm apenas imagens refletidas na Arte.
Também se pode ler que os segredos divinos não pertencem ao poeta a quem só
será dado conhecer a Verdade em determinado momento. Iconiza-se, portanto, a
representação de que a Arte do poeta pertencerá a todos e que sua abrangência não pode
* “É, na tradição tebana, a filha de Cadmo e de Harmonia. Foi amada por Zeus e dele concebeu Dioniso. Hera, ciumenta, sugeriu-lhe que pedisse ao seu amante divino que lhe aparecesse em toda a sua glória. Zeus, que, imprudentemente, prometera a Sêmele conceder-lhe tudo quanto ela lhe pedisse, teve de se aproximar dela com seus raios. Sêmele carbonizada, morreu instantaneamente.” (GRIMAL, 2005, p. 414)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
507
ser controlada nem determinada por um só homem, uma vez que, sendo fruto de
inspiração divina pertence a todos. Tem-se, pois a luz como o símbolo da criação
intelectual e o “poeta é vates, um vate ou profeta iluminado da luz da Graça e a
Comédia tem, por isso, o projeto ambiciosíssimo de figurar a totalidade da experiência
humana universal” (HANSEN, 2006, p. 129).
À guisa de conclusão, tem-se os três interditos impostos a Dante, como três
provas ou ordálios da divindade para o homem e para o poeta. O primeiro, no inferno,
prova sua sensibilidade criativa ao pôr em risco sua capacidade poética simbolizada pela
transformação em pedra, ameaça real representada por Medusa/Diabo e o
distanciamento das leis divinas para as quais o homem Dante deve retornar a observar,
afastando e negando o mal. O segundo, no purgatório, provoca a uma nova vida, livre
dos erros passados e propõe um novo modo de ser e de viver; ao homem, novamente
inserido no comprometimento e defesa dos princípios tanto éticos quanto religiosos, de
que Dante Alighieri era fiel depositário em seu tempo; e ao poeta, herdeiro auto-
declarado da Arte Clássica. A terceira interdição, no paraíso, põe à prova seu
merecimento enquanto homem, de contemplar os mistérios divinos; e, enquanto poeta,
de ser o portador isento da própria Arte.
Referências bibliográficas
ALIGHIERI, D. A Divina Comédia. Edição bilíngüe. Tradução e notas de Ítalo Eugenio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1998. Bíblia sagrada. Edição Pastoral. Tradução de Ivo Storniolo e Euclides Balachin. São Paulo: Paulus, 1990. BRUNEL, P. Dicionário de Mitos Literários. Tradução de Carlos Sussekind et al., prefácio à edição brasileira de Nicolau Sevcenko. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. CHEVALIER, J. Dicionário de Símbolos. Tradução de Vera da Costa e Silva et. al. 22. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
508
GRIMAL, P. Dicionário da Mitologia Grega e Romana. 5.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. HANSEN, J. A. Alegoria: construção e interpretação da metáfora. São Paulo, SP: Hedra, 2006. PAZZAGLIA, M. Scrittori e critici della letteratura italiana. 3.ed. Bologna: Zanichelli, 1993, v.1.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
509
AS VOZES MÍTICAS E SIMBÓLICAS DOS FANTÁSTICOS MUNDO S DE O
LABIRINTO DO FAUNO E DAS “ALICES” DE LEWIS CARROL
Rodrigo de Freitas Faqueri∗
RESUMO
Aborda o dialogismo e a polifonia entre a literatura e cinema por meio das vozes míticas e simbólicas existentes entre as duas mais famosas obras do inglês Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho e a produção cinematográfica O Labirinto do Fauno, de Guillermo Del Toro. Visa analisar as relações entre os diversos símbolos e elementos míticos que constituem esses três exemplares do gênero artístico e que possibilitam a propagação da literatura fantástico-maravilhosa por vários discursos, que atravessam vários contextos da sociedade mundial. A partir das duas protagonistas, intenciona-se mostrar a polifonia entre os discursos das personagens, bem como mostrar a relação entre as histórias sagradas feitas pelo homem e as diversas interpretações para os sonhos e fantasias que impulsionam as primeiras tentativas de expressão discursiva do ser humano. PALAVRAS-CHAVE: Dialogismo; Símbolo; Mito.
1.1. Dialogismo e polifonia
Ao se falar de estudos sobre dialogismo e
polifonia, tem-se por referência o russo Mikhail Bakhtin, que introduziu esse novo
conceito do estudo da linguagem. Segundo ele, a linguagem está relacionada com a
história, com a cultura e com o meio social e dentro dela está a análise do diálogo entre
as pessoas e seus discursos. Para o conceito bakhtiniano, a língua é regida pelo diálogo,
seja ela escrita ou falada, pois sempre ocorrerá uma comunicação entre os signos para
que se construa um sentido (BARROS, 2003, p.1).
O dialogismo é sustentado pelos enunciados e, conseqüentemente, pela
enunciação, pois eles são as diversas vozes que interagem entre si dentro dos planos ∗ Aluno do Mestrado em Letras do Programa de Pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
510
contextuais para gerar diálogos entre enunciados de uma mesma enunciação ou de
outras.
A polifonia é a criação e a recriação, a formulação dos textos de forma
inacabada, pois as vozes presentes nos textos vão se transformando, dialogando entre si
incessantemente. A polifonia é uma multipluraridade de vozes que enriquecem o texto,
representando os anseios humanos na vida social, cultural e ideológica nas personagens.
Portanto, neste estudo, será analisado o diálogo das diferentes vozes
míticas e simbólicas regidas como elementos fantásticos, encontradas em O Labirinto
do Fauno, de Guillermo Del Toro e as obras de Lewis Carrol. Pode-se dizer que o
dialogismo e a polifonia se complementam e não podem ser estudados separadamente.
Cada um possui sua função e, da mesma forma, estão inteiramente ligados uns aos
outros. Os próprios componentes do dialogismo são uma rede de vozes ligadas pelo
diálogo. Sem um, o outro não pode existir.
1.2. Literatura fantástica e o gênero maravilhoso
No discurso fantástico, deve-se destacar o emprego do discurso figurado,
pois conforme Todorov (2007, p.85) o sobrenatural nasce do fato de se aceitar o sentido
representativo ao seu sentido literal. Nesta categoria discursiva, busca-se o sentido
próprio de uma expressão metaforizada, pois ela é o elemento de origem do sobrenatural
e condiciona o leitor a seguir uma explicação hiperfísica do acontecimento narrado.
Todas essas características desse discurso figurado são constituintes do enunciado na
literatura fantástica.
O gênero maravilhoso é aplicado na qualificação de uma narrativa quando esta
indicia a aceitação de elementos sobrenaturais sem nenhum questionamento ou espanto
por parte das personagens envolvidas. Levando-se em consideração que neste gênero
também é necessária uma identificação do leitor com a personagem principal ou
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
511
narrador, subentende-se que o leitor também aceite os acontecimentos além-reais sem
nenhuma contestação. Assim, seres e objetos que não existem realmente neste mundo
aparecem e fazem parte do novo mundo proporcionado pela personagem.
Com base nessas teorias, serão vistas as relações entre o real e o imaginário a
partir dos mecanismos de trabalho da literatura fantástico-maravilhosa para que se
compreenda a figura que a personagem Ofélia representa para a história e como ela
aceita os elementos fantásticos que surgem. Assim, será possível ver como será sua
reação aos acontecimentos sobrenaturais que começam a permear a sua vida e que
influenciam os fatos reais que se passam na fazenda onde ela vive.
1.3. Mitos e símbolos
Os mitos podem ser divididos em duas categorias: os mitos viventes e os mitos-
relato. Os viventes justificam-se pelo primeiro pensamento que o homem tem, ou seja, é
a experiência vivida pelo ser humano, que ele não compreende, mas que precisa ser
justificada e interpretada de alguma maneira. A segunda categoria da mitologia é
o mito-relato, que é a solidificação do mito vivente. Ele tem a função de explicar os
fatos que ocorreram e, que para o homem em determinada época, eram surpreendentes
ou incompreensíveis.
Na literatura fantástica, o mito entra em oposição ao sonho, ao imaginário, ao
irreal, porque aquele tem como característica revelar aquilo que realmente aconteceu e
este tem a função de alimentar a criatividade simbólica do homem.
Já com os símbolos, busca-se a representação de um conceito ou idéia de uma
realidade ausente em uma determinada cultura. Nas religiões, sejam modernas ou
arcaicas, pode-se encontrar a mais pura e original maneira pelas quais as partes dos
símbolos estão dispostas, pois as religiões refletem a busca do ser humano em realizar-
se como um ser universal e integral. No fantástico, o símbolo seria a realidade ausente
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
512
representada pelos sonhos e a tentativa de expressão dos mesmos e o mito seria a forma
de expressão da realidade. Assim, pode-se dizer que os mitos (e conseqüentemente a
mitologia) e os símbolos são elementos utilizados pela literatura fantástica, pois o
narrador usufrui de seu conhecimento sobre as questões simbólicas e míticas para criar
um novo mundo e discutir assuntos recorrentes em nossa realidade, não distinguindo
mais os invólucros do tempo e do espaço que revestem as nossas leis naturais.
2. Alice e Ofélia: polifonia entre as personagens
Pretende-se mostrar a interação e as semelhanças das personagens principais
Alice e Ofélia, assim como a história, a cultura e o meio social da época de cada uma,
incorporando a polifonia no âmbito textual e também cinematográfico. Antes de se
começar essa análise, deve-se resumir e comentar brevemente as duas obras e o filme.
As duas meninas possuem características em comum, levando a crer que elas são
retratos polifônicos e dialógicos, sendo Ofélia inspirada em Alice. Esse retrato dialógico
pode ser percebido nas duas meninas, pois a personagem Ofélia interage por meio dos
planos contextuais baseados na história, na cultura e no meio social, com os mesmos
elementos constituintes das histórias da personagem Alice, de Lewis Carrol. Tanto a
história de Ofélia como as aventuras de Alice são fundamentadas em um contexto
político e histórico, que são retratados e criticados nas narrativas.
A curiosidade de Alice é o que constrói basicamente suas aventuras, pois a partir
de suas buscas por respostas ela enfrenta diversas situações pouco habituais em seu
cotidiano. A narrativa toda é baseada nesse sentimento que coordena as vontades da
garota. O medo e a hesitação de Alice são rapidamente esquecidos quando qualquer fato
curioso aparece a sua frente.
A busca por respostas dos fatos que ocorrem, devido à curiosidade da garota,
deixa as aventuras com uma característica de infinidade. As histórias parecem não
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
513
acabar, somente acabam quando surge um novo acontecimento duvidoso e intrigante
que chama a atenção de Alice.
Voltando o olhar para o filme, encontra-se Ofélia que possui quase as mesmas
características que Alice. Dialogando entre si, Alice e Ofélia buscam uma saída para
fugir dessa realidade cruel (no caso de Ofélia) ou entediante (no caso de Alice). A saída
para cada uma delas são exatamente os mundos sobrenaturais em que elas são rainhas
ou princesas, onde não existe dor e sofrimento, somente alegria e diversão.
Diferente de Alice, que sai do seu mundo real para colocar-se nesse mundo
imaginário, Ofélia põe os dois mundos lado a lado e os vive ao mesmo tempo,
desejando viver mais no mundo imaginário, pois as dificuldades e problema que
existem em seu mundo real fazem com que ela deseje sair dele. As lutas entre rebeldes e
o exército, o padrasto cruel e insensível e uma mãe que, apesar de amá-la, não a
compreende, alimentam a vontade da menina em querer ser uma princesa. No reino
subterrâneo, Ofélia não seria mais uma menina que sofre por causa de questões políticas
e sociais. Ela viveria em paz, governando o seu mundo juntamente com seus pais.
A curiosidade também impulsiona as ações de Ofélia e a leva a seguir uma fada,
respeitar as ordens e regras do fauno e a acompanhar Mercedes, a rebelde infiltrada na
fazenda, em sua luta contra o padrasto dela, o capitão Vidal. Sua busca pelo seu reino,
onde ela é a princesa Moanna, é impulsionada primeiramente por essa curiosidade e
depois pela idéia de ser uma pessoa que não pertence a este mundo cruel e devastado
por guerras e ambições políticas.
Nesta busca das duas personagens por um mundo diferente daquele em que
estão, mostra-se a adaptação da polifonia quanto aos fatores externos, pois o que une
essas vozes diferentes de obras também distintas são os diversos contextos sócio-
históricos e culturais em que elas são criadas.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
514
É evidente, assim, o dialogismo entre as duas obras e a produção
cinematográfica por meio da polifonia que é capaz de propagar as vozes de uma obra
em outra, modificando-as sem deixar que percam sua raiz central. Seus elementos se
transformam em cada trabalho organizado, porém sem desestruturar seu eixo central.
Em um âmbito mais teórico, o enunciado é passado de formas diferentes dos dois
enunciadores aos seus enunciatários (leitor e telespectador) sem alterar a mensagem
central do discurso.
3. O jardim de Alice o e labirinto de Ofélia
Nas histórias de Alice, existem diversas figuras, pertencentes aos dois mundos
maravilhosos da menina, que fornecem um maior campo de interpretação para as duas
narrativas, pois a essas figuras são atribuídos significados e sentidos diferentes daqueles
que são conhecidos no mundo real.
Escolheu-se o jardim, porque este lugar pode ser qualificado como figura
simbólica e também como mito. Sendo elemento mítico, essa figura é um exemplo das
narrativas mitológicas, que são feitas pelo ser humano a fim de explicar um fato real não
compreendido, como a criação do jardim do Éden por Deus para a cultura ocidental-
cristã. Como símbolo, o jardim é uma das figuras que explicita as emoções e os desejos
escondidos, neste caso, por Alice. Estas são as funções deste elemento que se encaixam
nas obras estudadas. Outros componentes não possuem as duas características de mito e
de símbolo unidas nas histórias como o jardim possui.
Como símbolo, ele representa o sexo feminino e também uma imagem da alma
direcionada pela inocência e pela alegria. É visto como elemento de salvação e pureza
que conduz ao equilíbrio e à harmonia interior. Assim, a incansável busca de Alice
pelos jardins, pode representar a procura pelo equilíbrio psicológico da personagem.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
515
Já como elemento mítico, o jardim, nas aventuras de Alice, pode ser
representante das histórias sagradas, que relatam fatos verdadeiros sobre a criação do
mundo e sobre a própria existência humana para vários povos e culturas, demonstrando
os acontecimentos desde a cosmogonia até os fatos constituintes das sociedades
mundiais. É interessante relacionar a busca da garota pelos jardins com a busca do ser
humano em compreender os tempos primordiais e os seus segredos.
Voltando-se para Ofélia, todos os símbolos, presentes no corpus, giram
em torno de um tema comum fundamental da história: a busca pela identidade. Eles
preenchem esse tema e constroem uma atmosfera propícia para o desenvolvimento de
uma narrativa da literatura fantástico-maravilhosa ao lado do elemento mítico. Percebe-
se o mito com a presença do fauno, um ser mitológico essencial para o surgimento e
desencadeamento dos símbolos com os significados desejados. O fauno pode ser
considerado o eixo central que rege as vozes simbólicas para que haja uma polifonia
entre essas vozes e para que dê origem à tentativa de expressão das forças humanas. O
labirinto também será analisado como figura mítica devido a sua carga colaborativa em
diversas histórias da antiguidade.
No corpus, a primeira fada que Ofélia encontra possui asas que parecem folhas
finas de árvores e preserva a cor verde do inseto que era antes de se transformar. Em
uma cena, essa fada verde aparece ao lado do fauno comendo um pedaço de carne. As
outras duas fadas também possuem as asas como se fossem folhas finas, porém a cor de
seus corpos são vermelho e azul. Além disso, essas duas outras fadas não aparecem no
filme se transformando em inseto ou outra forma de vida. Elas já aparecem com a
fisionomia de fada desde sua primeira cena.
Outra figura que pode representar o simbólico é a lua. A sua presença prossegue
o sentido inicial de buscar uma identidade mágica para Ofélia, pois a menina é
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
516
considerada a princesa da lua, possuindo uma marca em seu ombro esquerdo com esta
imagem. Também ela é fundamental para o desenvolvimento da narrativa, porque, para
provar que é realmente a princesa, Ofélia terá até a noite de lua cheia para cumprir suas
tarefas. Para Chevalier e Gheerbrant (2003, p. 561), a lua simboliza um processo de
renovação cíclica para a mulher.
Assim como as fadas, a lua também possui um ritmo ternário em que ela é
visível aos olhos humanos, pois na sua quarta fase a lua desaparece completamente e
somente retorna após alguns dias, geralmente três dias. Pode-se, então comparar as três
fases em que a lua brilha – crescente, cheia e minguante – com as três fases da vida de
uma pessoa: a juventude, a maturidade e a velhice. A quarta fase que a lua não é visível
seria a representação da morte. A lua, então, representa também a passagem da vida
para a morte que é esperada pelo homem, sempre em uma movimentação cíclica.
Outra análise pode ser feita em relação à quarta fase lunar, que representa a
morte, pois nessa quarta fase, a lua não aparece no céu; ela é tomada pela escuridão da
noite e somente volta a aparecer na primeira fase como lua crescente. Pode-se dizer que
Ofélia teria que, obrigatoriamente, morrer para voltar ao seu mundo. Observando o
calendário lunar, que possui vinte e oito dias, pode-se perceber que a fase cheia (noite
em que Ofélia morre) e a fase nova (época de desaparecimento da lua) estariam uma
diante da outra, tendo a Terra entre elas, ou seja, enquanto um lado do mundo presencia
uma das fases referentes à vida, o outro lado estaria voltado à escuridão e à morte.
A idéia da zona lunar, que simboliza o ser humano refugiado em seu jardim
secreto, silencioso e intimista também pode ser relacionada com as buscas de Alice
pelos jardins em suas histórias. Tanto a lua quanto o jardim revelam um caráter
profundo e pessoal de que a humanidade necessita para encontrar a sua paz e
restabelecer o seu equilíbrio a partir de suas buscas identitárias relacionadas com suas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
517
histórias sagradas e primordiais. Esses dois símbolos se relacionam e dialogam nas
histórias de Alice e no corpus com as aventuras de Ofélia.
Em uma visão mais simbólica e direcionada à protagonista Ofélia, o labirinto
representa a busca pelo centro do interior humano, a uma espécie de essência íntima
escondida e guardada, na qual está adormecida uma vida desconhecida pelo ser humano.
Os caminhos do inconsciente são percorridos e desvendados pela consciência humana,
assim como os caminhos que são explorados nos labirintos até o centro pelo escolhido.
O jardim de Alice também pode ser considerado um labirinto, pois esse símbolo
também representa a busca pela identidade e a consciência organizada. O equilíbrio no
jardim é encontrado pela idéia das histórias sagradas, que possuem a manifestação do
homem em encontrar o paraíso sagrado dos tempos primordiais. Segundo Biedermann
(1994, p. 210), na época do Barroco e do Rococó, os labirintos, inicialmente com suas
formas simples, se transformam em jardins labirínticos que foram edificados com cercas
de arbustos vivos geometricamente organizados e podados, com a função de confundir
os visitantes desses lugares. Percebe-se, então outra ligação entre as vozes míticas e
simbólicas presentes nas histórias de Alice e no corpus.
Assim, o labirinto faz parte das duas naturezas abordadas nesta análise. A
realidade que é transmitida e materializada nas histórias sagradas de muitos povos e
também pela sua representação simbólica que o torna uma expressão das forças
humanas e dos princípios espirituais.
Bibliografia
BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz (org.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade. 2. ed. - 1ª reimpressão São Paulo: EDUSP, 2003. BIEDERMANN, Hans. Dicionário ilustrado de símbolos. São Paulo: Melhoramentos, 1994. BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997. ______. BAKHTIN: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
518
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. 18. ed. Ver. e aum. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. DOGSON, Charles Lutwidge; LEITE, Sebastião Uchoa (org. e trad.). Aventuras de Alice. 6. ed. São Paulo: Summus, 1980. ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. São Paulo: Martins Fontes, 1996. ______, 1907-. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 2004. KAST, Verena. A Dinâmica dos símbolos: fundamentos da psicoterapia junguiana. São Paulo: Loyola, 1997. PROPP, Vladimir. Morfologia do conto maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1984. RODRIGUES, Selma Calasans. O fantástico. São Paulo: Ática, 1988. TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1970. ______, 1939-. Introdução à literatura fantástica. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. ______. Teorias dos símbolos. Campinas: Papirus, 1977.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
519
“SEM OLHOS”, DE MACHADO DE ASSIS: INDAGAÇÕES
ACERCA DO FANTÁSTICO
Roxana Guadalupe Herrera Álvarez*
RESUMO
Há uma parte dos contos machadianos incluída no gênero fantástico. Da leitura da coletânea organizada por R. Magalhães Junior intitulada Contos fantásticos de Machado de Assis (1973) se depreende a dificuldade de estabelecer o conceito de fantástico que norteia a classificação desses contos. Nosso objetivo é discutir, a partir do conto “Sem olhos”, como as peculiaridades das narrativas machadianas da coletânea desafiam o que se considera estabelecido em relação às características do gênero, por exemplo, a proposta teórica de Todorov. PALAVRAS-CHAVE: conto machadiano; literatura fantástica; Todorov.
O fantástico segundo a visão de Todorov
Em sua obra Introdução à literatura fantástica (2003, p. 29-46), observa que o
fantástico se caracteriza por manter um estado de indefinição no que diz respeito à
resolução de um dado mistério. Se a hesitação se mantém até o fim do relato, isto é, se o
mistério não conta com um esclarecimento satisfatório que o faça ingressar, seja no
terreno do maravilhoso, seja no terreno do estranho, dois gêneros bem definidos,
segundo Todorov, então se está diante do fantástico. Além dessa proposta de
delimitação de gênero, Todorov apresenta uma característica e uma condição básicas
que delineiam o fantástico: os fatos narrados devem manter seu caráter de fatos em si,
sem lançar mão da interpretação, isto é, não deve haver a possibilidade de empreender
nem uma leitura “poética” nem “alegórica”, os fatos narrados devem ser visualizados
* Doutora em Letras, pela UNESP, Professor Assistente Doutor, na UNESP, Campus de São José do Rio
Preto, na Área de Língua e Literatura Espanhola e Literatura Hispano-Americana
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
520
em estado puro. Se um determinado fato é narrado, não deve significar nada além de si
mesmo.
No entanto, surge uma questão, importante em relação ao nosso objetivo: como
lidar com um texto literário, no qual aparece, sem dúvida, um fato sobrenatural a
perturbar o cenário cotidiano e conhecido, mas que acaba revelando que o fato
sobrenatural é, em si, um recurso retórico? Entenda-se retórico como o recurso utilizado
para convencer, seja as personagens, seja o leitor empírico/implícito, de certo
argumento do interesse do narrador/escritor, por exemplo. Tal texto seria passível de ser
considerado fantástico ou o aparente desvirtuamento no uso do fato sobrenatural
bastaria para procurar outro gênero para classificá-lo? É à luz dessa problemática que
deve ser lida parte dos contos de Machado de Assis. A parte considerada fantástica.
Contos fantásticos machadianos?
Depois de ter levantado algumas questões importantes sobre a problemática do
gênero e, mais especificamente, do fantástico, será necessário introduzir outra questão
importante, relativa a uma parte da obra contística de Machado de Assis, classificada
como fantástica, e recolhida por R. Magalhães Júnior no livro Contos fantásticos de
Machado de Assis (1973). Incluem-se nesse volume os seguintes contos: “A chinela
turca”, “Sem olhos”, “O imortal”, “A segunda vida”, “A mulher pálida”, “Os óculos de
Pedro Antão”, “A vida eterna”, “O anjo Rafael”, “A decadência de dois grandes
homens”, “Um esqueleto” e “O capitão Mendonça”.
Tal seleção é, sem dúvida, o produto de um conceito de gênero fantástico do
organizador, mesmo que ele não o tenho explicitado na introdução do volume. Esse
dado é relevante, pois é a partir dessa seleção que se infere que sob a denominação de
fantástico Magalhães reúne textos que apresentam um fato sobrenatural ou, pelo menos,
curioso e, quase sempre, acessório, isto é, a trama se alicerça nesse dado como pretexto
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
521
para situar-se em outros temas que ganham mais relevo. Nesse sentido, o evento
sobrenatural não se impõe.
É oportuno destacar o fato, como imprescindível, à maneira de Todorov, de que
o relato fantástico deve referir, com ênfase em si mesmo e por si mesmo, o evento
sobrenatural, o qual esgarça a tessitura do real representado em suas linhas sem querer
significar nada além dessa ruptura. Nesse sentido, seria legítimo dizer que o conceito de
fantástico sustentado por Magalhães se baseia na percepção, nos textos machadianos
selecionados, da simples presença de um fato que lembre algo vinculado ao
sobrenatural, sem atentar se, para o narrador, havia outra intenção que não a de narrar
um fato sobrenatural em si. Seria oportuno indagar: bastaria essa característica, a de
tomar os fatos sobrenaturais como acessórios e como pretextos, para excluir os contos
machadianos, selecionados por Magalhães, do gênero fantástico?
As indagações talvez levem a entender que a relação de Machado de Assis com
o fantástico estabelece outra perspectiva do gênero, na qual há espaço para o humor, a
Moral ou algo semelhante. No entanto, seria impossível criar um subgênero do
fantástico só para os contos machadianos. Assim, a dúvida persiste: escreveu Machado
de Assis contos fantásticos? A antologia organizada por Magalhães recolheria contos
fantásticos machadianos?
“Sem olhos” ou uma dura lição
Esse conto é uma narrativa que tenta dialogar com o gênero fantástico a partir da
influência de Edgar Allan Poe, escritor lido e conhecido na época de Machado de Assis.
O relato se inicia com uma cena familiar: o casal Vasconcelos reunira quatro visitas em
torno do chá. Estavam presentes Bento Soares, a esposa deste, Maria do Céu, o bacharel
Antunes e o desembargador Cruz. Depois de tratarem da morte de um conhecido, a
conversa envereda por assuntos de almas de outro mundo, contos de bruxas, de
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
522
lobisomem e superstições dos índios. Bento Soares critica quem acredita nessas coisas.
O narrador acentua ironicamente o pragmatismo de Soares porque a personagem reduz
tudo aos alcances de sua própria percepção do mundo. Nesse ponto, a composição da
personagem de Bento Soares ajudará a criar um impacto quando o fenômeno
sobrenatural vier a se manifestar. Já o desembargador Cruz acreditava que os fantasmas
não eram coisa que se pudesse negar e cabe a ele narrar um relato sobrenatural. É
importante observar que no início do conto, o narrador apresenta as personagens em
dois grupos: Vasconcelos, Soares e Cruz, que falam sobre crer ou não em fenômenos
inexplicáveis, e Maria do Céu, Antunes e a anfitriã, que discutem mais animadamente
coisas mundanas. Também é possível notar que o narrador habilmente apresenta um
jogo de sedução entre Maria do Céu e Antunes. Descreve o narrador a personagem de
Maria do Céu como, ao mesmo tempo, santa e profana, capaz de enfeitiçar com o olhar.
Quando os grupos se unem para conversar, atraídos os mundanos por um comentário
em voz alta feito por Bento Soares acerca da sandice de acreditar em fantasmas, tem
início o relato do desembargador Cruz, não sem antes ter relutado em se render à
expectativa do grupo, que esperava uma boa narrativa de fantasmas.
O desembargador Cruz refere que, em seus tempos de estudante, foi morar numa
casa cujo singular morador do andar de cima, de nome Damasceno Rodrigues, que
beirava os quarenta anos e estava visivelmente alquebrado, o procurou um dia querendo
seu auxílio para entender uma passagem bíblica relativa a Jonas. Cruz, segurando o riso,
pensou estar diante de “um personagem fantástico” e o julgou louco pela interpretação
incomum que lhe deu a respeito do versículo bíblico. Descobriu depois que o vizinho
era um velho médico sem clínica, que não tinha fama de doido, mas de “ligado ao
diabo”.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
523
Cruz confessa que se aproximou do velho e passou a visitá-lo por uma vontade
de compor “uma anedota romântica”. Daí o investir na descrição da personagem de
modo a apresentá-lo bem ao gosto dos relatos fantásticos: cara angulosa e descarnada de
expressão triste e amargurada, olhos cavos, cabelo hirsuto, mãos peludas e rugosas,
magreza extrema. Cruz também observa que Damasceno tinha uma fixação com a lua, à
qual via como um produto do olho humano e não como algo que tivesse existência real.
Mas há um aspecto singular na narrativa de Cruz: há espaço para o riso. Com certeza, há
o riso tenso, mas no caso da interação entre Cruz e Damasceno encontra-se patente um
riso de escárnio em alguns momentos. Isso acaba por quebrar o pretenso clima
fantástico. Cruz decide romper suas relações com Damasceno ao acreditar que se trata
de um louco e não de um espírito singular.
Um dia, Damasceno diz que está perto da morte, adoece e recebe a vista de
Cruz. Estendido na cama, o doente se mostra preso ao delírio e olha com insistência a
parede. Conversa, muito aflito, com Lucinda, rejeitando a presença dela e dizendo para
voltar depois. Cruz manda chamar o médico e providencia os cuidados necessários. Sai
para ver a namorada e, ao voltar, vai visitar o doente, que se resiste ao tratamento.
Decide ficar para acompanhar o doente durante a noite, pois segundo o médico, o
doente estaria perdido. Damasceno, em sinal de agradecimento pela dedicação de Cruz,
começa a fazer confidências. Inicia com uma declaração perturbadora: “nunca olhe para
a mulher do próximo e não a inste a olhar para você”. Damasceno abre uma caixa na
qual se encontram uns papéis que pede para queimar quando morrer, mas cujo conteúdo
vai revelar a Cruz. Entre os papéis encontrava-se o retrato de uma mulher cujos
expressivos olhos impressionaram Cruz. Damasceno disse que a conheceu quando ele
tinha vinte e cinco anos e ela, vinte e refere que ele e a moça se conheceram na Bahia.
Lucinda, que assim se chamava a moça, era casada com um médico rico. Damasceno
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
524
logo viu que Lucinda sofria por causa do ciúme doentio do marido. Ficou com pena da
moça e assim começou sua desgraça. Um dia olharam-se nos olhos e confessaram
silenciosamente o mutuo sentimento amoroso. Flagrou-os o ciumento marido e
Damasceno, querendo dar fé da honradez de Lucinda, confessou seus sentimentos ao
marido, que nada disse. Deixou de vê-los e um dia soube que Lucinda tinha morrido em
circunstâncias misteriosas. Não satisfeito, procurou mais detalhes e soube que uns
diziam que ela tinha cometido suicídio, outros afirmavam que ela desaparecera; e
também diziam que estava muito doente, prestes a morrer. Damasceno foi até a casa do
marido para tentar descobrir a verdade e foi recebido pelo contente marido. O marido
confessa que Lucinda estava viva, mas que podia morrer a qualquer momento e que
tinha decidido somente punir os olhos da mulher. Vale a pena registrar a cena narrada
por Damasceno:
Não entendi nada; tinha as pernas trêmulas e o coração batia-me apressado. Não o acompanharia decerto, se ele, apertando-me o pulso com a mão de ferro, me não arrastasse até uma sala interior... Ali chegando... vi... oh! é horrível! vi, sobre uma cama, o corpo imóvel de Lucinda, que gemia de modo a cortar o coração. “Vê, disse ele, —só lhe castiguei os olhos”. O espetáculo que se me revelou então, nunca, oh! nunca mais o esquecerei! Os olhos da pobre moça tinham desaparecido; ele os vazara, na véspera, com um ferro em brasa... Recuei espavorido. O medico apertou-me os pulsos clamando com toda a raiva concentrada em seu coração: “Os olhos delinqüiram, os olhos pagaram!” (MACHADO DE ASSIS, 1973, p. 34-35).
O relato foi interrompido nesse ponto. Damasceno repousa arquejante e ao
pouco tempo é surpreendido por uma horrível visão, que o faz falar alto e tremer. Cruz
olha na direção apontada pelo doente e reconhece:
Olhei; e podem crer que ainda hoje não esqueci o que ali se passou. De pé, junto á parede, vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos, e os olhos... Os olhos, esses eram duas cavidades vazias e ensangüentadas. Naquela meia-luz da alcova, e no alto de uma casa sem gente, a semelhante hora, entre um louco e uma estranha aparição, confesso que senti esvaírem-se-me as forças e quase a razão.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
525
Batia-me o queixo, as pernas tremiam-me tanto, eu ficara gelado e atônito. Não sei o que se passou mais; não posso dizer sequer que tempo durou aquilo, porque os olhos se me apagaram também, e perdi de todo os sentidos. (MACHADO DE ASSIS, 1973, p. 35).
Depois dessa horrível visão, Cruz acorda em seu quarto, bem entrada a manhã
seguinte, sem se lembrar do acontecido. Aos poucos voltam as terríveis lembranças e
quando diz que deseja ver o doente, é informado da morte de Damasceno. O doente
morrera preso ao delírio. Cruz não consegue ficar sozinho no local da horrível visão e
vai dormir em casa de um amigo. Algum tempo depois, olha de novo o retrato de
Lucinda e todas as impressões voltam a assombrá-lo. Reconhece que a bela figura dessa
mulher causara a loucura de Damasceno e o ciúme doentio do marido. Nesse momento,
o desembargador Cruz interrompe seu relato e todos os presentes permanecem em
silêncio, constrangidos. Vasconcelos pergunta como explicar o acontecido. Cruz
observa que houve um epílogo. Quando contava a aparição de Lucinda, ninguém dava
crédito e para não se expor ao ridículo, decidiu contar a história de Damasceno no jornal
da Academia. Ao tentar coletar dados para escrever a história de Damasceno, Cruz veio
a saber que o retrato era de uma sobrinha de Damasceno, morta solteira, e que ele
nunca tinha estado na Bahia. Cruz foi levado a pensar que tudo era parte do delírio do
doente Damasceno e que nada do que narrou antes de morrer ocorrera de fato. Como
explicação para a visão terrífica de Cruz, foi dito que o desvario do doente fora
contagioso. Cruz lamenta não ter acontecido de verdade a história de Lucinda e diz que
há outros ciumentos dispostos a castigar belos olhos traidores e pergunta,
sugestivamente, a Maria do Céu se ela acredita agora em fantasmas. Como resposta:
Maria do Ceú tinha seus olhos baixos. Quando o desembargador lhe dirigiu a palavra, estremeceu, ergueu-se e de corrida se encaminhou para o bacharel Antunes. O bacharel também se levantou, mas foi dali a uma janela, talvez tomar ar, talvez refletir a tempo no risco de vir a interpretar algum dia um hebraísmo da Escritura. (MACHADO DE ASSIS, 1973, p. 37).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
526
Curioso desfecho, depreende-se que o intuito de Cruz era o de advertir sobre os
riscos do adultério, pois sabia que Maria do Céu e o bacharel Antunes enveredavam por
uma relação perigosa. Esse aviso, só no final do conto é possível compreender, colocado
na forma de um relato horrível, tem a intenção de desencorajar um dado comportamento
arriscado. O conto perderia, por causa disso, o caráter fantástico?
“Sem olhos” não é um conto fantástico?
É possível inferir que o desembargador Cruz, ao despojar ele mesmo de
credibilidade os eventos circunscritos ao relato da vivência terrífica, pode ter inventado,
na hora, o relato fantasmagórico ao perceber, na reunião entre amigos, que Maria do
Céu poderia estar a ponto de cometer adultério com o bacharel Antunes. Ao confessar
que mente, Cruz invalida o discurso proferido e desvela algo que o fantástico precisa
para se manter enquanto gênero: a possibilidade de o horror ter, de fato, acontecido. No
conto em apreço, o próprio desembargador Cruz invalida o discurso proferido ao
indagar se, depois de escutar a narração, Maria do Céu finalmente acreditava em
fantasmas. A reação da personagem (e do leitor empírico) nesse momento parece anular
a importância do relato sobrenatural em si para se transferir ao terreno da discussão
moral. Desse modo, sobrepõe-se ao caráter fantástico outro, que se relaciona
estreitamente com a reflexão acerca das ações humanas e suas conseqüências. O
desembargador Cruz, ao modo dos contadores de histórias da antigüidade, parece
resgatar a finalidade didática que o conto já ostentou. Ensina-se uma verdade por meio
de uma história.
É plausível apontar a semelhança entre o recurso utilizado nos textos antigos de
caráter didático e o propósito do relato pretensamente sobrenatural inserido no conto
“Sem olhos”. Sendo o caráter do conto o de mostrar uma verdade por meio de uma
história que se revela edificante, mesmo terrífica, perde-se, sem dúvida a hegemonia do
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
527
fantástico na narrativa em pauta. O desembargador Cruz escolheu uma narrativa
fantasmagórica como poderia ter escolhido uma fábula. No entanto, o impacto da
imagem da mulher punida com a perda dos olhos pelo ferro em brasa empunhado pelo
marido cruel, é muito mais forte e visualmente mais eloqüente. A ameaça da punição
terá, quiçá, o poder de dissuadir um comportamento reprovável.
O que fazer com o conto “Sem olhos”? Bastará constatar, num conto, a inclusão
de um pretenso relato sobrenatural para considerá-lo do gênero fantástico, como fez
Magalhães, o organizador da antologia da qual faz parte o conto em apreço? Sem
dúvida, Machado de Assis expõe um problema em relação ao fantástico.
Particularmente, levar em conta o desvendamento do propósito da inclusão da pretensa
vivência sobrenatural que era o de instruir, educar e alertar, já bastaria para citar o conto
machadiano entre os que têm um claro propósito moral. Nesse sentido, a vivência
terrífica é incidental, poder-se-ia ter incluído um apólogo ou uma narrativa despojada de
caráter sobrenatural. Essas teriam o mesmo objetivo do relato terrífico.
Concluindo, se o evento sobrenatural é acessório e não vale por si mesmo e em
si mesmo, isso torna o conto “Sem olhos” de natureza diversa das narrativas fantásticas.
Poe, modelo de Machado, e outros escritores do fantástico não utilizam os eventos
sobrenaturais como pretextos para uma reflexão edificante. Essa constatação permite
afirmar que “Sem olhos”, assim como outros contos da antologia organizada por
Magalhães, não se deixa ler como narrativa fantástica. Pelo menos, não sob as
perspectivas teóricas Todorov, a menos que se isole o fragmento da narrativa terrífica.
Entra-se em nova discussão.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
528
Referências Bibliográficas
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Sem olhos. In: MAGALHÃES JÚNIOR, R. (org.) Contos fantásticos de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Edições Bloch, 1973. p. 21-37. TODOROV, Tzvetan. Definição do fantástico. In: ____ Introdução à literatura fantástica. 2. ed. Tradução de Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 29- 46.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
529
FIOS DE FEMININA BRAVURA: O MARAVILHOSO E A REPRESE NTAÇÃO
DE GÊNERO EM UM CONTO DE MARINA COLASANTI
Silvana Augusta Barbosa Carrijo ∗
RESUMO
No conto Entre a espada e a rosa (1992), de Marina Colasanti, a personagem central, recusando-se a casar por vontade e imposição do pai, androginiza-se ao ganhar uma barba ruiva, reportando-nos à lenda da santa barbada, elemento cultural pertencente ao folclore da região de Saint-Savin, pesquisado por Hilário Franco Júnior (1996). A protagonista assume, a partir desse acontecimento sobrenatural aceito sem questionamento durante a narrativa, uma faceta verdadeiramente épica diante dos ditames masculinos que lhe são impostos. Pretendemos, pois, investigar, a partir do aporte teórico da Crítica do Imaginário, mais especificamente a teoria antropológica do imaginário formulada por Gilbert Durand (2002), como o elemento maravilhoso da androginização através da barba vincula-se à representação das identidades e das relações de gênero no conto em questão. Vale ressaltar que o presente trabalho se atrela ao projeto de pesquisa que desenvolvemos na UFG, intitulado Duas veredas distintas para uma mesma travessia: gênero e memória em literatura infanto-juvenil. Por via do referido projeto, investigamos, numa perspectiva interdisciplinar, como se articulam os temas da memória e das questões políticas de gênero (gender) em obras literárias potencialmente produzidas para o público infantil e juvenil. No que tange especificamente à questão de gênero, investigamos como determinados textos literários são produzidos e recebidos como constructos ideológicos que ora conservam ora transgridem cosmovisões tradicionais ou androcêntricas de gênero. Assim procedendo, pretendemos evidenciar como as questões de gênero, longe de se constituírem prerrogativa temática de obras potencialmente voltadas ao público adulto, infiltram-se também como problemáticas existenciais e hermenêuticas contempladas por obras da literatura infantil e juvenil brasileira contemporânea. PALAVRAS-CHAVE: Maravilhoso; Gênero; Literatura infantil e juvenil.
Assim como a literatura vislumbrada numa perspectiva mais ampla, os bons
livros literários potencialmente voltados para crianças e jovens contemplam como
temática questões caras à complexa condição humana, desempenhando, desse modo, a
função humanizadora da literatura tal como a concebe Antonio Candido (2004). A
∗ Doutora em Letras e Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris-FR. Professora Adjunta do Departamento de Letras do Campus Catalão, da Universidade Federal de Goiás, na área de Estudos Literários.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
530
literatura, quer a destinada a adultos, a jovens ou a crianças, fala do homem para o
homem, expressando o que melhor caracteriza nossa humanidade.
À luz dessas considerações e partindo do pressuposto de que a obra de arte
literária destinada a crianças e jovens constitui um constructo cultural produzido por
adultos, há que se considerar tais obras como fenômenos veiculadores de determinada
carga ideológica que demanda reflexão, questionamento e tomada de postura crítica,
porque transmitem, de modo deliberado ou não, valores ideológicos e condutas de
comportamento que poderão ser acatados ou refutados pelo leitor criança e pelo jovem
leitor. Nessa perspectiva, o exame de uma obra de arte literária voltada para a infância e
a adolescência fomenta o levantamento de uma série de questões: Por que razão
determinados temas são tratados e a partir de que perspectiva os são? A obra veicula
valores ideológicos conservadores ou progressistas? Constitui verdadeira obra de arte ao
proceder por via do simbólico e do imaginário ou se reduz a panfleto didático-
moralizante? Como crianças compreendidas em grupos sócio-culturais diferentes
recebem tal obra?
Como exercício de leitura frente a algumas destas questões, objetivamos, por
via do presente trabalho – que se atrela a um projeto de pesquisa maior* - investigar
* Pretendemos investigar, por meio do projeto intitulado Duas veredas distintas para uma mesma
travessia: gênero e memória em literatura infanto-juvenil, como se articulam os temas da memória e das questões políticas de gênero (gender) em obras literárias potencialmente produzidas para o público infantil e juvenil. Nessa perspectiva, acionando um corpus de análise formado por obras produzidas a partir das duas últimas décadas do século XX, procuraremos examinar 1) como os textos literários são produzidos e recebidos como constructos ideológicos que ora conservam ora transgridem cosmovisões tradicionais ou androcêntricas relacionadas a cada identidade de gênero ; 2) como se efetua, no interior do texto literário, o amálgama entre memória e imaginação, investigando também a identidade dos sujeitos recordantes e o pacto (contrato) de leitura estabelecido. Assim procedendo, pretendemos evidenciar como os temas da memória e das questões de gênero, longe de se constituírem prerrogativa temática de obras potencialmente voltadas ao público adulto, infiltram-se também como problemáticas existenciais e hermenêuticas contempladas por obras da literatura infantil e juvenil brasileira contemporânea.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
531
como são representadas as identidades e relações de gênero* (gender) no conto “Entre a
espada e a rosa”, de Marina Colasanti, publicado em livro homônimo (1992). A
narrativa em questão se inicia com um período a anunciar um dos postulados do
patriarcalismo: “Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz ‘quero’? A
hora que o pai escolhe” (EER, p.23). E o pai escolheu casar sua filha, a princesa, no
momento em que desejou fazer aliança com outro reino:
Isso descobriu a Princesa na tarde em que o Rei mandou chamá-la e, sem
rodeios, lhe disse que tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do Norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe (EER, p.23).
A Princesa se vê então reduzida à condição de mulher/objeto, instrumento da
conquista masculina paterna. Diante da notícia dada pelo pai, a Princesa se refugia no
seu quarto, onde chora incessantemente. Pede então a seu corpo e sua mente que lhe
apontem uma solução. Esgotada de tanto chorar, adormece, momento em que corpo e
mente engendram-lhe a saída:
E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa
percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo! Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido.
Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão procurando a tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era sua resposta (EER p.24).
Mas se a barba no rosto da Princesa a impediria de casar, impedi-la-ia também
de continuar no palácio de seu pai que, tomado de cólera e vergonha, expulsa-a do
reino, do qual ela sai levando suas jóias e um vestido de veludo cor de sangue.
Ao chegar numa primeira aldeia, a jovem tenta arranjar emprego em uma casa
para fazer serviços de mulher, mas não é aceita porque, com aquela barba, parecia claro
* Em “Os óculos que uso para olhar a realidade: gênero como categoria de análise”, Daniela Auad
(2006) nos oferece uma satisfatória abordagem do surgimento histórico dessa categoria cultural.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
532
às pessoas que fosse homem. Numa segunda aldeia, a Princesa barbada oferece-se para
fazer serviços de homem, mas com aquele corpo feminino, “tinham certeza de que era
mulher” (EER, p.24). Após a tentativa infortunada de raspar a barba, que com isso
cresceu mais vigorosa, a princesa resolve vender suas jóias em troca de uma couraça,
um elmo e uma espada: “Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo
do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais
homem, nem mulher. Seria guerreiro” (EER, p.25).
A Princesa torna-se então valente donzela-guerreira, prestando serviços de
batalha a senhores de diversos castelos até chegar ao palácio de um jovem Rei e travar
um intenso convívio com ele, acompanhando-o nas diversas batalhas. Com o passar do
tempo, porém, o Rei se inquieta diante daquele amigo que nunca tirava o elmo, que
nunca se dava a conhecer. “E mais ainda inquietava-se, ao sentir crescer dentro de si um
sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele amigo do que a que
um homem sente por um homem” (EER, p.26).
Como o Rei não poderia amá-la com aquela barba ruiva, a Princesa novamente
em prantos pede socorro ao seu corpo e à sua mente. No dia seguinte, ao acordar, vê que
no lugar da ruiva barba haviam brotado em seu rosto rubras rosas como cachos.
Desesperada, ela se perguntava de que adiantava trocar a barba por flores que iam
perdendo o viço vermelho. Mas,
[...] ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro. Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente. Sem que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rósea pele aparecia. Até que não houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de mulher (EER, p.27).
Agora a Princesa poderia soltar os cabelos, trajar-se com seu vestido vermelho
e descer as escadarias que a levariam rumo ao seu amado Rei.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
533
A presença de uma personagem feminina que se vê, de repente, com o rosto
barbado remete-nos à lenda da santa barbada, elemento cultural pertencente ao folclore
da região de Saint-Savin, pesquisado por Hilário Franco Júnior. Em seu artigo “A Eva
Barbada de Saint-Savin”, o autor nos apresenta um rol de personalidades femininas que,
para fugir de algum infortúnio, androginizaram-se através da barba: Santa Gala, “jovem
viúva que ganhou barba ao recusar um novo casamento” (FRANCO JUNIOR, 1996,
p.101); Santa Wilgeforte, que para escapar ao casamento, obteve de Deus uma barba;
Santa Paula, que “fugindo às intenções amorosas de um homem, refugiara-se numa
capela onde, abraçada ao crucifixo, pedira a Cristo uma barba que afastasse seus
pretendentes” (FRANCO JUNIOR, 1996, p. 101), entre outras.
A androginização da personagem feminina do conto de Marina Colasanti se dá
através também de sua transformação em guerreira, numa espécie de atualização da
figura histórica de Joana D’Arc:
E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos Senhores dos castelos e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já não precisava apresentar-se, diante dos muros de cidades e castelos, já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome (EER, p.25).
Mas, ainda que androginizada, a Princesa acalentava em si o desejo de ser
mulher e amar o Rei; prova disso é a importância que ela dá a uma vestimenta tão
feminina quanto o seu vestido de veludo vermelho. E é através das flores, das rosas, que
a androginização se faz temporária e sua faceta feminina volta a florescer, feminino este
que, no final do conto, se vê em verdadeira comunhão com o masculino, na figura do rei
amado.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
534
A androginização através da barba e o posterior florescimento de rosas em
substituição a ela constituem acontecimentos que transgridem o real, alçando-se à
condição de fenômenos maravilhosos, uma vez que, tomando por base a condição
todoroviana para a instauração do fantástico e de seus arredores como o maravilhoso e
o estranho, tais acontecimentos são aceitos sem questionamento durante a narrativa,
não causando hesitação nem para a personagem nem para o leitor. Ainda que causem
espanto e medo à personagem, tais fenômenos podem ser entrevistos como
acontecimentos típicos dos contos de fadas que, como bem observa José Paulo Paes
em “As dimensões do fantástico”, são naturalmente aceitos pelo leitor:
No conto de fadas, o maravilhoso não se confunde com o fantástico porquanto pertence a um mundo imaginário que, por convencional, já não causa surpresa ao leitor, o qual lhe aceita naturalmente os prodígios, ao passo que o fantástico, por ocorrer no seio do próprio cotidiano, afeta-o e põe em dúvida o nosso mesmo conceito de realidade (PAES, 1985, p. 186).
Assim sendo, diante da relativa facilidade em classificar tais acontecimentos
como maravilhosos em Entre a espada e a rosa, importa investigar os sentidos que
compõem o contexto semântico da narrativa. Nessa perspectiva, tanto a
androginização da princesa através da barba quanto o florescimento de seu rosto
relacionam-se às identidades e relações de gênero (gender) simbolicamente expressas
no conto. Para melhor entendermos o simbolismo das imagens relacionadas a tais
acontecimentos, reportamo-nos ao aporte teórico da teoria antropológica do
imaginário, tal como formulada pelo antropólogo francês Gilbert Durand (2002).
Observando a existência de uma estreita relação entre os gestos dominantes
corporais do ser humano, os centros nervosos e as representações simbólicas, Durand
constata a existência de regimes de imagens e de estruturas antropológicas do
imaginário, concebido por ele como “o conjunto das imagens e relações de imagens que
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
535
constitui o capital pensado do homo sapiens” (2002, p.18). Apoiando-se numa
tripartição reflexológica das dominantes postural, digestiva e copulativa no/do ser
humano e relacionando essa tripartição a uma bipartição entre dois regimes de imagens,
o regime diurno e o regime noturno, Durand procura distinguir e classificar os
chamados feixes ou constelações em que imagens isomorfas vão convergindo em torno
de núcleos organizadores.
O regime diurno da imagem, intimamente relacionado à dominante postural e
marcado por esquemas ascensionais, por gestos do erguer-se, do levantar-se,
caracteriza-se pela antítese, pela diairesis* e pelo furor analítico. Na imaginação diurna,
vida e morte constituem elementos antitéticos, separados. À morte é preciso reagir
heroicamente, munindo-se de cetros e gládios, assim como frente a qualquer desafio
deve portar-se o indivíduo de maneira heróica e resoluta.
O regime noturno da imagem, caracterizado pelo desejo de eufemização do
aspecto brutal do devir humano, divide-se em dois grandes grupos de imagens,
conforme se relacionem à dominante digestiva (regime noturno místico) ou à dominante
copulativa (regime noturno sintético). O regime noturno místico caracteriza-se por uma
plena inversão de valores simbólicos, por processos de conversão e eufemismo. O gesto
primordial não é mais o de erguer-se, de se pôr de pé, mas sim o de descer lentamente a
substâncias quentes e profundas, por um doce mergulhar na intimidade das coisas, por
um retorno à intimidade materna. A antítese diurna cede lugar a uma espécie de negação
do negativo, a antífrase. Assim, negando o caráter negativo da morte e de todo e
qualquer obstáculo, o ser humano eufemiza seu aspecto nefasto em doce repouso, em
* Os termos diairesis e seus correlatos como diairético, furor diairético relacionam-se, segundo Gilbert Durand, a esquemas e símbolos típicos do regime diurno da imagem, que se ligam a métodos de distinção e purificação, a processos de separação, aos distingo classificadores e hierarquizantes (DURAND, 2002, p. 158).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
536
serenidade. A morte, outrora ameaçadora, torna-se até mesmo desejada e a figura do
suicida representa a contento essa outra relação do ser humano com sua finitude.
Já o regime noturno sintético caracteriza-se pela busca de harmonização entre o
desejo de eternidade e as imposições do devir e apresenta-se através de dois grupos de
arquétipos e símbolos: de um lado, encontram-se os arquétipos e símbolos do retorno,
do domínio cíclico do tempo; de outro, há os arquétipos e símbolos do progresso
temporal, que manifestam “a confiança no resultado final das peripécias dramáticas do
tempo” (DURAND, 2002, p.282). Nesse regime, nem contrária à vida, nem equivalente
a ela, a morte é representada como continuidade progressiva da vida. No seio da morte,
encarna-se uma promessa de renascimento.
Partindo da noção de esquema (schème), arquétipos e símbolos, Durand
verifica a existência de um trajeto antropológico do imaginário que se traduz na
“incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e
assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”
(DURAND, 2002, p.41). O autor considera ainda que, quando há um esforço de
racionalização, quando se utiliza o fio do discurso (sermo mythicus) capaz de resolver
os símbolos em palavras e os arquétipos em idéias, estamos na presença do mito,
entendido por ele como “um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas*,
sistema dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa”
(DURAND, 2002, p. 62-63).
De acordo com a referida teoria antropológica do imaginário, torna-se possível
analisar os acontecimentos maravilhosos de Entre a espada e a rosa e a relação de tais
acontecimentos com a representação literária das identidades e relações de gênero no
* Durand compreende o schème como elemento que estabelece a junção “entre os gestos inconscientes da sensório-motricidade, entre as dominantes reflexas e as representações” (DURAND, 1997, p.60).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
537
conto. Graças à barba, a identidade de gênero da princesa resvala-se do feminino para o
masculino, possibilitando a ela se esquivar do contrato matrimonial desejado pelo pai.
Tendo que esconder a barba vestindo o elmo e também a couraça, a princesa
transforma-se em guerreiro e essa transformação se sobrepõe a qualquer identidade de
gênero: “Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo do elmo,
ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais homem,
nem mulher. Seria guerreiro” (EER, p. 25).
Transformando-se em guerreiro, a princesa assume uma faceta
verdadeiramente épica diante dos ditames masculinos que lhe são impostos. As imagens
da couraça, do elmo, da espada e do cavalo simbolizam a atitude típica do regime
diurno da imagem, por parte da princesa que, diante dos desafios, não os nega; ao
contrário, enfrenta-os heroicamente.
E é lutando heroicamente que a princesa conhece um determinado príncipe por
quem se apaixona e, nesse momento, a androginização através da barba apresenta uma
valoração ambivalente: se num primeiro momento se lhe apresentava como uma solução
ao lhe defender da tentativa de contrato matrimonial idealizado pelo pai, por outro se
lhe torna um empecilho a partir do momento em que, pelo convívio, apaixona-se pelo
príncipe: “Nunca o Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva” (EER, p. 26). O
florescimento do rosto também se lhe apresenta problemático uma vez que o viço das
rosas não se fazia permanente com a passagem temporal:
E perguntava-se de que adiantava ter trocado a barba por flores, quando, olhando no escudo com atenção, pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro (EER, p. 27).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
538
No entanto, como cada rosa fora murchando e se despetalando uma após a
outra, a princesa resgata sua identidade feminina, traja seu vestido cor de sangue e
“arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam até o Rei, enquanto
um perfume de rosas se espalhava no castelo” (ERR, p. 27). Esse final da narrativa a
sugerir a concretização da relação amorosa entre princesa e Rei se faz mediante
símbolos relacionados ao regime noturno sintético da imagem. O despetalar-se do rosto,
o murchar das rosas indicam uma espécie de progressão temporal que é preciso efetivar
para que se pudesse atingir com confiança “o resultado final das peripécias dramáticas
do tempo” (DURAND, 2002, p.282). Agora, não mais se portando heroicamente contra
o masculino (regime diurno da imagem) nem mesmo se fundindo a ele (regime noturno
místico) mas apenas se ligando a ele (regime noturno sintético), o ser feminino garante
sua autonomia.
Por tematizar questões relacionadas à problemática dos gêneros (gender), o
conto Entre a espada e a rosa constitui uma tecnologia de gênero:
[...] o gênero, como representação e como auto-representação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana” (LAURETIS, 1987, p. 208).
No que se refere à representação literária das relações de gênero, há que se
considerar, no conto, uma padronização marcadamente pautada por padrões de
heteronormatividade, uma vez que incomoda ao Rei o sentimento que passa a nutrir
pelo companheiro de lutas e caçadas: “E mais ainda inquietava-se, ao sentir crescer
dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele
amigo do que a que um homem sente por um homem” (ERR, p. 26)
Assim sendo, se por um lado a obra é meritória por contemplar como
personagem central um ser feminino caracterizado pela audácia e valentia, por outro,
deve ser lida com disposição crítico-analítica, no que se refere a essa padronização
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
539
heteronormativa das relações de gênero. Nessa perspectiva, importa fomentar o debate
das razões históricas, culturais e sociais que pincelam como algo que incomoda o fato
de um homem sentir afeto por outro homem. Só através da reflexão e do debate, a
leitura de textos literários como o aqui analisado poderá promover a contento a função
humanizadora da literatura tal como a concebe Antonio Candido, expressando de modo
satisfatório a complexidade da condição humana.
REFERÊNCIAS: CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ______. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades; Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2004, p. 169-191. COLASANTI, Marina. Entre a espada e a rosa. 9.ed. Rio de Janeiro: Salamandra, 1992. DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arqueologia geral. São Paulo: Martins Fontes, 2002. FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Eva barbada de Saint-Savin: imagem e folclore no século XII. In.: ______. A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p.175-198. PAES, José Paulo. As dimensões do fantástico. In: ______. Gregos e baianos. São Paulo: Brasiliente, 1985. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 1992.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
540
O MÁGICO E SOBRENATURAL NA CONSTRUÇÃO DE UM ROMANCE
HISTÓRICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO: O FEITIÇO DA ILHA DO PAVÃO (1997), DE JOÃO UBALDO RIBEIRO
Stanis David Lacowicz* & Antonio Roberto Esteves**
RESUMO O mágico e o sobrenatural estão presentes em O feitiço da Ilha do Pavão (1997), de João Ubaldo Ribeiro, desde o título. Da mesma forma, o espaço onde ocorre a ação, a tal ilha, apesar de compreender uma espécie de micro-cosmo reflexo do Brasil Colonial, é apresentando como envolvido em uma atmosfera mágica que relativiza sua existência espaço-temporal. Esta característica sobrenatural é enfatizada já no primeiro capítulo do romance, a partir do qual é traçada uma descrição da ilha segundo uma perspectiva exterior, como um lugar sobre o qual se evita falar, mas que povoa os sonhos das pessoas no Recôncavo (baiano?), sejam aqueles que anseiam novas e mais profundas experiências em meio aos mistérios da ilha, ou aqueles que receiam as histórias de demônios, bruxas e canibais. Segundo o narrador, quando se navegasse à noite, a ilha poderia surgir repentinamente, e do alto de suas falésias um gigantesco pavão espectral abriria suas asas flamejantes, que quando se apagassem inundariam tudo na mais profunda escuridão. A narrativa em si, contudo, focaliza o período colonial brasileiro com os eventos na ilha que ativaram essa sua existência atemporal no que concerne a sua relação com o mundo exterior. A obra se apresenta como um exemplo de romance histórico brasileiro contemporâneo que recria situações paralelas às da história brasileira. A presente leitura focaliza aspectos que apontam no romance de João Ubaldo Ribeiro elementos que podem aproximar-se dos conceitos de realismo mágico e maravilhoso, e o resultado disso para a construção de sentidos do texto. PALAVRAS-CHAVE: O feitiço da ilha do Pavão (1997); João Ubaldo Ribeiro; romance histórico brasileiro contemporâneo; fantástico.
* Mestrando do programa de pós-graduação em Letras “Literatura e vida social” da UNESP-Câmpus de Assis. Bolsita FAPESP. ** Professor adjunto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.– Doutorado em Letras (Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana) pela Universidade de São Paulo (1995). Livre Docência em Literatura Comparada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
541
A natureza da ilha do pavão Ao abordar o romance O feitiço da ilha do Pavão (1997), de João Ubaldo
Ribeiro, optamos de início por apresentar tal ilha, cenário de toda a ação e a partir da
qual se desenvolve a trama. Sua situação geográfica seria o recôncavo baiano, enquanto
que sua situação temporal apontaria para o Brasil Colonial, de acordo com os eventos
que são apresentados no texto (batalhas entre indígenas e brancos, processos de
investigação inquisitorial), relações sociais em jogo (nobreza, fidalguia, clero,
escravidão) e menções ao fato de responderem às leis portuguesas e ao Papa. O espaço
da ação abarca as vilas; as terras do Capitão Cavalo; o Reino do Quilombo (que apesar
do nome, possui um governo totalitário que reproduz o discurso da metrópole e mantém
a escravidão como força motriz do sistema econômico); a furna da Degredada (tida
como uma feiticeira) e as aldeias indígenas.
Algumas características fazem da ilha uma espécie de lugar utópico, no qual se
destacam a liberdade de trânsito de negros e índios pelas vilas, a “abolição” informal da
escravidão que se dá a partir do Capitão Cavalo em suas terras e se expande pela ilha, e
a atmosfera de paraíso dos prazeres carnais, pontos que realçam certa oposição do local
para com o resto do Recôncavo (aliás, o modo pelo qual se refere ao todo da colônia que
viria ser o Brasil). Apesar disso, as imagens em geral construídas a respeito das
estruturas sociais em voga na ilha concebem-na como uma espécie de micro-cosmo
reflexo do Brasil Colonial, sobre o qual a ficção destina outros caminhos que não o que
se permite entrever pela história oficial.
Desse modo pode-se descrever a Ilha do Pavão, de acordo com os
acontecimentos nela narrados. Entretanto, essa não é a única imagem que se tem do
local e sequer a primeira exposta na obra. As primeiras páginas do romance nos
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
542
apresentam a ilha pela perspectiva exterior, a partir do continente, e à sua existência é
atribuída, de início, uma aura extraordinária, sobrenatural:
De noite, se os ventos invernais estão açulando as ondas, as estrelas se extinguem, a Lua deixa de existir e o horizonte se encafua para sempre no ventre do negrume, as escarpas da ilha do Pavão por vezes assomam à proa das embarcações como uma aparição formidável, da qual não se conhece navegante que não haja fugido, dela passando a abrigar a mais acovardada das memórias. Logo que deparadas, essas falésias abrem redemoinhos por seus entrefolhos, a que nada é capaz de resistir. Mas, antes, lá do alto, um pavão colossal acende sua cauda em cores indizíveis e acredita-se que é imperioso sair dali enquanto ele lampeja, por que, depois de ela se apagar e transformar-se num ponto negro tão espesso que nem mesmo em torno se vê coisa alguma, já não haverá como. (RIBEIRO, 1997, p. 09)
Adentra-se, assim, numa esfera de mistério, guiada por um contador de histórias
que se entretém a narrar causos e lendas. Além disso, na sequência, coloca-se a ideia de
tabu, pois, de fato, ninguém nunca fala sobre a ilha, aqueles que dela ouvem alguém
mencionar algo se calam tentando por desvanecer o que sabem: “o forasteiro que
perguntar por ela receberá como resposta um sorriso reservado às perguntas insensatas”
(RIBEIRO, 1997, p. 10). Mais do que espaço lendário, trata-se de um espaço reservado
a poucos elegidos, faceta realçada no imaginário da “gente do Recôncavo” como lugar
que frequenta seus sonhos e pesadelos. A fantástica ilha torna-se, com isso, alvo de
medo e temor para os que lá crêem encontrar feiticeiras, demônios e canibais, ou acaba
sendo objeto de desejo, ardendo no peito daqueles que “sentem que nela há talvez uma
existência que não viveram e ao mesmo tempo experimentam em suas almas –
paisagens adivinhadas, sonhos aos quais dar vida, sensações apenas entrevistas,
lembranças do que não se passou.” (RIBEIRO, 1997, p. 12).
Já no primeiro capítulo, o narrador se inculca da posição de porteiro e guia do
leitor para adentrar na obra e, do mesmo modo, na ilha. A ideia é permitir ao leitor se
adaptar a noções espaço-temporais mais amplas e não lineares e, deste modo, dá-se uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
543
significação à ilha que permeará toda a narrativa, como um “feitiço” que relativiza
concepções e subverte a obviedade com a qual se pode vir a entrever a realidade. Nesse
sentido, o capítulo passa da imagem exterior mítica à descrição geográfica e político-
social da ilha, falando de seus habitantes, dos simples aos ilustres, enfim, mencionando
que visitantes apressados observariam serem os habitantes das vilas na Ilha do Pavão
iguais a todas as outras gentes, ocupados com as mesmas tarefas cotidianas, excetuando-
se a estranheza que certamente causaria o costume geral de se banharem frequentemente
e a presença de negros vestindo-se e vivendo como os demais (lembrando do contexto
histórico escravocrata). Com isso, visão sobrenatural e visão realista se confrontam na
composição da imagem acerca da ilha do pavão, e desse dialogismo surge uma visão
mais rica, atendendo tanto à sua existência material quanto espiritual, cabendo ao leitor
jogar com esses dois caminhos.
Esse leitor, conduzido à misteriosa ilha, vê desafiadas suas próprias noções
temporais, confrontadas então com as de um espaço que tem “seu próprio tempo, que é
diverso dos outros tempos” (RIBEIRO, 1997, p. 12). Munido, então, de dados
históricos, das estruturações materiais e também da visão mítica, o leitor tem em mãos
dois lados fundamentais no enveredar-se pela subversão dos signos da história pela
produção artístico-literária, o passaporte para a viagem temporal que o romance
histórico possibilitará, com certeza tentando lançar uma visão crítica sobre a formação
da cultura brasileira.
Embora ninguém fale da ilha, todos sabem que ela existe, com seus lugares e sua
história, e seu tempo, diferente de todos os outros, sem que se saiba da razão disso nem
seja necessário explicá-lo. Essas colocações do narrador corroboram a atmosfera mágica
do local, seu caráter mítico, no sentido da Ilha do Pavão como um espírito, uma ideia
fixa, um caráter, que permeia o Recôncavo, que lhe define anseios e lhe constitui o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
544
imaginário cultural: com e naquele lugar se entretém desejos e medos de um povo. Daí
também se articula o tom utópico da ilha e o processo de relativização de conceitos
como verdade e mentira efetuados na construção narrativa do romance histórico
contemporâneo:
Não se pode negar que a verdade é distinta para cada um e talvez estejam certos os que sustentam que este mundo não passa de miragem e, portanto, pode ser isto ou aquilo, segundo quem olha ou pensa. Mas, se alguma coisa mais existe, também existe por necessidade da ilha do Pavão e a única maneira de desmentir que ela existe é demonstrar que nada existe (RIBEIRO, 1994, p. 12).
O grande feitiço
Ao longo do romance diversos acontecimentos tomam espaço na narrativa,
muitos dos quais focalizando diferentes personagens, ou seja, sem que haja
centralização em um único, manejando histórias paralelas e narrando pequenos eventos,
cujos núcleos, entretanto, vão se somando e se agregando a uma trama maior, que é
sugerida ao longo do texto, mas sobre a qual só se tem conhecimento perto do desfecho
do romance: o Grande Feitiço.
Dentre tais eventos, aparentemente nucleares, cabe citar a batalha de Borra-
Botas, oriunda do decreto oficial dos lideres da Vila de São João de expulsar os índios
da vida urbana devido a suas características, segundo eles, avessas à civilização e à
moralidade. Pode-se entrever nessa expulsão certo paralelo com o silenciamento que
durante muitos séculos setores da historiografia brasileira mantiveram com relação às
culturas indígenas na história brasileira. Apesar do desfecho carnavalizado e vitorioso
dos índios (haviam destilado uma poção laxante nos reservatórios de água dos soldados
da vila), esses, por recearem uma retaliação mais incisiva nos dias seguintes à batalha,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
545
voltaram para os “matos”. A importância desse evento, além de toda a forma como que
é narrada (apresentando que o acontecimento obteve duas versões históricas e que a da
classe hegemônica, apesar de deturpada, fora a que se registrou nos anais) reside na
questão de ser um dos momentos iniciais em que os líderes das vilas se empenham em
reinstaurar uma ordem política semelhante à do “mundo exterior”, segundo os
moralismos e estruturas sociais aristocráticas, recorrendo, então, ao poder religioso do
arcebispo do Recôncavo. Tais incidentes ameaçariam, portanto, o ideário de liberdade
que caracterizava aquele povo, e apontavam para um preocupante destino regado pela
tirania e intolerância.
Neste momento entra em cena o misterioso grupo formado por Dona Ana
Carocha, mais conhecida como Degredada, vista com temor pelos habitantes da ilha
como uma bruxa; Hans Flussufer, holandês que fugira de sua terra natal por ter sido
acusado de bruxaria; e o Capitão Cavalo, eminente personagem, de grande poder
político, e que alforriou os negros de suas terras e se esforçava por acabar com tais
atrocidades, incentivado pelo fato de sua mulher ter morrido de desgosto com tal
desconcerto do mundo. Munidos pelo mesmo ideal de proteger a ilha das injustiças
advindas do mundo exterior, o grupo passa a reunir-se para compartilhar
conhecimentos, discutindo questões filosóficas e modos de proteger a ilha do Pavão da
ascensão de uma estrutura social opressora:
Arregimentavam gente que talvez pudesse ajudá-los, estudavam com certeza matérias mais profundas, mais tendo a ver com os maiores mistérios do mundo, do Sol, da Lua e das estrelas. Talvez o Grande Feitiço fosse encontrar um jeito de garantir que, na ilha do Pavão, jamais viessem a acontecer aquelas histórias horrendas, era deixar que os habitantes da ilha vivessem na liberdade e na santa paz, sem que ninguém tiranizasse ninguém. Era porventura tirar a ilha do Pavão do mundo sem tirá-la do mar do Pavão, água onde mais peixe não pode haver, e das costas do Recôncavo, terra de onde o sol e a brisa nunca se vão por muito tempo. (RIBEIRO, 1997, p. 106)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
546
Nessas palavras do narrador surge a voz da personagem Crescência, “uma negra
moça, alta e bem feita, de dentes alvos e pele sedosa” (RIBEIRO, 1997, p. 20),
detentora de uma personalidade forte e cujos anseios no início da obra eram o de
aprender bruxarias na furna da degredada, na qual só se entrava sendo convidado.
Depois de conhecer Hans, no caminho para a furna, é integrada ao grupo e descobre o
que faziam não eram bruxarias nem feitiços, mas que conseguiam criar curas e resolver
problemas por meio do conhecimento, algo mais próximo das ciências naturais do que
de magia. A personagem aprende a ler e buscar conhecimento por si própria, passando a
ser peça fundamental naquele grupo, sendo a promessa do futuro, “o papel de herdeira,
guardiã e transmissora do que descobrissem” (RIBEIRO, 1997, p. 289), principalmente
no que dizia respeito ao misterioso orbe encontrado por Capitão Cavalo no quase
inacessível topo do maior monte da Ilha do Pavão, esfera que concretizaria o “Grande
Feitiço”.
O monte da Pedra Preta, no qual se encontrava a tal esfera, fazia parte das terras
do Capitão Cavalo. Certa vez, percorrendo os caminhos mais desconhecidos de sua
terra, ele sobe tal montanha e percebe que na planície que constituía o topo da montanha
havia uma espécie de despenhadeiro separando as bordas de uma porção mais central.
Com certo esforço para conseguir uma prancha, percorre algum tempo depois aquele
caminho de descobre “com susto uma esfera flutuando no ar, apesar de ser dificultoso
fixar a vista nela, pois desaparecia volta e meia, a qualquer movimento do rosto ou dos
olhos dele” (RIBEIRO, 1997, p. 287). O Capitão Cavalo ainda tenta tocar naquele
objeto, opaco e sólido ao mesmo tempo, sem ser suspendido por nada, mas sua mão não
encontrava superfície alguma sensível ao toque, sustentando então que aquilo poderia
levar a algum lugar, como um portal.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
547
A partir daí começam a serem inseridos no enredo certos caracteres
sobrenaturais, principalmente na ideia de surgimento ao longo da história de um
fenômeno inexplicável, e que passa a ser parte importante do desenvolvimento da trama.
Receoso por tentar atravessar a tal esfera sem ter companhia que o assistisse, Capitão
Cavalo decide voltar para casa para então contar ao seu grupo sobre a descoberta. A
natureza de tal dimensão era lhes totalmente desconhecida, por mais que filosofassem
sobre as possibilidades que tal “objeto” projetaria ou fossem consecutivamente analisá-
lo. Um experimento de Hans, contudo, pareceu indicar que se tratava de algo ligado à
noção de tempo, pois colocara o braço com os dedos abertos na esfera, abrindo-os lá
dentro, mas quando retirava o membro eles estavam fechados, expressando, além disso,
um comportamento estranho por alguns momentos após, abrindo-se e fechando como se
tivesse vontade própria. O diálogo com as literaturas voltadas para o fantástico parece
ser aqui observável, aos modos como Todorov caracterizou o gênero fantástico, a partir
da ambigüidade e duvida instaurada por certo evento, no que tange a sua explicação:
Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas por nós. (TODOROV, 2007, p. 30)
Aí jazeria o cerne do fantástico: na indecisão entre as explicações sobre um
acontecimento que aparentemente se dá como sobrenatural, mas ainda restando espaço
para que compreenda isso como fenômeno que apenas não pode ser explicado devido à
insuficiência de conhecimento, por se tratar de algo que naquele momento foge às
personagens. No romance, a dúvida sobre a origem de tal orbe ou sobre o que o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
548
constitui passa a ser irrelevante, tendo-se aceitado sua existência, acostumando-se com
sua presença e entrevendo nela possibilidades de manipulação temporal:
Passava-se outro tempo, do outro lado da esfera, não se passava tempo algum, passava-se qualquer tempo, passava-se um tempo diferente para quem estava fora dela, passava-se todo tipo de tempo jamais decorrido, existiam um ou vários outros universos do outro lado, mas, sim, não havia por que negar que talvez estivesse ali a toca do tempo, ou uma de suas muitas tocas, sabiam-se lá quantas no cosmo. (RIBEIRO, 1997, p. 289)
Depois de construído uma espécie de cubo em torno da esfera, constituindo o
que seria praticamente um templo, fica resolvido que o Capitão Cavalo entraria no
pretendido portal. Ansiosos pelo que poderia acontecer, o grupo assiste ao colega
adentrando na esfera, e nesse momento, tudo mergulha na escuridão e numa borda do
monte se materializa um vulto gigante, “O pêndulo do relógio estacou secamente e, em
redor da ilha, não havia mais nada [...] era como se o mar tivesse permanecido, como se
a ilha tivesse saído de seu espaço e agora existisse sozinha no mundo”. (RIBEIRO,
1997, p. 298). O vulto que havia surgido se ilumina em todas as cores, sendo percebido
como um “desmesurado pavão de cauda aberta, que ofuscava quem tenteasse fitá-la de
olhos inteiramente abertos” (RIBEIRO, 1997, p. 298), para então apagar-se
repentinamente.
Assim eles passam a testar a “toca do tempo”, entrar em grupos, analisar os
efeitos do “feitiço” para os habitantes da ilha, no caso, o esquecimento da imagem do
pavão, estando curiosamente os membros do grupo imunes a tal ação. Descobrem, com
isso, a mágica possibilidade de escolher futuros possíveis, de vislumbrá-los e decidir
quais seriam mais adequados aos seus propósitos, sendo a tarefa, entretanto, muito
difícil, pois enquanto o presente parava muitos futuros estariam sendo gestados,
deveriam escolhe-los, mas não podiam misturá-los. E dos novos fenômenos notados,
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
549
percebem que poderiam viajar para o passado, e alterá-lo, atestando a existência
também de muitos passados, superando concepções tradicionais sobre o tempo.
O mágico e o sobrenatural: contribuições aos propósitos do romance histórico Com essas questões inseridas no desfecho da narrativa, a discussão que se dá ao
nível do enredo passa a dialogar com os próprios anseios dessa forma romanesca que,
no seu manejar crítico dos signos da história, acaba por problematizar as relações entre
literatura, história e o modo pelo qual a memória se articula para compor essas
realidades discursivas. No processo de leitura é estabelecida uma ligação entre os
eventos da “toca do tempo” e o início da narrativa, no qual se apresenta a atmosfera
misteriosa da ilha, o seu estar e não estar ao mesmo tempo, seu caráter de lenda para os
habitantes do continente. O que o romance histórico contemporâneo teria por objetivo
seria algo próximo ao que o grupo do Capitão Cavalo conseguiu com o “feitiço”, ou
seja, jogar com as possibilidades do passado por meio da reconfiguração dos materiais
de linguagem e, assim, apontar novas direções. A ilha do Pavão, em seu caráter
espiritual surge, portanto, não no sentido do isolamento, mas na acepção da trajetória e
busca: de um passado que só podemos conhecer por meio de seus vestígios
textualizados (Hutcheon, 1991, p. 164), pela alma mítica do povo brasileiro, ou ainda,
as veredas pelas quais trilhar no porvir: ficção histórica como apostas contra o futuro
(MARTÍNEZ, 1996), não apenas a subversão das versões oficiais, mas apontando “para
adiante”, o que não “significa certamente ter a intenção de se criar uma nova sociedade
por meio do poder transformador da palavra escrita. Significa que se escreve apenas
para forjar o leito de um rio pelo qual navegará o futuro no lugar dos desejos humanos.”
(MARTÍNEZ, 2010, p. 11)
Ao trazer para sua composição essas imagens ligadas ao fantástico, ou mesmo ao
maravilhoso, Ubaldo Ribeiro ressalta de um modo implicitamente metaficcional o
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
550
projeto no qual seu romance acaba se inserindo, trazendo no relato uma multiplicidade
de perspectivas que se alternam constantemente, como que movidas por um feitiço, na
construção da imagem de um Brasil não apenas passado, mas passado, presente (e
futuro) ao mesmo tempo, desligado do tempo como a ilha do Pavão. Uma imagem do
Brasil como que entrevista por um caleidoscópio, surgida da comunhão de diversas
imagens fragmentadas, personagens ligados a diferentes culturas e em sua maioria ex-
cêntricos, fora do núcleo hegemônico, cristalizado e totalizador, e a ele se opondo como
as margens subversoras e multifacetadas.
Referências bibliográficas
ESTEVES, A. R. O novo romance histórico brasileiro. In: ANTUNES, L. Z. (org.). Estudos de literatura e linguística. Assis: Arte e Ciência, 1998. p. 125-158.
ESTEVES, A. R. O romance histórico brasileiro contemporâneo. (1975-2000). São Paulo: Ed. Unesp, 2010.
HUTCHEON, L. Poética do pós-Modernismo: história, teoria, ficção. Tradução de R. Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
MARTÍNEZ, T. E. Ficção e história: apostas contra o futuro. O Estado de S. Paulo, 05 out 1996, p. D10-D11.
RIBEIRO, J. U. O feitiço da ilha do pavão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
TODOROV, T. Introdução à Literatura fantástica. trad. Maria Clara Correa Castello. São Paulo. Perspectiva, 2007.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
551
ASPECTOS DO REALISMO MARAVILHOSO E DO SURREALISMO N O
ROMANCE CONCERTO BARROCO
Thiago Miguel Andreu∗
RESUMO
Muitos pontos em comum têm sido revelados pela crítica entre o realismo maravilhoso carpentieriano e as propostas vinculadas ao surrealismo, o que nos faz perceber a importância deste último ao desenvolvimento do referido ideário de realismo, que recairia sobre a literatura hispano-americana do século passado. Essa questão toma mais vigor, se a produção literária de Carpentier for vista como um paradigma para tal afirmação, como também, se o fato do escritor cubano ter pertencido aos primeiros grupos do surrealismo for trazido à baila. Diante desse panorama, o presente trabalho tem como objetivo analisar o realismo maravilhoso frente às outras modalidades do Fantástico, tendo como objeto comparativo, o surrealismo europeu. Os tópicos literários que aproximam (ou distanciam) as duas vertentes tomam como eixo de aplicação o romance Concerto barroco (1974). PALAVRAS-CHAVE: realismo maravilhoso; surrealismo;Concerto barroco. 1 - Delimitação do realismo maravilhoso
Consideremos, antes de qualquer coisa, dois campos espaciais, no processo de
produção do texto: o do plano real** e o do plano sobrenatural. É válido, para
compreendermos melhor o gênero, termos em mente o pressuposto de que existe a
realidade, já que, nesta direção, chegamos a um ponto de inferência que não isola a obra
de seu contexto. A ideia contida nessa perspectiva está ligada ao fato de o realismo
maravilhoso, como se sabe, já por sua nomenclatura, ser composto por um binômio: um
substantivo pretensiosamente concreto (realismo) que recebe caracterização de um
adjetivo abstrato (maravilhoso). Fato que nos obriga a averiguar duas questões: o
∗ Mestrando em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação da UNESP, campus de Araraquara.
** Seguiremos o preceito carpentieriano de “escala de proporciones” (CARPENTIER, 2003, p. 132) para o limite do conceito de real, ao passo que a transgressão dessa suposta escala atribuiremos ao eixo da sobrenaturalidade. O referido preceito corresponderia, segundo o autor, a certa ordenação ou conjunto de códigos e significados que dimensionam e regulam (parcialmente) a realidade de uma dada cultura.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
552
momento e o processo de conexão entre eles. Entendemos que o mundo textual, para
esse gênero, se constrói como um espaço de fluxo e de encontro desses dois aspectos.
Assim sendo, há uma espécie de homogeneização em sua estrutura, já que são oriundos
de fontes diferentes, mas articulados em uma mesma instância – o texto –, não havendo
o considerado enfrentamento entre o natural e o sobrenatural.
Para Carpentier (1984, p. 73), a neutralização entre esses dois pólos é obtida por
questões puramente pragmáticas. O autor afirma que tal fenômeno ocorre pelo fato de a
América ser considerada um conjunto complexo de caracteres que se relacionam ao
maravilhoso. Questões que marcam a História desse continente, como também a
exuberância do ambiente, em contato com a fé e o milagre constituem o potencial que
demarcaria seu Real Maravilhoso americano. Isto posto, chegamos a uma ancoragem
textual que funcionaria como uma abertura para podermos direcionar nosso trabalho a
uma vertente pragmática, considerando o plano Real como o discurso oficial da História
do Continente Americano, que se encontra, de maneira harmônica, com o discurso
mítico dessa mesma História, tomando feição “realista” e, ao mesmo tempo, não
descartando sua caracterização do “maravilhoso”, no discurso narrativo. De fato isso é
possível, pois como assinala Emir Rodríguez Monegal (1974, p. 25), em seu
Narradores de esta América II, Carpentier “continúa creando, página a página, su
América de fábula”.
Nos textos considerados pela crítica como expoentes da Literatura Fantástica
ocorre uma ruptura com a lógica “realística” (considerando-se o plano do real, dos fatos
críveis, desenvolvidos com naturalidade na narrativa), sendo essa marca uma condição
prioritária para o gênero e possível de ser notada a partir da posição do narrador e das
personagens a cerca de determinada situação narrada. Ocorre, neste caso, o
enfrentamento entre as instâncias natural e sobrenatural, acendendo dúvidas e
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
553
questionamentos, no decorrer da narrativa. Por outro lado, tem-se ainda, no leitor uma
espécie de sinalizador da ocorrência de uma possível ruptura; neste sentido, o mundo
extratextual passa a ser um referente ideal, para avaliação dos fenômenos que ocorrem
no texto. Esse modelo é acionado pelo indivíduo, no ato da leitura, como uma espécie
de crivo do que seria natural e do que não o seria na narrativa.
A definição de Todorov (1972, p. 34) sobre o Fantástico, em Introducción a la
literatura fantástica, nos apresenta um dado muito relevante, trazendo à tona a noção de
uma determinada “vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las
leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural”. Encontramos,
ainda, no que David Roas (2001, p. 13) diz a respeito do gênero, em “La Amenaza de lo
Fantástico”, uma formulação bastante pertinente ao direcionamento dado a nosso
estudo. Para o autor, o realismo maravilhoso toma feições definitivas, distinguindo-se
da Literatura Fantástica porque “no produce enfrentamiento entre lo real y lo
sobrenatural” e, por outro lado, afasta-se da Literatura Maravilhosa, por “ambientar las
historias en un mundo cotidiano hasta en sus más pequeños detalles”. Roas avança,
concluindo que o realismo maravilhoso seria “una forma híbrida entre lo fantástico y lo
maravilloso” (p. 13). Realmente, no realismo maravilhoso, temos a não-ruptura entre os
planos, já que eles estariam nivelados e pertenceriam a uma mesma problematização. A
narração, muitas vezes, objetiva, neste gênero, o verossímil, o entrelugar entre a
História e os Mitos, o “Outro Sentido”, por meio da “não-disjunção”* (CHIAMPI).
Chiampi (1980, p. 39) diz, também, que “o desejo de capturar as essências
mágicas da América conleva uma função desalienante diante da supremacia européia”,
o que reafirma a posição de alguns teóricos sobre o realismo maravilhoso se manifestar
* Irlemar Chiampi, ao longo de seu estudo O realismo maravilhoso: Forma e Ideologia no Romance Hispano-americano, utiliza-se de tais conceitos para organizar o estudo do referido gênero.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
554
como uma transgressão do foco europeu, como também, seu discurso narrativo ser uma
espécie de conciliação entre o já dito, com o que haveria de ser dito, produzindo um
universo mítico, de cunhagem ideológica.
2 - Concerto barroco: Confluências entre o realismo maravilhoso e o surrealismo
No que diz respeito à formatação do discurso do romance, destacamos três
pontos de convergência entre o realismo maravilhoso e o surrealismo:
I – Linguagem barroca/neobarroca x escrita automática
A linguagem estilística barroca é apontada pela crítica hispano-americana como
uma das manifestações do gênero realismo maravilhoso, marcando não somente a obra
do autor que o propõe, como também se estendendo à de outros escritores, como
Lezama Lima, Severo Sarduy e Reinaldo Arenas (a citar alguns). Carpentier já nos
antecipa em seu texto “Lo Barroco y lo Real Maravilloso” *, uma consideração acerca do
estilo como uma manifestação linguística tipicamente americana. Tendo isso como
preceito estilístico, o autor buscaria a palavra própria do Novo Continente, que não
fosse contaminada pela língua do colonizador e, por conseguinte, que não
desconsiderasse os elementos que compõem sua cultura, no processo de construção do
discurso.
O romance Concerto barroco apresenta, em toda sua extensão narrativa,
ocorrências do emprego dessa estética; selecionamos duas delas para abrirmos nossa
discussão: * Ver Razón de Ser, de Alejo Carpentier. Coletânea de ensaios, publicada em Cuba, pela primeira vez em 1984. O autor, neste momento, nos apresenta forte preocupação com o caráter barroco encontrado na formação da identidade hispano-americana.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
555
em amarelo-laranja e amarelo-tangerina, em amarelo-canário e em verde-rã, em vermelho-romã, vermelho de pisco-de-peito-ruivo, vermelho de caixas chinesas, trajes axadrezados em anil, e açafrão, laços e rosetas, listras de pirulito e de pau de barbearia, bicórnios e plumagens, furtacor de sedas metido em turbamulta de cetins e fitas, turquices e mamarrachos, com tal estridor de címbalos e matracas, de tambores, pandeiros e cornetas, que todas as pombas da cidade, num só vôo que por segundos enegreceu o firmamento, debandaram para margens distantes. (CARPENTIER, 1985, p. 36)
O Mestre — pois todas o chamavam assim — fazia as apresentações: Pierina del violino. .. Cattarina del cornetto... Bettina della viola... Bianca Maria organista... Margherita del arpa doppia... Giuseppina del chitarrone... Claudia del flautino... Lucieta della tromba... E como eram setenta, e o Mestre Antonio, por tudo que bebera, confundisse umas órfãs com outras, pouco a pouco seus nomes foram se reduzindo ao instrumento que tocavam. Como se as moças não tivessem personalidade, ganhando vida em som, apontava-as com o dedo: Clavicémbalo... Viola da brazzo... Clarino... Oboe... Basso di gamba... Flauto... Orga-no di legno... Regale... Violino alla francese... Tromba marina... Trombone... (CARPENTIER, 1985, p. 44)
A proliferação descritiva, recurso do estilo barroco/neobarroco, é detectável,
com certa tranquilidade nos dois fragmentos anteriores. O discurso toma o processo de
enumeração como artifício e avança de forma disparatada. No primeiro caso, com as
cores [amarelo-laranja e amarelo-tangerina, em amarelo-canário e em verde-rã, em
vermelho-romã, vermelho de pisco-de-peito-ruivo, vermelho...], ao passo que no
segundo, o trabalho se desenvolve, em um primeiro momento, com nomes próprios
femininos [Pierina del violino... Cattarina del cornetto... Bettina della Viola...],
seguindo com o emprego de instrumentos musicais, num jogo de paralelismo e
proliferação [Clavicémbalo... Viola da brazzo... Clarino... ].
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
556
O caráter que se deve salientar nesse processo estilístico, utilizado por
Carpentier, é o de apresentar certo grau de liberdade na construção da linguagem
textual, já que é por meio dela que se propõe o modo americano de se ver e caracterizar
tudo, na narrativa. Nesse ponto, Alejo Carpentier e Breton se encontram, ainda que,
mantenham focos distintos. Se, por um lado o autor cubano reclamava uma língua
própria para expressar a americanidade, por outro, o autor dos Manifestos, já havia
proposto um referencial linguístico para alcançar a expressão do sonho; no caso, a
escrita automática, como também o emprego do processo de monólogo interior
discursivo. Assinalamos essa característica de cunho libertário, pelo fato de que ambos
os autores se propunham a esfacelar o que se tinha como pré-determinado ou estagnado
nos modelos da literatura. Octavio Paz, em La búsqueda del comienzo (escritos sobre el
surrealismo) (1974, p.29), aclara, quanto a esse aspecto que “el surrealismo no pretende
otra cosa: es un poner en radical entredicho a lo que hasta ahora ha sido considerado
inmutable por nuestra sociedad, tanto como una desesperada tentativa por encontrar la
vía de salida”. Ou, nas palavras do próprio Breton (1985, p. 155), “[...] de qualquer
modo será motivo de orgulho para nós termos contribuído para estabelecer a inanidade
escandalosa do que [...] era necessário o pensamento sucumbir afinal sob o pensável”.
Observe, esquematicamente o que ocorre entre as duas vertentes:
VERTENTE LITERÁRIA LINGUAGEM OBJETO DE EXPRESSÃO
Surrealismo � Escritura Automática � Sonho
Realismo Maravilhoso � Barroquismo � Americanidade
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
557
Nesse prisma, o estudioso Cristo Rafael Sánchez (2007, p. 151), afirma, em seu
livro Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana : Cartografías literarias
de la segunda mitad del siglo XX, que para o autor de El reino de este mundo, “lo
barroco es tanto una postura ideológica – un espíritu a la manera dorsiana – como un
horizonte de la escritura – un estilo”. Ainda, nessa perspectiva, Sánchez nos esclarece a
respeito da “totalidad” do “entramado” estético típico da linguagem barroquizante,
podendo referir-se “no sólo a realidades históricas”, mas apontando também a
“culturas contrastadas”, que compõem a América.
II – Colagem Textual
Ao abrirmos nossa discussão acerca desse aspecto do gênero realismo
maravilhoso, consideremos uma questão levantada por Chiampi, quanto aos recursos de
“desmascaramento do narrador” e mecanismo narrativo “metatextual”:
O fenômeno do “desmascaramento do narrador”, abrindo um processo análogo à produção do efeito de encantamento no leitor: o questionamento do ato produtor da ficção involucra a revisão da convenção romanesca do real. A superação das técnicas de ocultamento do narrador se caracteriza pela auto-referencialidade dos mecanismos da enunciação e pela explicitação do “metatexto”, como processos que asseguram uma nova concepção do real, através do deslocamento do interesse do leitor da história para o sujeito da enunciação. (CHIAMPI, 1980, p. 72)
Realmente, se examinarmos o romance Concerto barroco, notamos que essa
técnica é explorada pelo escritor no discurso narrativo. Destacamos um exemplo desse
procedimento, para avançarmos nosso estudo:
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
558
Aí, gesticulando como se fosse matar a serpe do quadro com uma enorme faca de trinchar, gritou:
— La culebra se murió, Ca-la-ba-són, Son-són. Ca-la-ba-són, Son-són. "Cabala-sum-sum-sum", fez coro com o estribilho Antonio Vivaldi, dando-lhe, por costume eclesiástico, uma inesperada inflexão de latim salmodiado. "Cabala-sum-sum-sum", acompanhou Domenico Scarlatti. "Cabala-sum-sum-sum", acompanhou Georg Friedrich Haendel. "Cabala-sum-sum-sum", repetiam as setenta vozes femininas do Ospedale, entre risos e palmas. (CARPENTIER, 1985, p. 48)
Quanto ao processo estilístico acima descrito, ocorre a colagem no momento em
que a narrativa tem uma pausa para a inserção de um outro tipo textual, no caso, uma
cantiga, oriunda do folclore religioso de mataculebra . Isso feito, o narrador retoma a
narração, ainda intercalada com fragmentos do objeto colado, jogando com a variação
[calabasón-són-són – cabala-sum-sum-sum]. Ao longo do Concerto, pode-se perceber
que esse recurso é bastante explorado por Carpentier, o que nos revela mais uma
consonância com os traços que marcam o surrealismo, já que as obras surrealistas já
apresentavam a interposição de textos ou figuras por meio da construção em colagem.
Destaquemos, ainda que tanto Breton quanto o autor cubano buscavam, através desse e
outros procedimentos, uma irrupção com o conceito de real convencional, como exposto
por Chiampi (1980, p. 72), (no caso, restringindo-se a Alejo), o “metatexto” seria uma
forma de “assegurar a nova concepção do real”.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
559
III – Em busca do tempo mítico
O romance se inicia com a seguinte proposta [... iniciai o concerto... Salmo 81]
(1985, p. 7) e apresenta no último capítulo [E soará a trombeta... Coríntios I, 52] (p. 75).
Embora, aqui, fique explícito o diálogo com o texto bíblico, não entraremos no mérito
apocalíptico que essas duas passagens de teor religioso sugerem, e sim, no fato de
implicarem uma concepção de tempo que, na narrativa, assume dimensão de
alongamento cronológico.
É possível notar que o narrador, na organização da diegese, se anuncia como um
deus ou como um regente de tal concerto, construindo na narrativa, uma temporalidade
espaçada. Essa afirmação torna-se válida tanto pelas frases de entrada e de
encerramento do romance supracitadas, como também se considerarmos o fato de a
personagem Amo sair do continente americano rumo à Europa no início do século
XVIII e, ao fim, encontrar-se em meados do século XX. Se, de certa forma, Carpentier
utiliza-se de um procedimento estilístico que rompe com a estrutura lógica, em termos
de tempo e espaço, os surrealistas já propunham essa abertura temporal, que perpassasse
a noção mítica nesse direcionamento. Octavio Paz (1974, p. 55) assinala, quanto a esse
aspecto, que o surrealismo apresentava uma “busqueda no hacia el futuro, ni el pasado,
sino hacia ese centro de convergencia que es, simultáneamente, el orígen y el fin de los
tiempos: el día antes del comienzo y después del fin.”.
Em contrapartida, há de se salientar que, se Alejo Carpentier adere a essa
concepção mítico-temporal que já constava nos postulados de Breton, o faz em nome de
seu intento americanista e estilístico, uma vez que esse mecanismo implicaria uma
concepção da narrativa como um constructo musical, que pelo título já demonstra tal
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
560
interesse. Sendo assim, Carpentier revigora o teor literário de seu romance, quando dá a
seu trabalho, na América, um sentido bem outro, embora o diálogo com os surrealistas
seja inegável, como vimos no Concerto. Fato que na figura do Amo tem sua metáfora,
já que a personagem sai do continente americano e, não por acaso, na Europa se vê,
frente a frente, com o imperador Asteca, em con(s)certo.
Referências BRETON, André. Manifestos do Surrealismo. São Paulo: Brasiliense, 1985.
CARPENTIER, Alejo. Concerto Barroco. São Paulo: Brasiliense, 1985. __________________. Los pasos recobrados: ensayos de teoría y crítica literaria. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2003. __________________. Razón de Ser. La Habana: Letras Cubanas, 1984. __________________. Tientos y Diferencias. Buenos Aires: Calicanto, 1967. . CHIAMPI, Irlemar. Barroco e Modernidade. São Paulo: Perspectiva, 1998. . ________________. O realismo maravilhoso: Forma e Ideologia no Romance Hispano-Americano. São Paulo: Perspectivas, 1980. MONEGAL, Emir Rodríguez. Borges: Uma Poética da Leitura. São Paulo: Perspectiva, 1980. ________________________. Narradores de esta América II. Buenos Aires: Alfa, 1974. PAZ, Octavio. La búsqueda del comienzo (escritos sobre el surrealismo). Madrid: Fundamentos, 1974. ROAS, David (Org.). Teorias de lo Fantástico. Madrid: Arco/Libros, 2001. SÁNCHEZ, Cristo Rafael Figueroa. Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana: Cartografías literarias de la segunda mitad del siglo XX. Medellín: Universidad de Antioquia, 2007. TODOROV, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo, 1972.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
561
FANTASIA, OBJETIVIDADE E INTERSUBJETIVIDADE: APORIA S DA TEORIA FILOSÓFICA DA IMAGINAÇÃO ATÉ DESCARTES
Tristan Guillermo Torriani∗
RESUMO
O conceito de fantasia teve uma história de muitos altos e baixos, sendo em certos períodos considerado central, mas sendo em outros marginalizado pelos filósofos. Nesta comunicação procuro identificar as razões pelas quais houve esse tratamento do tema e apontar como a sua relevância pode ser mantida no contexto de uma racionalidade intersubjetiva e cientificamente controlada. Com o paradigma intersubjetivo pode-se recuperar o sentido da fantasia enquanto modo de comunicar indiretamente e de propor novos projtos de vida sem que nos tornemos necessariamente vítimas de utopias insensatas. Introdução
A importância da fantasia tem sido amplamente reconhecida não só na literatura
e nas artes, mas também nas ciências aplicadas, embora talvez sob o título mais comum
de imaginação e criatividade. Quanto às artes e literatura, basta lembrar figuras como
Leonardo da Vinci e Jules Verne, entre tantos outros possíveis, para ver que esta
conexão das ciências com a fantasia pode ser frutífera para os dois lados. Em livros-
texto das disciplinas de introdução à engenharia, por exemplo, reconhece-se que o
jovem engenheiro deve aprender a desenvolver sua criatividade para conceber melhores
projetos. No entanto, no afã de encontrar o conhecimento indubitável, a filosofia e
ciência modernas, sobretudo na tradição epistemológica inaugurada por Descartes e
consumada por Kant,** submeteram a fantasia e a imaginação ao crivo de uma razão
∗ Doutor em Filosofia pela UNICAMP, Professor Doutor na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da UNICAMP, campus de Limeira, na área de Filosofia.
** Para uma crítica perspicaz da influência distorcedora desta tradição epistemológica na filosofia contemporânea, cf. (Searle 1999).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
562
nem sempre muito tolerante para com seus aspectos subjetivos. Uma reação contra o
empobrecimento causado por essa desqualificação da imaginação e da fantasia é
compreensível mas corre contudo o risco cair no romantismo ou mesmo no
irracionalismo. No final das contas, a razão prevalece pelo simples motivo que qualquer
tentativa argumentada de reverter a subordinação da imaginação e fantasia à razão terá
inevitavelmente que recorrer à própria razão para se constituir e validar. O abandono
rigoroso e consistente da razão, na verdade, é muito mais difícil do que imaginamos e
não nos parece uma opção realmente viável numa sociedade tecnológica. O podemos e
devemos fazer então?
O (conceito de) CONCEITO*
A filosofia da mente se ocupa de conceitos, não de narrativas, e por isso não me
é possível tratar da fantasia em um contexto narrativo em que se descrevem estados de
coisas (proposições) através do tempo. Tampouco me seria possível aprofundar uma
discussão sobre o processo criativo do narrador, pois isso requereria dados empíricos a
serem colhidos por historiadores e psicólogos. E, ao falarmos de conceitos, tampouco
se trata de aplicar um conceito para interpretar fenômenos como faria um teórico
especulativo, mas se trata de refletir sobre o conceito de FANTASIA enquanto prática
linguística, social e histórica.
A posição do filósofo da mente pode ser ilustrada por meio de uma analogia.
Podemos comparar o filósofo com o zagueiro, o cientista teórico com o meiocampista e
o experimentador com o atacante. O filósofo se ocupa da reflexão sobre conceitos
fundamentais, enquanto o cientista elabora teorias e hipóteses para serem testadas por
* Seguirei aqui a convenção de escrever o nome de um conceito em maiúsculas pequenas. Isto visa a permitir discernir entre a referência ao objeto e a referência ao conceito.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
563
experimentadores. Deste modo, interessa-nos esclarecer o que seria afinal o conceito de
FANTASIA.*
No entanto, antes de falar do conceito de FANTASIA, seria logicamente
necessário esclarecer primeiramente o que seria um conceito.** Mesmo entre filósofos,
é muito comum o uso acrítico desse termo, como se seu sentido pudesse ser pressuposto
como sendo consensual. Infelizmente, esse não é o caso, e a falta de transparência nesse
ponto acaba gerando perplexidades quando se debatem problemas relacionados à
fundamentação de afirmações predicativas que empregam tais conceitos. Isso, por sua
vez, leva muitos a um ceticismo precipitado e, o que é pior, ao descrédito da filosofia
como sendo um suposto campo de aporias irresolvíveis.
Num sentido mais abstrato, um conceito desempenha uma função lógica na
fundamentação de uma afirmação predicativa que emitimos para um interlocutor real ou
potencial. Assim, afirmar que Jules Verne escreveu um romance fantástico requer que
tenhamos clareza sobre os conceitos de ROMANCE e de FANTÁSTICO. Se, no
contexto de um diálogo ou debate, o interlocutor questionar essa caracterização por nós
pressuposta, teremos que recorrer aos conceitos de ROMANCE e de FANTÁSTICO
para fundamentar nossa afirmação. Assim, um conceito pode ser entendido como um
fundamento no falante, mas esse fundamento não é uma entidade abstrata como uma
idéia platônica ou uma essência aristotélica, mas é mais como uma atitude ou
disposição de uma pessoa.
* Cumpre esclarecer que não estarei discutindo aqui a análise do fantástico proposta por Todorov (1970), embora pareça-me importante ressaltar que apoio tentativas como a dele de explicitar metodicamente conceitos e distinções. É preciso entender contudo que, devido aos componentes subjetivos de nossas capacidades cognitivas categoriais (ou concepções) estéticas, nunca será possível tornar essas distinções plenamente intersubjetivas, de modo que sempre haverá um resto de confusão gerado justamente por essa impossibilidade de intersubjetivação (cf. Ros 2004 e Torriani 2010).
** Também é necessário ver a história do termo e sua associada práxis discernidora, o que faremos a seguir.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
564
Na história da filosofia, desde Platão com sua teoria das idéias transcendentes,
passando por Descartes, e Locke em particular com suas idéias entendidas enquanto
imagens ou representações mentais, até hoje, com teorias psicolinguísticas após
Wittgenstein, tem havido dificuldade em se chegar a um acordo sobre o problema do
(conceito de) CONCEITO. Um dos motivos principais disso é a expectativa que se tem
ao abordar os problemas filosóficos. Para Platão e os filósofos gregos em geral, era de
se esperar que um conceito seria atemporal e válido universalmente e, como reflexo
desses requisitos, temos a teoria platônica das idéias. O desejo de saber absoluto, direto
e metafísico, perdura até hoje e faz com que se considerem as teorias recentes do
conceito como capacidade cognitiva categorial (doravante CCC)* algo por vezes
decepcionante. No entanto, esse herdeiros e defensores da tradição platônica clássica,
entre os quais podemos incluir Kant, não conseguem sair do pântano de aporias que
acometem suas posições e terminam por recorrer ao dogmatismo e induzir outros ao
ceticismo.
Como não temos nem espaço nem tempo para discutir essa questão, limitar-me-
ei a enfatizar, com a psicologia cognitiva contemporânea, que é a capacidade cognitiva
que temos para discernir e determinar a categoria à qual certos objetos dados pertencem
que constitui um conceito (ou fundamento) para nossas afirmações predicativas. É com
base nessas CCCs presentes em nossos discernimentos individuais que fundamentamos
nosso discurso sobre a fantasia ou outro tema qualquer. Como nossas CCCs divergem,
podemos nos desentender, levando à descoordenação conceitual que se constata nos
problemas ditos filosóficos. Estes não podem ser resolvidos pelo mero recurso à
* Cf. (Margolis e Laurence 2011). A teoria de conceitos como capacidades cognitivas foi defendida por Dummett entre outros e desenvolvida por Ros (1989-1990).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
565
empiria, pois a experiência que vá além de uma mera sensação é ela mesma interpretada
por conceitos. Não há, como sonhavam os positivistas, fatos puros.
Assim, a história (do conceito) da FANTASIA é o relato da transformação de
uma CCC através do tempo, de modo que vários pensadores, seguindo suas intuições
sempre subjetivas, procuraram defender ou questionar seu valor cognitivo, ético e
estético. A partir de René Descartes, a razão e a objetividade são contrapostas à fantasia
como antípodas. Com a condição pós-moderna possibilitada por figuras como
Nietzsche, os pragmatistas americanos e o Wittgenstein tardio, a fantasia se vê ainda
relegada à esfera subjetiva, mas que pode, quando trazida ao campo intersubjetivo,
permitir a sugestão de novas possibilidades para a ciência, tecnologia e a organização
social. Como a distinção entre fato e ficção nunca deixa de nos maravilhar na sua
complexidade, seria temerário e infeliz banirmos para sempre a fantasia para os recantos
mais obscuros da subjetividade.
Breve história do conceito de FANTASIA*
O primeiro uso conhecido do termo ‘fantasia’ se encontra na República (Livro
II, 382e 8–11) de Platão, onde se argumenta que Deus não nos enganaria com
aparências. No contexto do diálogo (381c e seg.), Platão está discutindo a alma e Deus
como sendo entidades que, tendo sido bem formados e estando em boa condição, serão
menos sujeitos a alterações ou a se apresentar em formas múltiplas. Se Deus passasse
por alguma transformação, teria que ser para se tornar mais belo ou excelente. A partir
disso, Sócrates conclui que os poetas não deveriam divulgar falsidades sobre Proteu,
Thetis ou Hera, e as mães, sob influência desses poetas, não deveriam aterrorizar as
crianças com fábulas assustadoras, pois assim não só falarão mal dos deuses mas
também acovardarão as crianças. Sócrates então levanta a questão se, embora os deuses
* Nesta parte mais histórica apóio-me em Camassa 1972, Pagnoni-Sturlese 1972 e Trede 1972.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
566
não sejam capazes de se transformar, eles poderiam talvez praticar algum tipo de magia
para nos enganar. No entanto, ele afasta essa possibilidade lembrando que uma mentira
assumida seria um ato repugnante tanto para os deuses quanto para os homens, pois
ninguém pode voluntariamente querer uma falsidade na parte de si que é mais
importante – a alma, por si mesma, deve repudiar a falsidade e a ignorância como uma
cópia da afecção anímica. Após rejeitar a falsidade essencial, Sócrates passa a
considerar a falsidade discursiva. Talvez, cogita ele, poder-se-ia alegar que ela seria útil
a Deus contra inimigos, para evitar que amigos ensandecidos fizessem algum mal (este
argumento será retomado por B. Constant e Kant), ou para encobrir nossa ignorância do
passado para torná-lo edificante. No entanto, não fica claro como a falsidade discursiva
poderia servir aos deuses. Logo, Sócrates conclui que Deus é de todo simples e veraz,
tanto no agir quanto no falar, não se transforma, nem nos tenta enganar por meio de
visões fantásticas, palavras ou signos falsos, seja na vigília ou no sonho. Em suma,
podemos notar que o primeiro uso registrado do termo ‘fantasia’ aparece justamente em
meio à crítica platônica dos poetas mitógrafos.
Para Aristóteles (De anima, III, 3), a fantasia possuía um papel cognitivo
importante, pois como mediadora entre os sentidos e a razão dava conta da origem do
erro. A fantasia captaria não somente propriedades (idia) dos objetos, mas seria também
um tipo de juízo, daí havendo a possibilidade de erro. Sua importância residiria em (a)
sua intermediação entre percepção e pensamento e (b) sua capacidade de operar com
representações desvinculadas da percepção de um objeto imediatamente presente.
Com Epicuro e os estoicos, a fantasia se torna uma representação entendida
como impressão na alma necessária para o agir. Como ela surge por meio do contato
entre um objeto e os órgãos sensoriais, tem o mesmo caráter de uma percepção e por
isso pode ser considerada verdadeira.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
567
É com Filóstrato que surge a oposição entre imitação (mímese) e fantasia, de
modo que a segunda acrescentaria algo inexistente na primeira. Plotino destaca a
relação da fantasia enquanto capacidade representacional com a memória. Agostinho
toma o conceito de fantasia como representação que reproduz uma sensação passada em
modo consciente. Para Scoto Eriugena a fantasia faria parte da teofania, sendo por isso
boa, enquanto que os phantasmata seriam ilusórias. Boécio situa a imaginatio entre os
sentidos e a razão, atribuindo-lhe também uma função judicativa.
Avicena refina a análise aristotélica da fantasia e a define como um senso
comum que compõe os dados sensoriais em formas cognoscíveis. A imaginatio seria
uma outra faculdade, com função passiva, ou seja, de mera retenção das formas para seu
posterior processamento. Ainda segundo ele, como a alma teria a capacidade de
influenciar a matéria pela emissão de formas espirituais, a fantasia se torna o
fundamento da magia natural.
Com Al-Ghazali, Al-Farabi e Maimonides, a fantasia se torna órgão do profético
por meio de símbolos. Os filósofos islâmicos pressupunham um cosmos aristotélico e
entendiam seu funcionamento como sendo causado pela atividade formadora de
inteligências e de almas celestes com as quais a alma humana teria afinidade. Por isso,
as formas espirituais que regeriam o universo visível seriam captáveis pela nossa alma
por meio da fantasia em imagens simbólicas e metafóricas manifestas no sonho. Deste
modo, os segredos da natureza, inacessíveis seja aos sentidos externos, seja à razão,
seriam apreendidos pela fantasia em modo simbólico. Estes símbolos da fantasia seriam
ademais capazes de transmitir verdades profundas impossíveis de se comunicar ao
profano por meio do discurso literal. O verdadeiro profeta seria aquele que dispõe de
uma fantasia maior e que por meio de sua sabedoria naturalmente obtida consegue
também educar a massa iletrada. A fantasia seria assim um instrumento de governo do
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
568
povo e o princípio da política. Alberto Magno difundiu esta concepção que também
influenciou Dante Alighieri na sua Divina Commedia.
Na quarta parte de seu Discurso sobre o Método (Descartes 1984, p. 97),
Descartes critica aqueles que, seguindo o princípio aristotélico de que nada haveria no
entendimento que não tivesse passado antes pelos sentidos externos, tentariam abordar
as idéias de alma e de Deus. O entendimento, insiste ele, é indispensável para garantir a
certeza demonstrativa. A existência da alma e de Deus precisa ser provada pela razão.
Não bastam a fé ou a imaginação. Com esta crítica, Descartes sela o destino da fantasia
na esfera científica até hoje, tendo seu juízo negativo reforçado pelos pósteros como
Kant.*
Mais tarde, na sua sexta meditação, Descartes opõe a imaginação à razão e ao
bom senso, o que instaura uma crise ainda não resolvida. Ele entende a imaginação
como a capacidade de intuir figurativamente percepções intelectuais puras (como
figuras geométricas). Descartes tenta traçar uma distinção entre imaginação e intelecção
pura, na qual a alma, ao imaginar, faria um esforço adicional, dispensável ao pensar,
mas que supostamente indicaria a existência do objeto por transcender a imanência
intelectual do puro pensar. Ou seja, enquanto o puro pensar poderia se ocupar de
abstrações inexistentes, a imaginação já daria um passo em direção à construção de
objetos reais. A imaginatio seria então uma aplicação da cognição ao objeto a ele
imediatamente presente, o que, segundo Descartes (mas não para nós), lhe garantiria a
realidade ausente na pura intelecção. Isto por assim dizer capacita onticamente a
* É preciso contudo frisar que seria um erro grave afirmar que a posição de Kant com relação à imaginação e à fantasia se reduziria simplesmente a algum tipo de rejeição preconceituosa. Ao contrário, Kant traça detalhadas distinções entre as várias funções da imaginação (cf. Gibbons 1994 e Makkreel 1990). A questão é saber se essas distinções seriam intersubjetivamente controláveis em termos da psicologia experimental e não justificada em termos transcendentais (ou seja, como pressuposto necessário para possibilitar a cognição previamente concebida em modo inquestionável).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
569
imaginação, mas ela assim mesmo perde definitivamente sua potência reveladora,
característica do pensamento islâmico medieval e renascentista, dando lugar para a
razão científica.
Considerações finais
A FANTASIA parece hoje ainda sofrer de sua crítica cartesiana, que será mais
tarde reforçada por outros filósofos como Kant. Ao falarmos na nossa linguagem
cotidiana que “eu imagino um sorvete”, entende-se que consigo representar à minha
consciência fenomenal uma imagem de sorvete. No entanto, se digo que “eu fantasio
um sorvete”, entendemos isso como envolvendo não somente a construção
representacional, mas também a inclusão do desejo, da apetição.
Seguindo a filosofia analítica da linguagem cotidiana (G. E. Moore,
Wittgenstein, Ryle e Austin), procuramos estabelecer o que é (o conceito de)
FANTASIA observando como normalmente falamos. Nesse sentido, o filósofo deve
sim ser empírico como um antropólogo cultural ou um sociolinguista. No entanto, seu
propósito é reflexivo e explicativo em um sentido normativo e gramatical, não
explicativo no sentido de estabelecer relações causais e empíricas entre (tipos de)
eventos.* Ou seja, enquanto o linguista irá investigar as causas que nos levaram a
distinguir entre IMAGINAÇÃO e FANTASIA de um certo modo, o filósofo irá
examinar a viabilidade intersubjetiva (as razões justificadoras) desses conceitos,
distinções ou capacidades cognitivas, recomendando-as ou não.
Após constatarmos que a capacidade categorial cognitiva (CCC) associada ao
termo 'fantasia', ou seja, (o conceito de) FANTASIA, é empiricamente usado por nós
* Ao contrário do que queria Kant, a reflexão conceitual precisa sim ser empírica, e não pode ser pura a priori, desvinculada da pragmática da linguagem natural. Contudo, em um sentido diferente de Kant, a reflexão gramatical como a vemos na filosofia analítica da linguagem cotidiana é sim a priori no sentido de ser prévia à aplicação conceitual, mas não é anterior à experiência. Esta última é inescapável, pois não podemos refletir sobre nossos conceitos sem observar nossa prática classificatória e discernidora na linguagem natural e na cultura em que vivemos.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
570
para vincular capacidade representacional subjetiva (imaginação) com o desejo, cabe ao
filósofo da linguagem cotidiana se perguntar se isso é possível e recomendável em
termos de garantir um discernimento intersubjetivamente operacionalizável. Isso nos
obriga a contemplar a fantasia e a imaginação a partir da perspectiva de um observador,
como na psicologia experimental. 'Conceito', 'fundamento', 'distinção', 'capacidade
cognitiva categorial' e 'discernimento' são termos intimamente relacionados, sem os
quais confundiríamos (o objeto) fantasia e (o conceito de) FANTASIA, ou FANTASIA
e IMAGINAÇÃO.
Embora se possa relegar a fantasia à esfera estritamente subjetiva, é possível
tentarmos considerá-la como uma interação em que se está tentando expressar intenções
em modo indireto ou sugestivo por meio de analogias. Tais analogias poderiam ter
utilidade para facilitar a comunicação interdisciplinar, quando especialistas de
engenharia encontram maior facilidade com metáforas mecânicas, por exemplo, ou
nutricionistas com analogias entre o pensamento e a digestão já presentes em Platão.
A suposta falta de objetividade e racionalidade não significa que a fantasia não
possa ser útil para as ciências. Ao contrário, pode ser uma fonte de novas abordagens e
inspirações. Deste modo, com o paradigma intersubjetivo podemos procurar recobrar o
sentido da fantasia enquanto modo de sugerir ou comunicar indiretamente novas
possibilidades, e de construir projetos sociais consensuais para um futuro melhor para a
humanidade. Sacrificar o potencial visionário da fantasia por sua falta de objetividade e
racionalidade seria certamente um erro lamentável.
Bibliografia
CAMASSA, G.: Phantasia (I). In: RITTER, J. (Ed.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Darmstadt 1972, v. 7, p. 516-523. DESCARTES, R. Discours de la Méthode. É. Gilson (ed.). Paris: Vrin, 1984. GIBBONS, Sarah L. Kant's Theory of Imagination: Bridging Gaps in Judgment and Experience. Oxford: Claredon Press, 1994.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
571
MAKKREEL, R. A. Imagination and Interpretation in Kant: The Hermeneutical Import of the Critique of Judgment. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1990. MARGOLIS, Eric; LAURENCE, Stephen. Concepts. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/concepts/>. PAGNONI-STURLESE, M. R.: Phantasia (III). In: RITTER, J. (Ed.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Darmstadt 1972, v. 7, p. 526-535. ROS, A. Begründung und Begriff. Wandlungen des Verständnisses begrifflicher Argumentationen. 3 vols., Hamburg: Felix Meiner, 1989-1990. ROS, A. Materie und Geist. Eine philosophische Untersuchung. Paderborn: Mentis, 2005. SEARLE, J. R. The Future of Philosophy. Philosophical Transactions: Biological Sciences, Vol. 354, No. 1392, Millenium Issue , pp. 2069-2080, (Dec. 29, 1999). Stanford TODOROV, T. Introduction à la littérature fantastique, Paris: Seuil, 1970. TORRIANI, T. G. Da intersubjetividade transcendental à intersubjetividade prática: uma abordagem sócio-psicológica da estética musical kantiana. Trans/Form/Ação [online], vol.33, n.1, pp. 125-154, 2010. TREDE, J. H.: Einbildung, Einbildungskraft (I). In: RITTER, J. (Ed.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Darmstadt 1972, v. 2, p. 346-348.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
572
O FANTÁSTICO COMO FENÔMENO DA LINGUAGEM: A FUNÇÃO D A METÁFORA NOS CONTOS “A FILA” DE MURILO RUBIÃO E “LA
AUTOPISTA DEL SUR” DE JULIO CORTÁZAR
Valdemir Boranelli∗
RESUMO
Nos contos de Murilo Rubião e de Julio Cortázar a fantasia não propõe apenas uma nova realidade, mas também, ultrapassa as representações sistematizadas pela sociedade, criando outra forma objetiva de conhecer, perceber e interpretar a realidade. Possui uma lógica própria que é construída a partir da autonomia linguística, que age como metáfora, gerando o efeito fantasmagórico na narrativa. Assim, concluímos que o fantástico atua na obra desses autores como fenômeno da linguagem. Essa configuração se dá entre a dialética dos dois mundos, sobrenatural e empírico, por meio da metáfora, gerando ambiguidade, e esta é o que define o fantástico moderno. PALAVRAS-CHAVE: Fantástico; Fenômeno da Linguagem; Metáfora; Murilo Rubião; Julio Cortázar.
Estudos mais recentes se afastam do conceito de Todorov e definem o fantástico
como sendo um fenômeno da linguagem. Nessa linha conceitual podemos citar, dentre
outros, Furtado, Bessière, Campra, Ceserani, Erdal Jordan que preferem ver o fantástico
mais como um modo narrativo geradora de ambiguidades que um sentimento de
hesitação. Desse modo, o que é válido é a construção do texto, i.e., sua articulação na
elaboração do efeito literário capaz de perturbar o leitor, gerando o efeito de
ambiguidade/duplicidade proposto por Furtado. Um dos elementos fundamentais para
essa construção literária é a metáfora.
A metáfora, considerada “o tropo dos tropos”, segundo Genette (1972, apud
CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p.487), é a figura do discurso mais
∗ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras – Universidade Presbiteriana Mackenzie – 01302-907 – São Paulo – SP – [email protected]
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
573
importante, primeiramente, designou diversas transferências de denominação na Poética
de Aristóteles antes de referir-se apenas às transferências por analogia.
Novos teóricos traçam concepções acerca da metáfora como questão de
pensamento, em outros termos, a metáfora e o pensamento estariam profundamente
entrelaçados, de modo a poder inferir-se que “o pensamento é metafórico”
(RICHARDS, 1965, p. 94 apud MOISÉS, 2004, p. 283). O emprego do vocábulo
metáfora como sinônimo de figuras de linguagem ou de pensamento aponta para
modalidades da metáfora, enquanto esta designaria o processo global de figuração ou
expressão do pensamento literário, revelando-se como raciocínio imaginativo que opera
por semelhança, assim, nossa hipótese é a de que a metáfora, enquanto pensamento
analógico, percorre toda a narrativa fantástica de Murilo Rubião e de Julio Cortázar.
Esta concepção de que a metáfora baseia-se em uma relação de analogia e
similitude percebida entre dois objetos correspondentes aos dois sentidos é defendida,
também, por Jakobson, que confere uma extensão não-linguística à metáfora. “Ao lado
da metonímia, a metáfora torna-se um dos grandes pólos da linguagem, recobrindo as
relações de similaridade” (JAKOBSON, 1969, p. 109).
Vale lembrar que os textos em prosa apresentam uma distinção fundamental no
emprego da metáfora em relação à poesia. Enquanto esta a utiliza de forma direta e
imediata, aquela a emprega de forma indireta e mediata. Desta forma o índice
metafórico das frases, períodos, parágrafos, etc., apenas se revelará ao término da
leitura, i. e., será a globalidade da significação do conto que iluminará o conteúdo
semântico das metáforas espalhadas pelo texto, o que acarretará um grau maior de
sentidos.
O que é válido lembrar neste momento é que por meio das metáforas podemos
empreender uma nova compreensão da experiência de leitura, de novos sentidos dados
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
574
ao pensamento e à ação sobre a realidade. Em outros termos, por analogia e similitudes
construímos determinadas imagens, mesmo que estas fujam de nosso conceito habitual,
possibilitando criar uma instância do pensamento poético e, consequentemente,
estabelecer relações com o real, ou melhor, com elementos já conhecidos.
Diante de tantas definições sobre a metáfora, que partem desde Aristóteles até
críticos mais recentes, como Richards (1965) e Henle (1966), focaremos nosso estudo
em alguns conceitos que amparam a da retórica nos contos “A fila” de Murilo Rubião e
“La autopista del sur” de Julio Cortázar.
Richards define a metáfora como “dois pensamentos de diferentes coisas que
atuam juntos e escorados por uma única palavra, ou frase, cujo sentido é resultante da
sua interação” (RICHARDS, 1965, p. 93 apud MOISÉS, 2004, p. 285). Paul Henle
conceitua a metáfora sob a perspectiva do binômio de Richards: “sentido literal e
sentido figurado, com a diferença de que os dois sentidos dizem respeito não só a cada
termo considerado autônomo, como à dualidade que formam” (HENLE, 1966, p.175
apud MOISÉS, 2004, p. 285), tentaremos demonstrar como essa figura da retórica atua
nos contos fantásticos de Rubião e Cortázar, destacando a verossimilhança em
representação entre o estranho e o real, já que para Aristóteles,
“bem saber descobrir as metáforas o significa bem saber encontrar as semelhanças entre as coisas”. (Poética, 1459 a 4); “devemos tirar as metáforas das coisas que se relacionam com o objeto em questão, mas não se relacionam de forma óbvia. Do mesmo modo, em filosofia, dá-se mostra de sagacidade que vai direta ao alvo, quando, pela inteligência, se descobrem semelhanças mesmo entre coisas muito afastadas” (ARISTÓTELES.Retórica, III, 11, 5 apud MOISÉS, 2004, p. 288)
Dessa maneira, em “A fila”, de Murilo Rubião, o protagonista, Pererico, vindo
do interior para a cidade grande na tentativa de conversar com um gerente de uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
575
determinada fábrica, para tratar de um assunto confidencial e de terceiro, é impedido
por Damião, espécie de “braço direito” do gerente que lhe concede uma senha, já que a
fila das pessoas que aguardam uma entrevista com o gerente é hiperbólica.
O que o enredo aponta é o efeito da similitude entre as duas situações opostas: a
humana e a burocrática. A “fila” por analogia é a representação do meio, este nada mais
é do que fruto do sistema burocrático, e Pererico é aquele que tem que aceitar tal
processo, assim como Damião e o funcionário o aceitam. A essa aceitação Davi
Arrigucci Jr., citado por Goulart, chama de “paradoxo da obediência”, “expressão com
que Max Weber definiu o comportamento burocrático.” (GOULART, 1995, p.53).
Pererico é, então, forçado a calar-se e aceitar as regras impostas por Damião,
que, apesar de ouvir algumas ofensas, ainda o incentiva para continuar na fila. Esse
incentivo de Damião, como é posto por Goulart, é semelhante “àqueles que estimulam a
disciplina e a conformidade aos regulamentos, no caso dos funcionários” (GOULART,
1995, p.53). Essa metáfora,
“cuja técnica de compor implica o fato que duas coisas que se somam não produzem uma terceira, mas sugerem uma relação fundamental entre ambas (1977, p. 124). Esse terceiro elemento é um conceito construído com base na semelhança entre duas situações que, na aparência, nada tem em comum, mas se assemelham internamente, no invisível, tal como a história secreta do conto, na concepção de Piglia. (GUIEIRO, 2005, p. 27).
Entende-se, desta forma que a linguagem se apresenta sob duas concepções:
transitividade, na qual as palavras são neutras e devem nos enviar o mais fielmente
possível à realidade; e a intransitividade, difundida pelas correntes extremas do
simbolismo, na qual as palavras não devem nos enviar a nada mais do que a elas
próprias. Porém, o fantástico se utiliza de um terceiro elemento: um forte interesse pela
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
576
capacidade projetiva e criativa da linguagem, na qual as palavras podem criar uma nova
e diversa realidade.
Desta forma, o próprio Todorov (2004) enfatiza a figura da metáfora como
sendo um dos elementos geradores do fantástico, não que esta figura seja exclusiva
desse gênero literário, mas neste gênero a metáfora se apresenta de modo sistemático e
original. Em “A fila”, nota-se que o conto se constrói em torno do núcleo semântico
gerado pela palavra “fila”, trazendo imagens perturbadoras em relação ao sistema
burocrático e Pererico, a condição alienante do homem.
Sendo assim, podemos perceber que é por meio da similaridade que se dá a
construção da metáfora e quando esta cria “similaridades que vêm das experiências
humanas, nós a aceitamos com mais facilidade. A metáfora é capaz de unir a razão e a
imaginação” (GUIEIRO, 2005, p. 26).
Pererico é então, a representação da alienação humana que se condiciona ao
sistema burocrático “para tornar-se participante do contexto social” (GOULART, 1995,
p. 54). O autor ainda acrescenta que:
A possibilidade de o indivíduo ser vítima da alienação é facilitada pelo fato de que o sujeito só consegue entrar na ordem simbólica (isto é, no contexto social) à custa da perda de uma parte essencial de si mesmo, de uma parte autêntica e verdadeira da sua condição, parte a que ele renuncia para poder conviver com os demais integrantes do tecido social. (GOULART, 1995, p. 55).
Deste modo, Pererico, metáfora da alienação, passa “pela lente de aumento do
absurdo para que se avalie a necessidade de impedir a proliferação dos Perericos da
vida” (GOULART, 1995, p. 55) atribuindo, assim, ao fantástico a função social, como é
posto por Schwartz (1981) e por Goulart (1995).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
577
Nesse jogo de metáforas, Bastos assimila “os comandos a que Pererico deve
obedecer, os da cidade grande, são também os do autor textual” ( 2001, p. 69):
Ele manipula as histórias e decide sobre o destino dos personagens, segundo procedimentos literários, motores também do processo de modernização. O confronto velho X novo, cidadezinhas do interior X cidade grande, obsoleto X atual é, assim, o confronto entre literatura e formas tradicionais de expressão e comunicação fundamentadas na oralidade. (BASTOS, 2001, p. 69).
A partir dessas possibilidades de compreensão, notamos que a metáfora não se
encontra apenas nas palavras, mas, primeiramente, no pensamento o que chamamos de
metáforas imaginativas e criativas, e estas, “embora fora do nosso sistema conceitual
habitual, são capazes de dar nova compreensão da experiência e novos sentidos ao
pensamento e à ação sobre a realidade.” (GUIEIRO, 2005, p. 27).
O mesmo ocorre na obra de Julio Cortázar, representante valoroso do fantástico,
o que explicitaremos no conto “La autopista del sur”, em que o autor toma uma visão
ainda maior em proporção à fila de Rubião, pois a fila, no conto argentino, é constituída
por várias pessoas envolvidas em um engarrafamento hiperbólico na “autopista del sur”
que liga o interior da França à capital, Paris. Dimensão maior em relação à fila de
Murilo Rubião, pois, por se tratar de um congestionamento, a fila no conto de Cortázar
é constituída por doze fileiras em posições paralelas. Os envolvidos nesse bloqueio
hiperbólico se unem em pequenos blocos ou “células” para garantir a sobrevivência de
todos, i. e., cada grupo se ajuda mutuamente, repartindo comida e formando expedições
para conseguir água.
Estranho é o fato de ninguém receber uma informação concreta da causa de tal
engarrafamento e, sobretudo, de não ser tomada nenhuma solução imediata e pelo fato
da pista ser liberada de forma totalmente imprevista no final do conto.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
578
Chama-nos a atenção, neste conto, a temporalidade, pois a história tem início
com um imenso calor do mês de agosto, passando por dias frios, até mesmo neve e, em
seguida, com períodos chuvosos e com ventos, voltando para dias frescos e ensolarados.
“Para o leitor, essa alteração da temperatura sugere a passagem do ano; para o núcleo,
ela acaba por significar apenas a mudança das sensações térmicas e a necessidade de
novos meios para enfrentá-las” (PASSOS, 1986, p. 24). Aqui, temos um caso de
metáfora imaginativa, pois há a possibilidade de novas interpretações e sentidos ao
pensamento.
Para essa articulação do tempo, é abandonado, logo no início do conto, a hora
marcada pelo relógio: “ni valía la pena mirar el reloj pulsera para perderse en cálculos
inútiles” (v.2, p. 189)*, passando-se a contagem em dias por meio de locuções
adverbiais: “hacia el amanecer” (v.2, p. 200), “ y al amanecer” (v.2, p. 202), “por la
mañana” (v.2, p. 205), “hacia el amanecer” (v.2, p. 207)** . Após essa contagem em dia
por dia, o tempo transcorre em sucessões de dias: “siguieron días frescos y soleados”*** .
A contagem temporal dá-se de maneira hiperbólica, iniciando-se em dia após dia
e logo a narrativa se desenvolve no decorrer de vários dias, o que parece fugir do
controle do narrador e das personagens. Esse descontrole na contagem do tempo nos
remete à metáfora do processo alienante do homem.
Processo análogo a este foi usado no conto “A fila” , de Murilo Rubião, que
inicialmente também faz referência ao relógio: “consultava o relógio, mostrando-se
excitado à medida que sentia aproximar-se a hora” (p. 198), convertendo horas em dia e
* “nem valia a pena olhar o relógio de pulso para perder-se em cálculos inúteis.” (Nossa tradução) ** “até o amanhecer” / “ao amanhecer” / “pela manhã” / “até o amanhecer” / (Nossa tradução) *** “seguiram dias frescos e ensolarados” (Nossa tradução)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
579
depois em dias, meses, “Na manhã seguinte...” (p.198), “Ao cabo de um mês...” (p.
200), “Corria o tempo...” (p. 202).
“La autopista del sur” “visa denunciar o automatismo do cotidiano coletivo, do
olhar exclusivamente ‘hacia delante’, ‘de todo el mundo’ através da criação de uma
realidade fantasmática” e o “metafórico bloqueio da autopista e sua microssociedade
evidenciam, em ponto menor, o isolamento literal dos habitantes das grandes cidades”
(PASSOS, 1996, p. 25).
Vale lembrar que como no conto de Rubião, em que Pererico obteve ajuda
apenas da prostituta, Galimene, cuja origem a afasta dos costumes urbanos por ser filha
de marinheiro, nascida nas docas. Em Cortázar passa-se o mesmo, pois as pessoas só se
ajudam e se preocupam umas com as outras enquanto estão presas no
congestionamento, fora do centro urbano. Quando a pista é liberada todos seguem
adiante sem olhar a quem: “por qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos
donde nadie sabía de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante,
exclusivamente hacia adelante.”* (CORTÁZAR, 2004, v.2, p. 214)
Trata-se de uma metáfora do comportamento social que em ambos os contos
denuncia o mecanismo urbano, procurando alertar contra uma realidade alienante
apresentada como fantasmática. Porém, diferenciam-se nos finais dos contos, por
exemplo, quando Pererico, personagem de “A fila”, retorna para o interior, fugindo do
domínio urbano: “À medida que contemplava bois e vacas pastando, retornavam-lhe
antigas recordações, esmaeciam-se as do passado recente” (RUBIÃO, 1999, p. 210). Já
as personagens de “La autopista del sur” estão presas ao contexto social e são forçadas a
retomarem a situação habitual dos grandes centros urbanos: “y se corría a ochenta
* “por que essa correria na noite entre carros desconhecidos onde ninguém sabia dos outros, onde todo mundo olhava fixamente para frente, exclusivamente para frente?” (Nossa tradução)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
580
kilómetros por hora hacia las luces que crecían poco a poco”* (CORTÁZAR, 2004, v.2,
p. 214).
Podemos constatar que “quando a metáfora cria similaridades que vêm das
experiências humanas, nós a aceitamos com mais facilidade. A metáfora é capaz de unir
a razão e a imaginação” (GUIEIRO, 2005, p. 26). Desta forma, aquilo que nos parece
estranho no início, torna-se familiar, mesmo sob o prisma fantasmático, como relata o
próprio Cortázar, em entrevista a Ernesto González Bermejo:
Nesse conto, sem que tivesse esse propósito, eu toquei também em uma das obsessões do nosso tempo. Comigo aconteceu cinco meses depois de escrevê-lo: passei quatro horas engarrafado numa auto-estrada e o conto começou a se repetir. Aconteciam as mesmas coisas. Eu fiquei amigo de um caminhoneiro que vinha logo atrás porque dava para subir no caminhão dele para ver a distância. Uma velhinha veio perguntar se alguém tinha água porque a netinha estava com sede. Estivemos ali quatro horas, durante as quais foi reproduzida aquela mesma angústia vivida pelos personagens do conto, essa espécie de claustrofobia ao ar livre, como poderíamos chamá-la. (GONZÁLEZ BERMEJO, 2002, p. 50)
Concluímos que a metáfora é mais que uma figura de linguagem, ela funciona
como uma estrutura de pensamento poético, que, por meio dela possibilita estabelecer
semelhanças, transferir significados e até mesmo modificar sentidos e, sobretudo,
garantir a poeticidade do discurso nos contos.
A metáfora é uma figura que permite, com uma operação verbal, relacionar
mundos semânticos que normalmente estão muito distantes. Neste caso podemos
recorrer à terminologia richardsiana de “tenor” (teor) e “vehicle” (veiculação) que
equivalem às locuções
* “e se corria a oitenta quilômetros por hora em direção das luzes que cresciam pouco a pouco” (Nossa tradução)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
581
“idéia original” e “idéia tomada de empréstimo”; “aquilo que está sendo dito ou pensado” e “aquilo com que está sendo comparado”; “a idéia subjacente” e “a idéia imaginada”; “o tema principal” e “aquilo a que se lhe assemelha”; “ou ainda mais confusamente, ‘o significado’ e ‘a metáfora’ ou ‘a idéia’ e ‘a sua imagem’” (RICHARDS, 1965, p. 96, apud MOISÉS, 2004, p. 285)
Assim, transformada em procedimento narrativo, a metáfora possibilita as
repentinas e inquietantes passagens de limite e de fronteira entre o real e o imaginário,
características fundamentais da narrativa fantástica.
Referências:
BASTOS, Hermenegildo José. Literatura e colonialismo – rotas da navegação e comércio no fantástico de Murilo Rubião. Brasíl ia: UNB, 2001.
CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. Coord. Trad. Fabiana Komesu. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2006.
CORTÁZAR, Julio. Cuentos Completos / v1. Buenos Aires: Punto de Lectura Argentina, 2004.
GONZÁLEZ BERMEJO, Ernesto. Conversas com Cortázar. Trad. Luís Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
GOULART, Audemaro Taranto. O conto fantástico de Murilo Rubião. Belo Horizonte, MG: Ed. Lê, 1995.
GUIEIRO, Cilene Palma Soares. Murilo Rubião: caminhos para uma poética da construção. Dissertação de mestrado. São Paulo: PUC - SP, 2005.
JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. Trad. José Paulo Paes e Iz idoro Blickstein. São Paulo: Cultrix, 1969.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos l i terários. 12.ed. rev. e ampl. São Paulo: Cultrix, 2004.
PASSOS, Cleusa Rios Pinheiro. O outro modo de mirar: uma lei tura dos contos de Julio Cortázar. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
RUBIÃO, Muri lo. Contos reunidos. 2.ed. São Paulo: Ática, 1999.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
582
“BICHANINHA”: O TEMA DO DELÍRIO NA NARRATIVA DE MEDEIROS E ALBUQUERQUE
Vitor Celso Salvador ∗
RESUMO Medeiros e Albuquerque foi jornalista, professor, político, teatrólogo, memorialista, crítico, poeta, orador, romancista, ensaísta, conferencista e contista. Ele escreveu obras importantes para a literatura brasileira, tais como: Pecados, Canções da decadência, Marta, Laura, Homens e coisas da Academia Brasileira, Quando era vivo, Em voz alta, O silêncio é de ouro, O perigo americano, Surpresas, O umbigo de Adão, Literatura alheia, Um homem prático, Por alheias terras, Teatro meu e dos outros e Mãe tapuia. Em relação ao último citado, Mãe tapuia (1900), trata-se de um livro de contos, sendo que “Bichaninha” diferencia-se dos demais pelo fato de revelar o tema do delírio, tendendo ao fantástico. Nele, a personagem Nenê começa a se transformar numa felina, adquirindo surpreendentes características físicas e psíquicas. Em suma, esse artigo abordará “Bichaninha”, uma narrativa diferenciada em relação ao restante da produção literária do autor, por evidenciar um apreço muito maior à imaginação. PALAVRAS-CHAVE: conto; delírio; literatura brasileira.
O escritor José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque,
mais conhecido somente por Medeiros e Albuquerque, nasceu em Recife em 4 de
setembro de 1867 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de junho de 1934. Participou da
Academia Brasileira de Letras, fundando a cadeira de número 22, cujo patrono é José
Bonifácio, o Moço. Ocupou a secretaria geral da Academia de 1899 a 1917 e a
presidência em 1924. Medeiros e Albuquerque, que no princípio da sua carreira
literária estimava Portugal, onde fez parte da sua educação, depois nem sempre tratou os
portugueses do mesmo jeito. A reforma ortográfica que em Portugal se fez no ano de
1911, sugeriu-lhe, em especial, fortes críticas, embora ele fosse adepto da simplicidade
ortográfica. O seu radicalismo e a sua obstinação entraram em choque com o espírito
∗ mestrando em Letras, na Universidade Estadual Paulista, campus de Assis, na área de Literatura/vida social
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
583
conciliador dos reformistas de 1911, só acalmando com o acordo ortográfico de 1931,
que a Constituinte anulou em 1934, restabelecendo a ortografia que vigorava em 1891.
Possuidor de uma escrita ímpar, ele destacou-se não somente no campo literário,
mas também invadiu outras áreas do conhecimento, como: psicologia, história, política,
educação e até mesmo medicina. De fato, em sua concepção jornalística, por exemplo:
“um jornalista é um homem enciclopédico que entende de tudo, sobretudo dá sentenças
profundas e bem definitivas. Em um artigo de jornal, ele faz caber toda a História
universal” (ALBUQUERQUE, 1942, p.36).
Evidentemente, “não basta –como quer Medeiros- escrever bem para fazer uma
boa história da literatura. Torna-se indispensável, além de outros requisitos, um
vocabulário crítico” (BROCA, 1963, p.54). Sempre ousado e elegante, seu estilo é
incontestável, afinal de contas, “Medeiros foi uma das inteligências mais fascinantes de
seu tempo” (GOÉS, 1959, p.102).
Para a literatura, o autor contribuiu bastante ao escrever livros que marcaram a
época, tais como: Homens e cousas da Academia Brasileira (1934), Quando era vivo
(1942), Marta (1920), Em voz alta (1909), O silêncio é de ouro (1916), O umbigo de
Adão (1932), Por alheias terras (1931), Graves e fúteis (1922), Laura (1933), Páginas
de crítica (1920), O perigo americano (1919), Quando eu falava de amor (1933),
Poemas sem versos (1924), Poesias completas de D.Pedro II (1932), Polêmicas (1941),
Fim (1922), O escândalo (1909), Teatro meu e dos outros (1923), Pontos de vista
(1913), Um homem prático (1898), Contos escolhidos (1907), Se eu fosse Sherlock
Holmes (1932), Surpresas (1934), Poesias (1904), Minha vida (1934), Literatura alheia
(1914), O Remorso (1889), Pecados (1889), Canções da decadência (1889) e Mãe
tapuia (1900).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
584
Em relação à Mãe tapuia, trata-se de um livro composto por 20 contos, sendo
que “Bichaninha” diferencia-se dos demais pelo fato de revelar o tema do delírio,
tendendo ao fantástico. Aliás, tal conto não se distingue somente do restante do livro,
como também das outras obras de mesmo gênero de Medeiros e Albuquerque como, por
exemplo, Se seu fosse Sherlock Holmes e Surpresas. Realmente, é um texto
diferenciado comparando-o com a produção do mesmo autor, pois esse conto evidencia
um apreço muito maior à imaginação.
A respectiva estória possui 3 personagens principais: Bichaninha (uma gata);
Nenê (uma mulher de 20 anos) e Leonor (irmã nova de Nenê). A respeito do apelido
“Nenê”, nota-se a intenção sugestiva do autor, ao passo que a personagem acabara de
dar à luz. O enredo é bastante intrigante: a mulher Nenê, acometida de febre nervosa,
vê Bichaninha e sente-se tomada de instintos felinos. De fato, “a gênese do conto [...]
nasce de um repentino estranhamento” (CORTÁZAR, 1974, p.234).
Por ora, o estado de tensão de Nenê vai crescendo no desenvolvimento da
narrativa, possibilitando uma notável gradação. Leonor serve como uma espécie de
canal necessário ao clímax do conto, visto que contribui para o aumento do estado febril
de Nenê. A menina constantemente dá informações da gata à irmã mais velha e chega
até mesmo a levar o animal ao quarto, onde ela estava em repouso absoluto, à noite.
Percebe-se a importância desse bebê para Nenê, visto que era o seu primeiro
filho no casamento. Por isso, o filho é descrito com bastante ternura pelo narrador
heterodiegético (terceira pessoa, portanto), do seguinte modo: “o rostinho muito rosado,
de traços ainda incertos, com a moldura branca das rendas da touca enfiada por uma
fitinha azul, parecia-lhe formosissimo” (ALBUQUERQUE, 1900, p.85), além também
do trecho: “abriu-lhe a mãosinha e ficou-se sorrindo, a admirar-lhe a graça: parecia de
boneca” (ALBUQUERQUE, 1900, p.85).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
585
Igualmente, Bichaninha é descrita de forma bastante positiva pelo narrador,
como se comprova no trecho: “era a gata querida de casa; uma gata branca, alta e gorda,
que vivia á fidalga, de collo em collo, amimada amorosamente por todos”
(ALBUQUERQUE, 1900, p.86).
Ademais, é relevante ressaltar que toda a narrativa passa-se em um quarto (da
Nenê), situado na casa da família desta. O ambiente é único e serve como cenário para o
necessário repouso da mulher, que acabou de dar o parto. Pela leitura do conto, é
perceptível o fato de que Nenê acabara de receber alta do hospital e fora transferida para
seu cômodo pessoal, sendo que a figura médica é mencionada como forma de se
estabelecer a razão e evitar conflitos.
Analisando o conto, observa-se que ele pode ser dividido didaticamente em 3
partes bem visíveis: 1)início: as espécies humana e animal são bem diferenciadas;
2)meio: início da mistura das espécies/personagens e 3)fusão total das personagens,
possibilitando o fantástico.
A primeira parte é claramente explicitada pela própria personagem Nenê, que é
surpreendida por contestações de Leonor, em referência ao fato comum de Bichaninha
morder os seus filhotes pelo pescoço, para mudá-los de lugar, exatamente como todas as
felinas fazem. Tentando explicar o óbvio para a menina, a parturiente afirmou: “[...]
como querias tu que ella fizesse? Por certo que não os podia trazer ao collo, como uma
pessoa... É assim mesmo que todas as gatas fazem...” (ALBUQUERQUE, 1900, p.85).
Portanto, nesse momento, Nenê afirmou claramente serem as duas espécies distintas
entre si. Aqui, ela conseguiu isolar os animais da espécie humana porque, naturalmente,
as variações existiam.
No entanto, essa nítida diferenciação já não mais existe na segunda parte da
estória, visto que as personagens Nenê e Bichaninha agora passam a ser mescladas. Para
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
586
tanto, o narrador começa a dar informações semelhantes sobre elas como, por exemplo,
o fato das duas terem dados ótimos partos em épocas bem próximas (primeiramente
Nenê; logo depois, a gata); os filhos terem nascidos lindos e também o fato do marido
de Nenê estar longe na época pós-parto, devido a compromissos de trabalho.
Aliás, a última informação é bastante interessante se observar o processo de
reprodução dos animais: as fêmeas não precisam mais dos machos posteriormente à
fecundação, ao passo que elas são independentes. A figura masculina foi descartada,
tanto em relação ao pai do bebê, quanto ao reprodutor dos 4 filhotes da felina. Para
tanto, o narrador informou que o marido de Nenê estava bem longe, em outra cidade,
como se relata: “[...] o marido estava fóra, servindo como engenheiro perto de Friburgo
[...] Estava anciosa por vê-lo” (ALBUQUERQUE, 1900, p.87).
Além disso, Leonor sempre procurou tratar o sobrinho e os filhotes de maneira
parecida, com muito afeto, o que dá a impressão que, para ela, os cinco eram iguais,
pois mereciam igual preocupação. De fato, a menina “parecia dividir por todos a mesma
affeição, distribuida com a mais inteira imparcialidade, em fatias eguaes de bem-querer”
(ALBUQUERQUE, 1900, p.87).
Todavia, Nenê e Bichaninha começaram mesmo a ser igualadas a partir do
seguinte comentário do narrador: “[...] os dous partos tiveram logar quasi
simultaneamente: os primeiros vagidos da creança soaram pouco antes dos primeiros
miados dos gatinhos” (ALBUQUERQUE, 1900, p.86). Como se vê, uma incipiente
mistura envolvendo as duas personagens foi estabelecida nesse exato momento.
Entretanto, é na terceira parte da narrativa que a fusão completa entre elas
ocorre, de fato. Nenê, em um período pós-parto, viu Bichaninha e passou a delirar.
Extraordinariamente, acreditava que se transformou em uma gata, possivelmente na sua
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
587
própria felina. Em seguida, a mulher passou a se transformar no animal, adquirindo
surpreendentes características físicas e, sobretudo, psíquicas.
Nenê passou a agir como um animal, depois que Leonor trouxe sua gata ao
quarto. Sem a presença da menina na estória, o delírio nunca teria espaço, afinal de
contas, essa personagem teve papel fundamental. Ela, de modo ingênuo, desrespeitou as
normas médicas, que exigiam repouso absoluto à parturiente e, constantemente
informou-a sobre Bichaninha, até mesmo chegando a levar a doce gata ao cômodo,
possibilitando o aumento do estado febril da irmã. Naturalmente, “a febre ia crescendo.
Veiu o delirio. Pelos olhos da moça começaram a desenrolar-se scenas extranhas e
phantasticas: era um desfilar interminavel das mais loucas allucinações”
(ALBUQUERQUE, 1900, p.90).
Ademais, como agora as espécies humana e animal igualaram-se no conto, Nenê
acreditou ser uma gata e, naturalmente, passou agir como uma, portanto. Para tanto,
lambeu o filho, mordeu-o pelo pescoço e chegou até mesmo a miar diversas vezes,
sendo que “poz-se de gatinhas na cama e começou a miar” (ALBUQUERQUE, 1900,
p.91). Por ora, as gatas lambem sua cria para limpá-la e transmitir afeto e, do mesmo
modo, Nenê também “chegou junto á creança que chorava e, deixando de miar,
começou a lambel-a: lamber-lhe o rosto, as mãos; lambel-a mesmo por cima do
vestidinho e das faixas” (ALBUQUERQUE, 1900, p.92).
Vale ressaltar que, a fusão total entre as personagens não ocorreu somente por
Nenê, mas também muito provável pela própria Bichaninha, ao passo que esta mostrou-
se indiferente ao ver as ações nervosas da mulher. Em um determinado momento do
enredo, a gata respondeu à mulher com um ruído, quando a viu miando: “do ponto onde
estava, cuidando talvez que era um agrado, Bichaninha respondeu tambem, com um
som queixoso e fino” (ALBUQUERQUE, 1900, p.92).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
588
No final, ela surpreendentemente não se comoveu com a morte de Nenê, pois
acreditou que aquele estado febril de quase 40 graus que a moça passava e que lhe
proporcionou ações felinas era normal, ou seja, natural para a sua espécie, como se
comprova no trecho: “do seu canto, a Bichaninha impassivel olhava para toda a scena
lambendo amorosamente os filhinhos” (ALBUQUERQUE, 1900, p.94). Como
Bichaninha e todas as gatas agem assim com os filhotes, nada mais natural que Nenê
passasse a agir semelhantemente com o recém-nascido.
Em suma, o trabalho teve como objetivo abordar o famoso conto “Bichaninha” de
Medeiros e Albuquerque, devido ao fato de ser um texto atípico em relação à restante
produção do autor, pois esse evidencia um apreço muito maior à imaginação. Os livros
de Medeiros, em geral, são conhecidos pela utilização de enfoque um pouco mais
centrado na realidade, o que não acontece com “Bichaninha”, cuja breve narrativa
permeia sutilmente o mundo fantástico, visto que faz com que o leitor perca “contacto
com a desbotada realidade que o rodeia” (CORTÁZAR, 1974, p.231).
Referências bibliográficas
ALBUQUERQUE, Medeiros e. Mãe tapuia. Rio de Janeiro: Garnier, 1900. ______. Quando era vivo. Rio de Janeiro: Leite & Maurillo, 1942. BROCA, Brito. Introdução ao estudo da literatura brasileira. Rio de Janeiro: INL, 1963. CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio. São Paulo: Perspectiva, 1974. GOÉS, Fernando. Panorama da poesia brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1959. 4v.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
589
A REVERSIBILIDADE DO DUPLO EM MURILO RUBIÃO
Viviane de Guanabara Mury*
RESUMO
Este artigo visa ao estudo da constituição do duplo na contística muriliana a partir de duas narrativas exemplares: “O ex-mágico da taberna Minhota” e “A fila”. Pierre Brunel (1988) estabeleceu duas fases para o mito do duplo do ponto de vista literário. A primeira, compreendendo o período que vai da Antiguidade até o século XVI, instaura o duplo como símbolo do homogêneo. Não há, nas obras dessa época, crise de identidade para o sujeito duplicado. No final do século XVI, no entanto, com o início da abertura para o interior do ser, há uma cisão na identidade do sujeito, instaurando a segunda fase do mito, que passa a ser heterogêneo. Dentre as várias figuras do duplo heterogêneo elencadas por Brunel, existe uma que parece se aplicar perfeitamente aos textos de Murilo Rubião: o “emblema da supra-realidade”, em que o duplo se mostra como signo de uma realidade oculta, onde se esconde a verdadeira vida. É o que verificamos nos contos do escritor mineiro, que apresentam uma duplicidade de mundos, um natural e outro antinatural. Apesar de opostos, esses mundos integram-se num mesmo espaço, como é próprio do fantástico moderno. Os pólos natural e antinatural não se mantém antitéticos; pelo contrário, eles são reversíveis, de modo que nos textos parece haver uma naturalização do antinatural, enquanto o natural, a rotina, ganha contornos de absurdo. PALAVRAS-CHAVE: Conto; Duplo; Fantástico.
O duplo é, sem dúvida, um dos grandes mitos da literatura ocidental. De
origens remotas, podemos estabelecer, segundo Pierre Brunel, duas fases para esse mito.
A primeira, compreendendo o período que vai da Antiguidade até o século XVI,
instaura o duplo como símbolo do homogêneo. Nas obras dessa época, em sua maioria,
comédias de confusão, “a semelhança física entre duas criaturas é usada para efeitos de
substituição, de usurpação de identidade; o sósia, o gêmeo é confundido com o herói e
vice-versa, cada um com sua identidade própria” (BRUNEL, 1988, p. 263-264).
Importante salientar que, seja qual for o texto, em nenhum momento, a identidade de
quem se vê duplicado é posta em xeque. O duplo configura tão-somente uma
* Mestre em Literatura Brasileira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
590
substituição momentânea, de modo que no fim, o original reencontra suas prerrogativas,
reafirmando sua unidade (BRUNEL, 1988, p. 267).
Esse cenário sofre um revés a partir do final do século XVI, quando o início
da abertura para o interior do ser assinala um “abandono progressivo da unidade da
consciência, da identidade de um sujeito, única e transparente” (BRUNEL, 1988, p.
267). Estamos, pois, na segunda fase do mito que, graças à divisão do eu e a
consequente cisão do duplo, passa a ser heterogêneo. Tal representação aparece tanto
no homem quanto no real.
Dentre as várias figuras do duplo heterogêneo elencadas por Brunel, existe
uma que parece se aplicar perfeitamente aos textos de Murilo Rubião: o “emblema da
supra-realidade”, em que o duplo se mostra como signo de uma realidade oculta, onde
se esconde a verdadeira vida (BRUNEL, 1997, p. 273-281). Os contos do escritor
mineiro apresentam uma duplicidade de mundos, um marcado pelo natural e outro pelo
antinatural. A antítese mais óbvia seria natural x sobrenatural. Porém, nem sempre o
elemento que se contrapõe ao natural, à rotina, provém de uma instância sobrenatural;
muitas vezes, ele resulta de uma transfiguração do natural, de uma distorção do
cotidiano. Por esse motivo, julgamos conveniente trocar o termo sobrenatural por outro
mais abrangente.
Esses mundos, apesar de opostos, integram-se num mesmo espaço. Nas
palavras do crítico Davi Arrigucci Jr, o mundo de Rubião é “produto da construção
harmoniosa dos elementos insólitos no contexto da realidade habitual” (ARRIGUCCI
JR, 2001, p. 146), de tal forma que, “para o leitor, o mundo de Murilo não é e é o seu
mundo” (ARRIGUCCI JR, 2001, p. 145).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
591
Na verdade, o comentário de Arrigucci acerca dos contos de Rubião serve
perfeitamente para o modo ao qual o escritor mineiro pertence, o fantástico. Não existe,
ali, passagem de fronteiras entre os mundos, uma vez que o natural e o insólito, seja ele
sobrenatural, seja natural transfigurado, conjugam-se no mesmo patamar. De acordo
com Roger Caillois, “o fantástico é uma ruptura da ordem reconhecida (...) dentro da
inalterada legalidade do cotidiano, e não substituição total de um universo real por um
exclusivamente fantasioso” (apud CESERANI, 2006, p. 47).
Se há duas possibilidades para a constituição do insólito, a percepção sobre
esse mesmo insólito também é dupla: ora os personagens principais aceitam o evento,
ora recusam-no. Na maioria dos contos murilianos, o insólito vem de outro mundo mas,
a despeito disso, não causa espanto – seja um coelho que fala, seja um morto que volta à
vida, tudo é visto dentro como normal pelos personagens. Há, nesse sentido, uma
“paralisação da surpresa” (ARRIGUCCI JR, 2001, p. 146). Chamamos tais textos de
estranhos. Em outros contos, todavia, ocorre justamente o contrário: a ruptura da ordem
resulta de um elemento pertencente ao cotidiano, porém de tal modo transfigurado que
se torna impossível aceitá-lo sem sobressaltos. Estamos diante do absurdo.
Dentro desse quadro teórico, buscamos interpretar dois contos de Murilo
Rubião: “O ex-mágico da taberna Minhota” e “A fila”.
A frase inaugural do conto “O ex-mágico da Taberna Minhota” já mostra o
tom melancólico que dominará o texto: “Hoje sou funcionário público e este não é o
meu desconsolo maior” (RUBIÃO, 2006, p. 19). Seu narrador, um ex-mágico, desfia os
sofrimentos e angústias que marcam sua existência. Existência que se revela
problemática desde seu início, afinal fora “atirado à vida sem pais, infância ou
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
592
juventude. Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna
Minhota.” (RUBIÃO, 2006, p. 19).
O ex-mágico, assim, não teve um nascimento propriamente dito; ele
simplesmente surge, em um restaurante. Daí, as expressões “fui atirado” e “dei com”.
Não nos parece coincidência que tal tenha acontecido na frente de um espelho. O
espelho é um objeto tradicionalmente relacionado à comprovação da identidade do
sujeito. Nesse caso, serve para mostrar ao ex-mágico que, de fato, ele existe. No
entanto, sua identidade, quem de fato ele é, permanece nebulosa, uma vez que ele
desconhece seu passado. Definir-se pela sua ocupação – “Hoje sou funcionário público”
– nos parece ser a única alternativa que resta ao narrador-personagem.
O evento sobrenatural acima descrito é tratado como normal pelo ex-mágico:
“A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do
restaurante. Ele, sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo” (RUBIÃO,
2006, p. 19). A essa pergunta, o narrador comenta: “O que poderia responder, nessa
situação, uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no
mundo? Disse-lhe que estava cansado. Nascera cansado e entediado” (RUBIÃO, 2006,
p. 19).
Essa percepção em relação ao fantástico permite-nos classificar o conto em
questão como estranho. Aqui, o narrador mostra-se indiferente diante do insólito,
compartilhando do “espanto congelado” (ARRIGUCCI JR, 1981, p. 10) que caracteriza
parte considerável dos protagonistas e narradores murilianos. Faz-se necessário
destacar, todavia, que a “paralisação da surpresa” (ARRIGUCCI JR, 2001, p. 146), nos
textos em que prevalece essa perspectiva, se aplica, na maioria das vezes, somente ao
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
593
protagonista/narrador; os demais personagens manifestam reações de assombro, como
atestamos na indagação feita pelo proprietário da taberna Minhota.
Na verdade, ao longo de todo o conto, percebemos um certo descompasso
entre o ex-mágico e o restante do mundo: enquanto as pessoas à sua volta se
surpreendem, vibram, empolgam-se, ele limita-se a observar a realidade como
espectador distanciado. Talvez a reação dos demais personagens contribua para
acentuar, ainda mais, o “espanto congelado” que domina o ex-mágico. Para ele, a vida
nada mais era que “um processo lento e gradativo de dissabores” (RUBIÃO, 2006, p.
19). A falta de um passado é mais um agravante: não teve que se acostumar às
“vicissitudes”. O tédio e a amargura são ingredientes normais da vida do homem
maduro que, por já ter passado pela vida, tornou-se capaz de lidar com eles (RUBIÃO,
2006, p. 19). Daí, compreende-se que o ex-mágico tenha nascido “cansado e entediado”
(RUBIÃO, 2006, p. 19), uma vez que ele começa a existir já com os “cabelos
grisalhos”, ou seja, nasce maduro, tendo sobre seus ombros o mesmo peso que paira
sobre a vida dos homens de uma certa idade. Sua característica é o sofrimento, que não
consegue enfrentar. Dessa forma, o ex-mágico repete os demais protagonistas de Murilo
Rubião, ao carregar o fardo da “existência dolorosa” (ARRIGUCCI JR, 2001, p. 157).
O cansaço que assolava o ex-mágico não era amenizado nem pelas mágicas
que esse punha em prática. Ao contrário, a repetição dos seus truques acabava por
potencializar o estado de inércia em que se encontrava. O traço estranho, nos textos do
escritor mineiro, é devorado pelo traço automatizado: as “metamorfoses e as mágicas
perdem o sentido na medida em que se repetem” (SCHWARTZ, 1981, p. 51).
A única saída que encontra é a morte, porém após várias tentativas de
suicídio fracassadas, constata desesperadamente: ele, “que podia criar outros seres, não
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
594
encontrava meios de [se] libertar da própria existência” (RUBIÃO, 2006, p. 23). O
personagem opta por trabalhar numa repartição pública, pois “ouvira de um homem que
ser funcionário público era suicidar-se aos poucos” (RUBIÃO, 2006, p. 23). Humor
negro à parte, a nova ocupação do ex-mágico, longe de resolver seus problemas, trouxe-
lhe ainda mais desespero. Nas palavras do próprio: “maiores foram as minhas aflições,
maior o meu desconsolo. Quando era mágico pouco lidava com os homens – o palco me
distanciava deles. Agora, obrigado a constante contato com meus semelhantes,
necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam” (RUBIÃO, 2006, p.
23).
A leitura do trecho transcrito nos permite notar uma contradição no ex-
mágico. Primeiro, ele trata os homens como se ele não fosse um: “o palco me
distanciava deles”; adiante, reconhece que esses são seus “semelhantes”. Ora, ao mesmo
tempo em que o personagem sabe que é homem, não se sente como tal; um dos motivos
desse estranhamento talvez se deva ao fato de que ele, apesar de velho, tem apenas três
anos de vida, não dispondo, portanto, de um passado. A falta de memória, nesse sentido,
além de produzir uma crise de identidade, parece levar também a um questionamento do
ser enquanto pertencente a uma determinada espécie.
No final do conto, o narrador deixa claro seu desejo de viver em uma outra
realidade:
Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes. Encher a noite com fogos de artifício. Erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a Terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas (RUBIÃO, 2006, p. 25).
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
595
Vemos as cores simbolizando um outro mundo, uma nova existência, melhor
do que a atual, que se apresenta ao protagonista como um lugar de desencanto. Nessa
realidade idealizada, o narrador até consegue ter alguma simpatia pelo ser humano
(“meigas criancinhas”) ─ ali, eles não lhe causam nenhum tipo de “náusea” (RUBIÃO,
2006, p. 23).
A explicação para essa mudança de atitude em relação ao humano talvez
resida na constituição dessa outra realidade que o ex-mágico imagina: o mundo, para
ele, deveria ser “todo mágico” (grifos nossos) (RUBIÃO, 2006, p. 25). O ex-mágico
não aceita a duplicidade característica do mundo onde vive; ele recusa essa mistura
entre natural e sobrenatural. Aqui, o personagem dispensa o mágico pela metade; o
mundo de seus sonhos é aquele regido apenas pela sobrenaturalidade.
Por todo o conto, atestamos a perfeita naturalidade com que o ex-mágico
percebia o sobrenatural. Suas mágicas nunca lhe causaram espanto. O anormal, para ele,
eram os homens. Eles é que lhe causavam náusea; com eles não conseguia conviver. O
natural é visto como sobrenatural e vice-versa. O duplo é reversível. A interação com os
homens, impossível de ser concretizada num mundo que congrega as duas instâncias,
sobrenatural e natural, talvez pudesse ocorrer em um outro mundo, que fosse mágico
por inteiro.
Bastante diversa é a situação narrativa de “A fila”: seguindo uma tendência
forte do fantástico no século XX, esse texto de Murilo Rubião aborda a burocracia e
seus labirintos, abolindo qualquer possibilidade de o sobrenatural se instaurar. O
protagonista Pererico sai de sua terra natal rumo à cidade, a fim de falar com o gerente
de uma empresa sobre um assunto sigiloso. Ali, a contragosto, passa a maior parte da
narrativa refém de senhas, esperas e filas.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
596
A estrutura burocrática com a qual Pererico se depara é controlada por
Damião, personagem responsável por impedir Pererico de chegar até o gerente.
O serviço de atendimento que este [Damião] executa, sendo um meio para uma determinada finalidade, se converte num fator de entrave, num fim em si mesmo. Toda a sua atuação, com a aparência de servir aos fins da Companhia, é no sentido de impedir o acesso a escalões superiores da hierarquia, demonstrando a tendência de agir como o representante do poder de toda a organização. (ARRIGUCCI JR, 2001, p. 162).
Mais do que funcionário de fábrica, Damião é servidor da burocracia:
bloqueia os caminhos de Pererico a fim de garantir o pleno funcionamento da máquina
burocrática. Damião deveria servir aos personagens, mas acaba por servir apenas aos
interesses da instituição para a qual trabalha: em vez de remeter as pessoas atendidas a
uma finalidade, mantém-nas sempre nos meios, sem acesso aos fins.
As sucessivas voltas de Pererico, em decorrência dos constantes
obstáculos que lhe são antepostos, permeiam toda a história e caracterizam o insólito
dessa narrativa. Assim, diferentemente de “O ex-mágico”, em que o insólito é
introduzido logo na primeira página, aqui pode-se dizer que ele é construído ao longo
do conto, manifestando-se através da máquina burocrática descrita por Murilo Rubião e
personificada na figura de Damião. No final do conto, o gerente morre e Pererico volta
à sua terra sem alcançar seu objetivo.
“A fila”, nesse sentido, constitui um exemplo de um outro tipo de
fantástico produzido por Murilo Rubião. Não mais o estranho, em que os protagonistas
aceitam o insólito, apesar da sua evidente sobrenaturalidade. Agora, vemos uma
situação inversa: apesar de o insólito pertencer à esfera do natural, é impossível aceitá-
lo sem sobressaltos. Adentramos o terreno do absurdo.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
597
No conto de que tratamos, não há coelhos falantes, mágicas ou
metamorfoses; o personagem transita por ruas, corredores, repartições – nada mais
natural. Todavia, é esse natural que constitui motivo de assombro. Necessário salientar,
porém, que esse espanto parte apenas do protagonista; os demais personagens do conto
compactuam com o insólito da narrativa. Enquanto Pererico se desespera, seus colegas
de fila nada fazem: não reclamam nem se revoltam. Encontram-se “em situação
idêntica, aguardando com paciência a oportunidade de serem atendidos” (RUBIÃO,
2006, p. 94). O que, para Pererico, é inaceitável, para esses personagens é normal.
Tal confronto de perspectivas parece ser essencial para que o fantástico
se configure. Nas palavras de Sartre: “Se eu habitasse, eu mesmo fantástico, um mundo
fantástico, não poderia de modo algum considerá-lo fantástico” (SARTRE, 2005, p.
145). O absurdo do conto “A fila” somente nos salta aos olhos porque seu protagonista,
sendo um estrangeiro àquele ambiente, apresenta uma visão diferente, que vem de fora.
Os demais personagens, imersos naquela realidade, não se dão conta do absurdo em que
vivem; eles acabaram por naturalizar o insólito. O que é natural para esses personagens
constitui o absurdo/antinatural para Pererico. Vemos, portanto, que os pólos
característicos do fantástico – natural e antinatural – continuam misturados; as fronteiras
permanecem borradas, de forma que também no absurdo o duplo é reversível.
A leitura dos dois contos permite-nos concluir que tanto o estranho
quanto o absurdo conduzem a um mesmo lugar: a reversibilidade do duplo, duplo esse
que se constrói sobre dois pólos: natural/antinatural. Assim, há nos contos de Rubião
uma naturalização do sobrenatural, enquanto o natural, a rotina, ganha contornos de
absurdo. O resultado parece ser um só: a crítica à humanidade. Nas histórias do contista
mineiro, “o fantástico serve de artifício para chamar a atenção sobre a crua realidade do
homem na terra” (SCHWARTZ, 2006, p. 102). Para Rubião, a existência humana é
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
598
marcada pela mediocridade e pobreza de relações. Ao tratar o sobrenatural como normal
e a rotina como anormal, o escritor mineiro mostra que o inaceitável é o próprio
homem.
REFERÊNCIAS:
ARRIGUCCI JR, Davi. “O mágico desencantado ou as metamorfoses de Murilo”. In: RUBIÃO, Murilo. O pirotécnico Zacarias. São Paulo: Ática, 1981.
-----. “Minas, assombros e anedotas (os contos de Murilo Rubião)”. In:-----. Enigma e comentário. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
BRUNEL, Pierre (org). Dicionário de mitos literários. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997
CESERANI, Remo. O fantástico. Curitiba: Editora UFPR, 2006. RUBIÃO, Murilo. O pirotécnico Zacarias. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. SARTRE, Jean-Paul. “Aminadab, ou o fantástico considerado como uma linguagem”.
In: ---. Situações I: críticas literárias. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubião: a poética do uroboro. São Paulo: Ática, 1981.
-----. “Murilo Rubião: um clássico do conto fantástico”. In: RUBIÃO, Murilo. O pirotécnico Zacarias. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
599
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MARAVILHOSO LATINOAMERICANO A PARTIR DE CARPENTIER E DE LEZAMA LIMA
Wanderlan da Silva Alves∗
RESUMO
Considerando que Carpentier e Lezama Lima, ao refletirem sobre o maravilhoso na cultura laitno-americana, partem de um mesmo princípio – o de que traços de uma cultura aparecem reconfigurados em outras –, contudo, chegam a conclusões opostas: para Carpentier, o maravilhoso americano é uma manifestação, na América Latina, de uma série de formas de representação da cultura e da história existentes nas diversas sociedades humanas; para Lezama, a representação de uma realidade maravilhosa constitui, para a América Latina, um elemento estrutural que caracteriza e particulariza o ser americano; cotejaremos as duas visões acerca do maravilhoso latino-americano, buscando compreender o trajeto de cada um dos autores em sua formulação e o matiz político que cada uma porta: em Carpentier, a inserção das manifestações culturais latino-americanas no seio da cultura ocidental, por meio dos métodos de análise estruturais então vigentes; e em Lezama, o esforço por recuperar, no plano da cultura, elementos representacionais capazes de legitimar e dar visibilidade a uma identidade constitutiva do ser latino-americano. PALAVRAS-CHAVE: Alejo Carpentier; Cultura latino-americana; Ensaio latino-americano; José Lezama Lima; Maravilhoso latino-americano.
“Mas o que é a História da América
senão toda uma crônica da realidade maravilhosa?” (CARPENTIER, 1985)
“Somente o difícil é estimulante;
somente a resistência que nos desafia é capaz de assestar, suscitar e manter nossa potência de conhecimento, mas, na realidade, o que é o difícil? [...] É a forma em devir em que uma paisagem vai em direção a um sentido, uma interpretação ou uma simples hermenêutica, para ir depois em busca da sua reconstrução, que é o que marca definitivamente sua eficácia ou desuso, sua força ordenadora ou seu apagado eco, que é a sua visão histórica” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 47).
∗ Mestre em Letras (Teoria da Literatura) pela UNESP/IBILCE. Atualmente cursa doutorado em Letras na mesma instituição. Bolsista do CNPq.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
600
Esses excertos situam nossa discussão: a realidade maravilhosa constitutiva das
imagens do que se convencionou designar “latinoamericano” como elemento estrutural
e representativo da cultura latino-americana. O fragmento de Carpentier está no famoso
prólogo que apresenta o romance El reino de este mundo (1949) e que talvez tenha se
tornado mais famoso do que o próprio romance. O trecho de Lezama, por sua vez,
integra o primeiro dos ensaios (“Mitos e cansaço clássico”) que constituem o livro La
expresión americana (1957), uma organização do próprio autor, formada por quatro
conferências proferidas por ele no Centro de Altos Estudos do Instituto Nacional, em
Havana, em janeiro de 1957. Apesar dos limites desta comunicação, tal cotejo nos
parece viável, na medida em que nosso objetivo maior é analisar, comparativamente, a
visão de maravilhoso defendida por cada um dos dois autores, buscando, desse modo,
compreender, no trajeto de suas formulações, o matiz político-cultural de sua
interpretação do maravilhoso latinoamericano.
Carpentier parte da própria ideia de narrativa para problematizar os conceitos e
as visões acerca da história latinoamericana, enquanto Lezama empreende um trabalho
interpretativo que busca inserir no plano da história uma ideia difusa de natureza, para
tentar chegar, por tal procedimento, ao que seria, para ele, uma visão histórica do
continente americano, surgida no próprio continente.
Carpentier parte da linguagem para fazer a crítica da história latinoamericana (na
linguagem), enquanto Lezama parte da história (inicialmente vista por ele como
natureza) para chegar a uma ideia metafórica de linguagem que, na linguagem que dá
forma à sua crítica, se mostre capaz de oferecer instrumentos de leitura e interpretação
da realidade latinoamericana a partir das estruturas que essa mesma realidade oferece ao
hermeneuta, especialmente as provenientes da paisagem.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
601
Nesse sentido, o prólogo de Carpentier, além de seu tom marcadamente disfórico
em relação ao Surrealismo francês – movimento do qual o autor se desvinculou
teoricamente, mas não se desvencilhou plenamente em sua obra –, porta outra
característica essencial: o desenvolvimento da argumentação a partir da produção
literária ocidental, de modo que, mesmo ao questionar certo efeito maravilhoso
decorrente das experiências vanguardistas do início do século XX ou de convenções
estruturais do século XIX na literatura, considerando-as falsas e superficiais, Carpentier
busca basear-se em obras representativas do maravilhoso na literatura europeia,
encontrando-as em fontes diversas, que passam por Cervantes, pelas novelas de
cavalaria, por Lewis, pela novela gótica, pelos cantos de Maldoror, etc. Isto é, apesar de
se contrapor a alguns dos procedimentos mobilizados para a produção do efeito
fantástico em alguns dos textos que assume como parâmetro para sua análise
(especialmente os provenientes do Surrealismo), Carpentier opera uma síntese formal –
na qual se mesclam distintas acepções de fantástico e de maravilhoso, por vezes
conflitantes entre si – e acaba por inserir, também, o maravilhoso americano na
produção literária e cultural do Ocidente como um todo, desvinculando-a de qualquer
desenraizamento ou exotismo que, historicamente, marcaram o modo como os produtos
culturais provenientes da América foram recebidos ou apresentados na Europa, desde a
conquista. Ao posicionar-se em defesa do maravilhoso americano por considerar que, na
América Latina, o maravilhoso expressa uma crítica da realidade (a história como uma
crônica da realidade maravilhosa) que ele já não encontra na Europa, em razão do que
ele chama de excessiva formalização do maravilhoso na literatura europeia (em sua
concepção), o autor insere, paradoxalmente, o real maravilhoso americano no âmbito da
literatura e da cultura ocidentais, na medida em que, por um lado, infere um conceito
formal de maravilhoso (mesmo que de modo interposto) – o de que o efeito maravilhoso
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
602
ou fantástico, no plano da linguagem, não pode ser o resultado de códigos pré-
estabelecidos – e, por outro, no plano estrutural, demonstra que, enquanto realização de
linguagem, o real maravilhoso, na América Latina, corresponde, de certo modo, à
expressão dos mitos e da história latinoamericanos, do mesmo modo que em outras
culturas e épocas, os mitos funcionam como narrações explicativas ou organizadoras de
uma determinada sociedade, pois, como o próprio Carpentier defende, a realidade
maravilhosa é “um patrimônio de toda a América, onde ainda não se concluiu [...] um
inventário de cosmogonias” (CARPENTIER, 1985, p. 11), função que, em parte, o
realismo maravilhoso cumpre, na literatura, para ele. Quanto a esse aspecto, seu prólogo
acaba por fazer uma defesa do maravilhoso como sendo uma manifestação cultural
localizável em diversas culturas, o que, numa visão estrutural, se liga à ideia de
correspondência de mitos e narrativas orais como elementos simbólicos constitutivos
das sociedades em geral, acepção que Lévi-Strauss (1970) confirma em seus estudos de
antropologia.
Lezama, por sua vez, ao defender que “só o difícil é estimulante” (LEZAMA
LIMA, 1988, p. 47) e que o difícil é uma forma em devir, cria, na verdade, uma
metáfora que constitui a base de suas reflexões em busca de definir a América e de
encontrar um elemento estrutural e linguístico autêntico capaz de funcionar como
síntese identitária do continente e do ser latinoamericanos. Portanto, o “difícil
estimulante que é uma forma em devir” é a própria imago (isto é, imagem carregada de
história) que ele identifica como sendo a América (Latina). Ao opor a natureza à
paisagem, o autor cria dois conceitos, o de entidade natural imaginária e o de entidade
cultural imaginária, respectivamente, que lhe permitem transitar da esfera da realidade à
esfera das representações culturais para, desse modo, defender, também, uma identidade
(latino)americana. Nesse sentido, o maravilhoso é um elemento-chave para o autor, uma
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
603
vez que aparece no continente americano tanto como entidade natural imaginária quanto
como entidade cultural. Como entidade natural se pode notar, por exemplo, na época da
conquista, durante a qual os europeus se viam, por vezes, sem palavras para descrever o
novo mundo, e se viam obrigados a encontrar outro modo de “mirar” capaz de
representar, linguisticamente, uma realidade (maravilhosa) para cuja designação sua
linguagem racionalista e estruturada em outra realidade não apresentava palavras
suficientes. De onde veio a visão correspondente à mirabilia (simultaneamente,
maravilha, mirar, encantamento) vinculada à própria natureza americana. Já como
elemento cultural, o maravilhoso aparece, como faz questão de defender o autor, desde
os textos do Popol Vuh, apresentando, por um lado, isotopias formais com textos de
mitologias europeias e asiáticas (o que o autor critica, sugerindo possíveis alterações
realizadas pelos espanhóis, ao recolherem e traduzirem tais mitos) e, por outro lado,
apresentando elementos ou características particulares que o autor faz questão de
identificar como sendo próprios do ser americano – a capacidade adaptativa, a
perspicácia, o simphatos, etc.
Nesse sentido, Lezama trabalha ativamente na construção de uma metáfora que
lhe permita dar forma a uma imago americana. O autor encontra no maravilhoso o lugar
da tradição reclamada por uma cultura que, quando nasce para o Ocidente, já nasce
moderna, mas, para ser moderna, depende de uma tradição anterior (PAZ, 1984) com a
qual possa relacionar-se. Não é uma casualidade que Lezama estabeleça a continuidade
do potencial criador americano no que ele identifica como sendo o sujeito metafórico,
que já aparece no “Senhor barroco” e, depois, o Romantismo, pois tais movimentos
culturais se vinculam, na América Latina, a momentos de reivindicação por uma forma
de expressão que já não se molda tranquila e passivamente a modelos europeus – veja-
se o barroco de Sor Juana, de Aleijadinho ou do índio Kondori, e, posteriormente, os
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
604
ideais de constituição de uma nação, já no século XIX, por exemplo. O procedimento de
Lezama parecer ser o estabelecimento do ideologema “América” como uma entidade
cultural diversificada capaz de dialogar com outras realidades culturais sempre de modo
crítico e vivificador. De certo modo, seu método consiste em “uma obrigação quase de
voltar a viver [na linguagem] o que já não se pode precisar” (LEZAMA LIMA, 1988, p.
55), isto é, consiste na criação de uma metáfora que, sendo ficção, revisa a história
(latino)americana, conferindo-lhe as raízes que lhe são necessárias para adentrar a
história ocidental em condições culturais de igualdade possível em relação ao velho
mundo, já que, segundo o autor, o mal americano está em ver-se (ante o europeu) como
um problema a resolver ou como uma deformação. Tal perspectiva, que é, na verdade,
uma visão literária que se cria em forma de metáforas para a figuração de uma
identidade americana, parece corresponder à ideia do autor de que só se torna
cognoscente uma cultura que é recriada pela imaginação criadora (LEZAMA LIMA,
1988), pois, para Lezama, a riqueza de uma cultura depende de sua capacidade de
renovar e sintetizar formas virtuais de outras culturas, em nosso caso, as culturas
européias, africanas e pré-colombianas. Como observa Chiampi em nota de rodapé aos
ensaios do livro, Lezama procura “sustentar que as culturas são únicas em sua espécie,
escolhem livremente o seu imaginário e, se refluem ou desaparecem, entrelaçam-se a
ponto de permitirem estabelecer contrapontos em seus legados” (In: LEZAMA LIMA,
1988, p. 57 – nota 18), isto é, funcionam como os textos e a criação poética.
Tais considerações nos conduzem, então, à segunda de nossas hipóteses
fundamentais: há, na concepção de ambos os autores, o fator estrutural identificado com
o choque de civilizações, no entanto, o papel desses choques não é visto do mesmo
modo em Carpentier e em Lezama. Para Carpentier, a realidade encontrada no reino de
Henri Christophe, no Haiti, é maravilhosa porque ali o próprio negro (ex-escravo)
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
605
escraviza o negro, se fantasia de europeu e parece cultivar valores e conceitos
norteadores das relações individuais que, na verdade, não lhe pertencem. A crítica de tal
realidade, no maravilhoso, aponta para o desenraizamento do próprio negro, que não
reconhece seu igual por razões políticas e econômicas, mas aponta, também, para os
males que o contato com o europeu acarretou para a história do continente. O
maravilhoso, nesse caso, não é propriamente o belo, mas a síntese paradoxal de
elementos que surgem
de uma inesperada alteração da realidade [...], de uma revelação privilegiada da realidade, de um destaque incomum ou singularmente favorecedor das inadvertidas riquezas da realidade, percebidas com particular intensidade, em virtude de uma exaltação do espírito, que o conduz até um tipo de “estado limite” (CARPENTIER, 1985, p. 14).
Desse modo, em Carpentier e em Lezama, o maravilhoso se apresenta, pois,
como um ideologema, isto é, “o conjunto de objetos e eventos reais que singularizam a
América no contexto ocidental” (CHIAMPI, 1980, p. 32), mas, em Carpentier, tal
singularização não exclui o pertencimento morfológico ao maravilhoso universal,
enquanto que em Lezama, é a capacidade (latino)americana de redimensionar seus
objetos em sua relação com outras culturas o que promove tal singularização. Ou seja,
em Carpentier, o maravilhoso, isto é, a fabulação, opera como crítica potencializada da
realidade; já em Lezama, a fabulação adquire força de realidade e dá corpo à realidade
cultural americana, para ele uma realidade em devir marcada pela curiosidade, pelo
demoníaco e pelo potencial de assimilação que se torna cultura e, portanto, história, nas
palavras da literatura (desde o barroco), nas mãos de artistas, desde o Aleijadinho, ou no
enfrentamento com o mal, que é a natureza (para o Martín Fierro, per exemplo). Não
muito diferentemente de Ortega y Gasset (1967), ainda que por outras vias, Lezama vê
na América uma promessa, que, para ele, começa a ganhar corpo desde o barroco, mas
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
606
continua, ainda, no presente de sua escrita, como promessa.
Se para um (Carpentier), o maravilhoso americano é uma manifestação, na
América Latina, de uma série de formas de representação da cultura e da história
existentes nas diversas sociedades humanas, para o outro (Lezama), a representação de
uma realidade maravilhosa constitui, para a América Latina, um elemento estrutural que
caracteriza e particulariza o ser americano. Em Carpentier, tal gesto interpretativo
promove a inserção das manifestações culturais latinoamericanas no seio da cultura
ocidental, por meio dos métodos de análise então vigentes; em Lezama, o esforço por
recuperar, no plano da cultura, elementos representacionais capazes de legitimar e dar
visibilidade a uma identidade constitutiva do ser latinoamericano acabam por dar forma
a seu próprio projeto literário, por meio de uma espécie de “sistema poético do mundo”
(CHIAMPI, 1998) calcado na metáfora, do qual Paradiso, sua obra prima, que só se
publicaria em 1966, é o maior exemplo. Na verdade, o autor faz, então, um ensaio de
poética.
Paradoxalmente, por fim, percebe-se que ambos os autores se aproximam ao
flagrar, para a América Latina, o maravilhoso como representação formal de uma
ausência, espécie de espaço criado na linguagem, seja como crônica de uma realidade
maravilhosa, seja como imago resultante de uma paisagem que comunica o espírito ao
indivíduo, mas, de qualquer modo, um espaço aberto ao conhecimento (de si?) que,
parafraseando Lezama (1988), (se) interpreta e (se) reconhece, (se) prefigura e sente
saudades.
Referências bibliográficas
CARPENTIER, A. O reino deste mundo. Trad. João Olavo Saldanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. CHIAMPI, I. Barroco e modernidade. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 1998. ______. Introdução – A história tecida pela linguagem. In: LEZAMA LIMA, J. A expressão americana. Trad. Irlemar Chiampi. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 17-41. ______. O realismo maravilhoso. São Paulo: Perspectiva, 1980.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
607
LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. Trad. Chaim Samuel Katz e Eginardo Pires. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1973. LEZAMA LIMA, J. A expressão americana. Trad. Irlemar Chiampi. São Paulo: Brasiliense, 1988. ______. Paradiso. 2. ed. México D. F., Biblioteca Era, 1970. ORTEGA Y GASSET, J. Intimidades. In: ___. Obras completas: el espectador. Madrid: Revista de Occidente, 1967. p. 635-663. PAZ, O. Os filhos do barro. Trad. Olga Zavary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, 3 a 5 de maio de 2011. UNESP – Campus de São José do Rio Preto
608
O II Colóquio “Vertentes do Fantástico na Literatura”, realizado na UNESP de São José do Rio Preto – SP – Brasil, teve como objetivo dar continuidade à primeira iniciativa do Grupo de Pesquisa “Vertentes do Fantástico na Literatura” que foi a organização do I Colóquio, realizado na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP – Araraquara - SP, em 2009. Na segunda edição do evento, pudemos contar com duas Conferências de especialistas na Área, David Roas Deus (de Barcelona) e Maria Cristina Batalha (do Rio de Janeiro), sete mesas-redondas com a participação de membros do Grupo de Pesquisa “Vertentes do Fantástico na Literatura”, coordenado por Karin Volobuef, todos docentes de Universidades Brasileiras como a UNESP (Campus de Araraquara, Assis e São José do Rio Preto), USP, UFPA, UFU, UFCG, UNEMAT, MACKENZIE, UERJ e UNISUAM. Inscreveram-se cento e vinte comunicações orais e dezesseis painéis de pesquisadores de todo o Brasil (de Rondônia ao Rio Grande do Sul), além de pesquisadores argentinos e portugueses.
Orientou o II Colóquio o espírito de diálogo e intercâmbio que levou à dinamização dos estudos no grande campo das vertentes do “fantástico”, entendido de modo a não se limitar às fronteiras estipuladas por T.Todorov (que apenas reconhece como tal as obras em que leitor e personagem têm dúvidas sobre o caráter natural ou sobrenatural de algum aspecto ou elemento ali relatado), mas compreendido de maneira mais abrangente a fim de abarcar o insólito, o macabro (a exemplo do romance gótico e das histórias de horror), as representações literárias do mito, os contos maravilhosos, as fábulas, o realismo mágico, o romance de fantasia (“Fantasy”), o romance policial de suspense, a ficção científica, etc. Tal abrangência abriu flancos tanto para as produções clássicas como para as contemporâneas. Além disso, o tema ficou ainda mais permeável ao contato com áreas adjacentes, como a Lingüística, a Pedagogia, a Antropologia, a História, o Cinema e as Artes.
Assim, a Comissão Organizadora verificou que o II Colóquio contemplou um leque maior de tendências e possibilidades, permitindo a participação de pesquisadores de várias regiões geográficas brasileiras e do exterior e sendo um eficiente meio de diálogo entre todos os pesquisadores inscritos.
Está prevista a realização do III Colóquio do Grupo, na UNESP de Assis – SP, em 2013.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































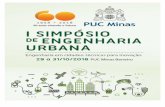


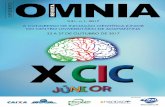



![[Anais do 14º Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente] Modelo ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ec12e5c567f54b404333f/anais-do-14o-simposio-brasileiro-de-automacao-inteligente-modelo-.jpg)







