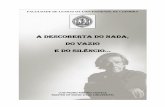A Inveja em Curial e Guelfa (séc. XV) e sua representação na Arte do outono da Idade Média
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE PATRIMÓNIO INDUSTRIAL – Património, Museus e Turismo Industrial Uma Oportunidade para o Séc. XXI (Universidade Católica, Campus Foz. 22-24 de Maio de 2014)
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
THE TRANSFORMATION OF THE MILLING HERITAGE OF BAIXO SABOR WITHIN
THE 20 TH INDUSTRIALIZATION
André Rolo, Arqueólogo.
Sara Oliveira, Arqueóloga.
Resumo: Este trabalho pretende dar a conhecer a moagem da Quinta Branca, a única de
carácter industrial na área de afectação do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. A
sua singularidade faz dela um testemunho de um período de transição que as sociedades
rurais sofreram, na segunda metade do séc. XX.
Abstract: This paper aims to present the milling system of Quinta Branca, the only with a
industrial character, in the area comprehensive of the hydroelectric dam of the Sabor river, in
its lower course. Its singularity makes it a testimony of a transition period that local rural
societies suffered in the second half of the 20th century.
Palavras- Chave: Rio Sabor, Moinhos, Moagens Industriais
Key Words: Sabor River, Mills, Industrial Milling Systems
Com o decorrer dos trabalhos arqueológicos levados a cabo ao abrigo do Plano de Salvaguarda do Património no âmbito do Aproveitamento
Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS)1, procedeu-se, entre muitos outros, ao Estudo sobre Elementos Edificados e Construídos de Carácter Arquitectónico e
Etnográfico. Do registo no território abrangente pela área da albufeira, revelou-se de
grande importância o património molinológico daquele rio, cujas construções funcionais de carácter hidráulico demonstraram uma transformação gradual,
entre o séc. XVIII e segunda metade do séc. XX, altura em que se verificou o abandono quase total daqueles edifícios, provocado pelo decréscimo
acentuado da população e consequente abandono das actividade agrícolas ligadas ao cereal, sentido nesta região transmontana.
Dado que, na referida área, as construções associadas a engenhos hidráulicos tradicionais superam em grande número as de carácter industrial, numa
proporção de cerca de sessenta elementos “primitivos” para um, não
podemos deixar de relevar que este último surge já durante a transformação de uma sociedade rural, em decadência, para a qual a própria modernização
e industrialização acabaram por contribuir em parte. Outro aspecto a ter em conta é o distanciamento temporal entre a adopção
das inovações industriais por esta região e as duas grandes cidades portuguesas, em que as primeiras grandes moagens industriais a vapor
surgiram em meados da segunda metade do séc. XIX (FERREIRA, 1998:
1 O Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (EDP, ACE – Odebrecht – Construções Bento
Pedroso/LENA), cuja construção se encontra em conclusão, localiza-se no concelho de Torre de
Moncorvo, cujas alterações à bacia hidrográfica do Rio Sabor afectarão ainda os concelhos de
Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros.
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
2
272). De facto, as primeiras moagens puramente industriais aqui surgidas,
eram sediadas junto das principais vilas estudadas, construídas na sua maioria já na segunda metade do séc. XX, tendo como força motriz a energia
eléctrica aqui recém-chegada. Representando a transição dos mecanismos hidráulicos tradicionais para estes
últimos, o complexo moageiro da Quinta Branca, no concelho de Alfândega da Fé, apresenta-se-nos como um retrato fiel dessa época de adaptação ao
mundo moderno. A moagem, enquanto elemento transformador de géneros, já não dependia dos cursos hidráulicos, nem dos caprichos dos seus caudais.
Deste modo, garantia-se pela primeira vez uma elevada eficácia e constância produtiva, devendo-se tal à utilização de um motor estacionário a diesel como
força motriz do sistema em causa. O registo de pormenor, levado a cabo pela equipa afecta ao património edificado do AHBS, e que serve de suporte a esta
apresentação, constitui um documento precioso no que toca à preservação da memória e registo de um elemento industrial que revolucionou as populações
locais e seus modos de vida.
A Área Geográfica em Estudo
Com uma albufeira que se estende ao longo de cerca de 60 km, o
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) localiza-se na zona Sul do distrito de Bragança, no Rio Sabor, subsidiário do Rio Douro, pela sua
margem direita.
Fig. 1 – Albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, com a localização da
Quinta Branca a vermelho. (Mapa: João Monteiro, André Rolo)
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
3
Este empreendimento afecta quatro grandes concelhos: Torre de Moncorvo,
Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, pelos quais o diverso património moageiro se estende, quer no grande curso de água em análise
como em grande parte dos seus afluentes. Salvo algumas excepções, a bacia do baixo curso do Sabor é essencialmente
montanhosa, integrando de resto a denominada Terra Quente Transmontana (MATTOSO et al., 2010).
Importa salientar que esta é uma região vincadamente marcada pela seca estival, pelo que os seus recursos hidráulicos, com excepção do Ribeiro de
Moinhos, na freguesia do Felgar (cc. Torre de Moncorvo), são praticamente nulos durante esse período, impedindo o normal funcionamento dos moinhos
hidráulicos nas linhas de água mais pequenas. Também o Rio Sabor, permitiu em tempos as actividades moageiras, durante o Verão, numa época em que
os seus açudes se encontravam intactos, permitindo o represamento de águas. Disso são testemunhos os moinhos sazonais, de cobertura amovível
no Inverno, sendo exemplo disso as tipologias de canais (ROLO et al., 2012)
ou de plataforma (GOMES et al. 2013).
Fig. 2 – O Moinho do Freitas, na freguesia de Paradela, no concelho de Mogadouro, é um
exemplo de um moinho de água tradicional de plataforma do Rio Sabor. (Foto: André Rolo)
A construção de engenhos moageiros não hidráulicos, como a Moagem da
Quinta Branca, alterou as rotinas quotidianas de quem teria que percorrer grandes extensões por caminhos acidentados, até aos velhos moinhos
existentes no fundo do vale, para assim moer o seu cereal. A grande propriedade onde esta se inseria, na freguesia de Cerejais em
Alfândega da Fé, localizava-se na margem direita da Ribeira de Zacarias, afluente do Rio Sabor, num grande terraço onde o vale desta ribeira é amplo
e extenso, permitindo assim uma excelente área de produção hortícola e
também cerealífera, contrastando com a maioria da paisagem.
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
4
Fig. 3 – Área envolvente à Quinta Branca, na qual se podem observar os contrastes
orográficos da paisagem. (Foto: José Rodrigues)
Quinta Branca, um Testemunho da Modernização Rural
A importância desta unidade agrícola deve-se a vários factores, entre eles a
circunstância de configurar uma propriedade de extensão considerável, bem como todo o investimento tecnológico que garantia a sua excelente
produtividade, sendo disso exemplo a própria moagem.
Mandada construir em 1951, pelo proprietário da quinta, Dr. Carlos Roque, a Moagem da Quinta Branca viria a representar uma tendência gradual de
abandono das moagens hidráulicas. Juntando a esse facto a crescente emigração que se fazia sentir e com o advento das moagens eléctricas nas
povoações, tal praticamente ditou o fim das tradicionais moagens hidráulicas locais.
Fig. 4 – A Quinta Branca e os seus edifícios da moagem. (Foto: André Rolo)
Num período em que a quinta terá tido um dos seus auges produtivos, como atesta o prémio atribuído pela Federação Nacional dos Produtores de Trigo em
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
5
19532, que credita esta unidade agrícola como a maior produtora de cereal da
sua região, a moagem é também testemunho desta dinâmica, transformando o cereal ali produzido.
O espírito empreendedor do proprietário é constatável nos componentes escolhidos para a construção da moagem. Além de utilizar mós calcárias
importadas e da melhor qualidade (La-Ferté-Sous-Jouarre), o motor, elemento essencial do sistema, é uma máquina de grande robustez e
desempenho que garantia grande fiabilidade assim como longevidade. Apesar de se tratar de uma unidade moageira munida apenas de um só casal
de mós, não será erróneo referirmo-nos a esta como um sistema industrial, como de resto o confirma a sua matriz predial3.
Com o motor de combustão interna como força motriz, esta poderia laborar o dia inteiro, todo o ano, apenas com as necessárias paragens para devida
manutenção. Só deste modo esta conseguia servir um vasto território, que englobava as seguintes freguesias: Vilar Chão, Parada, Sardão, Sendim da
Ribeira, Cerejais, Ferradosa. Acrescentando a esta vasta área de distribuição,
fornecia ainda uma grande panificação em Alfândega da Fé onde se entregava, todas as semanas, uma carrinha repleta de sacos de farinha.
De acordo com documentos recolhidos no escritório do proprietário na quinta, também nos foi possível apurar que, em anos de inferior colheita de cereal ou
de maior necessidade deste para farinação, o Dr. Roque poderia recorrer à Comissão Reguladora de Moagens de Rama 4 que, através do Grémio da
Lavoura de Alfandega da Fé, lhe atribuía a quantidade carecida. Sabemos também que, para usufruir de tal benefício, a Quinta Branca colaborava de
igual modo fornecendo cereal ao dito Grémio. Podemos assim concluir que esta quinta, embora não seja a de maior
extensão no universo estudado, foi uma das propriedades mais dinâmicas que analisamos no contexto do Baixo Sabor, sendo a sua moagem um elemento
fulcral para a sua modernização.
O Complexo da Moagem da Quinta Branca
Esta unidade moageira compõe-se de várias construções e áreas específicas,
cada uma reservada a determinada parte do processo de farinação que ali decorria. O edifício principal, localizado no extremo Oeste da quinta,
apresenta dois pisos, com o seu alçado principal orientado a Sul e o tardoz a Norte. Anexos a esta construção, existiam ainda uma forja e um coberto, este
último mais tardio que a construção da moagem.
2 Documentos recolhidos no âmbito do PSP/AHBS. Fundo não tratado arquivisticamente
(BS.A.0003 / BS.A.0004). 3 Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé, Fundo da Repartição de Finanças de
Alfândega da Fé, Livro de Registo de Licenças Sujeitas a Imposto de Selo 1945-1961,
cota 1414. 4 Documentos recolhidos no âmbito do PSP/AHBS. Fundo não tratado arquivisticamente
(BS.A.0003 / BS.A.0004).
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
6
Fig. 5 – Levantamento topográfico e arquitectónico da planta da Quinta Branca, com a
localização dos edifícios respeitantes à moagem, delimitados a vermelho. (Desenho: José
Rodrigues)
O edifício principal albergava no piso térreo, para além da área de farinação, uma divisão para o motor e restante parafernália, e um outro para descarga e
armazenamento de cereal, com plataforma de madeira própria para o efeito. O piso superior, com duas divisões, era inteiramente destinado ao
armazenamento de cereal.
Fig. 6 – Corte do edifício principal da moagem, demonstrando a disposição das divisões
internas. (Desenho: José Rodrigues)
A moagem estava equipada com um motor de combustão interna, que lhe
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
7
garantia regularidade produtiva e um movimento constante das mós. Com
efeito, poderemos dividir a moagem, para devida análise, em duas componentes: a parte motriz, que compreende o motor e seu funcionamento;
e a parte da farinação, que engloba o casal de mós e demais mecanismos envolvidos directamente na transformação do cereal.
O funcionamento deste sistema moageiro ocorria fundamentalmente em duas divisões anexas do rés-do-chão, o motor na divisão tardoz enquanto a
farinação se encontrava na divisão principal. Quanto à força motriz, esta caracteriza-se pelo emprego de um motor-
estacionário a diesel, marca Blackstone de modelo JP. De fabrico inglês (Stamford), este motor foi produzido ao longo de um largo período de tempo,
desde 1938 até ao fim da década de 1990, aquando do fecho da fábrica. Tal facto demonstra a sua robustez e eficiência, alimentando inúmeros sistemas
mecânicos compatíveis durante, pelo menos, 52 anos, apenas com pequenas alterações. Foi desenvolvido pela Blackstone a partir de um modelo anterior
de maior capacidade, o OP , sendo que o novo deveria ser mais compacto.
Podendo debitar até 16 cavalos de potência, à sua rotação máxima recomendada de 800 rpm, gerava uma força motriz mais que suficiente para
um bom desempenho da moagem5 .
Fig. 7 – Planta das divisões do motor e da moagem, e sua conjugação. (Desenho: José
Rodrigues)
Fig. 8 – Corte longitudinal das divisões do motor e da moagem, e sua conjugação.
(Desenho: José Rodrigues)
5 Informação obtida da Stamford Library and Museum através do Dr. Paul Walkinshaw.
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
8
O funcionamento deste motor-estacionário horizontal, em termos mecânicos,
é relativamente simples. Possuindo apenas um cilindro lubrificado a óleo e, recorrendo a gasóleo como combustível, gerava força suficiente para os
trabalhos mais árduos, garantindo uma longa fiabilidade por vários anos. O motor era instalado num banco de cimento, que previa os encaixes dos
apoios do mesmo. Além do suporte, deveria ainda ter-se em consideração o sistema de refrigeração, bem como o de alimentação do combustível e escape
de fumos. Quanto ao primeiro foi construído um tanque no interior da divisão do motor
que, através de duas canalizações conectadas a este, permitia a circulação de água, dissipando o calor gerado pelo seu funcionamento. A alimentação de
combustível ocorria de modo semelhante: no canto sudeste da divisão, instalado numa prateleira alta em madeira, existia um contentor cilíndrico
com gasóleo que, recorrendo a um pequeno tubo metálico, fornecia o motor.
Fig. 9 – Divisão do motor da moagem, como encontrada pela equipa de registo. (Foto: André
Rolo)
A evacuação dos fumos de escape era conseguida através de uma canalização que, uma vez saída do motor, seguia por um canal no chão atravessando a
parede Este do compartimento. O sistema de transmissão consistia na utilização de correias ou cintas que,
uma vez instaladas na polia do motor atravessavam para a divisão da moagem abraçando uma outra polia situada por baixo do casal de mós. Uma
vez transferida a rotação a esta polia, um pequeno eixo metálico encastrado nesta, girava por simpatia, conduzindo o movimento a um diferencial. Através
deste é feita a transição de uma rotação de eixo horizontal para uma vertical. A partir deste ponto a disposição dos restantes componentes seria
semelhante à de uma moagem hidráulica tradicional. Do diferencial segue
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
9
então um eixo vertical, que passa pelo olho da mó dormente, apertando com
recurso a uma segurelha, na mó superior.
Fig. 10 – Divisão da moagem. (Foto: André Rolo)
Fig. 11 – Representação em perspectiva da plataforma de moagem. (Desenho: José
Rodrigues)
Na porção superior do engenho moageiro destaca-se o casal de mós. Oriundo de França, consiste num conjunto de pedras calcárias de elevada qualidade,
produzidas na comuna de La-Ferté-Sous-Jouarre, nome também adoptado pela fábrica onde estas eram produzidas. Não sendo caso único no universo
estudado, são no entanto bastante raras devido ao seu custo bastante
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
10
elevado, pois garantiam uma farinação de qualidade superior. Outro factor
que colaborava para tal qualidade do produto final era o desenho de raiados concêntricos, regularmente picados e avivados nas faces internas das mós.
Este esquema garantia que o grão não era apenas esmagado sendo que, desta forma, a casca deste era previamente removida pelos referidos sulcos e
que o endosperma interno, onde se encontra o amido, seria moído de uma forma mais limpa, evitando-se assim a mistura com o farelo resultante dos
invólucros exteriores. Como em todos os moinhos, regularmente era necessário levantar a mó movente e lavrar de novo os respectivos sulcos em
ambas as pedras, dado que estes, com o desgaste resultante do processo de farinação, perdiam a seu relevo.
Para regulação do calibre desejado da farinha a produzir, existia um aliviadouro. Este consistia num sistema de parafuso que, analogamente aos
processos tradicionais, elevaria a mó movente, regulando o espaço entre mós, resultando em diferentes calibrações do processo de farinação.
Fig. 12 e 13 – Vista geral do engenho moageiro, evidenciando-se o tambor que cobre as
mós, e pormenor do aliviadouro, à direita. (Fotos: André Rolo)
O tambor trata-se de uma peça cilíndrica que recobria o casal de mós evitando a disseminação do pó resultante do processo de farinação pela
restante divisão. Reforçando tal necessidade, detectamos ainda uma canalização que, partindo
do tambor e auxiliada por um pequeno motor eléctrico, aspirava as referidas
poeiras. Através de um encanamento metálico, encastrado no mesmo, saía a farinha, podendo este ser fechado com recurso a uma alavanca existente do
seu lado direito. Sobre o topo do tambor encontra-se instalada a moega que, apesar de ser totalmente metálica, perfaz exactamente a mesma função que
as moegas tradicionais: alojando os grãos de cereal no seu interior, deposita-os paulatinamente no olhal da mó movente, através de uma calha. É legível,
tanto no tambor como na moega, uma inscrição correspondente ao fabricante e local de fabrico dos mesmos, Almeida / S. Mamede de Coronado / Feira
Nova, no concelho da Trofa.
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
11
Resta ainda referir que, situada originalmente perto do engenho moageiro,
constava ainda uma tarara. Trata-se de um aparelho oriundo de França, da comuna de Niort, criado na segunda metade do séc. XVIII, que servia para
triar o cereal de diferentes qualidades ou calibres, servindo de igual modo para separar o cereal de impurezas nele incluídas. Possui a marca do
fabricante, Marot, estampada numa das suas laterais. Apesar de não ter sido o primeiro engenho do seu tipo a ser inventado e comercializado, este modelo
possuía algumas inovações tecnológicas que garantiam um processamento do cereal bastante mais eficaz que os seus antecedentes Vachon, Pernollet e
Gasquet (Journal d’Agriculture Pratique, 1853: 72). Utilizado principalmente no período das sementeiras, através desta triagem, garantia-se um cultivo
exclusivo de um tipo de cereal, ou de um determinado calibre, sem quaisquer intrusões de outras espécies ou variedades. Era igualmente utilizada quando
se pretendia uma farinha de maior qualidade, selecionando-se os grãos para esse efeito. Foi utilizada até ao abandono da moagem, na década de 70.
Fig. 14 – Tarara Marot da Quinta Branca. (Fotos: André Rolo)
Este complexo constitui assim um retrato precioso do que era, aquando da
sua criação, uma paisagem em mutação. O surto de migração da população na década de 1960 resultaria no abandono de grande parte dos campos
cerealíferos, originando profundas alterações nas antigas tradições sócio-económicas locais.
A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO MOLINOLÓGICO DO BAIXO SABOR COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO SÉC. XX.
12
Dada a sua natureza e volume de produção foi considerada uma moagem
industrial, estabelecendo na área em estudo a transição entre as antigas moagens hidráulicas para as movidas a electricidade.
Como exemplar único na área dos trabalhos do empreendimento hidroeléctrico torna-se fundamental a sua preservação, pelo que se procedeu
ao seu desmonte e depósito ao abrigo da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, possibilitando uma eventual musealização da Moagem da Quinta Branca.
Bibliografia
CORTINHAS, Luísa. A “Casa Grande”. Associação de Desenvolvimento da Terra Quente
Transmontana e Município de Alfândega da Fé, 2010.
DIAS, Jorge et al.Sistemas Primitivos de Moagem em Portugal. Moinhos, Azenhas e Atafonas.
Instituto de Alta Cultura, Porto, 1959.
FERREIRA, Jaime A. C. Um século de Moagem em Portugal, de 1821 a 1920. Das Fábricas às
Companhias e aos Grupos de Portugal e Colónias, e da Sociedade Industrial Aliança. In Jorge
Fernandes Alves (coord.). A Indústria Portuense em Perspectiva Histórica. Actas do Colóquio.
CLC-FLUP, 1998, pp. 271-284.
MATTOSO, José; DAVEAU, Suzanne; BELO, Duarte. Portugal – O Sabor da Terra. 2ª Ed.
Lisboa, Círculo de Leitores, 2010.
GOMES, Paulo Dordio (et al.). Memória Descritiva EP 96, 355, 319, 281. Plano de
Salvaguarda do Património, Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo
Sabor, 2010.
GOMES, Paulo Dordio (et al.). Memória Descritiva EP 234 – O Moinho do Freitas em Paradela.
Plano de Salvaguarda do Património, Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico do
Baixo Sabor. 2013.
ROLO, André (et al.). Património Molinológico no Rio Sabor (Trás-os-Montes, Portugal). O
moinho do Poço das Gralhas (Cardanha, Torre de Moncorvo). In 8º Congresso Internacional
de Molinología, Innovación y Cuiencia en el Patrimonio Etnográfico, Tui (Pontevedra), 2012,
pp.227-230.
Os Autores
André Rolo, arqueólogo licenciado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
participou em alguns projectos de investigação e escavação de várias cronologias, em
Portugal e Polónia. Iniciou a sua actividade profissional na escavação do Cemitério da Ordem
do Carmo, prosseguindo posteriormente como arqueólogo de campo responsável pelos
trabalhos de campo do levantamento patrimonial edificado e etnográfico, ao abrigo do Plano
de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. Actualmente
participa no levantamento patrimonial do Carril Mourisco, na faixa raiana transmontana, ao
serviço da Direcção Regional da Cultura Norte.
Sara Oliveira é arqueóloga licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
tendo iniciado a sua formação profissional no Solar dos Condes de Resende, em Vila Nova de
Gaia, sob orientação do Dr. Gonçalves Guimarães. Foi arqueóloga de campo responsável
pelos trabalhos de campo do levantamento patrimonial edificado e etnográfico, ao abrigo do
Plano de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor.
Efectua actualmente o levantamento patrimonial do Carril Mourisco, na faixa raiana
transmontana, ao serviço da Direcção Regional da Cultura Norte.