A FUNÇÃO SOCIAL DOS INSTITUTOS DE DIREITO PRIVADO NA PERSPECTIVA DO CAPITALISMO HUMANISTA
Transcript of A FUNÇÃO SOCIAL DOS INSTITUTOS DE DIREITO PRIVADO NA PERSPECTIVA DO CAPITALISMO HUMANISTA
A FUNÇÃO SOCIAL DOS INSTITUTOS DE DIREITO PRIVADO NA
PERSPECTIVA DO CAPITALISMO HUMANISTA
Diogo Bombini da Costa1
RESUMO: Baseado em premissas de Direito Econômico e Filosofia do Direito, este trabalho teve como escopo analisar o capitalismo humanista e sua influência na funcionalização dos institutos de Direito Privado. O tema é importante para o atual cenário socioeconômico nacional e mundial, tendo em vista que os sistemas econômicos apresentados ao longo da história, não lograram êxito em alcançar o bem comum difundido pelo ideário revolucionário francês do século XVIII. O trabalho foi desenvolvido sob a perspectiva do pensamento de Ricardo Hasson Sayeg, Livre-docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em seu artigo elaborado no Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade da Pessoa Humana. Resultante de uma dialética entre os clássicos modelos econômicos, o capitalismo humanista é um terceiro modelo que visa suprir as grandes necessidades de concretização dos direitos humanos em meio ao cenário econômico-jurídico hodierno, mediante a funcionalização dos institutos de direito privado. A Dignidade da Pessoa Humana é o ápice ideológico da contemporaneidade e deve ser aplicada juridicamente garantindo a liberdade em seu amplo aspecto. Seja tanto pelo modo omissivo quanto comissivo, a Dignidade Humana deve ser respeitada evitando que o Estado e/ou particular a viole, o que acarretará na diminuição da liberdade que cada indivíduo detém.
Palavras-chave: Direito, Capitalismo, Dignidade da Pessoa Humana, Função
Social, Institutos de Direito Privado.
1. INTRODUÇÃO
Desenvolvido pelo livre-docente Ricardo Hasson Sayeg (2010) em sua
tese de doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o
capitalismo humanista é o estudo do sistema econômico liberalista sob a ótica do
humanismo antropofilíaco.
1 Graduando em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes/SP.
Com uma perspectiva fraternal de promover uma relativização na
economia de mercado, visando assegurar o mínimo vital para um
desenvolvimento do ser humano, tal linha de pesquisa visa compatibilizar
desenvolvimento econômico com o social, na perspectiva da solidariedade. Mais
ainda, visa incluir o ser humano que está à margem dos direitos humanos –
sociais e individuais – propondo assegurar condições fáticas para se desenvolver
na órbita política, cultural, econômica e social, garantindo os recursos mínimos
para a existência digna.
O ponto fundamental da doutrina capitalista humanista é dar iguais
chances para que todos os seres humanos possam se desenvolver, consagrando
a liberdade de iniciativa e, assegurando por outro lado, o essencial a uma
existência condizente com a Dignidade da Pessoa Humana; visando coibir o
abuso do poder econômico, naturalmente evoluído da racionalidade
individualista.
O tema surge de uma perspectiva a partir da Filosofia do Direito para uma
reflexão da contemporaneidade, visando elucidar os atuais problemas na
concretização dos direitos humanos na perspectiva econômica, principalmente
em relação aos efeitos entre particulares.
Entre os principais doutrinadores que embasaram a pesquisa foram Ingo
Wolfgang Sarlet (2008) com sua obra sobre a Dignidade da Pessoa Humana, o
livro O Capitalismo Humanista (2012) dos autores Ricardo Hansson Sayeg e
Wagner Balera, o livro Introdução à Economia do autor José Paschoal Rosseti.
A metodologia utilizada neste trabalho foi a de revisão bibliográfica, sob a
ótica hipotética-dedutiva.
2. PERSPECTIVA DUALISTA DOS SISTEMAS ECONÔMICOS
Para analisar de forma completa o objeto da presente pesquisa, deve-se
antes investigar o desenvolvimento do pensamento econômico na história, as
formas de exploração da atividade humana, compreendendo as coisas e o
próprio ser humano.
Conforme Rosseti (2010) existem três formas em que uma sociedade se
organiza para alocar recurso e repartir os resultados: liberdade de mercado, onde
se almeja a ampla liberdade de escolha de bens e sua repartição sem
interferências; comando centralizado, na qual o soberano escolhe quais bens
produzir e como reparti-los; e, por último, a fusão destas duas formas.
Pondera o autor (idem) que nas sociedades antigas, antes da segunda
metade do século XVIII, predominava uma economia que se caracterizava pelas
restrições e regulamentação do comando central, com pouca ou nenhuma
liberdade de escolha. Era baseada na agricultura e em uma forma rudimentar de
mercado. O mesmo doutrinador aduz que essas sociedades evoluíram para o
feudalismo onde os produtores cediam parte da produção em troca de lealdade
militar e proteção.
Hunt e Sherman (2010) afirmam que o declínio do sistema feudal e o
surgimento de um mercado mais complexo foram consequência do progresso
tecnológico da agricultura entre os séculos XI e XVIII. Dentre outras
consequências essa é a mais importante, certo que elevou a qualidade de vida e
consequentemente ao aumento populacional da época, operando-se dessa
maneira o êxodo rural.
Os mesmos autores (idem) esclarecem que com o crescimento das
cidades e o consequente surgimento da proto-indústria manufatureira, mais
especialmente a inglesa por ser a pioneira, favoreceu o aparecimento do
comércio à distância. Rosseti (2010) afirma que as características básicas desse
período, que provieram da Idade Média a metade do séc. XVIII, foi
essencialmente a criação de Estados fortes, expansão do mercado e liberdades
econômica sob restrições.
Diante da aspiração por maiores liberdades surgiu uma rebelião de novas
ideias. Rosseti (2010) comenta que essa revolução surgiu em três formas: a
Revolução Industrial, Revolução Francesa e Revolução Americana. Ainda
Rosseti apud Stenier relata que os homens não aceitavam mais cegamente o
ponto de vista de que era natural e conveniente que o governo regulasse todos
os aspectos da vida econômica e social.
2.1 ESTADO MÍNIMO
A famosa doutrina do escocês Adam Smith propôs que o interesse
individual, regulado pela ordem natural ou mão invisível, resultaria em benefício à
sociedade, com maior eficácia do que com a intenção de contribuir para ela.
Esse novo ordenamento institucional, segundo Nusdeo (2001), detém
como caráter psicológico-comportamental o espírito hedonista, o qual significa
que o indivíduo visa buscar a maximização dos resultados de suas ações e
iniciativas. Semelhante sentido é encontrado na definição por Houaiss (2011)
com rubrica em psicologia, teoria segundo a qual o comportamento animal ou
humano é motivado pelo desejo de prazer e pelo de evitar o desprazer.
Rosseti (2010) sintetiza o pensamento liberal em quatro princípios que
abreviados dizem que cada agente, encarado singularmente por sua
racionalidade, guia-se visando maximizar seus resultados e, almejando seus
interesses sem, no entanto, desejar os interesses coletivos, acaba por contribuir
sem anseio. Esse espírito é equilibrado pelas forças da automatização do
mercado traduzida pela lei da oferta e demanda, que por sua vez é ajustada pela
concorrência perfeita.
Na prática, entretanto, esse pensamento não logrou seu objetivo de
favorecer a coletividade. Segundo Hunt e Sherman (2010) a desigualdade
econômica atingiu níveis altíssimos, e a renda da classe empresarial não tinha
comparação com a renda da classe trabalhadora. Predominou, então, a doutrina
darwinista, afirmadora da tese que na competição os mais fortes é que obtiveram
sucesso.
Os autores (idem) descrevem que a competição sem freios por mais lucros
desencadeou uma miséria social com a divisão da sociedade em classes, de
natureza tão injusta quanto à estrutura medieval de classes. A diferença entre
elas é que a filiação à classe dominante não dependia mais da genealogia, e sim
da propriedade, a qual era transmitida pela herança.
Rosseti (2010) afirma que os vícios da economia de mercado foram
devidos às irregularidades conceituais da teoria somadas à realidade econômica,
e destaca como defeito a inoperância da concorrência perfeita devido à
cooperação dos agentes em promover seus interesses, formando oligopólios e
monopólios.
Outro problema citado pelo supramencionado autor (idem) é a
incapacidade para avaliação de mérito de bens e serviços. A racionalidade
econômica não é garantia suficiente para que os padrões de produção sejam
plenamente satisfatórios do ponto de vista social e individual, que somados ao
poder de persuasão, sustentado pelo poder econômico, transforma os
consumidores em bonifrates (Guilaumer Erner (2005) tece várias considerações
a respeito da visão empresarial sobre os consumidores), fatores esses que causa
efeitos, principalmente negativos, em terceiros alheios às relações de
determinado ato econômico, como exemplo, a poluição.
Conjuntamente com esses fatores o autor adiciona as ineficiências
distributivas propondo que a liberdade de ação não é um direito erguido a todos,
justamente pela racionalidade econômica não garantir plenamente uma produção
ideal do pondo de vista social e individual juntamente com o poder de persuasão,
sustentado pelo poderio econômico. A capacidade de desenvolver negócios e
realizar fortuna não tem o mesmo significado para todos e, assim, acaba por
resultar em disfunções distributivas ao longo do tempo, que acaba deixando
grande parte das pessoas mais vulneráveis, e outra pequena parte mais
confortável.
A instabilidade conjuntural é outra causa que o autor aponta (2010). Como
a oferta cria sua própria procura, tudo que foi produzido seria escoado. No
entanto a história mostra que há oscilações entre momentos de euforia e outros
de depressão, incidentes diretamente no modo de vida da sociedade.
Por fim, o economista (2010) incrementa que esse sistema é incapaz de
produzir bens públicos como a segurança nacional, saneamento básico e
limpeza urbana; e semipúblicos como a educação e a saúde.
Os públicos, por sua natureza indivisível e incomensurável, acabam por
dissipar a principal característica do sistema, o governo mínimo. Os semipúblicos
que, apesar de serem comensuráveis ficam defasados em razão do mercado não
garantir em produzi-los à expectativa geral.
Todos esses fatores levam ao último defeito que Rosseti apud Lange
(2010) descreve: a ineficácia alocativa. Os produtores não ouvem as vozes de
quem mais necessita, mas as de quem tem mais recursos para adquirir os bens
e serviços por eles produzidos. Por isso a economia dos meios de produção
privado não garante, necessariamente, um alcance social.
2.2 COMANDO CENTRAL
Diante do inconformismo socioeconômico operou-se uma participação
maior do Estado, pelo Direito, na economia. Se assim não fosse, os agentes
econômicos privados seriam os árbitros de suas próprias condutas (Rosseti:
2010), e o Direito não cumpriria sua função social de organizar a vida em
sociedade, buscando a justiça e a igualdade formal e material.
Surgiu-se a revolução socialista, que Hunt e Sherman (2010) relatam
haver resultado da união da ideia liberal de igualdade de todos os homens com a
noção paternalista e cristã de que todo homem deve auxiliar seu irmão. Rosseti
(2010) expõe que a economia de comando central tem suas raízes no
pensamento antigo, mas a vertente moderna está nos utopistas franceses e
associativistas ingleses dos séculos XVII, XVIII e XIX.
Rosseti (2010) descreve que toda a produção é controlada pelo governo.
As terras, as indústrias, os bens de capital, tudo sofre o controle do Estado. É ele
quem determina como e para que finalidades os fatores de produção devam ser
mobilizados, suprimindo quase que totalmente a propriedade privada.
Outro ponto segundo o autor (idem) é a justaposição dos poderes políticos
e econômicos. O governo centraliza o poder político, no sentido de estabelecer
as diretrizes estratégicas da economia; e o poder econômico, no sentido de
dispor, via centrais de planificação, da totalidade dos recursos econômicos da
nação.
A soberania do planejador substitui a soberania do consumidor e do
produtor. A justificativa desta mudança é a busca da racionalidade na alocação
de recursos corrigindo uma das deficiências da economia de mercado: a
ineficácia alocativa.
O último mote é a supremacia de medidas compulsórias de gestão. Com a
centralização da economia e a soberania do planejador, as medidas de caráter
compulsório passam a prevalecer. Para alcança-las fixam-se metas operacionais
e métodos burocráticos de gestão para acompanhar sua realização, suprimindo o
sistema de incentivos fundamentados na busca do interesse próprio.
Não obstante, a trajetória histórica comprova que o regime econômico sob
o comando central não conseguiu resguardar, satisfatoriamente, um
desenvolvimento pleno e progressista, manifestando defeitos nesses sistemas.
Entre tais defeitos, Rosseti (2010) expõe que devido a centralização de
comando, a burocratização, processo pelo qual todas as decisões devem passar
necessariamente pelo governo, tornou inviável e muito dispendioso para o
sistema, que ficou vulnerável e sujeito à propagação de erros estratégicos. O
Estado como único agente econômico tornou-se um péssimo administrador.
Essa má administração leva o que o autor (2010) compreende como
congelamento de padrões. Dada a complexidade de relações e das transações
que se estabelecem ao longo do sistema, uma vez definidas, elas tendem a se
perpetuar. O Estado não é rápido em solucionar as dificuldades que o sistema
fomenta.
O congelamento de padrões leva a insubmissão ao sistema. Exemplos
disso são as atividades agrícolas e o comércio varejista, instituições que mais se
amoldam à economia de mercado do que ao comando centralizado. O
planejamento para o setor industrial não é aplicável para o setor agrícola, devido
às adversidades naturais não controladas pelo homem.
Rosseti (2010) aponta ainda o desalinhamento de escolhas como defeito
dos modelos centrais. Nestes modelos é difícil ajustar as vontades de cada
indivíduo da sociedade e as aspirações do comando central.
Por fim, o economista (idem) ressalta que o resultado desses defeitos gera
uma consequência maior, a perda progressiva da eficiência produtiva. O
resultado da burocratização, congelamento de padrões e a vulnerabilidade de
erros reduzem a taxa de crescimento. E essa tendência se torna rígida ao ponto
da falência do sistema, tal qual como ocorreu na URSS na década de 1980.
2.3 SOLUÇÃO POSSÍVEL
Com a falência do comando central surgiu uma nova tendência ao
liberalismo. Por que, então, o liberalismo prevaleceu?
Sayeg (2010) afirma que o liberalismo permaneceu por ser uma
característica à natureza humana. Mankiw (2011) afirma que somos movidos por
incentivos.
Mas, para responder, satisfatoriamente, essa pergunta é necessário
regredir ao primitivismo humano. O documentário Instintos (2005) produzido pela
BBC e TLC, aduz que as ações de competição e concorrência – fundamentos da
economia de mercado – são instintos desenvolvidos por nossos ancestrais em
razão das adversidades impostas pela natureza. Para que o ser humano
sobrevivesse e evoluísse face aquelas adversidades, foram desenvolvidos
mecanismos naturais.
Um desses mecanismos é o de recompensa. Caso houvesse uma vitória,
para ensinar que aquela ação foi benéfica para o sujeito, era liberado hormônios
que levavam à sensação de prazer. Concomitante, outro mecanismo era o de
punição. Caso houvesse derrota, para nos ensinar a não cometer mais aquele
erro que nos levou ao fracasso, eram liberados hormônios que davam a
sensação de vergonha, humilhação. E esses mecanismos permaneceram em
nós até hoje. Por isso a derrota é desagradável e a nossa tendência é maximizar
os ganhos.
Kant (2012) nos revela que o ser humano contem duas tendências
antagonistas de convivência: uma natural de associar uns com outros por que
nessa condição sentem-se mais humanos; outra de permanecer isolado,
caracterizando um traço antissocial que inclina a dirigir tudo visando somente
seus próprios fins e encontrando; conclui que essa resistência é o que desperta
todos os poderes humanos levando os indivíduos a superar o ócio e,
impulsionados pelo desejo de honra, poder, propriedade, estabelecem uma
posição para si entre seus semelhantes, de quem eles não pode se afastar nem
dispensar.
Portanto, a economia de mercado se faz necessária para assegurar uma
das características da natureza humana: a autonomia como liberdade individual.
Como já explanado, a pura liberdade tem efeitos nocivos para toda a sociedade.
Então, a questão é: qual a quantidade ideal, quais são os limites da liberdade
para que todos tenham condições de desenvolver dignamente?
Disso passaremos a nos ocupar, sustentando a perspectiva do capitalismo
humanista como fator de funcionalização dos institutos de direito privado.
3. A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DO CAPITALISMO HUMANISTA
Cediço que o Capitalismo Humanista é uma das soluções possíveis para o
conflito entre o sistema liberal e o sistema socialista, afirma Ricardo Sayeg
(2010) ser tal sistema a consagração da liberdade e da igualdade, na medida
proporcional fixada pelo solidarismo, positivado como objetivo fundamental da
República no art. 3º, inciso I, da Constituição de 1988.
Sobre o solidarismo, explica Cardoso (2010) que o tal movimento encontra
seu sentido como possível solução para um mundo injusto, surgindo pelas
noções de cooperação e responsabilidade social uma nova racionalidade
jurídica, de caráter ético e sociabilizador, cujo ponto nevrálgico é a Dignidade da
Pessoa Humana em sentido difuso.
É preciso enfatizar que apesar da sua alta carga ética, a Dignidade da
Pessoa Humana tem uma definição imprecisa e complexa (Peduzzi, 2009).
Sobre tal situação, assevera Ingo Sarlet (2010) que é no mínimo difícil uma
conceituação clara e uniforme do princípio, na medida em que se trata de um
conceito de contornos vagos e imprecisos devido a sua natureza polissêmica.
Sarlet, porém, propõe um conceito (2010):
Dignidade da pessoa humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão aos demais seres que integram a rede da vida.
Com fundamento na Dignidade da Pessoa Humana o Capitalismo
Humanista, consagra a autonomia moderada pela responsabilidade social
recíproca, que por seu turno é baseada em um único interesse: o bem comum.
Nesse ponto Sayeg (2010) enfatiza que para todos os indivíduos serem
introduzidos nesse Capitalismo Humanista, o individualismo deve ser
relativizado, e para isso deve se garantir condições necessárias e fundamentais
para que as pessoas possam participar dessa economia competitiva.
O acesso à moradia, educação, saúde, lazer, trabalho, segurança,
alimentação e assistência – direitos consagrados no artigo 6º da Constituição
Federal –, são as condições necessárias que o indivíduo necessita para
participar no processo de desenvolvimento do grupo a qual pertence, e devem
ser garantidos como um mínimo existencial.
Sobre esse aspecto, o acesso ao mínimo vital não deve ser defensável
como uma distribuição de renda de forma direta, o que caracterizaria uma
desmotivação para uma competição saudável, mas como um firmamento de
regras positivas voltadas ao desenvolvimento pleno e à possibilidade de acesso
ao desenvolvimento e consequente bem estar.
Infere-se, destarte, que a ideia de Capitalismo Humanista encontra
respaldo no Texto Maior da República. É a Constituição que dá azo para a
realização dos direitos fundamentais e, consequentemente, a Dignidade da
Pessoa Humana e livre iniciativa (artigos 1º e 170 da Lei Maior). Cardoso apud
Steimetz (2010) explica que houve uma revolução copernicana no
constitucionalismo contemporâneo, jogando os direitos fundamentais para o
centro da interpretação/aplicação do Direito Positivo.
Esse movimento centrípeto que coloca os direitos fundamentais no cerne
da dogmática jurídica contemporânea tem um liame jusfilosófico com o
movimento chamado de neoconstitucionalismo. Segundo Strek (2009) os
problemas sociais foram jogados para a constituição, fazendo surgir uma
necessidade de o exegeta completar os métodos de aplicação do direito com
novas técnicas.
Esse processo de constitucionalização carregou para dentro da
Constituição o Direito Privado, fazendo nascerem expressões como ‘vinculação
dos particulares aos direitos fundamentais’, ‘horizontalização dos direitos
fundamentais’ e ‘constitucionalização do Direito Privado’ (Cardoso: 2010). Todos
guardando relação entre si, mas com objetivo uniforme de unir os particulares
mediante o respeito (recíproco) aos direitos fundamentais.
Nesse sentido, complementa Sarlet (2010) que todos os particulares
encontram-se diretamente ligados pelo princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, o que implica a existência de deveres de proteção e respeito, por sua
natureza igualitária e por exprimir a ideia de solidariedade entre os membros da
sociedade.
Isso nos leva, como propõe Cardoso (2010), a questionar como estimular o
hábito do sujeito obedecer a esses novos paradigmas, sem provocar sujeição?
Como exercer a autoridade a fim de produzir a liberdade em vez de poder, a
autonomia em vez de submissão?
Segundo o próprio autor (idem), esse respeito à solidariedade é obtido
através do ordenamento jurídico, seja nas políticas públicas voltadas à
conscientização, seja firmando regras de compatibilização de interesses privados
e coletivos, como a função social, do que passaremos a nos ocupar.
4. A FUNÇÃO SOCIAL COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DO CAPITALISMO
HUMANISTA
A fonte da Função Social no Direito é encontrada na sociologia, mais
precisamente em Hebert Spencer – na Escola Biológica, e em Émile Durkheim a
qual teve maior expressividade. Função Social, nesta ciência, é a atividade que
determinado instituto realiza no organismo social. No Direito essa ideia foi
veiculada para determinar como dever ser essa atividade (Lakatos e Marconi:
2010).
Didier (2010) alude que se trata de uma técnica legislativa contemporânea,
onde o exegeta constrói o conceito e determina a atividade que o instituto jurídico
tem. Trata-se de uma cláusula geral, a qual permite ao exegeta da norma ampla
liberdade de interpretação, tanto para desenvolver seu conteúdo, quanto para
elaborar sua consequência.
É através dessas expressões de conteúdo semântico amplo que o
capitalismo humano tem espaço para progredir. Para preencher seu sentido, o
intérprete pode se valer de concepções de outras ciências, dando dinamismo ao
Direito, complementando uma necessidade que a sociedade pós-moderna exige:
a dinâmica das relações humanas (Cardoso: 2010).
Adiante veremos a função social aplicada a determinados institutos
jurídicos como instrumento para efetividade do capitalismo humanista.
4.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A VALORIZAÇÃO
FUNCIONAL DA POSSE
Engendrado o termo Função Social, pergunta-se: qual a Função Social
que a propriedade deve ter no Capitalismo Humanista, haja vista ser signo da
economia de mercado e o objeto de contraponto dos sistemas liberais e
socialistas?
Respondendo, a função precípua da propriedade é gerar riquezas que
atendam as necessidades humanas. Nesse passo, Função Social, segundo
Martins e Bastos (2001), é a utilização econômica plena do bem sem, contudo,
abusa-lo prejudicando outrem. Não se trata de meio para acumular riquezas
abusadamente, mas de um meio de prosperidade.
A Constituição traz isso em seu bojo nos artigos 5º, XXII – a propriedade
atenderá a sua função social –, conjuntamente com o artigo 170, II e III – a
ordem econômica tem por fim assegurar a todos a existência digna observando a
função social da propriedade privada. Função essa que é o (I) aproveitamento
racional e adequado da propriedade; com a (II) utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis, preservando o meio ambiente; concomitante com a (III)
observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e (IV)
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores
(artigo 186 da Constituição Federal).
Para tanto a própria Lei Fundamental prevê punições àqueles que não
destinarem a correta utilização do bem, desestimulando o abuso do poder de
propriedade, com sanções que vão da edificação compulsória, passando pela
tributação progressiva, até a desapropriação com indenização paga em títulos da
dívida pública (artigo 182 §4º da Constituição, regulamentado pelo Estatuto das
Cidades).
Esta correta utilização do bem sem abusá-lo economicamente, segundo
Cardoso (2010), diferencia-se da função social da posse. Enquanto propriedade
é um direito-dever, o que vale repetir é a utilização econômica compatível com os
interesses sociais; a posse tem em sua função social um direito materializado
vinculado à necessidade de moradia ou trabalho. A função social da posse é o
âmago da função social da propriedade, e como diz Venosa (2010), não há que
se proteger a posse do titular do bem se essa propriedade não cumpre a sua
função social.
Cardoso (2010) diz mais, aduzindo que a função social da posse é
admitida como uma das formas de operacionalizar a solidariedade contra o uso
egoístico da propriedade, valorizando mais a real utilidade do bem do que sua
titularidade. Segundo ele esta ótica está reconhecida e positivada em diversos
dispositivos como a usucapião urbana (art. 10 da Lei 10.257/01); política de
reforma agrária (art. 16 da Lei 4.504/64); a desapropriação judiciária (art. 1.228,
§4º da Lei 10.406/02); dentre outras espécies de usucapião.
Vislumbra-se, assim, que a propriedade é um direito fundamental que deve
ser expendido a todos na medida proporcional de suas necessidades e méritos,
fazendo surgir o capitalismo humanista. Assim, o próximo instituo a seguir é
emanado da função social da propriedade.
4.2 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA
Derivada da função social da propriedade, a função social da empresa
está expressamente na Constituição de 1988, que valoriza o princípio da livre
iniciativa e da valorização social do trabalho, reservando-lhe um desempenho
sem precedentes no título relacionado à ordem econômica (art. 170 e seguintes
da Constituição).
A empresa, como agente econômico, tem fundamental prerrogativa no
sistema econômico, pois é ela a fonte principal que gera emprego, produz bens e
serviços e forma receitas fiscais para o Estado (Cardoso: 2010). Dito isso, é ela a
principal força motriz da livre iniciativa, a qual é consagrada nos artigos 1º e 170
da Constituição Federal, que, concomitantemente, acolhe a Dignidade da Pessoa
Humana. Essa disposição jurídica no texto constitucional solidifica o
entendimento que para um liberalismo saudável é necessário sua humanização.
Aduz o Cardoso (2010), que a empresa não escapa do funcionalismo
social, devido ao seu papel relevante na economia de mercado. Prova disto é o
advento da nova sistemática jurídica de falência e recuperação da empresa, que
visa à manutenção do empreendimento, mesmo que para tanto precise afastar
seu mau administrador, protegendo a concorrência perfeita e a preservando os
postos de trabalho. Em última ratio, a extinção de uma empresa prejudica em
muito a saúde da economia de mercado humanizada, e por isso precisa ser
evitada.
Verçosa apud Carvalhosa (2008) consigna que a autonomia empresarial
encontra suas fronteiras em dois tipos de direito: o direito de concorrência e o
direito dos consumidores. Também chamado de direito antitruste, o direito de
concorrência é responsável pela correção de um dos maiores defeitos do
liberalismo: sua tendência à formação de monopólios e oligopólios pelo abuso de
poder econômico. Estipulado a partir do artigo 173, §4º da Constituição é
disciplinado pela lei 12.529/11, a qual estabelece o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE). Tal sistemática demonstra a incursão do Direito
Público no âmbito privado para promover a função social da empresa e proteger
a sociedade, mais precisamente, dos consumidores.
Consumidor segundo o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 2º
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final, equiparando-se para esse mesmo fim a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo. Trata-se sem dúvida alguma do reconhecimento da vulnerabilidade
daqueles que estão expostos às práticas comerciais abusivas de mercado e por
isso precisam de um conjunto de regras protetivas especiais voltadas a
assegurar o princípio da igualdade em relação àqueles que dominam a relação
jurídica.
Por fim, destaca Verçosa apud Carvalhosa (2008) que o moderno Direito
Público tende a ver o homem não somente como sujeito do ato econômico, mas
também como objeto da ação produtiva, criando um sistema complexo de
proteção jurídica das relações estabelecidas entre os agentes da produção e a
sociedade.
4.3 A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
Outra funcionalização importante é a feita na seara contratual. Por sua
grande importância como instrumento de circulação das riquezas, essa nova
perspectiva relativizou o princípio da pacta sunt servanda, antes consagrado no
direito contratual. Hoje, os contratos não podem servir para prejudicar terceiros.
O interesse sai da esfera intersubjetiva para adentrar na esfera de interesse
social, tal qual aduz o artigo 421 do Código Civil.
A propósito, Rosenvald (2008) defende a liberdade de contratar e a
autonomia privada, fundamentos legitimadores da economia de mercado, no
entanto, limitadas pelo interesse social.
Vinculada à ideia, foi superado o pensamento dicotômico entre o Direito
Público e Direito Privado, vista pelo Gonçalves apud Tepedino (2007) como o
fenômeno da inserção de normas de ordem pública no âmbito do Direito Privado
(como já dito é produto do neoconstitucionalismo), que inicialmente foi observado
nos microssistemas legais como Lei de Locações e Código de Defesa do
Consumidor.
O Importante a ressaltar ainda dentro da superação da dicotomia público
privado é a Teoria do Diálogo das Fontes, que visa complementar os clássicos
critérios de interpretação/aplicação para superar as aparentes antinomias. No
pensamento de José Ricardo Alvarez Vianna (2011) a teoria visa solucionar o
conflito antinômico legal no qual o exegeta irá buscar identificar a finalidade e a
essência do bem jurídico, objeto da lide, para formular, num processo simbiótico,
a solução que o caso demanda, de acordo com as diretivas jurídicas que regem
a matéria, em sintonia com os parâmetros Constitucionais.
O objetivo de tal principiologia, sem dúvida alguma é preservar a
autonomia da vontade do indivíduo, colocando as relações contratuais no plano
ético social objetivo. Nesse sentido, podemos citar como exemplo os institutos
denominados vícios do consentimento, previstos no Código Civil de 2002 (artigos
138 á 165 do Codex Civile), voltados para a preservação da livre vontade no
firmamento dos negócios jurídicos em geral.
Com efeito, ao prever que o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo,
lesão e a fraude, quando bastante provados, são capazes de provocar a
anulação de um contrato porque a livre vontade de um indivíduo não foi
externada, está a sistemática vigente, num contexto positivo de solidariedade,
preservando o princípio da autonomia de vontade como norte condutor das
relações contratuais.
4.4 A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA COMO SUPEDÂNEO
LÓGICO DE PROTEÇÃO CONTRA A VUNERABILIDADE
Após o liberalismo clássico de meados do século XIX e,
concomitantemente, a Revolução Industrial, a responsabilidade de reparar o
dano ganhou um novo elemento, a culpa. Ensina Gonçalves (2009) que a
responsabilidade de reparar o dano antes dessa época era baseada na vingança,
na reação da vítima buscar a reparação do dano, quase sempre com suas
próprias forças, que por vezes era desproporcional causando injustiças eternas.
Com a chegada do evento operou-se a necessidade da responsabilidade
calcada na culpa lato sensu, ou seja, que para reparar o dano, a vítima deva
comprovar que o agente causador violou intencionalmente o dever de cuidado
com o seu patrimônio (dolo), ou por falta de diligência que se exige do homem
médio (culpa em sentido estrito).
Entretanto, essa teoria da responsabilidade subjetiva baseada na culpa
lato sensu não logrou êxito em satisfazer – ao menos na maioria dos casos – a
reparação do dano. Em certos casos é difícil provar a culpa stricto senso em
qualquer de suas modalidades (negligência, imperícia e imprudência), para não
falar no dolo.
Emergiu uma mudança no instituto da responsabilidade civil fazendo
retornar a responsabilidade objetiva, mas não àquela fundamentada na vingança
e sim, a alicerçada no risco que determinada atividade expõe (Gonçalves: 2009).
Encarada como “risco-proveito”, a responsabilidade objetiva refere-se a
quem aufere os cômodos (lucros) deve suportar os incômodos dos riscos
(Gonçalves: 2009).
Disso se extrai que a existência de desigualdade de poder econômico e a
desproporção de forças entre as pessoas iniciam uma sistemática de cunho
solidarista que converge para o sistema de capitalismo humanista, sem abdicar
da segurança jurídica (Cardoso: 2010), haja vista o artigo 927, parágrafo único
estipular que o dever de repara deve ser especificado em lei, ou se a própria
atividade, por sua natureza, implicar riscos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por óbvio, o Capitalismo Humanista visa à intervenção do Estado na
ordem econômica, a fim de garantir um equilíbrio entre os particulares, não
visando à igualdade material pura, mas evitando a desigualdade avassaladora
que fulmina igualmente a liberdade.
Assim, esta forma de intervenção é feita pela construção da norma sobre o
texto, sendo que um dos instrumentos para garantir a efetividade de um
liberalismo saudável é a funcionalização dos institutos de direito privado.
Hodiernamente, o Direito Privado tem passado por um incurso do Direito
Público, e isso faz com que determinados institutos do Direito Privado tenham de
ser reconstruídos para dar azo ao Capitalismo Humanista. Dessa forma, a função
social que cada instituto possui revela o verdadeiro papel que ele deve
desempenhar para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Nesse sentido, propriedade, empresa, contrato e responsabilidade objetiva
são institutos essencialmente capitalistas e a funcionalização social destes
institutos deve ser almejada com o intuito de promover o desenvolvimento de
cada ser humano com a preservação da Dignidade da Pessoa Humana.
Portanto, o debate político-jurídico deve buscar o consenso sem calar o
dissenso, mantendo viva a democracia, para que todo ser humano tenha
liberdade e igualdade, o que não significa a inexistência de assimetrias, mas a
presença delas de forma que não seja avassaladora e fulmine a liberdade. Dessa
forma, Capitalismo Humanista significa ter liberdade moderada pela fraternidade
que resultará, inexoravelmente, na igualdade.
REFERÊNCIAS:
BALERA, Wagner; SAYEG, Ricardo Hasson. O capitalismo humanista. Rio de Janeiro: Editora KBR, 2011. Edição digital. BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988, 2 volumes: art. 5 a 17. 2. ed. atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva. 6. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. CARDOSO, Alenilton da Silva. A proteção das minorias na fixação do mínimo ético sobre os direitos humanos. Disponível em: <www.principiodasolidariedade.com.br> Acesso 05.abr.2012. ________. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo.1. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira,2010. CASTRO, Matheus Felipe de. Capitalista coletivo ideal: O Estado e o projeto político de desenvolvimento nacional na Constituição de 1988, 2009. Disponível em http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=891 Acesso em 02.fev.2012. DIDIER JR., Fredie. Cláusulas gerais processuais. Disponível em <http://www.trt14.jus.br/Documentos/Revista_TRT14_2010_n1.pdf> Acesso em 04.mar.2012. ERNER, Guilaumer. Vítimas da moda? Como a criamos, por que a seguimos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. 1. ed.. São Paulo: Editora Saraiva, 1934. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume I: parte geral. 7. ed. ver. atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. _________. Direito Civil Brasileiro, volume IV: responsabilidade civil. 5. ed. ver. atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. HISTÓRIA DAS COISAS. Funders Workgroup for Sustainable. Free Range Studios. EUA: Annie Leonard, 2007. Vídeo da internet (20min). Disponível em: <http://sununga.com.br/HDC/index.php?topico=display>. Acessado em 17.mai.2012. HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Sales. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. HUGON, Paul. Histórias das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1984.
HUNT, E.K e SHERMAN Howard J. História do pensamento econômico. 25. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2010. INSTINTOS: o lado selvagem do comportamento humano. Direção: Natasha Bondi, Jessica Cecil, Phill Dolling. BBC/TLC. São Paulo: Abril, c2005. 2 DVD (96min). KANT, Immanuel. Filosofia da história/ Immanuel Kant, textos extraídos das obras completadas de Kant. 1 ed. São Paulo: Editora Ícone, 2012. LAKATOS, Eva Maia e MARCONI, Maria de Andrade. Sociologia Geral.7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006. LEITE, Gisele; HEUSELE, Denise. Explicando a função social no Direito contemporâneo. Disponível em: <ver=2.29297>. Acesso em: 16.mai.2012. LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, trabalho, agrário, locação. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 5 ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2009. NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da pessoa Humana. 3ª ed. rev.e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. ROSENVALD, Nelson. Arts. 481 a 652 – Contratos (em espécie). In: PELLUZZO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 2 ed. rev. e atualizada. Barueri, SP: Manole, 2008. p. 471-605. ROSSETI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 8. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. SAYEG, Ricardo Hasson. O Capitalismo Humanista no Brasil. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antônio Marques da. Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. 2. ed. atual. e ampliada. São Paulo: Editora Quatier Latin, 2009. p. 1355-1370. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; JOSLIN, Érica Barbosa. Os contratos na perspectiva humanista do Direito: o nascimento de uma nova teoria geral dos contratos. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 11 dez. 2009. Disponível em: <ver=2.25687>. Acesso em: 04.abr.2012.
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. Revista, atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. STREK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 8 ed. rev. e atual. Porto Alegre: Editora Livraria dos Advogados, 2009. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Dulclerc. Curso de direito comercial. 2. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2008. VIANNA, José Ricardo Alvarez. A teoria do diálogo das fontes. Jus Navigandi, Teresina, ano XVI, janeiro de 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/18279>. Acesso em: 06.abr.2012.





















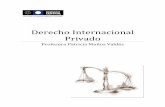













![TÓTH Gergely: Bél Mátyás, a történész. [Matthias Bel, the historian.] In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Szerk. Békés](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63370b69e06541a74f0ef3f8/toth-gergely-bel-matyas-a-toertenesz-matthias-bel-the-historian-in.jpg)






