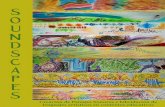A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização
Transcript of A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização
INFORMAÇÃO, COMPLEXIDADE E AUTO-ORGANIZAÇÃO:
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES
VOLUME 73 - 2015COLEÇÃO CLE
Mariana Claudia Broens João Antonio de Moraes
Edna Alves de Souza(orgs.)
COLEÇÃO CLE
Editor: Itala M. Loffredo D’Ottaviano
Conselho Editorial: Newton C.A. da Costa (USP) - Itala M. Loffredo D’Ottaviano(UNICAMP) - Fátima R. R. Évora (UNICAMP) - Osmyr F. Gabbi Jr. (UNICAMP)- Michel O. Ghins (UNIV. LOUVAIN) - Zeljko Loparic (UNICAMP) - OswaldoPorchat Pereira (USP)
Centro de Lógica, Epistemologia e História da CiênciaCidade Universitária “Zeferino Vaz” - C.P. 6133 - 13083-970 Campinas, [email protected]
Copyright by Coleção CLE, 2015
)LFKD�FDWDORJUi¿FD�HODERUDGD�SHOD�%LEOLRWHFD�GD�))&�0DUtOLD
ËQGLFH�SDUD�FDWiORJR�VLVWHPiWLFR���6LVWHPDV�DXWR�RUJDQL]DGRUHV������
Capa: (ODERUDGD�SRU�(GHYDOGR�'��6DQWRV
,035(662�12�%5$6,/
,���,QIRUPDomR��&RPSOH[LGDGH�H�$XWR�2UJDQL]DomR��(VWXGRV�,QWHUGLVFLSOL�QDUHV���0DULDQD�&ODXGLD�%URHQV��-RmR�$QWRQLR�GH�0RUDHV��(GQD�$OYHV�GH�6RX]D��RUJV����RUJV������&DPSLQDV���81,&$03��&HQWUR�GH�/yJLFD��(SLVWHPRORJLD�H�+LVWyULD�GD�&LrQFLD�������
���������������S��LO���&ROHomR�&/(���Y����,QFOXL�ELEOLRJUD¿D ISBN 978-85-86497-23-0
���6LVWHPDV�DXWR�RUJDQL]DGRUHV�����7HRULD�GD�LQIRUPDomR�����$ERUGDJHP�LQWHUGLVFLSOLQDU�GR�FRQKHFLPHQWR��,��%URHQV��0DULDQD�&ODXGLD��,,��0R�UDHV��-RmR�$QWRQLR�GH��,,,��6RX]D��(GQD�$OYHV�GH��,9��6pULH
&''��������
SUMÁRIO
Prefácio ......................................................................................... 7
Apresentação ................................................................................. 11
PARTE 1 REFLEXÕES ACERCA DA INFORMAÇÃO
EM SUA COMPLEXIDADE
Passado, presente e futuro do conceito de informaçãoRafael Capurro ............................................................................... 21
Afinal, o que é informação?Alfredo Pereira Júnior ..................................................................... 51
Percepção/ação: uma abordagem ecológica e informacionalRamon Souza Capelle de Andrade ................................................... 71
Mente-mundo: uma proposta de análise realista naturalEdna Alves de Souza ....................................................................... 91
Notas para uma fenomenologia da vida informacionalJoão Antonio de Moraes; Eloísa Benvenutti de Andrade ..................... 115
PARTE 2INFORMAÇÃO, AUTO-ORGANIZAÇÃO E AÇÃO:
DESDOBRAMENTOS INTERDISCIPLINARES
Eppur si muove!Lauro Frederico Barbosa da Silveira ................................................. 135
O estudo das fronteiras da amizade na academiaClaus Emmeche .............................................................................. 145
Processo de iluminação e processo de auto-organizaçãoEttore Bresciani Filho ...................................................................... 177
Implicação e informação: uma análise quantitativo-informacional da implicação materialMarcos Antonio Alves; Itala M. Loffredo D’Ottaviano ....................... 195
A dimensão ontológica do conceito de ação na filosofia de Charles S. PeirceIvo A. Ibri ...................................................................................... 223
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organizaçãoLuis Felipe Oliveira ........................................................................ 239
Registros descritivos no contexto da complexidadePlacida L. V. A. da Costa Santos; Ana Maria Nogueira Machado ...... 257
Perspectiva em primeira pessoa e identidade narrativa: para umaabordagem prática-linguística da identidade pessoalCristina Amaro Viana Meireles ........................................................ 273
PARTE 3 CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA
TRAJETÓRIA INTELECTUAL
Entrevista com o Prof. Dr. Antonio Trajano Menezes Arruda ........ 307
Entrevista com a Profa. Dra. Carmen Beatriz Milidoni .................. 315
Jogos epifenomenistasOsvaldo Pessoa Jr. ........................................................................... 319
Um breve relato pessoalRamon Souza Capelle de Andrade ................................................... 333
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A CRIAÇÃO E A ESCUTA MUSICAIS A PARTIR DO CONCEITO DE AUTO-ORGANIZAÇÃO
LUIS FELIPE OLIVEIRACurso de Música, Centro de Ciências Humanas e Sociais,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, [email protected]
Apesar de sua natureza fugaz, considerações sobre a música perpas-sam a história do pensamento ocidental, seja por sua teorização especulati-va, por seus aspectos morfológicos ou pelas questões relacionadas à prática musical e suas regulações. Quando a musicologia se constitui enquanto área1, buscando e defendendo sua suposta autonomia, o caráter interdis-ciplinar que historicamente se manifestava nas teorizações sobre a música desde a antiguidade foi preterido e substituído, nessa ciência, por uma tentativa de excluir da música aquilo que não fosse musical. Mesmo consi-derando o enorme acúmulo de conhecimento gerado desde seu surgimen-to, os estudos históricos e analíticos realizados por essa musicologia estrito senso não são suficientes — apesar de necessários — para oferecer uma compreensão ampla e ao mesmo tempo profunda do fenômeno musical.
Nesse sentido, nas últimas décadas pode-se observar o desenvolvi-mento de áreas de pesquisa que relacionam o domínio estritamente mu-sical, técnico, a descobertas e pesquisas em psicologia, ciências cognitivas, computação, filosofia, ciências sociais, antropologia, estudos culturais etc. Parncutt (2007) define a musicologia atual como a somatória das aborda-gens disciplinares existentes para se responder a todas as questões possí-
1 Tome-se por referência algumas tentativas de se delimitar o escopo e os interesses dos estudos musi-cais encontrados em textos do século XVIII e XIX, como Fraumery, Forkel, Adler.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
240 Luis Felipe de Oliveira
veis sobre música, em uma perspectiva essencialmente interdisciplinar. É interessante observar como esse autor defende a filosofia como disciplina basal sobre a qual as outras especialidades se apoiam em suas investigações musicológicas. Considerando, então, uma perspectiva interdisciplinar, este capítulo busca relacionar o conceito de auto-organização, especialmente em suas formulações na área da filosofia e nas ciências cognitivas, com os processos de criação e de escuta musicais.
1 AUTO-ORGANIZAÇÃO
O conceito de auto-organização surgiu nos estudos sobre a or-ganização de sistemas dinâmicos dentro do paradigma da segunda ciber-nética. Dentro desse paradigma, Ashby (1962) oferece uma definição de auto-organização em dois sentidos. Em um primeiro sentido, ele aponta que um sistema se torna auto-organizado quando deixa de ter partes separadas para ter partes juntas, e esse sentido está ligado ao conceito de condicionalidade (e comunicação) das (entre as) partes. Em um segundo sentido, existe auto-organização em um sistema quando há a passagem de uma má organização para uma boa organização, i.e., uma mudança no comportamento do sistema que o torna mais adaptado, ainda que o entendimento do que seja uma boa organização seja contextual. Em termos gerais, Gonzalez e Haselager (2005, p. 332, tradução nossa) con-sideram que a auto-organização “refere-se a um processo através do qual novas formas de organização emergem principalmente pelas interações dinâmicas entre elementos de um sistema sem qualquer plano a priori ou controlador central”.
Desde sua formulação inicial, o conceito de auto-organização é empregado continuamente em diversas formulações teóricas em inúmeras áreas do conhecimento, das modelagens computacionais à filosofia. No Brasil, Michel Debrun desenvolveu uma pesquisa sobre sistemas auto-organizados no Núcleo de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp durante os anos 902 e essa pesquisa desdobra-se em uma for-
2 Das pesquisas de Debrun sobre auto-organização surge o Grupo de Estudos Interdisciplinar em Auto-Organização, que promove encontros regulares de pesquisa desde 1986. Cf., para maiores informações
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 241
mulação original – ainda que apresentando semelhanças com a definição cibernética de Ashby – do conceito de auto-organização:
Há auto-organização cada vez que, a partir de um encontro entre elementos realmente (e não analiticamente) distintos, desenvolve-se uma interação sem supervisor (ou sem supervisor onipotente) – in-teração essa que leva eventualmente à constituição de uma “forma” ou à reestruturação, por ‘complexificação’, de uma forma já existente. (DEBRUN, 1996, p. 13)
Da definição de auto-organização, distinguem-se dois tipos de pro-cessos: a auto-organização primária e a auto-organização secundária. A auto-organização se inicia – Debrun chama isso de auto-organização primária – no encontro entre elementos distintos, quando estes passam a formar um sistema e a construir uma história de interações causais. Segundo Debrun (1996, p. 10-11), se diz que uma auto-organização é primária “para desta-car que ela não parte de uma ‘forma’ (ser, sistema etc.) já constituída, mas que, ao contrário, há ‘sedimentação’ de uma forma.” A auto-organização secundária é “secundária à medida que ela não parte de simples elemen-tos, mas de um ser ou sistema já constituído” (DEBRUN, 1996, p. 11). Esse tipo de auto-organização relaciona-se a processos de complexificação e de crescimento do sistema, de maturação de suas relações interativas, de aprendizagem pela própria dinâmica de interações do sistema, sem qual-quer tipo de controle hegemônico de um dos elementos do sistema ou de um agente externo (quando isso ocorre tem-se a hétero-organização).
2 COMPOSIÇÃO, CRIATIVIDADE E AUTO-ORGANIZAÇÃO
A música, vista enquanto uma forma de arte, conecta-se a uma série de conceitos os quais podem ser relacionados ao desenvolvimento da estética enquanto área da filosofia moderna, especialmente a partir do século XVIII.
sobre Michel Debrun e sua atuação na Unicamp e sobre o Grupo Interdisciplinar de Auto-organização, respectivamente, as páginas: Disponível em: <http://www.cle.unicamp.br/arquivoshistoricos/?destino=de-brun_biografia.html> e http://www.cle.unicamp.br/principal/autoorganizacao/index.php.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
242 Luis Felipe de Oliveira
Kant, por exemplo, estabeleceu uma série de condições para que a arte exista, para que um objeto seja considerado uma verdadeira obra de arte, e contri-buiu significativamente para os desenvolvimentos do romantismo sobre a criação musical. A atividade criadora é vista como indecifrável e a obra de arte verdadeira enquanto um “produto intencional de um gênio, concebido como um talento, um dom da natureza, uma faculdade produtiva inata do artista que pertence à natureza, uma disposição inata de ânimo pela qual a natureza dá regra à arte” (LOPARIC, 2010, p. 44, grifos do autor). A visão romântica de que a criação artística e musical resulta de processos mentais os quais não podem ser objetivamente descritos ou empiricamente investiga-dos perdura, em certo sentido, até hoje, principalmente na compreensão de senso-comum sobre o fazer musical. Nesse contexto, o compositor assume, então, um papel de destaque dentro do cenário musical e carrega consigo, voluntariamente ou não, a crença de que nem ele próprio sabe explicar o que faz ou governa os processos que emprega3.
Se a criatividade é um dom, um talento inato, o ensino da mú-sica, neste contexto, assume certos pressupostos que reforçam essa tese: a instituição do conservatório se institui no século XIX como centro de formação musical e carrega a ideia de que ao gênio não se precisa (e não se pode) ensinar, aos demais pode-se apenas ensinar a mecânica da execução instrumental e oferecer ferramentas para que compreendam o que tocam de maneira igualmente mecânica, sem vínculo com aspectos criativos ou composicionais. Esse modelo de ensino foi reproduzido à exaustão em to-dos os países ocidentais e ainda perdura fortemente. A composição musical permaneceu envolta em brumas que a tornavam um processo obscuro e impenetrável à maioria das pessoas e dos próprios músicos. No século XX,
3 Dentro do estudo acadêmico da composição musical, no entanto, pode-se observar ao longo do século XX inúmeras formas de criação musical que buscaram superar a visão romântica da composição através de processos gerativos rigorosamente controlados, ou, ao contrário, de processos regidos pelo aleatório, por exemplo. No entanto, a visão que apresentamos neste trabalho trata a criação artística, por um lado, como um processo que não é dirigido totalmente por regras predeterminadas e, por outro lado, também não é um processo absolutamente aleatório e sem controle. Mesmo que em arte se possa explorar polos radicalmente extremos em um contínuo que pode ser estabelecido entre sistemas totalmente deterministas e sistemas totalmente aleatórios, normalmente a criação se dá em regiões intermediárias dessa dimensão, quando parte dos processos é predeterminada e parte incorpora ele-mentos do acaso e do aleatório.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 243
no entanto, a visão mística da criatividade foi desafiada de variadas formas, por compositores que ousaram explorar possibilidades composicionais improváveis dentro da concepção romântica do gênio criador. John Cage jogou i-ching para compor Imaginary Landscape 4 e Music of Changes e Karlheinz Stockhausen permitiu que o intérprete ordenasse os eventos em Klavierstück XI a sua vontade, para citar apenas alguns exemplos notórios. A incorporação do acaso ou da aleatoriedade explicitamente no processo composicional evidencia a compreensão, por parte de alguns composito-res, de que a obra musical é mais do que estruturas sonoras geradas por processos hétero-organizados intencionais, isto é, controlados pelo com-positor, que serão decodificados pelo ouvinte hábil; ao contrário, a obra é tão dependente do compositor quanto o é do ouvinte e sua experiência auditiva e o processo de fruição estética é auto-organizado4.
A visão da criação musical enquanto produto do gênio de um ar-tista também foi desafiada por investigações de cientistas em outras áreas de pesquisa, ainda que para o senso-comum e para boa parte dos mú-sicos a visão de que a ciência pouco poderia dizer sobre os métodos de criação dos grandes artistas permanecia sustentando a arte em seu berço romântico, mesmo em meados do século XX5. No ano de 1956, Hiller e Isaacson (1993), pesquisadores ligados ao surgimento da inteligên-cia artificial ainda no movimento cibernético, programaram a primeira obra musical gerada em um computador serial, a Suíte Illiac composta no computador da Universidade de Illinois. Os processos de composição algorítmica podem ser divididos em várias categorias, como as abordagens clássicas dos modelos estocásticos, dos modelos heurísticos, dos modelos de gramática gerativa,6 ou várias outras formas mais modernas de imple-mentação com simulações de sistemas de vida artificial entre outras pos-sibilidades (PAPADOPOULOS; WIGGINS, 1999). Existe a conjectura comum em todas essas abordagens de que a criação é um processo formal operado por um conjunto de regras. Ainda que as propostas de programa-4 A próxima seção do texto deixará este argumento mais claro. 5 Loparic (2010) afirma que uma das consequências da visão kantiana sobre a criação artística é a crença na impossibilidade da investigação científica sobre a criação do gênio. 6 Para definições dessas abordagens chamadas de clássicas, assim como ilustrações de suas aplicações na modelagem de processos composicionais em inteligência artificial, confira Oliveira (2003).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
244 Luis Felipe de Oliveira
ção algorítmica dentro do paradigma da inteligência artificial apresentem limitações consideráveis quando comparadas a atuação de um compositor (OLIVEIRA; ZAMPRONHA, 2002), elas contribuíram de maneira sig-nificativa para que as investigações sobre a mente musicalmente criativa avançassem através da agenda das ciências cognitivas; o avanço se deve tanto por aquilo que conseguiram modelar satisfatoriamente quanto pelo que não conseguiram.
A relação entre a computação e a composição musical não ocorreu (e não ocorre) apenas pelas investigações das ciências cognitivas, seja pelo viés da inteligência artificial seja pela vertente do conexionismo; compositores também passaram a empregar ferramentas computacionais para a criação de suas obras e ainda que este emprego também contribuísse para o conheci-mento científico da mente criativa, seus propósitos primeiros eram artísticos. Manzolli et al.(2000) e Manzolli (1996) afirmam que a composição algorít-mica já existia antes do surgimento das primeiras máquinas computacionais, podendo esta modalidade de composição ser traçada de volta à Idade Média7. Dentro do cenário da composição algorítmica, a noção de auto-organização de Debrun foi frutiferamente aplicada ao domínio musical em diversos tra-balhos do compositor Jônatas Manzolli (MANZOLLI, 1996; MANZOLLI, GONZALEZ; VERSHURE, 2000; MANZOLLI; VERSCHURE, 2005; MORONI, MANZOLLI; von ZUBEN, 2005). O interesse pelo emprego de processos auto-organizados é que eles, por um lado, superam a falta de direcionalidade dos processos algorítmicos que, quase sempre, dependem da geração randômica para elaboração e organização do material musical e, por outro, não dependem da ‘genialidade’ de um compositor que precisa-rá dar forma e sentido a essa elaboração e organização aleatórias. Processos auto-organizados estão situados entre a total falta de intencionalidade do aleatório, o que parece ser algo contrário ao entendimento usual da arte, e a intencionalidade estética da criação artística, que ainda é tratada como uma caixa-preta. A noção de auto-organização, quando empregada em sistemas de composição algorítmica, possibilitando o surgimento e o desenvolvimen-
7 À guisa de ilustração, um algoritmo é um processo autônomo que realiza operações lógicas sobre dados de entrada, gerando valores como resultado de tais operações. Assim sendo, o método elaborado por Guido d’Arezzo no século XI para definir-se as notas de um cântico através das vogais do texto a ser canta-do pode ser tomado como um exemplo de processo algorítmico de composição (cf. EDWARDS, 2011).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 245
to de um sistema criador, oferece uma visão interessante para se pensar a criação e a criatividade.
Até aqui apresentamos apenas a auto-organização vinculada à cria-tividade na discussão de programas computacionais ou de processos de composição algorítmica. Todavia, a auto-organização não é um conceito exclusivamente relacionado ao estudo computacional da criatividade. Esse conceito pode ser relacionado ao estudo da criatividade dentro da Lógica da Descoberta (GONZALEZ et al., 2007; GONZALEZ; HASELAGER, 2005; GONZALEZ; HASELAGER, 2003; MANZOLLI; GONZALEZ; VERSHURE, 2000). Dentro desse estudo da criatividade por sua base lógica, moldada na filosofia de C.S. Peirce, assumem-se alguns desígnios que oferecem uma outra visão sobre processos criativos. O primeiro deles é que, ainda que possam existir motivações psicológicas e subjetivas no processo de criação, as razões para que uma nova ideia se origine em um processo de pensamento obedecem a bases lógicas, fundadas na formula-ção original da inferência abdutiva de Peirce. A detecção de anomalias é o elemento motivador da abdução e o resultado inferencial é a formulação de uma hipótese que explique tal evento anômalo, tornando-o uma ques-tão de fato assim como a hipótese se torna verdadeira (CP 5.189)8. Como apontam Manzolli et al. (2000, p. 109):
O raciocínio abdutivo caracteriza-se, assim, pela busca de razões para se sugerir tipos de hipóteses como explicações possíveis para situações, eventos ou fatos que se encontram em desarmonia no interior de um determinado contexto. Tais explicações dão lugar ao processo de estru-turação estável de crenças, ações, etc., que se tornarão, possivelmente, crenças estáveis no universo cognitivo do seu criador.
O que, na citação acima, é chamado de “determinado contexto” é caracterizado em Gonzalez e Haselager (2005) como espaço conceitual, um termo que Margaret Boden emprega para descrever um sistema no qual se representam os princípios que constituem e unificam uma área do conhe-
8 Referência aos textos de Peirce organizados nos Collected Papers são feitas pela indicação CP seguida do volume e número do parágrafo.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
246 Luis Felipe de Oliveira
cimento, o qual dinamicamente é transformado pela força historicamente atuante da ação criativa:
Um exemplo complexo de exploração e mudança estrutural pode ser encontrado no desenvolvimento da música ocidental pós-renas-centista. Esta música é baseada no sistema gerativo conhecido como harmonia tonal. De suas origens ao fim do século XIX, as dimen-sões harmônicas desse espaço foram continuamente sacudidas para abrir as possibilidades (os espaços) implícitas nela desde o princípio. Finalmente, uma grande transformação gerou o profundamente des-conhecido (porém estreitamente relacionado) espaço da atonalidade. (BODEN, 1999, p. 87)
O espaço conceitual musical, que Boden sucintamente ilustra como o domínio da harmonia tonal entre os séculos XVII e XIX, é o con-junto de crenças e hábitos que subsidiam a prática comum nos repertórios desse período. Poder-se-ia imaginar que a transformação de um espaço conceitual artístico, como o musical, se deva à atuação imprevisível e in-cognoscível do gênio criador que rompe as barreiras estabelecidas e, em um flash de iluminação, nos brinda com novas formas da arte sonora, que serão, então, assimiladas e incorporadas à prática comum; diferentemen-te, a visão promovida pela lógica da descoberta é que a transformação de um espaço conceitual se deve à atuação de um processo que opera logica-mente, cujos expoentes dessa arte não são gênios inatos, mas atores muito perspicazes imersos em uma estrutura de ordem implicada9, capazes de detectar anomalias (e possibilidades criativas) presentes na prática comum. O complexo sistema de linhas causais que costuram um espaço conceitual não é dirigido por um centro controlador, não é ordenado por processos pré-determinados ou pela atuação exclusiva de forças externas a ele; ao contrário, espaços conceituais são auto-organizados, autorregulados, auto-poiéticos10. Por isso que movimentos artísticos parecem surgir espontanea-
9 Cf. Gonzalez, Andrade e Oliveira (2007), sobre a relação entre criatividade e o conceito de ordem implicada de David Bohm.10 É interessante, neste sentido, observar o seguinte: “A auto-organização e a criação também podem estar relacionadas através de um processo representado por um círculo recorrente no qual: a auto-
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 247
mente e, ao contrário, aqueles que surgem por imposições exteriores não se sustentam efetivamente. A tentativa de hétero-organização de movimentos artísticos requer esforços hercúleos para se atingir resultados que não têm a espontaneidade da criação genuína. Não estamos afirmando que a criação artística e o espaço conceitual ao qual se vincula não recebam influência de elementos externos, como questões sociais, políticas etc., mas que na própria constituição e nas transformações de um espaço conceitual ope-ram forças internas, próprias e específicas de seu escopo, que respondem a ruídos externos em novas formas de sua organização.
Portanto, se motivações para a ação criativa podem extrapolar o domínio do agente e, ao mesmo tempo, também envolvem aspectos sub-jetivos, a sua forma de ação é guiada pela atuação quase instintiva da in-ferência abdutiva, transformando espaços conceituais. Neste sentido, o que outrora fora descrito como uma capacidade inata, inanalisável, pode, agora, ser entendido como algo mais comum e acessível, desde que se te-nha o refinamento perceptivo para se detectar anomalias (e possibilidades) dentro do sistema de hábitos e crenças estabelecido em espaços conceituais e uma compreensão suficiente de seu funcionamento para formular novas hipóteses de maneira quase instintiva. O conjunto histórico de possibili-dades e hipóteses associados a uma determinada prática não é organizado por um compositor, nem por dois, nem por um pequeno grupo isolado, mas pelo cruzamento genuinamente criativo de suas atuações, de maneira auto-organizada. A criação, em arte ou em qualquer outra esfera de ação, se manifesta aquém e além do domínio do indivíduo.
3 ESCUTA, SIGNIFICAÇÃO E AUTO-ORGANIZAÇÃO
Não se pode falar de criação em música, sem se falar de quem ouve. Um dos problemas basais das investigações pelas abordagens computacionais das ciências cognitivas sobre questões musicais é que descartam a experiência auditiva de suas modelagens. Burrows (1997) entende que o sistema feno-menológico da experiência musical se constitui a partir de dois subsistemas,
organização propicia a realização da criação e a criação, ao ser realizada, propicia a modificação da orga-nização na forma de uma auto-organização” (BRESCIANI FILHO; D’OTTAVIANO, 2000, p. 304).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
248 Luis Felipe de Oliveira
a saber, o ouvinte e a obra. Em acordo com a teoria da auto-organização de Debrun (1996), pode-se entender que a experiência musical se inicia em um processo de auto-organização primária, quando esses dois subsistemas se encontram e passam a constituir uma história de interações. Este acopla-mento surge na aquisição das primeiras competências musicais, quando se dá o contato inicial com uma determinada cultura sonora. Marin e Peltzer-Karpf (2009) descrevem tal acoplamento como o surgimento de um sistema dinâmico. Tal afirmação é feita por analogia à aquisição da primeira língua no estágio inicial de desenvolvimento infantil: existe inicialmente uma capa-cidade irrestrita para o reconhecimento fonológico e sintático, que após um período de exposição passa a ser determinada pelas características fonológi-cas e sintáticas de uma língua específica. Aceitando-se a hipótese do desen-volvimento contíguo entre os dois domínios, pode-se estabelecer paralelos interessantes, especialmente se considerar-se que o desenvolvimento dessas capacidades na primeira infância é o processo de formação dos primeiros hábitos linguísticos ou musicais. Entretanto, no contexto deste trabalho, nos focamos no processo da auto-organização secundária, já que é através dele que o sistema já constituído passa a se desenvolver, a constituir-se em uma história de experiências significativas já culturalmente direcionadas, a evoluir em sua complexidade, em um decurso que leva à construção contínua de uma rede de significados.
A escuta musical opera por uma rede intrincada de hábitos e cren-ças que estabelecem como se ouve e que dão a esse tipo de escuta suas peculiaridades, ainda que tal operação não seja diferente de outras formas de percepção em sua caracterização lógica; são as crenças e hábitos relacio-nados à apreciação estética que lhe dão um caráter diferenciado (AIKEN, 1951). Uma peça de música, fenomenologicamente, deve ser considerada dentro de um contexto dinâmico. A obra se constitui aí, na integração en-tre a escuta guiada por hábitos e crenças e as possibilidades de significação ofertadas pelas estruturas musicais percebidas.
A trajetória de uma peça de música tem quasi-regularidades em si. Ela é granular, quando consiste de notas, e episódica, quando tem seções; provavelmente inclui repetições. Cada evento é carregado, da mesma forma que cada quadro em uma série de fotografias de Edward
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 249
Muybridge é carregado, com o silêncio e a presença invisível da par-ticularidade do passado e do futuro que levam-no a ser o que é, e saturado com a qualidade da liminaridade associada à presentidade. A análise processual da música deve ser um cálculo do presente musical, mostrando como cada evento está implicado em qualquer espaço de fase11 circundante que esteja em efeito. Cada evento tem seu lugar em cada uma das camadas temporais, incluindo o motivo, a frase até que se chegue à forma, e em esquemas, tais como a tonalidade e a métri-ca. Assim, cada nota em uma performance é um ponto onde muitas camadas temporais e esquemas se intersectam. Cada nota tem uma posição na força e na suavidade do contínuo. Se o esquema “tonalida-de” se aplica, a nota ocupa um local dentro da hierarquia tonal. Ela se situa em um certo ponto em uma frase; se existe um esquema métrico prevalecente ela ocorre sobre ou dentro de um certo tempo. Ela tem relevância, ao mesmo tempo pequena e indispensável, para o gênero e para o estilo musicais. É acessada quase que instantaneamente com respeito a todas essas variáveis em seus vários níveis, e sua importân-cia – sua contribuição para o significado da música – é uma síntese de todas essas estimativas. A hipótese para cada detalhe é controlada por qualquer coisa que o ouvinte conheça de antemão sobre o espa-ço de fase de uma sarabanda, ou qualquer outro gênero em questão. (BURROWS, 1997, p. 539-540, tradução nossa)
A presentidade de cada evento na trama multidimensional de uma obra musical e sua relação com o passado e o futuro que o carregam de possibilidades emotivas e significativas é um ato de criação. A escuta opera pela criação de expectativas que estabelecem relações entre antecedentes e possíveis consequentes. Segundo Meyer (1956), é do engendramento entre hipótese e estruturas, entre acertos preditivos e surpresas que a música nos oferece, que a escuta se torna afetiva e significativa. Se mais acima disse-mos que a escuta musical, mesmo tendo suas peculiaridades, não difere de outras formas de percepção, Huron (2006) propõe as bases biológicas da antecipação musical na sua teoria geral da expectativa e a partir dessa teoria geral demonstra em detalhes como as expectativas moldam nossa escuta 11 Espaço de fase é o “espaço abstrato onde se representa o comportamento de um sistema, e cujas dimensões são as variáveis do sistema. Deste modo, um ponto no espaço de fase define um estado potencial do sistema. Os pontos que sucessivamente especificam o estado de um sistema dependem da função iterativa deste e das condições iniciais (pontos de partida)” (CAMARA, 2005).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
250 Luis Felipe de Oliveira
musical. Meyer formulou sua teoria da expectativa a partir da psicologia da Gestalt e buscou suas evidências através da análise de obras de diver-sos repertórios; Huron, estabelece a correspondência biológica da teoria psicológica da expectativa e demonstra sua atuação através de muitos ex-perimentos. Ambos os autores entendem que a geração e a verificação das expectativas musicais é um processo lógico. Meyer, discretamente, aponta uma correlação entre a sua teoria da expectativa e a semiótica peirceana, ainda que em nenhum momento cite Peirce. Huron, conceitualmente mais ortodoxo, baseia-se na clássica díada dedução-indução.
Em Oliveira et al. (2010) e Oliveira (2010) sustentamos a tese de que as bases lógicas sobre as quais a escuta musical atua são as três formas inferenciais descritas por Peirce em sua lógica da descoberta: dedução, in-dução e abdução. Especialmente esta última é a grande contribuição que o pensamento peirceano traz ao estudo da significação e da afetividade musi-cais, assim como ao estudo da criatividade em geral. O conceito de espaço conceitual que empregamos para descrever a atuação composicional, na seção anterior, aplica-se igualmente à atuação do ouvinte. A criatividade em música não se limita aos músicos, ela se manifesta em toda forma de escuta atenta12. Hábitos de escuta e crenças estéticas constituem o espaço conceitual de um ouvinte e possibilitam que ele, ao escutar uma obra, con-siga estabelecer relações entre passado e futuro na presentidade da escuta.
A escuta musical se defronta a todo instante com eventos anôma-los e/ou surpreendentes e muitos compositores empregam o recurso da surpresa de maneira sagacíssima. As situações nas quais a quebra de expec-tativas se manifesta chamam a abdução à cena para que se possa, através de uma nova hipótese (e de novas expectativas), explicar aquilo que nos surpreendeu, tornando-o inteligível e previsível. Algumas obras chegam a apresentar eventos tão anômalos perante o conjunto de crenças e hábitos
12 Não entendemos que a única forma de escuta musical seja a escuta estrutural, analiticamente cons-ciente como aquela proposta em Salzer (1962). O tipo de escuta que nos interessa investigar é a escuta ativa, atenta, engajada e que consegue seguir o fluxo de eventos e torná-los musicalmente significativos. Salzer promove uma escuta técnica, de músicos; nos importa a escuta leiga mas aguda, mesmo sem ser técnica, mas que seja capaz de se relacionar com uma obra musical de maneira tanto significativa quanto afetiva. Talvez, se considerarmos a tipologia da escuta de Adorno, tenhamos em mente os bons ouvintes (cf. TOMAS, 2005), ainda que outras formas de escuta possam também ser significativas.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 251
de um ouvinte que, inicialmente, não são significativas, ainda que possam ser afetivas – normalmente o são de maneira negativa, em situações quase frustrantes de embate com a obra, onde não se consegue ordenar as rela-ções entre o antes e o depois. Obras muito radicais exigem transformações igualmente radicais do espaço conceitual de um ouvinte para que deixem de ser anômalas e se tornem questões de fato. É preciso aprender a ouvi-las, é preciso que novos hábitos sejam criados e que novas crenças estéti-cas se estabeleçam. Todavia, é preciso relativizar essa radicalidade para que não se tenha a ideia de que a obra, por si própria, independentemente de quem a ouve, seja direcionadora das transformações do espaço conceitual. Lembremos que a obra só existe fenomenologicamente e que o espaço conceitual é auto-organizado.
Poder-se-ia pensar que depois de ouvir uma peça característica e marcante, o ouvinte não voltaria a ela novamente com o mesmo interesse, que suas surpresas não mais o surpreenderiam da mesma maneira que na primeira audição. Mas, pela força criativa da auto-organização, a escuta nunca é a mesma; as músicas nunca são as mesmas. Aí está a beleza e o interesse da música. A uma história de audições correspondem transfor-mações constantes dos hábitos de escuta e das crenças estéticas de um ou-vinte, ou seja, a constante mutação do espaço conceitual pode tornar uma determinada música sempre surpreendente, mesmo quando a revistamos. Meyer (1956, p. 49) já proferiu que não existe repetição em música, pelo menos não existe em termos psicológicos, ainda que ela possa existir em termos acústicos. É comum ouvir-se que não existem duas interpretações iguais de uma mesma obra, mesmo que realizadas pelo mesmo intérprete, e a contrapartida deste fato é que não existem duas audições iguais, mesmo ouvindo-se a repetição literal de uma frase musical. A síntese máxima do pensamento de Heráclito é tão musical quanto é molhada e ela nos remete ao fato de que o ser da música é a transformação. A transformação, da qual toda música depende, é um processo auto-organizado.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
252 Luis Felipe de Oliveira
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto buscamos evidenciar que a noção de auto-organização oferece contribuições à musicologia, especialmente nas considerações so-bre a criação musical no ato composicional e a criação musical no ato de escuta. A lógica da descoberta, em suas correlações com as investigações so-bre a expectativa musical, possibilita a compreensão da dinâmica transfor-macional do sistema ouvinte-obra. Afetividade e significação, em música, se devem à atuação de hábitos e crenças constituídos em uma história de audições, formando uma rede intrincada e mutante descrita como espaço conceitual. O espaço conceitual é um espaço auto-organizado: composi-tores o exploram, mas não o controlam; ouvintes o exploram, mas não o controlam. Se a música se dá neste encontro entre dois polos, e somente aí, assim como a própria noção de obra enquanto objeto, que em sua esta-bilidade e concretude carrega seus significados, se enfraquece, a noção de sujeito, como aquela do gênio criador do romantismo, armado de uma in-tencionalidade estética incompreensível, se dilui. A arte não é e não está no objeto; a arte não é e não está no sujeito. A descrição do mundo através do binômio sujeito-objeto é desconstruída pela noção de auto-organização. A nova visão de mundo que a teoria da auto-organização possibilita nos dá uma compreensão muito mais ampla e, nos parece, mais adequada do que é música e de como nos relacionamos com esta arte.
REFERÊNCIAS
AIKEN, H. D. The aesthetic relevance of belief. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, v. 9, n. 4, p. 301–315, 1951.
ASHBY, W. R. Principles of the self-organizing system. In: FOERSTER,H.V.; G. W. Z. JR. (Ed.). Principles of self-organization: transactions of the university of illinois symposium. London: Pergamon Press, 1962. p. 255–278.
BODEN, M. O que é a criatividade. In: BODEN, M. (Ed.). Dimensões da criati-vidade. Porto Alegre: Artmed, 1999. p. 81–123.
BRESCIANI FILHO, E.; D’OTTAVIANO, I. M. L. Conceitos básicos de sistêmica. In: D’OTTAVIANO, I.M. L.; GONZALES, M. E. Q. (Ed.). Auto-
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 253
organização: estudos interdisciplinares. Campinas: CLE/UNICAMP, 2000. p. 283–306. (Coleção CLE, v. 30).
BURROWS, D. A Dynamical Systems Perspective on Music. Journal of Musicology, v. 15, n. 4, p. 529–545, 1997.
CAMARA, P. Glossário de dinâmica não-linear. 2005. Disponível em: <http://www.abpbrasil.org.br/departamentos/coordenadores/ coordenador/noticias/ima-gens/glossario\_de\_dinamica\_nao\_linear. pdf>. Acesso em: jul. 2015.
DEBRUN, M. A ideia de auto-organização. In: DEBRUN, M.; GONZALES, M. E. Q.; PESSOA JÚNIOR, O. (Ed.). Auto-organização: estudos interdisciplina-res em filosofia, ciências naturais, humanas e artes. Campinas: CLE/UNICAMP, 1996. p. 3–23.
EDWARDS, M. Algorithmic composition: computational thinking in music. Communications of ACM, v. 54, n. 7, p. 58–67, 2011.
GONZALEZ, M. E. Q.; ANDRADE, R. S. C.; OLIVEIRA, L. F. Criatividade e ordem implicada: uma investigação acerca do processo criativo. In: GUERRINI, I. A. (Ed.). Nas asas do efeito borboleta: o despertar do novo espírito científico. [S.l.]: FEPAF, 2007.
GONZALEZ, M. E. Q.; HASELAGER, W. F. G. Abductive reasoning and self-organization. Cognitio: Revista de Filosofia, n. 3, 2003.
______.; ______. Creativity: Surprise and abductive reasoning. Semiotica, v. 153, n. 1/4, p. 325–341, 2005.
HILLER, L.; ISAACSON, L. Musical composition with a high-speed digital computer. In: SCHWANAUER, S.; LEVITT, D. (Ed.). Machine models of music. Cambridge, MA: The MIT Press, 1993. p. 9–21.
HURON, D. Sweet anticipation: music and the psychology of expectation. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.
LOPARIC, Z. Os juízos de gosto sobre a arte na terceira crítica. In: Kant e a mú-sica. São Paulo: Barcarolla, 2010. p. 29–60.
MANZOLLI, J. Auto-organização: um paradigma composicional. In: DEBRUN, M.; GONZALEZ, M. E. Q.; PESSOA JÚNIOR, O. (Ed.). Auto-organização: estudos interdisciplinares, Campinas: CLE/UNICAMP, 1996. p. 417–435. (Coleção CLE, v. 18).
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
254 Luis Felipe de Oliveira
MANZOLLI, J.; GONZALEZ, M. E. Q.; VERSHURE, P. Auto-organização, criatividade e cognição. In: D’OTTAVIANO, I. M. L.; GONZALES, M. E. Q. (Ed.). Auto-organização: estudos interdisciplinares. Campinas: CLE/UNICAMP, 2000. p. 105–125. (Coleção CLE, v. 30).
MANZOLLI, J.; VERSCHURE, P. Roboser: a real-world composition system. Computer Music Journal, v. 29, n. 3, p. 55–74, 2005.
MARIN, M. M.; PELTZER-KARPF, A. Towards a dynamic systems approach to the development of language and music-theoretical foundations and methodological is-sues. In: CONFERENCE OF EUROPEAN SOCIETY FOR THE COGNITIVE SCIENCES OF MUSIC, 7. Proceedings… Ed. by T. E. J. LOUHIVUORI et al. Jyväskylä, Finland, 2009.
MEYER, L. B. Emotion and meaning in music. Chicago: Chicago University Press, 1956.
MORONI, A.; MANZOLLI, J.; von ZUBEN, F. Artificial abduction: a cumula-tive evolutionary process. Semiotica, v. 153, n. 1, p. 343–362, 2005.
OLIVEIRA, L. F. As contribuições da ciência cognitiva à composição musical. 2003. Dissertação (Mestrado em Filosofia da Mente e Ciência Cognitiva) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Marília, 2003.
______. A emergência do significado em música. Tese (Doutorado em Música - área de concentração em Fundamentos Teóricos) - Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.
OLIVEIRA, L. F.; HASELAGER, W. F. G.; GONZALEZ, M. E. Q.; MANZOLLI, J. Musical listening and abductive reasoning: contributions of C.S. Peirce’s phi-losophy to the understanding of musical meaning. Journal of Interdisciplinary Music Studies, v. 4, p. 45–70, 2010.
OLIVEIRA, L. F.; ZAMPRONHA, E. S. El computacionalismo clásico y el modelo de una mente creativa en composición musical. In: REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS DE LA MUSICA, 2. Actas... Ed. by O. MUSEMECI, I. MARTINEZ. Buenos Aires, 2002.
Broens, M. C.; Moraes, J. A.; Souza, E. A. (orgs.). Informação, complexidade e auto-organização: estudos interdisciplinares. Coleção CLE, v. 73, p. 239-256, 2015.
A criação e a escuta musicais a partir do conceito de auto-organização 255
PAPADOPOULOS, G.; WIGGINS, G. AI methods for algorithmic composi-tion: a survey, a critical view and future prospects. In: EDINBURG, U. K. AISB Symposium on Musical Creativity, [S.l.], p. 110–117, 1999.
PARNCUTT, R. Systematic musicology and the history and future of western musical scholarship. Journal of Interdisciplinary Music Studies, v. 1, n. 1, p. 1–32, 2007.
PEIRCE, C. S. The collected papers of Charles S. Peirce. Cambridge: Harvard University Press, 1931–1965. 8 v.
SALZER, F. Structural hearing: tonal coherence in music. New York: Dover, 1962.
TOMÁS, L. A “tipologia da escuta” de Theodor Adorno. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 15. 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2005.