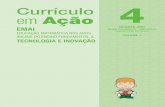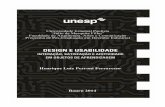Influência do Reiki, Terapia de Desenvolvimento Humano, na ...
A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 1
A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SUA
INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DIAS, Priscila Dayane de Almeida
ROSIN, Sheila Maria (Orientador)
Universidade Estadual de Maringá
Psicologia da educação
Introdução
O objetivo desta pesquisa foi investigar como a afetividade se manifesta na relação
professor-aluno e analisar sua influencia no processo de aprendizagem. Para tanto utilizamos
como referencial teórico os estudos de Henri Wallon, teórico que dedicou grande parte de sua
vida ao estudo das emoções e da afetividade. O referido autor defende a perspectiva de
desenvolvimento integral da criança, analisando os campos funcionais: motor, afetivo e
cognitivo em conjunto, se opondo, ao raciocínio dicotômico, que fragmenta o indivíduo,
explicando suas dimensões motora, afetiva e cognitiva separadamente.
Para compreendermos como a dimensão afetiva atua na relação professor-aluno faz se
necessário definirmos o que vem a ser afetividade. Segundo Tassoni (2008), há uma grande
dificuldade nesta conceituação dos aspectos, pois, recorrentemente, a literatura traz os termos
afeto, emoção e sentimento como sinônimos.
Mas, Wallon (1968), estabelece uma distinção entre afetividade e emoção. Segundo
ele, as emoções são manifestações de estados subjetivos, com componentes orgânicos, elas
têm origem na função tônica. Já à afetividade se refere à capacidade do indivíduo de ser
afetado pelo mundo interno e externo, seja por sensações agradáveis ou desagradáveis.
Nas palavras de Tassoni (2008) a afetividade se constitui em um conjunto de
manifestações mais amplas que compreende a emoção, o sentimento e a paixão. Portanto, a
afetividade é inicialmente baseada no fator orgânico, mas sob influências do meio social ela
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 2
passa a diferenciar-se em suas formas de expressão. Sendo assim, pode-se afirmar que
afetividade e inteligência são inseparáveis na evolução psíquica, pois mesmo tendo funções
especificas, são interdependentes em seu desenvolvimento.
Abordaremos nesta pesquisa bibliográfica uma discussão sobre afetividade tendo
como referencial a teoria de Henri Wallon, o qual defende a perspectiva de desenvolvimento
integral da criança, isto é, as funções afetiva, cognitiva e motora são vistas sempre em
conjunto. Para tanto, traremos os principais conceitos da teoria walloniana sobre o
desenvolvimento infantil, priorizando o aspecto afetivo.
Objetivos
Geral:
● Investigar como a afetividade se manifesta na relação professor-aluno a fim de
perceber a influência das dimensões afetivas no processo de ensino-aprendizagem.
Específicos:
● Analisar a importância da autoridade juntamente com a afetividade na relação
professor-aluno;
● Investigar a influência da atitude do professor de dar mais atenção a determinados
alunos em relação a outros, no processo de aprendizagem;
● Explicar o conceito de afeto, de emoção e de sentimento, distinguindo-os;
● Refletir sobre os estudos da teoria de Wallon sobre a afetividade humana,
relacionando-a com a educação.
Metodologia
Essa pesquisa, de cunho bibliográfico, buscou analisar a importância da afetividade no
processo de ensino e aprendizagem com base na teoria de Henri Wallon, teórico que
concentrou seus estudos na afetividade.
Tomando como base o materialismo dilalético, a teoria walloniana busca compreender
o desenvolvimento infantil por meio das relações da criança com o meio ambiente e com
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 3
outras crianças, concebendo-a como um indivíduo completo. E é nestas interações sociais
estabelecidas em sala de aula que se deve buscar o significado de emoção, ou seja, somente
por meio das interações sociais é que podemos compreender a afetividade.
Sua teoria psicogenética além de trazer relevantes conhecimentos sobre a afetividade
traz ricas contribuições para a compreensão do desenvolvimento infantil, bem como do
processo ensino-aprendizagem, visto que, proporciona subsídios para compreender o aluno, o
professor e a interação entre eles.
Resultados
Desenvolvimentos, aprendizagem e afetividade na teoria de Wallon
Henri Wallon nasceu na França em 1879, viveu toda a sua vida em Paris, onde morreu
em 1962. Médico, psiquiatra, psicólogo e educador, sendo esta a ordem de sua formação.
Primeiramente, dedicou-se à psicopatologia, em decorrência da sua atuação como médico na
primeira guerra mundial. Em seguida seus estudos se concentraram no psiquismo humano,
mais voltado para a psicologia da criança.
Durante sua atuação como psicólogo foi adquirindo profundo interesse pela educação,
considerava a psicologia e a pedagogia como ciências complementares pela relação existente
entre ambas de contribuição recíproca. A pedagogia proporciona o campo de observação e
questões de investigação à psicologia e a psicologia pelos conhecimentos produzidos sobre o
desenvolvimento infantil oferece o aprimoramento da prática pedagógica.
Segundo Galvão (1995) Wallon propõe o estudo integrado do desenvolvimento,
analisando os campos funcionais: motor, afetivo e cognitivo do ser humano, em conjunto. O
autor estabeleceu estágios de desenvolvimento, nos quais se sucedem fases com
predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Os estágios propostos por Wallon são:
impulsivo emocional (0 a 1 ano), sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos), personalismo (3 a 6
anos), categorial (6 a 11 anos), puberdade e adolescência (11 anos em diante).
A descrição que Wallon faz dos estágios não é organizada de forma sistematizada e
contínua. Na maioria de seus escritos, o autor seleciona um tipo de atividade e prossegue
mostrando suas características em várias idades, estabelecendo relações com outros tipos de
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 4
atividades. Sendo assim, essa organização dos estágios do desenvolvimento é realizada pelos
estudiosos da teoria walloniana, entre estes, citamos: Dantas (1992), Galvão (1995), Mahoney
(2010), Nascimento (2004), Leite (2006) Tassoni (2008), entre outros.
Para Galvão (1995, p. 40), Wallon aponta três princípios funcionais que “agem como
uma espécie de leis constantes” que regulam o desenvolvimento humano, são eles: integração,
preponderância e alternância. Tais princípios definem o desenvolvimento como um processo
descontínuo, marcado por rupturas e conflitos, e também proporcionam características
próprias a cada fase do desenvolvimento. Para Mahoney (2010, p.14) estes princípios que
também podem ser denominados de leis “descrevem tanto o movimento do processo de
desenvolvimento no seu todo, como nas fases menores dentro de cada estágio”.
Em cada estágio há a predominância de um campo funcional (motor, afetivo e
cognitivo) sobre os outros. Quando a afetividade prepondera sobre a dimensão cognitiva, o
conhecimento da criança se volta para si mesmo, este movimento é chamado por Wallon de
centrípeto (GALVÃO, 1995), já quando a dimensão cognitiva predomina temos o movimento
contrário que é denominado de centrifuga, no qual a criança busca o conhecimento do mundo
externo.
Embora os campos funcionais passem por predominância e alternância, eles estão
constantemente integrados. Em todo o momento o conjunto afetivo e o conjunto cognitivo se
inter-relacionam e influenciam-se mutuamente, promovendo o desenvolvimento do indivíduo
em sua totalidade. A dimensão motora não assume preponderância em nenhuma fase, mas
possui um papel fundamental no desenvolvimento da criança.
O desenvolvimento infantil não se inicia cognitivamente, e sim pela sensibilidade
interna, que é o que predomina nos primeiros anos de vida da criança. O aspecto cognitivo do
desenvolvimento se caracterizará pela sensibilidade externa.
Segundo Tassoni (2008) o domínio afetivo vai se constituindo a partir de uma
sensibilidade orgânica, que funciona de uma maneira muito intensa e precisa na etapa inicial
do desenvolvimento humano. Essa sensibilidade orgânica Sherrington (apud WALLON,
1971) denominou de sensibilidade interoceptiva e sensibilidade proprioceptiva. Há ainda
outra sensibilidade que ele o chama de exteroceptiva.
De acordo com Tassoni (2008), a sensibilidade interoceptiva são as percepções que o
bebê vai adquirindo dos seus órgãos internos (estômago, intestino) e que revelam estados de
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 5
fome, dor, entre outras. A sensibilidade proprioceptiva se refere às percepções de postura,
equilíbrio corporal. E a sensibilidade exteroceptiva consiste na percepção de ações externas.
Wallon (1971) afirma que por meio destes processos perceptivos vai se delineando o
desenvolvimento da vida racional. Tais processos são aperfeiçoados de maneira que as ações
da criança passam a ser mais refinadas e complexas, mais conscientes, pois sua percepção do
ambiente físico e social são maiores, resultando em transformações nas manifestações
afetivas.
Todavia, afirma o autor que inicialmente os conjuntos funcionais reagem aos
estímulos externos e internos de forma sincrética, ou seja, como um todo indiferenciado.
Pois a criança ao nascer é considerada um ser sincrético, isto é, misturado ao outro. O
outro está simbioticamente ligado ao eu, em um processo de indiferenciação.
Mas aos poucos, o bebê passa a compreender que existe uma relação entre seus atos e
os do ambiente pela comunicação afetiva estabelecida entre ele e o adulto e assim o bebê
passa a responder as solicitações do meio de forma mais organizada, mais clara,
caracterizando então sua passagem do sincretismo para a diferenciação, tendência de todo
processo de desenvolvimento. Conforme Mahoney (2010, p.15) desenvolver-se, na teoria
walloniana, “é ser capaz de responder com reações cada vez mais especificas a situações cada
vez mais variadas”.
Afetividade e educação
Wallon (1968 p.148) estabelece uma distinção entre afetividade e emoção. O autor
define as emoções como, “sistemas de atitudes que corresponde, cada uma, a uma
determinada espécie de situação”, em outras palavras, são manifestações de estados
subjetivos, com componentes orgânicos, elas têm origem na função tônica, e são classificadas
de acordo com o grau de tensão a que se vinculam, podendo ser denominadas de hipotônicas
ou hipertônicas.
Conforme Dantas (1992), as emoções de natureza hipotônica são as redutoras do
tônus muscular e as emoções hipertônicas são as geradoras de tônus muscular. Um exemplo
de emoção hipertônica apresentada por Wallon (1971) é a cólera, pois neste estado há o
excesso de excitação sobre as possibilidades de escoamento. A timidez pode ser um exemplo
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 6
da emoção hipotônica, pois revela um estado de hipotonia no qual verifica-se hesitação na
execução de movimentos e incerteza na postura a ser adotada pelo sujeito.
Quanto à afetividade se refere à capacidade do indivíduo de ser afetado pelo mundo
interno e externo, seja por sensações agradáveis ou desagradáveis. Nas palavras de Tassoni
(2008), a afetividade se constitui em um conjunto de manifestações mais amplas que
compreende a emoção, o sentimento e a paixão.
Sabendo distinguir afetividade de emoção, precisamos agora salientar que na medida
em que o indivíduo vai se desenvolvendo ocorrem novas exigências afetivas nas relações
sociais, ou seja, a afetividade vai ampliando suas formas de expressão, ela vai ganhando
complexidade, este processo pode ser denominado de cognitivização da afetividade, pois as
conquistas intelectuais são incorporadas à afetividade.
Durante todo o desenvolvimento do ser humano a afetividade exerce um papel
fundamental. Desde os primeiros dias de vida é ela que proporciona o contato do bebê com o
adulto, por meio de impulsos emocionais. Essa interação da criança com o outro permite o
processo de diferenciação eu/outro, onde a afetividade se faz presente permeando esta relação.
E ainda pela afetividade que a criança tem o acesso ao mundo simbólico, o que dá origem
então a atividade cognitiva e possibilita o seu progresso.
Sendo assim, podemos dizer que a emoção precede a dimensão cognitiva. Em outras
palavras, a dimensão cognitiva tem origem na emoção por ser o elemento que possibilita o
acesso ao universo simbólico do grupo social, o contato com a razão é dada pela emoção.
Entretanto, quando a emoção prevalece, a razão se retrai e vice versa. Desta forma, a
emoção e a razão, cuja origem é comum, complementam-se e opõem-se na constituição da
pessoa.
A partir destas considerações, podemos afirmar que a dimensão afetiva não pode ser
negligenciada na escola, visto que todas as nossas ações são permeadas por ela,
principalmente no processo de escolarização.
As experiências vivenciadas em sala de aula permitem trocas afetivas positivas que,
não só marcam positivamente o objeto de conhecimento, mas também favorecem a autonomia
e fortalecem a confiança dos alunos em suas capacidades e decisões.
Sendo assim, a qualidade da interação professor-aluno traz um sentido afetivo para o
objeto de conhecimento e influencia a aprendizagem do aluno. E, o fato do professor ter
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 7
consciência da ligação entre o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo possibilita-o de controlar
e reverter sentimentos negativos, como também explorar de maneira positiva o desejo de
aprender e o interesse em fazer.
Desta forma, fica evidente como é importante que o professor tenha o conhecimento
sobre a influência da afetividade no processo de ensino e aprendizagem, bem como saiba lidar
com o poder de contágio da emoção em sala de aula, pois o professor pelo convívio com as
crianças está permanentemente exposto ao contágio emocional, visto que elas são seres
essencialmente emotivos.
O professor quando adquiri tal conhecimento, ele passa a conferir mais atenção a todos
os seus alunos, visto que a atenção é uma das atitudes por meio da qual se manifesta a
dimensão afetiva e também se constitui em um fator facilitador no processo de ensino-
aprendizagem.
Vejamos o exemplo que Dantas (1992, p. 88) nos apresenta: “A ansiedade infantil,
por exemplo, pode produzir no adulto próximo também angústia, ou irritação. Resistir a esta
forte tendência implica conhecê-la, isto é, corticalizá-la, condição essencial para reverter o
processo”.
Os estudos sobre emoção na educação deveria ser incluída entre os propósitos da ação
pedagógica, pois tal conhecimento proporciona ao professor a compreensão de como lidar
com esta dimensão afetiva em sala de aula.
De acordo com a teoria walloniana educar significa considerar as leis que regulam o
processo de desenvolvimento, respeitando as possibilidades orgânicas e neurológicas do
momento e as condições de existência do aluno. Conforme Mahoney (2010, p. 17) “a essência
do educar é, pois respeitar a integração dos conjuntos funcionais no seu movimento
constante”.
Segundo Tassoni (2008, p. 205) “é nas interações com as pessoas que ocorre a
apropriação do legado cultural – patrimônio que envolve conhecimentos, valores, sistemas
simbólicos, formas de agir, pensar e sentir”.
Portanto, a afetividade que se manifesta na relação professor-aluno se constitui
elemento inseparável do processo de construção do conhecimento. Por isso, a qualidade da
interação pedagógica deve ser buscada com muita primazia, pois é ela que vai conferir um
sentido afetivo para o objeto de conhecimento, a partir das experiências vividas.
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 8
Conclusões
Diante da análise realizada sobre a afetividade com base nos referidos autores,
podemos afirmar com maior propriedade a importância do aspecto afetivo na relação
professor-aluno e na relação da criança com o objeto de conhecimento, visto que sua
influencia sobre a aprendizagem do aluno é grande, pois isso faz se necessário o professor se
atentar a este aspecto. Afinal, um ambiente para se ensinar e aprender deve ser harmonioso,
enriquecido por práticas pedagógicas afetuosas, somente assim é possível atingir um processo
de aprendizado mais eficaz.
Portanto, a interação do individuo com o outro e com o objeto de conhecimento é
mediada pela emoção, é ela a responsável pela socialização do indivíduo, pela formação da
personalidade do mesmo, da construção da consciência de si. Por meio da emoção que a
criança supera a dependência do outro e prossegue construindo seu conhecimento,
“alimentando-se da cultura”, como um sujeito ativo.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Ana Rita Silva. A afetividade no desenvolvimento da criança -Contribuições de Henri Wallon. Inter-Ação - Revista da Faculdade de Educação da UFG, Goiás, 2008, v. 33, n. 2, p. 115-129, jul. 2008. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br. Acesso em: 25 mar. 2011. AMARAL, S. A. Estágio categorial. In: MAHONEY, A. A; ALMEIDA, L. R. (Orgs) Henri Wallon. Psicologia e educação. 9 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010. BASTOS, A. B. B. I.; DÉR, L. C. S. Estágio do personalismo. In: MAHONEY, A. A; ALMEIDA, L. R. (Orgs) Henri Wallon. Psicologia e educação. 9 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010.
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 9
COSTA, L. H. F. M. Estágio Sensório-Motor e Projetivo. In: MAHONEY, A. A; ALMEIDA, L. R. (Orgs) Henri Wallon. Psicologia e educação. 9 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010. DANTAS, H. Afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de Wallon. Em LA TAILLE, Y., DANTAS, H., OLIVEIRA, M. K. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus Editorial Ltda, 1992. DÉR, L. C. S.; FERRARI, S. C. Estágio da puberdade e da adolescência. In: MAHONEY, A. A; ALMEIDA, L. R. (Orgs) Henri Wallon. Psicologia e educação. 9 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010. DUARTE, M. P.; GULASSA M. L. C. R. Estágio impulsivo emocional. In: MAHONEY, A. A; ALMEIDA, L. R. (Orgs) Henri Wallon. Psicologia e educação. 9 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010. GALVÃO, I. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 6 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. LEITE, S. A. S.; TASSONI, E. C. M. A afetividade em sala de aula: as condições de Ensino e a mediação do professor. In: Mesa Redonda do Grupo de Pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita, Mesa redonda, Campinas, 2006. Disponível em: http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/SASL-AAfetividadeemSaladeAula.pdf. Acesso: mar. 2011. MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R, Afetividade e processo ensino-aprendizagem: contribuições de Henri Wallon. Revista Psicologia da Educação, 2005, n. 20, p. 11-30. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n20/v20a02.pdf. Acesso: mar. 2011. NASCIMENTO, M. L. A criança concreta, completa e contextualizada: a Psicologia de Henri Wallon. In: KESTER, C. (Orgs) Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. 1ed. São Paulo: Avercamp, 2004. p. 47-69. OLIVEIRA, Z. de M. R. de. O problema da afetividade em Vygotsky. LA TAILLE, Y; OLIVEIRA, M.K; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. PANIZZI, C. A. F. L. As relações afetividade-aprendizagem no cotidiano da sala de aula: enfocando situações de conflito. In: Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, 27. Caxambu. Anais, Caxambu: ANPED, 2004. Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt13/t132.pdf. Acesso em: ago 2010. TASSONI, E. C. M. Afetividade e aprendizagem: a relação professor-aluno. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 23. 2000, Caxambu. Anais, Caxambu: ANPED. Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/2019t.PDF. Acesso em: ago 2010.
Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 10
TASSONI, E. C. M. A dinâmica interativa na sala de aula: as manifestações afetivas no processo de escolarização. Tese de doutorado, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 2008. TASSONI, E. C. M.; LEITE, S. A. S. A relação afeto, cognição e práticas pedagógicas. In: Reunião Anual da ANPED, 33, 2010, Caxambu. Anais, Caxambu: ANPED. Disponível em: http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT20-6865--Int.pdf. Acesso em: jan 2011. WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins fontes, 1968. WALLON, H. As origens do caráter na criança. 6 ed. São Paulo: Difusão Européia do livro, 1971. WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Porto: Estampa, 1975.