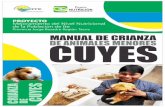1858) O Brasil nas relações internacionais do século 21: fatores externos e internos de sua...
Transcript of 1858) O Brasil nas relações internacionais do século 21: fatores externos e internos de sua...
1
A ordem política e econômica mundial no início do século XXI Questões da agenda internacional e suas implicações para o Brasil
Paulo Roberto de Almeida
([email protected]; www.pralmeida.org) Publicado in:
in Leonardo Nemer Caldeira Brant (coord.), III Anuário Brasileiro de Direito Internacional
(Belo Horizonte: CEDIN, v. 3, n. 2, 2008, ISSN: 19809484; p. 151-189)
Este ensaio tem por objetivo apresentar e discutir alguns dos problemas relevantes
da agenda mundial, ao início do século XXI, e discutir suas implicações para o Brasil.
Trata-se de uma exposição descritiva, que não se pretende abrangente, sistemática ou
completa, mas que cobre, ainda assim, os problemas considerados mais importantes das
relações internacionais contemporâneas, introduzindo, para cada um deles, sua interação
ou impacto para o Brasil, enquanto ator ou espectador de alguns dos processos ou eventos
enfocados. Pode ser considerada uma “digressão livre”, pelo fato de que não pretende
fundamentar a análise dos tópicos tratados em remissões exaustivas, baseadas em fontes
documentais relativas aos casos selecionados ou em referências bibliográficas completas;
mas a lista de leituras indicativas, apresentada ao final, oferece, ainda assim, um guia de
informação complementar para a maior parte dos problemas abordados no texto.
O ensaio recolhe algumas décadas de atento estudo das questões internacionais e a
experiência adquirida no trato profissional de vários dos assuntos nele abordados. O texto
foi organizado em três seções, apresentadas a seguir. Cada uma delas foi dedicada a um
conjunto de questões com relevância internacional, nos planos político e econômico, para
as quais são mencionadas as implicações ou o seu significado para o Brasil. A terceira
seção aborda com maior grau de detalhe o impacto da presente ordem política e
econômica mundial para o país. Este texto analítico-descritivo está assim estruturado:
1) A ordem política mundial: novos problemas, velhas soluções? 1.1. Segurança estratégica 1.2. Relações entre as grandes potências 1.3. Conflitos regionais 1.4. Cooperação política e militar nos hot-spots; 2) A ordem econômica mundial: velhos problemas, novas soluções? 2.1. Regulação cooperativa das relações econômicas internacionais 2.2. Assimetrias de desenvolvimento 2.3. Cooperação multilateral e Objetivos do Milênio 3) A ordem política e econômica mundial e o Brasil
2
3.1. Crescimento econômico 3.2. Investimentos 3.3. Acesso a mercados 3.4. Integração regional 3.5. Recursos energéticos 3.6. Segurança e estabilidade
1) A ordem política mundial: novos problemas, velhas soluções?
A primeira observação que compete fazer a respeito desta seção, tem a ver com o
contraste oferecido em relação à seção seguinte, no sentido da inversão de caráter entre o
velho e o novo. No caso da ordem política, acredito que o mundo enfrenta novos
problemas, e eles não se situam apenas em supostas “ameaças globais”, como os
problemas do meio ambiente ou da ameaça do terrorismo fundamentalista. A curta visão
histórica das gerações presentes tende a crer que o “aquecimento global” tem sido
produzido pela Revolução industrial ou pelas atividades “civilizatórias” de modo geral,
esquecendo que, em escala geológica, o planeta Terra já enfrentou ciclos de aquecimento
e de resfriamento globais que impactaram profundamente – em alguns casos fatalmente –
o destino de sociedades humanas inteiras (ver Jared Diamond, Armas, Germes e Aço e
Colapso). Da mesma forma, independentemente do fato de que os atuais
fundamentalistas islâmicos matam, atualmente, um “pouco mais” de gente do que os
anarquistas de um século atrás – que tendiam a se concentrar em lideranças políticas –, a
violência indiscriminada como arma política está conosco há muito tempo, sendo que as
guerras globais do século XX foram insuperáveis em sua obra homicida (Niall Ferguson:
The War of the World).
Os problemas são novos no sentido em que, depois dessas matanças indescritíveis
do século XX, tão bem descritas por Ferguson, o mundo parece encaminhar-se para um
período de “relativa paz” no que se refere aos grandes sistemas imperiais. Minha leitura
do problema da paz e da guerra – certamente situada na tradição aroniana (Raymond
Aron: Paz e Guerra entre as nações), mas dela divergindo quanto à natureza dos
conflitos contemporâneos, que me parecem retroceder em relação ao panorama de
guerras totais, de estilo clausewitziano, que ele contemplava – pode ser resumida da
seguinte forma. As grandes nações guerreiras deixaram o cenário de pequenas guerras de
posição, muitas vezes travadas com o recurso eventual a tropas mercenárias, típicas dos
3
séculos XV e XVI, para as guerras de conquista e ocupação, conduzidas pelos Estados-
nacionais em formação dos séculos XVII e XVIII. Importantes inovações táticas e
estratégicas foram introduzidas pelo estilo napoleônico de conduzir os combates,
envolvendo a mobilização de forças nacionais em larga escala, o que dominou o cenário
mundial na era dos grandes impérios nacionais (basicamente o século XIX, até a Primeira
Guerra Mundial). O século XX conheceu, sob a forma das guerras globais (em duplo
sentido), uma inacreditável explosão de violência, que não mais poupou instalações ou
populações de espécie alguma, até o advento da arma atômica, que sinalizou um limite
para o exercício dessa violência. É minha crença – talvez subjetiva e otimista, mas ainda
assim fundamentada numa certa percepção objetiva dos “custos” da guerra para os atuais
“impérios” – que as superpotências não mais voltarão a se enfrentar diretamente, em
grandes guerras totais, mas procurarão se acomodar mutuamente com o recurso às
negociações ou, quando for necessário, às guerras localizadas e aos conflitos militares por
procuração – proxy wars – que não mais envolverão a escalada final, isto é, a destruição
completa do inimigo (pois isso poderia significar a sua própria destruição, quando não
uma hecatombe em escala planetária).
Por outro lado, o desaparecimento do socialismo, que significava um messianismo
em bases universalistas, retira um dos mais poderosos indutores a um conflito global no
plano militar, pois, como disse Francis Fukuyama (“The End of History?”) – e nisso
estou em acordo com ele –, não existe mais uma alternativa credível aos sistemas de
mercado e ao capitalismo, ainda que as democracias demorarão um pouco mais para
atingir a universalidade. Ou seja, os “impérios” porventura existentes – americano,
europeu, chinês, russo, indiano – se encontrarão na interdependência do capitalismo
global, ainda que possam ter suas divergências econômicas, políticas e militares, e
mesmo conflitos localizados, mas todos eles equacionáveis diplomaticamente em bases
de mútua conveniência.
Os problemas são, portanto, “novos”, pois o recurso à guerra total já não é mais
possível na era nuclear, com a crescente interpenetração dos “impérios” regionais. Isto
não quer dizer que o direito internacional – e suas manifestações institucionais, como a
ONU e outras agências intergovernamentais – venha a prevalecer sobre a vontade dos
Estados-nacionais e, sobretudo, acima desses impérios: a ameaça do uso da força deve
4
permanecer como a ultima ratio da política internacional durante um bom tempo ainda,
enquanto, pelo menos, a lógica westfaliana continuar a prevalecer (e isto pode durar mais
um século e meio, aproximadamente). As soluções são, portanto, “velhas”, por isso
mesmo: a lógica imperial e o uso da força continuarão conosco pelo futuro previsível, e
esta me parece a base da segurança e da estabilidade do mundo que conhecemos, que não
corre nenhum risco de tornar-se “kantiano” antes de três ou quatro gerações, pelo menos.
A soberania continuará com os Estados-nacionais pelo futuro previsível; menos na
Europa, que está construindo sua própria soberania comunitária (mas este será um
processo longo, pois os europeus não parecem acreditar muito na força bruta, sendo,
neste caso, suplantados pelos chineses e indianos, que com russos e americanos
continuarão a dominar o panorama da segurança estratégica nas próximas décadas).
Quanto à ordem econômica, que me parece apresentar os mesmos “velhos”
problemas de sempre – desigualdades de acesso e de riqueza entre as nações, diferenciais
de renda e de prosperidade, com convergências e divergências operando em ritmo muito
lento para eliminar os ainda imensos bolsões de miséria abjeta –, algumas novas soluções
parecem estar em curso; elas se situam justamente na interdependência crescente dos
sistemas econômicos nacionais. Neste caso, o sistema “westfaliano” já saltou pelos ares e
o nacionalismo econômico parece uma coisa tão antiquada quanto o machado de bronze e
a roca de fiar. A internacionalização crescente das atividades produtivas e de circulação
de bens tangíveis e intangíveis me parece constituir a base de uma sociedade global que
existirá antes na prática do que no direito, este ainda dominado pelos nacionalismos de
base política que são duros de morrer. Aprofundarei estes temas na seção pertinente.
Feita esta introdução de caráter geral, vejamos agora os problemas da agenda
política mundial.
1.1. Segurança estratégica
Na equação estratégica contemporânea, a detenção de artefatos nucleares continua
a ser o elemento dominante, em ultima ratio, do jogo do poder. Existem, obviamente,
outros vetores de poder, em especial o tecnológico e o econômico, este constituindo, em
última instância – segundo o modelo analítico marxista, que neste particular conserva
plena validade –, o elemento crucial de afirmação de supremacia, de modo continuado.
5
Não se compreende, aliás, o desenvolvimento e a posse de artefatos nucleares senão ao
cabo de certo grau de avanço científico e tecnológico, que costuma estar ligado ao nível
de desenvolvimento econômico do país.
Certamente que países economicamente poderosos estão em condições de
assegurar um modo de vida satisfatório aos seus cidadãos, podendo influenciar
decisivamente a agenda política e econômica mundial e contribuir, no mundo
contemporâneo, para o desenvolvimento econômico e social de outros povos e países.
Isso é plenamente verdade. Mas, se formos decidir, em determinados momentos, sobre a
paz e a guerra, e definir quem, no momento decisivo, é capaz de impor sua vontade – ou
de impedir que outros imponham a sua própria vontade –, então, a posse de armas
nucleares torna-se o diferencial absoluto de poder, independentemente do poder
econômico relativo de cada um dos contendores.
Como regular, então, as relações internacionais, ou melhor, as relações de poder,
nesse contexto da “arma de última instância”? O mundo dispõe de um acordo que não é
mundial, mas tão somente internacional, que regula parcialmente o problema, que é o
TNP, o tratado de não-proliferação nuclear (Washington-Moscou-Londres, 1968). Esse
tratado não é certamente universal e, sobretudo, não é multilateral, uma vez que apenas
três países o negociaram e depois o “ofereceram” à comunidade internacional. Ele foi
posteriormente “estendido” ao resto do mundo, na ausência – talvez na oposição – dos
dois outros únicos países nucleares à época, que eram a França e a China (que a ele só
aderiram no início dos anos 1990). Essa extensão se fez sob os olhos por vezes invejosos,
outras vezes preocupados, de outros países, alguns deles interessados em desenvolver
seus próprios artefatos nucleares, alguns outros temerosos de que a proliferação indevida
dessas terríveis armas pudesse conduzir ao holocausto nuclear.
De fato, vários outros países tentaram – alguns continuam tentando – desenvolver
a tecnologia nuclear, para fins de dissuasão ou para simples manifestação primária de
poder. Entre esses países se encontravam, na América Latina, o Brasil e a Argentina, sob
a escusa, pouco credível, de sua utilização para fins exclusivamente pacíficos, ou civis.
Vez por outra, algum “estrategista”, aqui mesmo no Brasil, levanta a hipótese do
desenvolvimento de um artefato nuclear, mesmo na presença do obstáculo constitucional,
com a justificativa de que as condições externas poderiam exigi-lo para fins de “defesa”.
6
Por certo, vários países estariam em condições de desenvolver rapidamente um artefato
nuclear, se a decisão política assim o determinasse; entre eles poderiam figurar:
Alemanha, Japão, Canadá, Suécia, Espanha, Itália e outros atores menores. Brasil,
Argentina, Egito e alguns outros demorariam mais tempo, em função de lacunas
tecnológicas ou de insuficiência do “combustível” nuclear.
A questão nuclear, no seu sentido amplo, estratégico, apresenta três aspectos que
não estão necessariamente conectados entre si de modo estrutural, mas que foram
conceitualmente reunidos pelo próprio instrumento que “regula” a questão no plano
internacional: (a) a não-proliferação, que é obviamente o aspecto principal subjacente às
intenções dos proponentes do TNP; (b) a cooperação nuclear para fins civis, ou
pacíficos, que representa uma promessa e uma garantia das potências nuclearmente
armadas em direção de todas as outras; (c) o desarmamento, que é uma hipótese
fantasiosa inventada pelos proponentes do TNP para atrair – enganar seria o termo mais
exato – os demais países a esse instrumento discriminatório e desigual. Em relação a esta
terceira dimensão da questão nuclear, se poderia repetir o velho argumento tantas vezes
utilizado em outras circunstâncias: em relação ao desarmamento, nós – ou seja, as
potências nuclearmente armadas –, fingimos que vamos desarmar, um dia, e todos os
demais fingem que acreditam nessa hipocrisia. De fato, parece difícil reverter a situação
ao status quo ante: uma vez que o “gênio” nuclear saiu da sua lâmpada militar, é
praticamente impossível fazê-lo retornar à sua “inexistência” anterior.
Para todos os efeitos práticos, o que vale, para as potências do TNP é a garantia
de não-proliferação, com alguma cooperação na dimensão da cooperação – sob o olhar
vigilante da AIEA – e a total desconsideração da dimensão desarmamento. Para todos os
“nucleares”, portanto, essa questão apresenta dois aspectos: o da projeção da força e o da
dissuasão. O primeiro aspecto, depois de Hiroshima e Nagasaki, não mais voltou ao
cenário internacional (a despeito de alguns “ensaios”, como em Cuba, em 1962). A arma
nuclear não mais voltou a ser usada como arma de terreno para abreviar o final de uma
guerra, ainda que ela tenha sido cogitada em alguns cenários ou teatros possíveis de
operação (como a sugestão do general MacArthur, em face da ofensiva chinesa durante a
guerra da Coréia, e talvez algum outro general “maluco” por ocasião da guerra do
Vietnã). Mesmo no caso de Cuba, quando os dois grandes contendores da fase pré-TNP
7
parecem ter chegado “to the brink”, não estavam reunidas todas as condições para que o
jogo de pôquer, naquelas circunstâncias, chegasse a uma “solução final”, ao estilo do
filme Dr. Strangelove.
A arma nuclear é usada, portanto, para fins essencialmente dissuasórios, e é como
tal que Israel a concebe, em face de uma coalizão agressiva de Estados árabes que
gostariam de varrê-lo do mapa. Existem, certamente, militares, que concebem alguma
utilização tática da arma nuclear; mas os estadistas responsáveis e planejadores sensatos
dos países nuclearmente “capazes” – e não apenas daqueles nuclearmente armados –
assim imaginam sua equação nuclear nacional. De fato, repassando a lista dos nucleares,
veremos que eles sempre tiveram em mente algum perigo estratégico, para o qual se
buscou a solução de última instância.
Com a possível exceção da França – que estava exercendo uma opção de “orgulho
nacional”, depois de tantas humilhações sofridas desde o século XIX – e, possivelmente,
da África do Sul – que se sentia acuada por todos os demais países africanos no momento
do apartheid –, todos os demais países tinham algum contendor em mente no
desenvolvimento do seu programa nuclear. A China se armou contra os EUA e contra a
própria URSS; a Índia o fez contra a China, menos do que contra o Paquistão; o
Paquistão contra a Índia, with a little help from China; Israel contra os países árabes, e
eles eram muitos; a Coréia do Norte contra os EUA (e possivelmente o Irã, também, mais
do que contra o Iraque). As aventuras nucleares de Saddam Hussein (ditador do Iraque
até sua derrubada pelos EUA em março de 2003) e as do coronel Kadhafy, da Líbia
(estas, finalizadas depois de duras sanções contra o país), entram nesta equação a título de
bizarrice, embora o ditador do Iraque tivesse o “inimigo” iraniano no seu planejamento
militar. De todos esses países, o único que desarmou voluntariamente foi a África do Sul;
mas ela o fez no momento da transição para o regime de maioria negra, e esse elemento
pode ter entrado no cálculo estratégico da liderança branca que assim decidiu no início
dos anos 1990. Quanto à Coréia do Norte, a supor que ela desarme, efetivamente, tal fato
pode ser atribuído à dupla pressão da China e dos EUA, nessa ordem.
Parece haver uma teoria das relações internacionais contemporâneas – mas não
testada na prática – que afirma que os Estados que se tornam nuclearmente armados
passam a se comportar de modo mais responsável e condizente com suas novas
8
responsabilidades no plano internacional. Este foi certamente o caso da China, de Israel,
da Índia, embora haja desconfianças em relação ao que possam algum dia fazer o
Paquistão, a Coréia do Norte e, eventualmente, o Irã. Mesmo com relação à China, se
questiona se seu papel foi responsável, uma vez que ela pode ter sido decisiva na
capacitação nuclear do Paquistão, que por sua vez foi, em parte, negligente com o seu
programa: um físico desse país está na origem de uma das mais importantes redes de
disseminação de tecnologia e materiais nucleares, num contexto de “proliferação” por
empreendimento individual, um pouco como faziam os piratas de antigamente, que
também podiam servir de corsários para seus Estados respectivos. Alguns cenários
podem ser preocupantes, nessa hipótese de uma proliferação não controlada pelos atores
responsáveis, o que poderia ser o caso do Paquistão, da Coréia do Norte e do Irã,
precisamente.
Mesmo quando um país nuclearmente “capaz” não parece ameaçar a paz mundial,
cenários de conflito são sempre imprevisíveis, pois as fontes podem emergir não da
situação objetiva de um país determinado, em seu contexto geopolítico próprio, mas
como resultado da paixão dos homens, falíveis por definição. Imaginemos, por um
instante, uma ocupação das Malvinas por tropas argentinas respaldadas por um artefato
nuclear que teria sido previamente desenvolvido pela ditadura militar. A história poderia
ter sido bastante diferente.
O TNP vem se “universalizando” nos últimos anos, em que pese sua notória falta
de legitimidade intrínseca. Por outro lado, mais países estão se tornando nuclearmente
capazes, quando não nuclearmente armados. A Índia já criou uma situação nova e vem
sendo aceita como uma potência nuclear de fato, ainda que não o venha a ser de direito.
O grande responsável por essa transformação foi, a rigor, a potência garantidora, por
excelência, do TNP e aquela teoricamente mais engajada na não-proliferação: os EUA. A
dissuasão e o cálculo estratégico estão aqui bem presentes. As boas relações entre Índia e
EUA, nesse terreno, têm a ver com a China, embora equivocadamente considerada como
a fonte possível de desafios estratégicos para os EUA. O acordo nuclear entre EUA e
Índia vale estritamente para fins civis, e não tem o poder de qualificá-la para o clube
formal das potências nucleares, o que de toda forma exigiria reforma do TNP, algo
praticamente impossível de ocorrer nessas bases.
9
O TNP precisa, sim, de reformas, mas elas teriam de ser bem mais radicais do que
poderiam admitir os cinco privilegiados da atualidade. Nem eles poderiam admitir o seu
desarmamento, o que obviamente não ocorrerá, nem eles vão querer estimular em
demasia o desenvolvimento nuclear – ainda que para fins eminentemente pacíficos – dos
demais países. Assim, parecem existir poucas chances de progresso institucional na
questão nuclear, com base nos instrumentos atualmente disponíveis, em primeiro lugar o
TNP. Haverá, portanto, muita hipocrisia e muito more of the same nesta agenda.
Não se concebe, com efeito, as potências nuclearmente armadas favorecendo o
ingresso de países “candidatos” no clube nuclear. Eles precisariam “forçar a porta” e
garantir o seu ingresso, mas sempre serão passageiros incômodos, por não disporem do
bilhete desde a partida. Em outros termos, não haverá nenhum levantamento de restrições
à transferência de tecnologia. Mas os próprios países que aspiram ingressar no grande
jogo estratégico terão de buscar sua equiparação progressiva – embora rudimentar – com
os cinco grandes, com base em sua própria capacitação. Esta dependerá em grande
medida do aprendizado próprio – ou seja, ciência e indústria, com base em tecnologia
endógena ou copiada –, da política dirigida ao comércio de materiais sensíveis, alguma
cooperação bilateral e um pouco de espionagem.
Quanto ao problema da reforma da Carta das Nações Unidas e a ampliação do seu
Conselho de Segurança, esse processo não tem a ver, diretamente, com a posse de algum
artefato nuclear. O Japão – potencialmente capaz de desenvolver a arma, mas que prefere,
por enquanto, viver castrado nessa dimensão – e a Índia são, teoricamente, os dois únicos
países que estariam na lista dos EUA para ingresso no CSNU, mas não por algum cálculo
de natureza estratégica que envolva a posse de armas nucleares. De toda forma, o alegado
desejo dos países membros e dos candidatos em promover uma “democratização” das
estruturas de poder internacional não passa de uma hipótese pouco credível para quem
acompanha a realidade das relações internacionais. Os cinco permanentes atuais não
desejam a reforma e não pretendem diluir o seu poder com novos candidatos. O status
quo lhes convém e assim será mantido até que novos dados da realidade alterem
substancialmente a equação estratégica do cenário internacional contemporâneo. Uma
coisa é certa: o “gênio” nuclear continuará fora da garrafa.
10
E o Brasil, como se situa ele, neste cenário de unilateralismo arrogante, de
arranjos oligárquicos e de pressões sobre os países “desviantes”? Ele mesmo poderia ser
incluído nessa categoria, ao persistir sua recusa do Protocolo adicional ao TNP, mesmo
depois de aceitar relutantemente esse instrumento discriminatório em 1996. É certo que,
na origem, isto é, nos anos 1950, o Brasil mantinha concepções otimistas – talvez
ingênuas – sobre a utilização do poder nuclear, tanto sob a forma de energia, como em
aplicações médicas e mesmo em obras de engenharia civil. Depois ele alimentou o sonho
de aceder à tecnologia de processamento e de sua eventual utilização militar, ao
empreender, entre outros programas, a cooperação nuclear com a Alemanha (que, junto
com o Brasil, foi objeto de intensas pressões dos EUA). Sua capacitação interna foi
prejudicada por insuficiência de recursos e de vontade política, independentemente do
eventual sucesso tecnológico do acordo com a Alemanha, que não foi conduzida a termo.
Foi, provavelmente, melhor assim, pois o espectro de uma corrida nuclear com a
Argentina foi afastado e ambos os países terminaram não apenas acedendo ao TNP, como
também desenvolveram um programa exemplar de cooperação em salvaguardas
nucleares que pode servir de modelo para outras situações do gênero (talvez no sul da
Ásia, com o impasse indo-paquistanês ainda pendente).
Continuam pendentes, portanto, o problema da recusa brasileira ao Protocolo
adicional ao TNP – que parece ter a ver com uma hipotética “tecnologia original”
utilizada na fábrica de processamento de Resende – e a questão da postura em relação à
“doutrina nuclear” de Bush, que envolve o controle das atividades civis, em todos os seus
aspectos (comerciais, tecnológicos, produtivos). Tendo em vista o nacionalismo e o
soberanismo brasileiros, não haverá progresso sensível no futuro imediato, mas essa
questão não é crucial no plano da segurança estratégica para a ordem política mundial:
afinal de contas, o Brasil não é um elemento desestabilizador da ordem internacional e o
mundo pode facilmente conviver com esse tipo de nacionalismo “nuclear”.
Existem outros vetores de segurança estratégica no cenário mundial e eles têm a
ver com os esquemas regionais (ou geopolíticos) de defesa e de aliança militar: o único
esquema que sobreviveu à Guerra Fria e que continuou a se expandir gloriosamente foi a
OTAN, que teve um notável sucesso em suas novas roupagens “camaleônicas” de “pau
para toda obra”, ao incorporar em seu programa temas como direitos humanos e defesa
11
do meio ambiente (incrível, mas verdadeiro). A OTAN não é mais “atlântica”, mas
mundial, pois que suas tropas estão no Afeganistão, como poderiam estar em outros
cenários, sempre e quando o comando americano assim o decida. A Eurásia continua a
ser, como nos tempos de Mackinder, o elemento-chave do equilíbrio estratégico mundial,
mas os europeus continuam numa encruzilhada de vocações: eles não sabem se retomam
suas antigas tradições imperiais – afogadas desde os antigos desvarios nazistas e ameaças
do hoje inexistente inimigo soviético, parcialmente revivido no novo czarismo russo – ou
se continuam atados ao guarda-chuva nuclear da OTAN (de fato americano). Sua
proverbial incapacidade de engajar recursos consideráveis em tecnologia bélica promete
continuar reduzindo-os a nada mais do que assistentes militares do império americano, o
que muito os desgosta (mas eles não fazem muita coisa para mudar a situação).
No plano global, de toda forma, essas indecisões européias são irrelevantes para o
equilíbrio estratégico internacional: a dissuasão continua a funcionar e o mundo é mais
seguro do que jamais o foi no decorrer do século XX. No plano regional, os cenários de
conflito potencial continuam situados em zonas periféricas e empobrecidas da Ásia, da
África e do Oriente Médio, pois não se imagina que as regiões dinâmicas e os países mais
engajados na globalização (e, ipso facto, de alto crescimento econômico) venham a se
deixar envolver em uma escalada de enfrentamentos que possam precipitar algum
conflito de grandes proporções.
A América Latina continua a ser uma região isenta de grandes enfrentamentos e o
TIAR (1947) continuará a exibir sua inoperância relativa (o que não representa um
problema para o Brasil, talvez, antes, uma solução). Depois dos “anos clássicos” de
alinhamento ideológico, mas fora do cenário de enfrentamentos, durante a Guerra Fria, o
que menos interessa ao Brasil é ter a América Latina como o teatro de uma corrida
armamentista (que poderia ser protagonizada por novos candidatos a caudilho). Os novos
desafios se situam inteiramente na evolução democrática do continente e na sua
integração física, base indispensável para o desenvolvimento da integração econômica. O
único desafio “militar” na região parece ser o anacrônico problema da narcoguerrilha,
que na verdade se confunde com o crime organizado e está, portanto, mais próximo de
um problema policial do que da segurança estratégica no conceito tradicional do termo. A
paz relativa na América do Sul, ou seja, a ausência de focos declarados de tensão inter-
12
ou intra-estatais (a despeito mesmo da afirmação indigenista em alguns países e, portanto,
potencialmente um fator de fragmentação nacional), deve contribuir para o baixo nível de
dispêndio militar na região. Mas a recusa das Forças Armadas em assumir o novo papel
de “caçadores de traficantes” – que lhes pretendem atribuir os EUA – pode continuar a
ajudar a preservar os focos de instabilidade localizada da narcoguerrilha, que ameaça
extravasar para o sistema político e “invadir” as cidades (se já não o fez).
Um pouco de “futurologia” na questão estratégica global permitiria antecipar uma
mudança, já em curso, nos cenários: dos velhos enfrentamentos entre Estados aos
conflitos assimétricos típicos da contemporaneidade, ou seja, conflitos geralmente
regionais, de baixa intensidade e localizados, tipicamente envolvendo lutas civis (étnicas,
religiosas) e um ou outro enfrentamento territorial. O que pode já estar em curso,
também, é o novo intervencionismo militar com base em pressões da opinião pública nos
centros imperiais democráticos (pois não se imagina os “impérios” não democráticos
atendendo a apelos de ONGs humanitárias): a questão que se coloca é a de saber se esse
tipo de limitação ao “direito de massacrar o seu próprio povo” – tal como exercido por
alguns “ditadores de opereta” (eles ainda existem) – representa o começo do fim da
soberania estatal. A outra questão que se coloca, e que representa um problema para o
Brasil, é a de saber se ele, ou pelo menos o seu establishment militar e diplomático, está
preparado para esse tipo de missão. Provavelmente não, pois isso exigiria, mais do que a
simples capacitação técnica – em armas e táticas de combate –, uma verdadeira revolução
conceitual, difícil para um país que tem em Rui Barbosa o seu paradigma de
comportamento soberanista.
1.2. Relações entre as grandes potências
As relações entre as grandes potências – ou, como querem alguns, as guerras entre
os impérios – sempre estiveram no centro da política mundial, por qualquer prisma que se
examine a agenda internacional. No plano estrito dos equilíbrios estratégicos, esta é uma
verdade quase absoluta, embora a natureza desse relacionamento – e suas possíveis
conseqüências no plano militar – tenha evoluído ao longo do tempo. Os antigos sistemas
imperiais estavam baseados: na conquista militar, na extração de recursos e a
conseqüente escravização ou submissão de povos submetidos ao poder incontrastável de
13
sistemas políticos unificados, dotados de meios militares relativamente mais avançados
ou de técnicas de dominação mais condizentes com a vontade de poder de seus
dirigentes.
Foi assim que “povos bárbaros” conquistaram sistemas imperiais aparentemente
fortes e até mesmo seculares: esse destino alcançou o Egito, a Assíria, a Pérsia, o império
criado por Alexandre, a China e Roma clássica. Por outro lado, a ineficiência econômica,
o atraso tecnológico e erros políticos levaram à decadência os impérios ibéricos que
dividiram o mundo entre os séculos XVI e XVIII; paralelamente, desapareciam de cena
os impérios árabe, mogul e, em nossa época, o otomano, antecedendo a fragmentação da
comunidade multinacional dos Habsburgos e o irresistível declínio dos britânicos, dentre
uma longa lista de sucessões hegemônicas ao longo dos tempos (que inclui, por exemplo,
os holandeses, embora estes não tenham decaído absolutamente, mas, sim, souberam
unir-se aos ingleses na preservação de uma prosperidade alimentada pelo comércio).
Os modernos sistemas “imperiais” baseiam-se bem menos na dominação direta ou
na extração forçada de recursos – e, obviamente, não mais na escravização ou
colonização direta de populações mais “atrasadas” – e mais na organização da produção,
no controle dos circuitos de distribuição e na “extração” de ganhos quase-monopolistas
derivados dos fluxos de capitais financeiros, de tecnologia proprietária e de rendas
diversas obtidas a partir, justamente, de sua posição dominante ou hegemônica. O recente
debate sobre a natureza do “império” americano – que Niall Ferguson pretende ser um
império de fato, mas envergonhado de sê-lo e, por isso mesmo, um pouco desastrado –
obscurece um pouco a questão de saber se vivemos, inevitavelmente, sempre sob a égide
de sistemas imperiais, ou se tudo se desenvolve num continuum que se caracteriza,
simplesmente, pela sucessão de hegemonias políticas, alimentadas por fatores
temporários – embora alguns possam durar séculos – de preeminência econômica ou
tecnológica. O livro de Ferguson sobre o “império” americano (Colossus) é mais um
alinhamento de argumentos em favor de uma tese do que propriamente uma prova
irrefutável da natureza imperial do sistema americano atual, dominante e hegemônico
como ele pode ser.
Da mesma forma, a natureza precisa do “império soviético” – ele, sim, em grande
medida derivado das ambições territoriais dos Romanoff ao longo dos séculos XVIII e
14
XIX, depois alimentado por Stalin com base nas vitórias militares da segunda guerra
mundial e na sua paranóia de uma nova invasão alemã, ou ocidental – carece, ainda, de
uma definição e de estudos similares aos efetuados pelos historiadores e cientistas
políticos ocidentais para os “impérios” ibéricos, da Europa central, otomano, britânico e
americano. Os velhos sistemas imperiais europeus não resistiram ao impacto de suas
próprias idéias – liberdade, direitos humanos, autonomia nacional – bem como à criação
do sistema político multilateral do pós-guerra: autodeterminação e a soberania estatal são
dois princípios fundadores das Nações Unidas, tanto quanto a resolução pacífica dos
conflitos, a defesa dos direitos humanos e a cooperação em prol do desenvolvimento.
Por maior que seja, atualmente, o predomínio da força do direito sobre o direito
da força, as grandes potências não renunciam, obviamente, à projeção de poder militar,
cada vez que seus interesses maiores sejam ameaçados. O cenário contemporâneo mudou
muito desde o declínio dos velhos impérios, a partir da primeira guerra mundial, com a
emergência simultânea das duas grandes potências do pós-guerra. De 1945 até o final da
Guerra Fria, o mundo viveu em bipolaridade estrita; mas de 1947 a 1972, a tensão situou-
se em níveis elevados, começando pelo conflito em torno de Berlim, a guerra da Coréia
(1950-53) e o problema de Cuba (1962), que levou a uma “quase-confrontação” nuclear
entre as duas superpotências. Durante os anos 1950, após a conquista da paridade nuclear
(1949) e termo-nuclear (1954) pela União Soviética, as relações estratégicas entre as duas
potências inimigas foram enfeixadas sob a doutrina MAD, Mutually Assured Destruction,
o que significa que, em caso de escalada, a confrontação poderia levar à aniquilação total
dos dois contendores. Nesse período, o alinhamento do Brasil aos EUA e ao “Ocidente”
de modo geral, foi indefectível, mesmo se no final dessa fase (1961-64) o crescimento do
movimento neutralista e não-alinhado tenha contribuído para criar no país propostas de
uma diplomacia alternativa, materializada na chamada Política Externa Independente.
Desde a crise dos mísseis russos em Cuba (1962), mais concretamente a partir da
presidência Nixon (1969-1974), ensaios de coexistência pacífica foram feitos, levando à
distensão nuclear e à negociação de diferentes acordos de controle de armas entre os
EUA e a URSS, com o aprofundamento do processo nos anos 1980 e a conclusão de
alguns tratados de redução de mísseis balísticos. O Brasil, ao longo do período, bateu-se
pela chamada agenda dos três “d” que, nos anos 1960, equivaliam à descolonização,
15
desarmamento e desenvolvimento, tendo sido o primeiro “d” substituído, nos anos 1990,
pelos direitos humanos. O Brasil esperava que, com o ocaso do socialismo e o surgimento
de uma nova ordem mundial, nos anos 1990, da nova distensão criada entre as grandes
potências emergiriam os chamados “dividendos da paz” para o desenvolvimento; mas
não foi exatamente o que ocorreu. A ordem política mundial, depois do desaparecimento
da URSS, passou a ser caracterizada pela assim designada “unipolaridade imperial”, com
o domínio dos EUA sobre os problemas mundiais desde 1992 e durante a maior parte da
década, enquanto a Rússia atravessa uma das maiores crises de sua história. A lacuna
política criada nas relações entre as grandes potências persistiu até que novos desafiantes
surgissem no jogo imperial, na figura da China.
Persiste, em todo caso, um equilíbrio instável entre os objetivos econômicos e os
políticos da nova ordem; os primeiros orientados para a interdependência econômica, nos
quadros da globalização; os segundos sempre marcados pela rivalidade implícita entre os
interesses nacionais das grandes potências. Para o Brasil, os desafios agora colocados são
os da sua adequação à nova ordem da globalização, que são todos derivados de reformas
internas nos aspectos fiscais e no sistema educacional. No que se refere à construção de
cenários externos para a atuação de uma potência média como o Brasil, não existem,
propriamente, novos desafios para o país, senão aqueles derivados de uma diplomacia
presidencial especialmente ativa, feita de novas orientações e novos parceiros, todos eles
situados na direção do Sul e da América do Sul. Não há, contudo, obstáculos estruturais à
ascensão do Brasil na ordem econômica mundial, uma vez que o sistema globalizado se
apresenta como essencialmente aberto a novos participantes, o que não é exatamente o
caso da ordem política, cujos requisitos de ingresso dependem de capacitação específica
no plano estratégico e militar, o que ainda parece distante de ser atingido pelo Brasil.
1.3. Conflitos regionais
O que há de novo no atual cenário da ordem política internacional é que a antiga
confrontação global deixa de ser dominante, subsistindo focos de conflito potencial; bem
mais em âmbito local ou regional do que em escala continental, ou entre alianças
militares (de resto, quase nenhuma conserva importância, sendo que a mais relevante, a
OTAN, transcende agora seu antigo âmbito geográfico de atuação). A organização mais
16
recente no plano da estabilidade e da segurança estratégica, a OSCE, derivada da antiga
Conferência sobre segurança e cooperação na Europa, do tempo da Guerra Fria, tem hoje
uma agenda de trabalho bem mais voltada para construção democrática do que para
dissuasão de conflitos militares, embora o aspecto de confidence building continue
relevante, em vista do novo endurecimento político-militar registrado na Rússia. De fato,
a Rússia pós-Ieltsin (ou seja, de Putin) vem dando sinais crescentes de retomada de suas
antigas pretensões a “redistribuidora de cartas” na Europa sul-oriental e na Ásia central,
numa tendência à crescente afirmação de sua preeminência militar, que ela vê, em
essência, como um projeto anti-hegemônico aos EUA.
Já no período anterior ao final do comunismo, os conflitos inter-estatais também
eram predominantemente regionais, e não globais; mas mesmo esses conflitos regionais,
agora mais freqüentes, perdem o vetor ideológico da época da Guerra Fria, para adquirir
contornos de guerras civis ou de conflitos de natureza étnica. Na verdade, os principais
focos de tensão continuam inter-estatais: Israel-países árabes, conflito indo-paquistanês
em torno da Cachemira, as duas Coréias. Mas são os conflitos internos aos Estados que
provocam atualmente o maior número de mortos, de deslocamento de populações e de
violações de toda ordem aos direitos humanos: a África, obviamente, continua a oferecer
vários exemplos do gênero, mas em regiões da Ásia Pacífico, na Ásia do sul e central são
constantes, igualmente, as erupções de violência com grandes perdas humanas. Na
América Latina, a despeito de uma ou outra questão de fronteiras ainda não resolvida –
Guiana-Venezuela, Chile-Peru-Bolívia e outras menores –, a única situação militar que
ainda cobra um preço em termos de vidas humanas é a anacrônica “guerra civil” da
Colômbia, que já descambou, na verdade, para o crime organizado em torno das drogas e
a indústria de seqüestros.
Para o Brasil a diminuição dos focos de tensão e o desaparecimento do
maniqueísmo da Guerra Fria são pontos positivos e bem-vindos, na medida em que
alinhamentos daquela época se tornam anacrônicos. Um ponto preocupante, para países
ciosos de seus direitos soberanos sobre os recursos naturais com impacto global, como é
o caso da Amazônia brasileira, é o desenvolvimento de um novo tipo de intervencionismo
de feição humanitária, mas também ecológica, que tem suscitado preocupações – e
também alguma paranóia – em setores nacionalistas temerosos de que o princípio possa
17
vir a ser algum dia aplicado no sentido da “internacionalização” dos recursos da
biodiversidade amazônica. Não parece credível, contudo, que esse novo intervencionismo
venha se estender para as vertentes política ou militar, com implicações para a soberania
do Brasil, que de resto possui, como observado várias vezes, poucos “excedentes de
poder”, isto é, capacidade de ação e meios militares compatíveis com suas dimensões e
importância regional.
1.4. Cooperação política e militar nos hot-spots;
Um dos temas mais debatidos, logo no início dos anos 1990, em torno da ordem
política internacional que teria emergido com o fim da Guerra Fria, foi o de saber se o
colapso dos países socialistas representava algo como o “fim da História”. O “introdutor”
do conceito foi um cientista social americano que durante certo tempo trabalhou para o
Departamento de Estado, mas que já vinha observando os desenvolvimentos políticos na
União Soviética desde o início dos anos 1980, pelo menos. A esquerda marxista, ou o que
restou dela, fez pesadas críticas a essa “tese”, de vaga inspiração hegeliana, sem ter
aparentemente registrado que o artigo original – publicado em meados de 1989 na revista
The National Interest – comportava um significativo “?” em seu título, e que as menções
à URSS não previam, em absoluto, seu desaparecimento ou mesmo a derrocada completa
do socialismo de tipo autoritário. As críticas foram, em sua maior parte, superficiais, e se
contentaram em “desmentir” Fukuyama por meio do “contra-argumento” banal de que a
história não poderia, obviamente, ter terminado, aduzindo esses críticos, então,
inumeráveis “exemplos” sobre a “crise” do capitalismo e da própria globalização.
O fato é que Fukuyama, em nenhum momento, pretendia “decretar” o fim da
História como tal. O que ele fez, apenas, foi consolidar seu entendimento conceitual de
que, depois da adesão de Gorbatchev a valores democráticos universais e a princípios da
economia de mercado, e depois da conversão dos comunistas chineses em aprendizes de
capitalistas, não havia mais sentido considerar que pudesse haver, no sentido teórico ou
mesmo prático, alternativas credíveis às democracias liberais de mercado (haveria, em
suas palavras, “total exhaustion of viable systematic alternatives to Western liberalism”).
Seu argumento “filosófico” não foi, até agora, desmentido no plano da racionalidade
instrumental. Isso não impede, obviamente, que continuem existir ditaduras, autocracias
18
ou outras formas de regimes autoritários, assim como sistemas econômicos nacionais que
se distanciam consideravelmente dos mecanismos de mercado. Isso tampouco elimina o
fato de que os mercados mundiais funcionam, em grande medida, de modo relativamente
uniforme (ou seja, segundo a velha lei da oferta e da procura, a despeito mesmo de alguns
cartéis que se empenham em manipular os preços de algumas commodities).
A maior relevância da “tese” de Fukuyama, porém, seria, teoricamente, no plano
dos conflitos globais, que segundo seu argumento tenderiam a perder sua roupagem
ideológica, abrindo caminho a uma cooperação cada vez maior entre as grandes potências
e os países responsáveis no plano da política mundial pela manutenção da paz, da
segurança, isolando ditadores e outros “vilões” do status quo. Não foi obviamente o que
ocorreu – nem mesmo depois da implosão da URSS – e os processos sob exame do
Conselho de Segurança continuaram a ter uma tramitação tão complicada quanto antes,
ainda que o “cálculo” quanto ao “enfraquecimento” do “império opositor” não mais se
aplique no caso das duas grandes superpotências. Em outros termos, se acreditava que,
com o “fim da história”, conflitos como os do Oriente Médio ou de outros pontos quentes
do planeta poderiam conhecer uma negociação “abreviada” ou, até mesmo, ter uma
“solução” à vista em questão de meses, senão de semanas.
Na verdade, a tese sobre o fim da história não requer que todos os países se
convertam em democracias liberais, com o que, supostamente, nenhum conflito mais
seria possível entre eles; apenas que não exista mais, no plano das sociedades, pretensões
à existência de formas de organização política e social superiores à democracia liberal.
Mas como adverte o próprio Fukuyama, o nacionalismo e a religião são forças bem mais
consistentes – e, portanto, difíceis de serem “diluídas” no cadinho comum das sociedades
– do que o foram, em suas épocas, o fascismo e o comunismo, que atuaram bem mais na
superfície das coisas, algo como a superestrutura das sociedades, em termos marxistas.
Por isso mesmo é tão difícil conseguir a eliminação dos conflitos entre sociedades ou a
cooperação entre algumas delas para diminuir, ou mesmo suprimir, alguns dos conflitos
mais deletérios em termos de violações dos direitos humanos e de perda de vidas.
Uma cooperação política e militar entre as principais potências nos hot-spots do
mundo implicaria, antes mesmo de algum entendimento sobre a forma de resolver um
conflito em especial, uma visão comum quanto aos seus interesses nacionais, o que não
19
parece fácil conseguir no horizonte previsível. Não foi assim no decorrer do século XX,
ainda que os sessenta anos depois da conclusão da Segunda Guerra Mundial não mais
assistiram às terríveis mortandades de sua primeira metade (ver Niall Ferguson, The War
of the World), quase tanto quanto o período de paz relativa que dominou o cenário
europeu desde o fim das guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial. Algumas
interpretações pretensamente marxistas sobre os dois conflitos mundiais do século XX
colocam suas raízes em supostas “contradições interimperialistas” entre as principais
potências européias, que teriam subido aos extremos pela disputa por mercados coloniais
e o acesso a matérias-primas. Na verdade, os conflitos entre Estados, antes de se tornarem
globais, são sempre regionais como demonstrado, justamente, pelos conflitos europeus do
terrível século XX (ver Arno Mayer, The Persistence of the Old Régime).
Tampouco tem sido assim no pós-comunismo. Os conflitos continuam regionais,
ou mesmo nacionais, e não há concordância entre as grandes potências para diminuir ou
eliminar seu caráter destruidor. A convergência de “opiniões”, não sendo possível no
plano regional, seria ao menos presumível no âmbito do sistema de segurança mundial,
ou seja, nas competências e atribuições do órgão encarregado, por excelência, da paz
internacional? Tal possibilidade passa, eventualmente, pela reforma da Carta da ONU e
uma hipotética ampliação de seu Conselho de Segurança, o que tem se revelado uma
missão impossível.
A despeito de declarações favoráveis à reforma por parte dos atuais membros
permanentes do CSNU, provavelmente hipócritas, o fato é que nenhum deles está
verdadeiramente interessado na reforma e na ampliação do número desses membros
permanentes. Em primeiro lugar, porque qualquer expansão do órgão significaria a
diluição do seu próprio poder; em segundo lugar porque as potências não se entendem,
justamente, sobre o equilíbrio regional da nova composição, tanto no plano de seus
interesses nacionais, quanto no âmbito da representação política das próprias potências
regionais. Várias delas têm enormes problemas com o ingresso de um ou outro dos
candidatos regionais, sejam eles amigos ou “inimigos”, assim como os candidatos podem
ter vizinhos recalcitrantes em relação à sua admissão. A China, por exemplo, não
considera que o Japão tenha feito o seu dever de casa no que se refere ao reconhecimento
dos crimes de guerra (e contra a humanidade) cometidos desde as primeiras invasões da
20
Manchúria e depois da própria China nos anos 1930. França e Grã-Bretanha têm
resistências em ver admitido mais um europeu, no caso a Alemanha, uma vez que a
pressão para uma representação da UE, em lugar desses países, individualmente, se
tornaria irresistível. A Índia tem contra si o Paquistão, assim como o Brasil não conta
com a boa-vontade – para dizer o mínimo – da Argentina para sua candidatura. Os
africanos, por sua vez, não se entendem sobre quais seriam os possíveis dois candidatos
do continente, que para a União Africana deveriam ser três, todos dispondo do direito de
veto. Nem os EUA, nem a Rússia, a despeito das tergiversações habituais, apreciariam,
na verdade, qualquer ampliação do CSNU, embora os EUA afirmem apoiar o Japão e
mais uma candidatura – possivelmente a Índia, ambos potencialmente para diluir o poder
da China – num processo de ampliação limitado.
Em outros termos, o imbróglio não parece perto de uma solução viável e aceitável
para todos, e o mais provável é que simplesmente não ocorra nenhuma reforma da Carta
– pelo menos para a ampliação do seu Conselho de Segurança – e que o impasse sobre o
número exato de “mais iguais” permaneça não resolvido pelo futuro previsível. Isto não
impede, obviamente, cooperação no CSNU – entre os permanentes e os rotativos – para o
encaminhamento de diversas questões atinentes à paz e à estabilidade mundial. Grandes
potências tendem ao conservadorismo, uma vez que elas assumem a liderança de alguns
processos e não pretendem colocar em risco situações consolidadas em suas próprias
regiões. Também parece haver entre elas a consciência – e nisso vai toda a diferença com
os impérios do passado e com os candidatos a novos hegemons ainda no século XX – de
que não existem ganhos garantidos no enfrentamento direto com as outras potências.
Mas a cooperação entre as grandes potências para a solução de conflitos regionais
nem sempre é garantida, tampouco, tudo dependendo de como elas mesmas percebem
seus interesses vitais no problema em questão: o oportunismo é de rigor e diversos fatores
entram na equação complexa que traça cada uma para si mesma na consideração de uma
questão específica vis-à-vis as estratégias que podem ser mobilizadas para defender os
seus interesses. Alguns problemas regionais são percebidos como ameaça para todos, daí
as possibilidades de cooperação entre eles; outros problemas os colocam em posições
opostas, daí os impasses prováveis; outros problemas sequer os atingem, diretamente, daí
a indiferença relativa com que esses problemas se arrastam sem solução aparente durante
21
longos anos, com o “desengajamento ativo” – se a expressão é aceitável – das grandes
potências, salvo forte movimento de pressão da opinião pública para fazê-las mover-se.
Alguns exemplos, nessas diversas categorias, podem ilustrar as possibilidades de
cooperação, ou não, entre as grandes potências no tratamento de conflitos regionais. A
primeira guerra do Golfo, em janeiro de 1991, por exemplo, apresentou-se quase como
uma “cruzada” de liberação do pequeno Kuwait, invadido pelo vilão Saddam Hussein em
agosto do ano anterior. Foi possível ter o acordo de todas as potências do CSNU para a
aprovação de uma resolução que demandava a retirada sem condições do Iraque do país
invadido, sob pena dessa retirada ter de ser efetuada por todos os meios adequados, isto é,
pela força, se necessário. Curioso que a coalizão de “willing nations” que participou da
operação não o fez sob comando de uma força onusiana de “imposição de paz”, mas sim
sob o comando exclusivo das forças militares dos EUA, que estabeleceram sua própria
estratégia e linhas de atuação para essa “expulsão” do vilão do território de um membro
da ONU. Na verdade, esse é o padrão das forças de “imposição” de paz – em oposição às
operações de peace keeping, apenas, na quais o comando onusiano é possível – que ficam
sob o controle da potência interessada, que obviamente não abdica do comando militar (a
guerra da Coréia é o exemplo típico dessa situação, que confirma a quase impossibilidade
de a ONU vir a dispor de forças armadas próprias).
Já o quadro de massacres interétnicos ocorridos em Ruanda pouco tempo depois,
com milhares de mortos antes de qualquer intervenção humanitária, bem como as guerras
civis e a situação deplorável dos direitos humanos em diversos países africanos, arrasados
em conflitos que se arrastam durante meses e anos, ilustra perfeitamente a “negligência
irresponsável” – se o termo também se aplica – da comunidade internacional no caso de
problemas que não afetam nenhum dos interesses vitais das grandes potências. A ação
multilateral para pacificar o país dos tutsis e hutus demorou enormemente, assim como
outras guerras civis se prolongam na quase indiferença de grandes e médias potências. A
ONU não pode ser considerada responsável por essas lamentáveis situações, pois não
dispõe de autonomia sequer para decidir qualquer tipo de intervenção e, ainda que
dispusesse, não teria condições efetivas – ou seja, tropas próprias – para fazê-lo.
A mesma impotência involuntária da ONU revelou-se nos diversos conflitos dos
Bálcãs, ao longo dos anos 1990, desde as primeiras separações traumáticas – Eslovênia e
22
Croácia – até o caso ainda não resolvido do Kossovo, passando, obviamente, pela terrível
fragmentação da Bósnia-Herzegovina, onde foram perpetrados os piores massacres vistos
na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, geralmente da população islâmica pelos
sérvios. A ONU e os próprios europeus da UE se revelaram incapazes de pacificar os
contendores ou de evitar as piores violações humanitárias, que ocorreram no caso da
capital da Bósnia, Sarajevo, e de alguns outros enclaves de composição mista, nos quais
os sérvios passaram à ofensiva. Nos Bálcãs, a Europa se revelou uma anã militar; não
fosse pelo forte clamor da opinião pública, não teria havido envolvimento da OTAN, sob
a forte liderança militar americana, para terminar com a terrível situação da população
civil. A mesma situação se colocou no Kossovo, embora por razões e circunstâncias
diferentes. Mais uma vez as exações sérvias permaneceram impunes pelos europeus e
pela ONU até que o poderio aéreo americano, sob a bandeira da OTAN, conseguiu
pacificar a província rebelde, criando uma situação de autonomia de fato em relação à
República iugoslava da Sérvia e do Montenegro. Esta última república, por fim, também
se declarou autônoma, em janeiro de 2006, confirmando a vocação histórica daquela
região e fechando um ciclo que trouxe os Bálcãs de volta ao sentido original de província
fragmentada entre impérios.
A segunda guerra do Golfo, envolvendo novamente o Iraque, trouxe um elemento
novo no que se refere ao papel da ONU. Chamado a endossar uma decisão que já estava
tomada pela cúpula conservadora americana – o presidente Bush e seus neocons –, o
CSNU, depois de longos debates de procedimento e de substância, recusou-se a se curvar
às exigências dos EUA no sentido de obter uma autorização para o uso da força contra o
regime de Saddam Hussein, sob o pretexto – que depois se revelou falso – de que ele
estaria desenvolvendo armas de destruição em massa, que poderiam, segundo alegou a
administração americana, ser colocadas à disposição de grupos terroristas. A invasão do
Iraque, já decidida desde o dia seguinte aos ataques terroristas contra alvos nos EUA, em
11 de setembro de 2001, deu-se de qualquer forma em março de 2003, e o governo e o
exército iraquianos foram efetivamente aniquilados em questão de dias pelo ataque
maciço do maior poder militar existente no mundo contemporâneo.
Pode-se considerar o episódio como um “fracasso” da ONU no sentido de evitar
ou prevenir o uso da força fora das situações previstas no direito internacional, ou seja, a
23
própria Carta da ONU e as decisões do CSNU (que são, obviamente, eminentemente
políticas e não necessariamente a expressão do direito internacional, pelo menos não no
sentido estrito da palavra). De fato, a ONU não tem esse poder de evitar o recurso à força
por parte de Estados que se colocam à margem do direito internacional, pelo menos não
num caso como este, envolvendo uma grande potência. Mas, pode-se também interpretar
o evento como uma confirmação da vontade da comunidade internacional no sentido de
não se dobrar à vontade dos poderosos em quaisquer circunstâncias. Pouco mais adiante,
incapaz de administrar a situação caótica que ele mesmo criou no país ao desmantelar
todas as estruturas de Estado existentes no Iraque, o governo americano foi obrigado a
novamente fazer apelo à ONU, para tentar criar uma aparência de normalidade no país,
sem que a pacificação tenha tido êxito e sem que os grupos terroristas fossem intimidados
em sua vertigem assassina (ao contrário). A lição a ser tirada de todo esse doloroso
processo é, ao mesmo tempo, de uma constatação de relativa impotência da ONU e de
seus órgãos nas tarefas de prevenção de conflitos e de manutenção da paz e da segurança,
conjugada, no plano conceitual pelo menos, ao reconhecimento de sua legitimidade para
a tomada de decisões em todas as questões que envolvem o uso da força nas relações
internacionais.
Quanto ao Brasil, quais seriam as implicações desses episódios no que se refere
aos seus interesses nacionais, bem como à expressão desses interesses no plano regional e
no contexto internacional? Candidato a ingressar no CSNU desde a formatação original
da estrutura das Nações Unidas, sem ter logrado tal ambição à época da discussão da
Carta, em 1945 (de forma algo similar à candidatura frustrada ao Conselho da Liga das
Nações, em 1926), o Brasil sempre teve uma participação ativa nas deliberações do
Conselho, tendo sido um dos países que mais vezes figurou naquele órgão na condição de
membro temporário, não se eximindo, em várias oportunidades, de participar, com forças
de interposição ou com observadores militares, de operações de manutenção da paz.
Nunca houve, por razões de ordem política e constitucional, decisão em favor da
participação do Brasil em operações de imposição da paz (peace making). Mas não está
excluída tal evolução conceitual se a opinião interna no país se manifesta claramente em
favor da assunção de um maior protagonismo mundial para o Brasil.
24
A candidatura ao CSNU ganhou novo alento depois da redemocratização do país
em 1985, mais concretamente quando o presidente Sarney, em pronunciamento feito na
Assembléia Geral em 1989, postulou essa pretensão, então apresentada como o desejo de
o país assumir maiores responsabilidades com a cooperação e a manutenção da paz no
âmbito internacional, sem que tal postulação significasse a exigência de concessão do
direito de veto no CSNU. O Brasil se apresentava, então, como uma espécie de candidato
“natural” a essa elevação de status no plano mundial, em função de seu papel positivo no
contexto regional e internacional, como aderente estrito às regras do direito internacional
e seu respeito às normas da convivência pacífica, do respeito à soberania e aos princípios
da não interferência nos assuntos internos e da solução pacífica de controvérsias políticas
entre os Estados. Tendo em vista objeções previsíveis, já manifestadas no passado, entre
alguns vizinhos, a essa pretensão, o Brasil não colocava sua candidatura como uma
expressão da vontade “regional”, mas seria inevitável que a questão da representação em
nível regional fosse colocada durante os debates em torno da reforma da Carta. Mesmo
tendo feito intensa campanha em favor de sua candidatura, na nova administração surgida
em 2003, o Brasil não viu ainda contemplada sua aspiração. Quando ela o seria? Difícil
dizer, em vista do quadro complicado não apenas em torno das representações regionais,
mas igualmente em função de visões divergentes entre os cinco membros permanentes –
talvez, convergentes, todos eles, em uma única consideração: a do desinteresse completo
pela ampliação do CSNU a novos membros permanentes –, o que torna essa questão uma
das incógnitas mais evidentes de toda a agenda internacional da atualidade.
Concluindo esta seção sobre a ordem política mundial, a questão que se coloca é a
de saber se poderia ser confirmado o diagnóstico feito ao início, de que se trata de novos
problemas e de velhas soluções. Provavelmente sim, no sentido em que o mundo já não
parece mais enfrentar o terrível espectro de um holocausto militar global, que seria desta
vez “definitivo”, a partir dos novos instrumentos de morte e de destruição maciços
trazidos pelos artefatos nucleares e termonucleares, “refugiando-se” agora em conflitos
de mais baixa intensidade, mas continua a ser regido pelo direito dos mais fortes e pela
imposição da vontade das grandes potências sobre a maioria, numa reprodução das velhas
vocações imperiais do passado. A situação atual não é, obviamente, similar à sucessão de
25
impérios e de hegemonias como no passado, uma vez que o mundo caminhou para a
gradual afirmação da força do direito sobre o direito da força e, mesmo que a ONU não
seja, ainda, o “Parlamento da Humanidade” – como pretenderia Paul Kennedy –, ela, sem
dúvida, está mais próxima de atingir o objetivo de aumentar o grau de cooperação
voluntária entre os Estados membros da comunidade internacional do que jamais esteve,
em qualquer época, a Liga das Nações ou esquemas similares de equilíbrio de poderes. A
paz e a concórdia universal ainda não estão plenamente asseguradas, mas a guerra e o uso
ilegítimo da força tendem a se tornar cada vez mais raros no cenário contemporâneo. Esta
é, talvez, mais a manifestação de uma aspiração do que a expressão concreta da situação
real nas relações internacionais contemporâneas; mas há fortes razões para acreditar que
as bases para tal desejo estejam efetivamente se consolidando no cenário mundial.
Seria esta uma situação “definitiva” ou incontornável? Difícil dizer, uma vez que
nos assuntos humanos o imponderável sempre está presente. Mas existem fortes chances
de que, pelo menos entre os dirigentes atuais (e supostamente entre os futuros, também)
das grandes potências, a racionalidade instrumental tenda a se impor sobre os velhos
impulsos guerreiros que levaram seus antecessores a se enfrentar nos campos de batalha.
Finalmente, das cinco grandes potências que existiam um século atrás – Reino Unido,
França, Alemanha imperial, Rússia e Áustria-Hungria –, duas já deixaram de existir em
seu formato original (Alemanha imperial, liderada pela Prússia, e a Áustria-Hungria);
uma (Rússia) ascendeu, decaiu e viu seu império ser reduzido consideravelmente, e as
duas primeiras (Reino Unido e França) deixaram, efetivamente, de contar entre as mais
fortes do globo, amputadas que foram de seus vastos domínios coloniais e de sua vocação
imperial, para assumirem papéis mais modestos no atual cenário estratégico. As duas
potências então “periféricas” – Rússia e EUA – ascenderam no domínio global durante
cerca de duas gerações a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ao cabo da qual elas,
de certo modo, “partilharam” o mundo (tendo Ialta representado uma espécie de tratado
de Tordesilhas da modernidade).
O fato dominante em nossa época é que os EUA “reinam” quase “incontestáveis”
no cenário estratégico contemporâneo, mas a China vem emergindo paulatinamente em
seu encalce. Pretende ela forçar a porta do clube dos “mais iguais”? De certa forma, ela já
faz parte desse conselho de poderosos, mesmo ainda mantida formalmente à margem do
26
G-8. Duvidoso que a China, mesmo militarmente mais forte, se lance em uma corrida
para a “conquista” de poder político e de hegemonia estratégica sobre seus competidores
atuais, como o fizeram dirigentes imperiais de um passado não muito distante. A razão
não está tanto em que a natureza humana mudou sensivelmente nas últimas décadas (ou
séculos), mas em que a nova ordem econômica, caracterizada pela interdependência
efetiva entre as nações, impõe limites às vocações imperiais. É o que caberia examinar a
partir de agora.
2) A ordem econômica mundial: velhos problemas, novas soluções?
Em que sentido, a ordem econômica é caracterizada por velhos problemas e novas
soluções? Os velhos problemas são, indiscutivelmente: os da miséria e da prosperidade; o
da manutenção do crescimento econômico com estabilidade (isto é, sem inflação e com o
máximo de pleno emprego possível); o da repartição social das riquezas assim criadas; o
do acesso às matérias-primas e aos recursos essenciais aos processos produtivos, entre os
quais as fontes de energia e de água são estratégicos; os da abertura de mercados aos bens
e serviços em condições de livre concorrência; enfim, o da manutenção da dinâmica
econômica com transparência nas regras do jogo, de maneira a oferecer oportunidades
mais ou menos iguais para todos os agentes econômicos.
Sobre esses “velhos” problemas, que já ocupavam os “pais” da economia política
antes mesmo da formulação dessa disciplina, nos quadros do Iluminismo escocês, alguns
novos problemas vieram se agregar às preocupações dos estadistas contemporâneos: o da
transformação estrutural dos sistemas produtivos (inovação tecnológica) com garantia de
preservação da riqueza proprietária; o acesso a fontes de informação em condições
igualitárias; os efeitos ambientais nefastos das atividades produtivas humanas; a escassez
crescente de fontes de energia não renovável e da própria água; a pressão humana sobre
os recursos da biodiversidade e os desequilíbrios constantemente criados pela dinâmica
econômica em condições de assimetria de informação (fluxos de capitais não controlados,
crises de oferta ou de demanda de determinados insumos), para não se referir ao
crescimento do crime transnacional estimulado pela própria globalização capitalista.
E quais seriam as “novas” soluções que são mencionadas no título da seção? São
de duas ordens: uma geográfica, a outra institucional. A primeira é mais geopolítica, do
27
que propriamente geográfica, mas vale aqui o contraste com a história. Não é verdade,
obviamente, que a história tenha terminado; tal compreensão restrita do processo
histórico jamais passou pela mente do formulador original desta “tese”, Fukuyama. O que
ele considerou, como já se mencionou, seria a inexistência prática de alternativas viáveis
aos sistemas democráticos de mercado, o que nos parece ser uma “tese” basicamente
correta, nas condições atuais da economia e da política internacional. Ocorre que, se o
processo histórico continua a sua dinâmica de poderes ascensionais e outros em declínio,
com conflitos residuais ou remanescentes entre muitos deles, a geografia, por seu lado,
parece ter alcançado seus limites propriamente “geográficos”. Vejamos isto com maior
grau de detalhe.
No início do século XX, as cartas da África e de certas partes da Ásia (para nada
dizer do imenso espaço amazônico) registravam grandes manchas brancas, as chamadas
terras incógnitas (rios, seus afluentes e mesmo cadeias inteiras de montanhas). Tudo isso
foi sendo incorporado aos domínios imperiais e objeto de cartografias mais ou menos
confiáveis, com a ajuda de aventureiros, exploradores, missionários e soldados. Mapeada
a superfície da Terra, o mundo permaneceu, entretanto, dividido e fragmentado, tanto
pela existência de projetos “imperiais” rivais – como podem ser classificados o mundo
capitalista e seu contestador socialista – como pela própria irrelevância de certas áreas
para fins de “exploração” capitalista, ou para sua “conquista” pelo sistema socialista.
Aliás, o próprio socialismo era “irrelevante” – salvo em poucas matérias primas – em
termos de mercados de bens, serviços, capitais, tecnologia, enfim, em produtos
inovadores e desejados pelos consumidores. Como diria Marx, as relações socialistas de
produção tinham se tornado anacrônicas e prejudiciais ao desenvolvimento das forças
produtivas; tinham de ser abolidas, pois representavam grilhões para o desenvolvimento
econômico. Foram abolidas e, com isso, a globalização retomou a marcha triunfal que
tinha começado com Marco Pólo e Colombo, vários séculos antes.
O que assistimos, portanto, na década final do século XX, foi um verdadeiro “fim
da geografia”, com o desaparecimento do socialismo – para todos os efeitos práticos, a
China não mais pode ser contada com um representante da espécie – e a unificação do
mundo conhecido em torno de regimes mais ou menos abertos ao sistema de mercados
capitalistas: com exceção daqueles poucos países auto-excluídos das trocas mundiais –
28
como podem ser Cuba, Coréia do Norte e alguns poucos territórios africanos –, já não
mais existem “terras incógnitas” para fins dos mercados capitalistas. Trata-se, portanto,
de uma “solução geográfica” (ou geopolítica) ao problema do acesso desimpedido às
fontes de matérias primas e recursos naturais: com exceção de alguns poucos setores
ainda oligopolizados ou cartelizados – como é o da produção de petróleo, por exemplo –
a maior parte das commodities (inclusive algumas industriais, como são os circuitos
integrados) tem os seus preços fixados nos mercados de futuros, pelo livre jogo das leis
da oferta e da procura. Um problema, portanto, que conduziu alguns impérios do passado
às guerras de conquista e a conflitos por garantia de acesso a insumos e mercados, já está
praticamente resolvido com a unificação capitalista do mundo (ainda incompleta, por
certo, mas cada vez mais “global”).
A nova solução “institucional” aos velhos problemas da ordem econômica está,
justamente, na existência de organismos intergovernamentais que regulam a cooperação
entre Estados de uma forma como nunca foi possível em épocas anteriores à unificação
capitalista do mundo. Não pretendo aprofundar-me na exposição sobre a emergência e o
desenvolvimento do multilateralismo econômico, já tratado em alguns dos meus livros
(ver P. R. Almeida, O Brasil e o multilateralismo econômico). Bastaria dizer que esse
movimento também foi irregular e submetido às injunções políticas do cenário mundial
nos últimos 150 anos. Surgidas desde meados do século XIX, para responder aos desafios
da ampliação dos mercados (patentes ou padronização de produtos) e da conexão
transfronteiriça de meios de transportes e de comunicações (ferrovias e fios telegráficos),
as “uniões” ou “associações internacionais” logo se desenvolveram a partir dos núcleos
originais europeus, para alcançar virtualmente todo o “mundo civilizado” (e regiões então
inóspitas também). A cooperação intergovernamental – algumas vezes puramente privada
– implicava, de certo modo, a uniformização dos meios de pagamento (como o franco-
ouro, por exemplo) ou o estabelecimento de um padrão comum para as compensações
internacionais (daí a aceitação rápida do padrão-ouro no final do século XIX).
Após uma breve interrupção por ocasião da Primeira Guerra Mundial e sua
retomada pela Liga das Nações, no entre-guerras, o movimento “cooperativo” mundial
ganhou impulso com a ONU e a criação de suas muitas agências especializadas no pós-
Segunda Guerra. Especial preeminência para o tema que agora nos ocupa tiveram as
29
chamadas instituições de Bretton Woods – o Fundo Monetário Internacional e o Banco
Mundial –, que deveriam ter sido complementadas, logo em seguida, por uma entidade
especialmente dedicada ao intercâmbio comercial, a Organização Internacional do
Comércio, efetivamente criada na conferência de Havana de 1947-48, mas que não
logrou entrar em vigor por falta de ratificações dos Estados membros. O GATT, acordo
geral sobre tarifas, cumprindo algumas das funções concebidas para a OIC, permaneceu
provisoriamente em vigor durante 50 anos, até finalmente ser incorporado à OMC, criada
ao final da Rodada Uruguai (1986-1993) do GATT.
Este é, portanto, o quadro jurídico através do qual se desenvolvem as relações
econômicas internacionais, objeto da digressão que segue abaixo. É importante registrar,
desde logo, que nem todos os países membros da ONU foram membros ou afiliados às
suas muitas agências reguladoras, sobretudo as de caráter econômico e financeiro, uma
vez que a maior parte dos países socialistas – estes, durante algumas décadas, estavam
representados por dezenas de países, cobrindo boa parte da superfície geográfica do
globo e quase 2/3 da população mundial – se manteve a margem dos mercados
capitalistas de bens, serviços e capitais, que por sua vez representavam o grosso dos
intercâmbios mundiais. Com o fim do socialismo, e dos exageros nacionalistas em outros
países protecionistas (geralmente em desenvolvimento), o quadro de membros de órgãos
como o FMI tende por vezes a superar o próprio número de países membros da ONU.
2.1. Regulação cooperativa das relações econômicas internacionais
O “mundo” de Bretton Woods – isto é, o do gerenciamento das taxas de câmbio
pelo FMI e da adoção de um padrão de câmbio ouro-dólar, fixado como obrigação do
governo dos EUA em 1944 – funcionou, se tanto, durante cerca de dez anos, em sua
forma clássica, isto é, depois da conversibilidade das moedas européias, no final dos anos
1950 até o final dos anos 1960, quando a inflação americana, o déficit comercial dos
EUA e o excesso de dólares circulando nos mercados internacionais foram responsáveis,
conjuntamente, pela decisão do governo daquele país de suspender unilateralmente esse
regime. Entre 1971 – quando o governo Nixon anuncia que não mais converteria dólares
em ouro, como estipulado na convenção original – e 1973, quando o FMI finalmente
emenda seu instrumento constitutivo para dele não mais constar a supervisão sobre a taxa
30
de câmbio das moedas nacionais, o mundo de Bretton Woods viveu o que poderia ser
chamado de end of illusions, isto é, a crença – economicamente irracional – de que as
economias poderiam conviver indefinidamente com taxas cambiais mais ou menos
estáveis e a promessa de um padrão fixo para o ouro.
A conseqüência, simplesmente, foi a flutuação generalizada das moedas, a queda
imediata do valor do dólar nos mercados internacionais – e, portanto, do valor de todas as
commodities cotadas nessa moeda, entre elas o petróleo – e o recrudescimento da inflação
(combinada ao crescimento do desemprego, que gerou a keynesianamente impossível
stagflation). O aumento brutal dos preços do petróleo em 1973 e o choque de oferta que
seguiu imediatamente após, foram os impactos mais visíveis do “fim” de Bretton Woods.
A repercussão mais importante, porém, foi o estabelecimento de um novo regime
cambial, no quadro de um “não-sistema” financeiro internacional, cujos resultados, no
médio e longo prazo, seriam a suspensão dos controles sobre os movimentos de capitais e
o aumento da volatilidade financeira nos mercados internacionais. Datam dessa época as
propostas de uma taxa sobre os movimentos de capitais puramente especulativos, algo
inaplicável, na prática, pois suporia uma coordenação de políticas macroeconômicas e
uma convergência de interesses fundamentais das economias nacionais que nem mesmo o
G-7, depois de trinta anos de experiências, é capaz atualmente de assegurar.
Essa “regulação cooperativa” das relações econômicas internacionais é, portanto,
sempre tentativa e sujeita às “chuvas e trovoadas” do sistema financeiro internacional. No
plano do comércio internacional, a forte expansão dos intercâmbios nos primeiros trinta
anos do pós-guerra não impediu o recrudescimento de sentimentos protecionistas nos
países desenvolvidos, à medida que mais e mais países em desenvolvimento ascendiam
na escala do desenvolvimento industrial, passando a oferecer produtos manufaturados a
preços competitivos nos mercados desenvolvidos. Esse neoprotecionismo gerou, como
era previsível, novos desafios ao sistema multilateral de comércio, até então regido
exclusivamente pelo GATT e por arranjos ad hoc que tendiam a segmentar e a proteger
determinados mercados segundo critérios claramente mercantilistas (têxteis e confecções,
produtos siderúrgicos, mercados agrícolas em geral).
Depois de várias rodadas de negociações comerciais preferencialmente voltadas
para tarifas e acesso a mercados, o regime multilateral de comércio embarcou no mais
31
ambicioso ciclo de negociações, a Rodada Uruguai (1986-1993), da qual resultou a então
criada OMC, no quadro de um sistema mais previsível e também mais amplo do que o
GATT, inclusive por incluir arranjos específicos para serviços (GATS), para propriedade
intelectual (TRIPs), para investimentos (TRIMs) e um acordo sobre agricultura,
basicamente insatisfatório do ponto de vista dos países em desenvolvimento e dos países
exportadores agrícolas não subvencionistas (como Brasil, Argentina e vários outros). Por
outro lado, a dificuldade de se lograr acordos multilaterais abrangentes, com o elevado
número de participantes do sistema de comércio – que passou de duas dezenas, em 1947,
a mais de 150, atualmente, sendo o mais recente a Ucrânia, depois de 14 anos de
negociações –, levou vários membros a traçar estratégias “minilateralistas”, que
contornam as regras multilaterais existentes e redundam no elevado número de exceções
ao princípio básico da “nação-mais-favorecida”, sob a forma dos acordos regionais. Os
perdedores são todos os excluídos desses instrumentos de liberalização do comércio em
escala restrita, em geral países em desenvolvimento com volume reduzido de comércio.
Da mesma forma, não há dúvida sobre a questão de saber quem perde mais, com os
impasses da atual rodada Doha da OMC.
Do ponto de vista do Brasil, pode-se dizer que ele é um “usuário” modesto das
organizações econômicas internacionais, sobre as quais seu poder normativo é pequeno,
muito embora se tenha beneficiado, de modo satisfatório, com as regras relativamente
abertas que presidiram – de certa forma ainda presidem – às relações econômicas
internacionais no último meio século. A participação do Brasil nas trocas internacionais
sempre foi modesta, tendo ele se beneficiado como free-rider de alguns dos mecanismos
existentes, tanto no plano do comércio – acesso aos mercados desenvolvidos, sem
necessariamente conceder abertura equivalente – como no financeiro, tendo absorvido a
poupança externa, mas mantido estrito controle de capitais, para fins de equilíbrio do
balanço de pagamentos. A abertura econômica e a liberalização comercial conduzidas nos
anos 1990 – parcialmente revertidas desde então – fizeram mais pela modernização de
seu sistema produtivo do que décadas anteriores de projetos desenvolvimentistas; mas o
país ainda hesita entre as estratégias regionais e multilaterais de inserção econômica
internacional, pois cada uma tem custos diferenciados e oportunidades específicas, em
função das políticas que as acompanham. O Brasil é ofensivo em agricultura e defensivo
32
em bens e serviços, como corresponde às suas vantagens comparativas aparentes; mas
hesita ainda quanto à abertura de seu sistema produtivo nacional, pois mantém a idéia de
que, na era da globalização, deveria continuar a lutar por “políticas de desenvolvimento
nacional”, segundo os cânones de um passado julgado positivo no plano industrial.
No período recente, o Brasil aumentou seu grau de envolvimento na regulação
cooperativa das relações econômicas internacionais, assumindo um maior poder sobre os
mecanismos decisórios, mesmo se a sua participação nos fluxos de comércio continua
modesta (com maior interface de absorção no que se refere aos investimentos diretos
estrangeiros, em função da dimensão do seu mercado interno e do esquema de integração
no Mercosul). Essa responsabilidade acrescida – através do G-20, nas negociações
comerciais da OMC, por exemplo – ou a pretensão de vir a ser o centro focal de um
espaço econômico integrado na América do Sul, significam novos desafios para sua elite
diplomática, na medida em que a noção restrita de interesse nacional – isto é, projetos
puramente nacionais de desenvolvimento – tem de ser compatibilizada com essas novas
missões assumidas no plano regional ou mundial (o que significa maior dispêndio externo
ou maior abertura de sua economia).
2.2. Assimetrias de desenvolvimento
A ordem econômica internacional é certamente caracterizada pelas chamadas
assimetrias de desenvolvimento entre os países que a compõem, processo resultante da
“grande divergência” ocorrida nos últimos dois ou três séculos entre economias de alta e
de baixa produtividade. Atualmente, quando as teorias da “exploração” ou as teses sobre
o “intercâmbio desigual” já estão completamente desacreditadas – por sua inconsistência
teórica ou total contradição com a própria realidade histórica –, o que se requer é que os
países em desenvolvimento se insiram nessa nova ordem econômica internacional do
capitalismo globalizado sem qualquer camisa de força ideológica, como as do passado,
que os faziam tratar as multinacionais como ameaça à soberania estatal, impondo-lhes,
em conseqüência, controles e restrições que não mais se justificam nestes tempos de “fim
da história” e de globalização como oportunidade, não como risco.
Não obstante os notáveis progressos registrados nas últimas duas décadas, em
termos de avanços na interdependência econômica mundial, não seria supérfluo recordar
33
que continua inexistente qualquer regulação multilateral dos investimentos estrangeiros, o
que constitui, sem dúvida, uma das mais notórias falhas do sistema econômico
multilateral. Os países recorrem aos famosos acordos bilaterais de proteção e de
promoção dos investimentos estrangeiros (APPIs) ou dispõem, entre eles, de regras de
adesão voluntária que liberalizam amplamente esses fluxos, de acordo com a cláusula do
tratamento nacional (como nos códigos existentes na OCDE). O Brasil, que sempre disse
sim aos capitais estrangeiros – mas não aos capitalistas, propriamente –, assinou mais de
uma dúzia desses instrumentos bilaterais, mas não colocou nenhum em vigor, por temor
de que eles diminuíssem sua capacidade de regular políticas públicas num sentido
“desenvolvimentista”, sempre privilegiado. Assim, a despeito das novas configurações da
economia mundial, com o surgimento de emergentes dinâmicos – como os BRICs, entre
os quais o próprio Brasil é colocado – a diplomacia econômica do país continua a
ostentar pouca disposição em prol de maior liberalização no âmbito da OMC, sobretudo
naqueles setores nos quais supõe ser sua baixa capacidade competidora (serviços, ramos
industriais de ponta, investimentos e propriedade intelectual).
A razão das hesitações do Brasil (e de outros países em desenvolvimento) em face
de maiores propostas de abertura é o temor que esta possa resultar no aprofundamento
dessas assimetrias; sobretudo porque a agenda da “graduação”, tal como colocada pelos
países ricos, vem condicionada à contrapartida de que os emergentes devem pagar um
preço pela redução do protecionismo agrícola e a maior abertura dos mercados
avançados, com a redução de suas próprias barreiras ao comércio de produtos industriais,
aos serviços e aos investimentos. Para muitos países em desenvolvimento, as assimetrias
são típicas distorções derivadas dos mercados livres, que só podem ser corrigidas por
“adequadas políticas públicas”, de tipo setorial (geralmente industrial, mas também
apoiadas em uma política comercial de tipo protecionista). O Brasil teve relativo sucesso
em suas políticas “substitutivas”, que mobilizaram, justamente, esse tipo de instrumento;
mas a partir de certa etapa do seu processo de desenvolvimento, as mesmas políticas que
tinham sido responsáveis pela ascensão de sua capacitação industrial, levaram, em
combinação com choques externos e com graves descontroles no plano fiscal, à
estagnação do seu crescimento econômico: o protecionismo exacerbado gerou distorções
34
no perfil distributivo da população e várias debilidades na competitividade externa da
indústria brasileira.
Não deveria haver, a rigor, nenhuma razão para insistir em políticas de claros
efeitos distorcivos no plano industrial e em seu impacto social; mas persiste uma adesão
política a velhas práticas do passado, como, no âmbito multilateral, a defesa acirrada da
manutenção, para o país, do tratamento preferencial para países em desenvolvimento, de
nítida feição oportunista. As chamadas assimetrias estruturais poderiam ser vistas, nessa
perspectiva, mais como uma oportunidade para uma maior inserção desses países no
sistema internacional, do que como um impedimento a essa integração, na medida em
que elas são, de certo modo, “vantagens comparativas” que podem ser mobilizadas em
seu favor num mundo caracterizado pela alta mobilidade de fatores de produção, em
todos os níveis e direções. Os fenômenos de “out-sourcing” e de “off-shoring”
representam dois aspectos, justamente, desses processos de intensa deslocalização da
produção que estão beneficiando intensamente países como China e Índia, que decidiram
se inserir de modo mais ativo nas correntes dinâmicas da globalização capitalista.
2.3. Cooperação multilateral e Objetivos do Milênio
A ordem internacional compreende, também, projetos e programas de cooperação
econômica multilateral que todos eles visam reduzir os imensos gaps de desenvolvimento
que ainda caracterizam o mundo. Existem dúvidas fundadas, explicitadas ainda nos anos
1950 por economistas como Peter Bauer, sobre se a ajuda externa promove, de fato, o
desenvolvimento; ou se ela, ao contrário, diminui as chances de um país pobre alcançar
seu próprio estilo de crescimento e de inserção econômica internacional, com base em
estímulos de mercado, geralmente baseados no comércio, mais do que com base em (ou
em substituição a) programas de ajuda externa. O Brasil, por exemplo, tornou-se uma
potência industrial graças às iniciativas de seus empreendedores nativos, aos aportes
voluntários de investimentos estrangeiros e ao papel indutor do Estado; os dois primeiros
basicamente guiados pelos retornos de mercado, tendo a cooperação bilateral com países
avançados se dado essencialmente no capítulo da formação de recursos humanos.
Não se quer, com isto, dizer que a crença na cooperação internacional seja uma
ilusão completa – uma vez que a cooperação técnica pode representar uma contribuição
35
extremamente benéfica, justamente, para os países menos capacitados; mas o fato é que o
processo de desenvolvimento precisa ter bases genuinamente endógenas, do contrário ele
não seria capaz de gerar efeitos indutores extensivos para o resto da economia e para a
sociedade como um todo. Uma demonstração prática do caráter meramente subsidiário –
e alguns críticos diriam até nefasto – da ajuda oficial ao desenvolvimento seria o fato de
que, após várias “décadas do desenvolvimento” oficialmente patrocinadas pela ONU,
ademais dos imensos aportes financeiros transferidos para países africanos ao longo
dessas décadas, muito poucos países em desenvolvimento conseguiram efetivamente
alçar-se de sua antiga condição “subdesenvolvida” para manter um processo sustentado
de crescimento econômico e de transformação estrutural, com distribuição social desses
benefícios do crescimento. Aqueles que o fizeram – muito poucos, na verdade –, em
absoluto deveram seu desenvolvimento à cooperação externa.
Qualquer que seja o julgamento intelectual – e prático – que se possa ter sobre os
modestos resultados (se algum) da ajuda ao desenvolvimento, o fato é que a comunidade
internacional firmou, em 2000, um compromisso formal com as “Metas do Milênio”, um
conjunto de oito grupos de objetivos a serem alcançados até 2015, no sentido da redução
da pobreza, das desigualdades sociais e de gênero, de acesso a meios básicos de vida e de
saúde e educação. Não é seguro que as metas do milênio sejam alcançadas pela maioria
dos países a que elas se destinam. O problema maior não está exatamente na falta de
financiamento para se atingir essas metas, embora este possa ser também um problema no
provimento de medicamentos básicos e serviços essenciais em países que carecem das
mais elementares estruturas de Estado. A questão é justamente esta: vários dos países-
alvo das metas entraram numa linha de desestruturação dos serviços públicos essenciais
que os qualificam para figurar na categoria dos “Estados falidos”, num momento em que
vários dos países doadores podem estar passando por uma situação de retração que já foi
identificada como donors fatigue. Em outros termos, a questão da crise da ajuda oficial
pode não ser mais uma simples questão de dinheiro – embora isto também possa estar em
causa – ou de recursos materiais vindos de fora; mas de uma avaliação realista quanto às
carências de governança nos próprios países objeto da ajuda. Muito deles, em especial os
africanos, estão praticamente vivendo de assistência pública internacional, quando não
36
ocorre desses recursos serem em parte desviados por elites pouco comprometidas com a
causa do desenvolvimento nacional.
A diplomacia brasileira recente engajou-se, no mais alto nível, aliás – isto é, com
o envolvimento do próprio presidente –, num ambicioso programa mundial de redução da
fome e da pobreza extrema, com modestos resultados na prática. Na verdade, não existe
propriamente carência de programas oficiais de combate à fome, assim como os meios de
financiamento não são, exatamente, o obstáculo principal a tal programa. O problema
está, justamente, em fazer more of the same, ou seja, tentar tornar factível a mobilização
multilateral em favor dos países mais pobres segundo linhas mais do que tradicionais de
ação, que supõem, de um lado, a coleta de fundos e, de outro, seu direcionamento para os
“necessitados”. Diversos economistas – entre eles William Easterly, que trabalhou muitos
anos para o Banco Mundial, na África – já reduziram as expectativas em relação a esse
tipo de ação que tende a recriar as mesmas estruturas de dependência desses países da
ajuda internacional. O único caminho correto, como já tinha identificado Peter Bauer
bastante tempo antes, seria a mudança estrutural dessas economias e sua integração plena
nos circuitos do comércio internacional, para o que os países desenvolvidos, em primeiro
lugar as ex-potências coloniais européias, deveriam imperativamente abrir seus mercados
e eliminar os aspectos mais nefastos da política agrícola comum: os subsídios à produção
interna e as subvenções às exportações.
3) A ordem política e econômica mundial e o Brasil
Está na hora de repassar os grandes temas da agenda internacional em relação às
suas implicações para o Brasil, com destaque para os temas econômicos, que compõem o
essencial da agenda do nosso relacionamento externo. O Brasil não tem – parece óbvio,
mas cabe repetir – grandes demandas por segurança que derivem de ameaças externas,
ainda que os próprios militares possam “descobrir” toda uma série de ameaças potenciais
que poderiam fragilizar nosso país, caso surjam “imprevistos” na Amazônia – sempre
ameaçada de “internacionalização”, não se sabe bem por parte de quem, mas se supõe
que seja supostamente do grande império do norte –, nas plataformas de petróleo off
shore, aparentemente ameaçadas por terroristas aquáticos, por parte de guerrilheiros
vizinhos convertidos em narcotraficantes; enfim, não faltariam perigos rondando o Brasil,
37
para os quais soluções “tecnologicamente sofisticadas” sempre serão necessárias. À falta
de ameaças credíveis, percebidas ou não, resta o papel acessório que o país poderia
desempenhar nos esquemas de segurança internacional sob a égide da ONU, até aqui de
peace keeping, mas eventualmente também de peace making (para o quê uma evolução
conceitual, e constitucional, seria desejável).
As grandes questões da interface externa do Brasil são, antes de tudo, questões de
economia; e antes de economia interna do que propriamente internacional, como um
simples argumento pode demonstrar. O ambiente econômico internacional, mesmo sem a
continuidade da atual fase de bonança – com o crescimento sustentado de vários países
emergentes, que tendem senão a substituir, pelo menos compensar várias das antigas
locomotivas do crescimento mundial, como os EUA, o Japão ou a Alemanha – ofereceu e
continua a oferecer oportunidades excelentes a um país capitalista como o Brasil (que
nunca foi socialista como a China, tendo, portanto, instituições de mercado plenamente
funcionais, e nem tão nacionalista e estatizante quanto a Índia). O Brasil é um país
notoriamente carente de investimentos, algo que a economia internacional tem de sobra
para economias que se abrem a parceiros estrangeiros. Tampouco existe falta de liquidez
nos mercados financeiros internacionais, onde a captação e os preços se dão em função
dos riscos percebidos pelos provedores, riscos oferecidos por determinadas economias,
algo, portanto, que depende basicamente delas mesmas. Enfim, todas as variáveis que se
possam conceber no plano econômico internacional parecem favoráveis ao Brasil,
cabendo ao próprio país fazer o seu “dever de casa” em termos de preparação para o
crescimento e o desenvolvimento sustentado.
Em uma expressão: todas as questões de economia política internacional do Brasil
são, antes de tudo, problemas de política econômica nacional e é com essa compreensão
que deve ser avaliada a discussão que vem oferecida nesta seção final deste ensaio. Não
obstante, algumas outras questões da agenda internacional que interessam ao Brasil de
perto serão examinadas, independentemente de seu caráter ou interface internacional.
3.1. Crescimento econômico
O problema básico do Brasil, como para a maioria dos paises emergentes, é o do
crescimento econômico, capaz de sustentar um processo de transformação produtiva, com
38
vistas a ganhos de produtividade que, por sua vez, contribuirão para a competitividade
dos nossos produtos nos mercados internacionais, produzindo, assim, riquezas e
empregos internos. O mundo está ajudando de maneira excepcional nessa tarefa: pela
primeira vez em 30 anos, é registrado o mais forte crescimento na economia mundial,
com taxas nos países emergentes jamais igualadas por quaisquer outras economias, salvo
em curtos períodos sem continuidade ou consistência. Infelizmente, o Brasil e a América
Latina crescem muito pouco, abaixo da média mundial e três vezes menos que os
emergentes mais dinâmicos. Esta modéstia no ritmo de crescimento se dá a despeito dos
mais altos preços nas commodities exportadas pela região – que é, como se sabe,
abundante em recursos naturais – e da grande demanda externa por esses produtos (o que
confirma, mais uma vez, que pode haver alguma “maldição” na dependência de recursos
naturais).
O baixo crescimento do Brasil e da América Latina também se dá a despeito da
maior disponibilidade de capitais de risco e da menor vulnerabilidade financeira externa
(pelo menos aparentemente): estaria a região, de fato, imune a novas crises? Por um lado,
as reservas internacionais desses países nunca foram tão altas – para algo serviram as
crises financeiras dos anos 1990 – e, por outro, as taxas de juros e spreads cobrados nos
empréstimos e lançamentos de bônus internacionais desses países também se situam em
patamares historicamente baixos, não necessariamente devido à nova onda de “confiança
irracional” dos mercados financeiros nesses países, mas porque há, de fato, abundância
de liquidez nesses mercados.
O que, então, explicaria as baixas taxas de crescimento do Brasil e de grande parte
dos vizinhos? (Alguns dos países que estão crescendo, a exemplo da Argentina e da
Venezuela, o fazem em razão da recuperação e da saída de crises incorridas no período
recente, ou devido à demanda elevada puxada por gastos estatais, no caso das receitas de
petróleo.) Basicamente, em virtude do baixo nível dos investimentos externos, resultado
de uma “despoupança estatal” visível no caso brasileiro – com uma carga fiscal igual à de
países desenvolvidos, para uma renda per capita seis vezes menor – e de desequilíbrios
fiscais que lançam dúvidas aos olhos dos investidores privados, sobre as perspectivas
futuras de crescimento, tendo em vista as trajetórias da dívida interna e dos juros reais.
Ou seja, a despeito de que a estabilidade macroeconômica, duramente conquistada no
39
passado recente, permitiu criar essa sensação de good fundamentals, as percepções de
risco ainda estão presentes, o que limita o volume total de investimentos na economia.
Cabe descartar aqui os fatores tradicionalmente invocados para justificar as baixas
taxas de crescimento na economia brasileira, que seriam a ameaça de estrangulamento
externo em função dos desequilíbrios cambiais e da famosa volatilidade dos capitais
especulativos. Capitais financeiros são, por definição voláteis, e não há nada que se possa
fazer quanto a isso, seja uma grande economia desenvolvida, seja uma pequena economia
em desenvolvimento. Esses capitais se movimentam continuamente, de que são prova os
movimentos cambiais contínuos entre as principais moedas de reserva internacionais. Por
outro lado, o câmbio nunca esteve tão valorizado no Brasil – uma taxa muito superior
àquela registrada nos tempos da banda cambial administrada (1995-1998), que a oposição
atualmente no poder caracterizava como sendo “populismo cambial” – e, no entanto, não
cessam de crescer, ano a ano, as exportações brasileiras. Quanto à volatilidade, uma coisa
precisa ser clarificada: ela é, na verdade, inerente à natureza dos capitais “especulativos”,
mas só produz efeitos nefastos quando a política econômica é, por sua vez, volátil, o que
soe acontecer de maneira muito freqüente nos países latino-americanos, sobretudo em
razão de desequilíbrios orçamentários, que se traduzem em crises fiscais.
Caracterizada, portanto, a natureza inteiramente interna dos problemas brasileiros
de crescimento e de “volatilidade”, caberia examinar quais seriam, dentre os fatores
internos e externos de crescimento dos BRICs – entre os quais o Brasil está incluído,
malgré lui, isto é, a despeito de ser o atrasado do pelotão –, as causas do desempenho
modesto de sua economia. Dentre os fatores endógenos de crescimento sempre podem ser
encontrados: o adequado provimento de insumos básicos, dos quais o Brasil parece
adequadamente bem provido; energia barata e abundante; mão-de-obra suficiente, barata
e adequada, isto é, adestrada; infra-estrutura de transportes e comunicações à altura das
necessidades dos agentes privados; mercado de capitais funcional, líquido e a custos
razoáveis; judiciário expedito ou instrumentos ágeis de solução de disputas (o que pode
significar arbitragem privada), o que representa baixos custos de transação; regras do
jogo estáveis, transparentes e com o mínimo de intrusão possível por parte dos “rentistas”
sempre existentes no setor público, em seus vários níveis. Com relação a esses fatores,
sabemos que o Brasil padece terrivelmente de deficiências notórias em vários deles, a
40
começar pela tributação excessiva e pela intervenção exacerbada do Estado na vida dos
agentes econômicos privados (e não só pelo lado fiscal, mas burocrático também).
Essas deficiências pelo lado regulatório, tributário, burocrático, pelas carências de
infra-estrutura e de mão-de-obra competente e competitiva – seja pelo lado dos salários,
seja pelo lado da produtividade – e por vários outros fatores, que estão, na maior parte,
ligados às responsabilidades governamentais, explicam, provavelmente, a longa e lenta
marcha do Brasil para o investment-grade na classificação de risco das agências mundiais
de rating. Essa classificação será sem dúvida atingida, em prazo intermediário, inclusive
porque o Brasil é uma grande economia em escala mundial e vem consolidando as bases
de sua estabilidade macroeconômica (com algum dever de casa a ser feito no lado fiscal).
Não obstante esse lado positivo cabe registrar que, no contexto das novas configurações
da economia mundial, com a ascensão fulgurante da China em quase todos os grandes
mercados de importância – produtivo e manufatureiro, por certo; como demandante de
commodities e outras matérias-primas, sobretudo energéticas; financeiro e tecnológico de
modo crescente; sem esquecer o lado militar e político –, seguida de perto pela Índia e
alguns outros parceiros (tanto ricos, como em desenvolvimento), o Brasil aparece como
um small player no cenário econômico e estratégico internacional, em vista de sua
modesta capacidade de influenciar decisivamente qualquer processo ou evento dotado de
impacto mundial. Isso não diminui suas chances de vir a integrar um possível G-13, caso
este seja formado em algum momento nos próximos anos. Mas a pergunta que se coloca
seria: deseja o Brasil realmente vir a integrar tal clube restrito, em vista das mudanças
inevitáveis que isso implicaria para sua atual condição de país em desenvolvimento?
Trata-se de uma questão relevante, que não será respondida nos quadros deste
ensaio, mas que permanece como um dos elementos-chave na conformação presente e
futura da diplomacia econômica brasileira e de sua estratégia de inserção internacional.
3.2. Investimentos
Os investimentos estrangeiros diretos sempre foram parte integrante do cenário
econômico brasileiro, assumindo um papel decisivo em seu processo de industrialização.
De resto, trata-se de fator preponderante em qualquer economia aberta que pretenda obter
ganhos tecnológicos em prazos relativamente curtos, ocorrendo uma contrapartida na
41
balança de serviços pelo fato das remessas das “rendas do capital”, a título de dividendos,
lucros, royalties, pagamentos técnicos de natureza diversa e outras transferências. Seus
efeitos, mesmo com algum peso no balanço de pagamentos, são eminentemente positivos,
em face da incorporação de know-how e dos ganhos de produtividade que ele permite. O
Brasil sempre foi um beneficiário, bastando consultar a lista da Forbes das 500 maiores
empresas mundiais, para constatar que mais de quatro quintos desse número já se
encontram instalados no Brasil, nos diferentes ramos da economia, direta ou
indiretamente. Podem causar estranheza, assim, as reações que o capital estrangeiro
desperta ainda no país.
Não existe, como se sabe, uma regulação multilateral atinente aos investimentos
estrangeiros diretos, assim como não existe um único instrumento mundial disciplinando
as relações entre investidores privados e Estados receptores desses investimentos diretos.
A Carta de Havana (1948), não ratificada, previa algumas poucas regras a esse respeito,
que nunca foram colocadas em vigor, oportunamente implementadas de modo bilateral e
parcialmente nos acordos de promoção e proteção de investimentos negociados entre os
exportadores e os importadores de capitais (os países ricos possuindo, quanto a eles,
regras inscritas no código de liberalização de investimentos da OCDE, que segue, tanto
quanto possível, os princípios de NMF e de tratamento nacional). As lacunas legais e as
carências regulatórias são, assim, supridas de maneira ad hoc por instrumentos diversos,
geralmente seguindo um modelo padrão relativamente uniforme, que sustentou, desde os
anos 1950, a proliferação de acordos bilaterais conhecidos como APPIs. Não obstante ter
assinado mais de uma dúzia, sem ter ratificado nenhum – em virtude de forte oposição
nacionalista interna –, o Brasil possui uma legislação abrangente, que confere relativa
estabilidade e abertura ao capital estrangeiro, estando ela em vigor desde meados dos
anos 1960. Os registros e as autorizações de movimentação são conferidos de modo
praticamente automático pelo Banco Central, e não parecem existir reclamações no plano
puramente instrumental.
Subsistem, contudo, algumas restrições ao investimento estrangeiro na economia
brasileira, assim como permanece certa insegurança jurídica quanto a eventuais disputas
que possam ocorrer entre o investidor estrangeiro e parceiros nacionais ou entre aquele e
o Estado brasileiro. Na segunda metade dos anos 1990, o Brasil participou do exercício
42
do MAI – Multilateral Agreement on Investments – na OCDE, frustrado em sua
conclusão em virtude de desentendimentos entre os próprios países participantes –
notadamente os EUA e a França – e não em função das manifestações dos
antiglobalizadores, como equivocadamente se considera em certos meios. Permanece,
assim, uma situação de impasse quanto ao tema investimentos na agenda multilateral,
uma vez que são poucos e insuficientes os dispositivos existentes no âmbito da OMC
(acordo de TRIMs). O Brasil participa ativamente (ma non troppo) das discussões, mas
não pretende avançar muito no terreno negociador, uma vez que tem restrições
aparentemente “filosóficas” a essa regulação, já que pretende preservar os famosos policy
spaces internamente.
3.3. Acesso a mercados
Acesso a mercados é o grande tema da diplomacia econômica brasileira, que
considera que as promessas da Rodada Uruguai permaneceram sem implementação
prática, em especial no setor agrícola. Tendo concedido sua aprovação a novas regras em
novos campos (serviços, propriedade intelectual, investimentos), e sentindo-se frustrado
pela não-reciprocidade efetiva, o Brasil apreciaria dispor de maior abertura nos mercados
desenvolvidos para seus produtos competitivos. Ele mantém, notoriamente, uma atitude
mais ofensiva do que defensiva em aceso a mercados, em especial na agricultura, tendo
liderado o movimento que resultou na formação do chamado G-20 na reunião de Cancún
da Rodada Doha (2003). Depois disso, e não apenas por sua insistência numa agenda do
desenvolvimento, ocorreram diversos impasses reais e de procedimento em reuniões nas
quais o Brasil sempre foi um protagonista de primeiro plano, junto com a Índia, os EUA e
UE: em Hong-Kong, em Potsdam e em Genebra, não havendo, até o início de 2008,
certeza quanto às possibilidades de conclusão da Rodada nos próximos meses.
As implicações para o Brasil são de ordem não apenas comercial, uma vez que a
diplomacia econômica do país considera que, em função do grau de abertura que ele será
obrigado a conceder nas áreas de forte demanda ofensiva dos desenvolvidos, dependerá o
sucesso, ou, até, a manutenção de seu projeto de desenvolvimento industrial, considerado
em bases essencialmente nacionais. Não se conhecem avaliações independentes quanto
aos custos da liberalização, embora os industriais sejam sempre alarmistas quanto aos
43
limites da abertura que eles estão dispostos a conceder. O setor de serviços,
tradicionalmente protegido da concorrência externa, tampouco se mobiliza ativamente
para o sucesso das negociações, ao passo que o agronegócio, exportador competitivo,
parece ser o único a demandar abertura ampliada dos mercados, nos dois sentidos.
O Brasil vem insistindo na estratégia multilateralista e já recusou acordos parciais
de acesso a mercados – como os compromissos em matéria de liberalização de produtos
eletrônicos, firmados no âmbito do Information Technology Agreement, adotado em
Cingapura, em 1996 – que o confrontem diretamente a países mais competitivos no plano
industrial. Tampouco foi possível concluir acordos limitados de acesso a mercados com
países desenvolvidos, a exemplo do projeto hemisférico da Alca – recusada formalmente
por “inconveniente”, no seu modelo americano – e do acordo interregional entre o
Mercosul e a UE, não só por motivo de dificuldades de compatibilização das demandas
ofensivas em matéria agrícola e defensiva na área industrial, mas também porque os
parceiros desenvolvidos pretendem um pouco mais do que o simples acesso a mercados,
adentrando em áreas regulatórias ou sistêmicas que encontram oposição na atual
diplomacia brasileira.
3.4. Integração regional
Trata-se, provavelmente, da prioridade estratégica mais relevante da diplomacia
brasileira, desde o início dos anos 1990, ou talvez até antes, desde as primeiras tentativas
de formação de um mercado comum bilateral com a Argentina, na segunda metade dos
anos 1980. Essa integração das duas grandes economias da América do Sul é vista como
a base indispensável para a conformação de um grande espaço econômico integrado em
todo o continente, havendo, em conseqüência, um enorme investimento diplomático do
Brasil na consecução dessa idéia. Essa prioridade não impede, obviamente, a existência
de disputas comerciais entre os dois países, com cláusulas de salvaguarda aplicadas de
modo aparentemente abusivo pela Argentina contra produtos brasileiros.
Todo o processo do Mercosul – constituído pelo Tratado de Assunção, de março
de 1991, sob a forma de uma união aduaneira em implementação progressiva – vem
sendo apresentado como parte de um esforço de “regionalismo aberto”, ou seja, disposto
a incorporar os vizinhos progressivamente. Mas o fato é que as tentativas de ampliação
44
do bloco acabam resultando na criação de novas e crescentes exceções nacionais tanto à
zona de livre-comércio (ZLC) como à união aduaneira (UA). De fato, a primeira funciona
com algumas exceções setoriais, notadamente no setor de açúcar (fortemente protegido
na Argentina) e na indústria automotiva, onde vigora um acordo de compensação baseado
em quotas que vem sendo prolongado com alterações desde o início. Diversos acordos de
liberalização comercial foram concretizados entre o Mercosul e os vizinhos andinos da
CAN, com cláusulas de exceção, dispositivos de origem ou regras de acesso limitado que
muitas vezes se exercem no plano bilateral dos países envolvidos.
Os novos candidatos ao ingresso pleno no Mercosul – sendo que até o momento
três países são associados à sua ZLC: Chile e Bolívia, desde 1996, Peru, desde 2003 –
sempre reivindicam exceções especiais à ZLC e flexibilidade na aplicação da Tarifa
Externa Comum (TEC) da UA. A Bolívia, por exemplo, gostaria de ingressar plenamente
no Mercosul sem ter de adotar a TEC, ao passo que a Venezuela, admitida politicamente
em 2006 na esdrúxula condição de “membro pleno em processo de adesão”, apresenta
notórias dificuldades para aceitar o conjunto de regras já adotas pelo Mercosul, como,
provavelmente, para incorporar a TEC de modo pleno. Não se prevê, no futuro imediato,
progressos sensíveis no capítulo comercial, mas os países vêm expandindo uma agenda
não comercial que envolve, crescentemente, grande número de atores sociais, nas áreas
cultural, educacional, trabalhista e outras.
Conferindo alta prioridade à integração da América do Sul, a diplomacia
brasileira se lançou em iniciativas ambiciosas, como a constituição de uma Comunidade
Sul-Americana de Nações, efetivamente criada em dezembro de 2004, mas substituída,
em abril de 2007, pela União de Nações Sul-Americanas, com um tratado constitutivo
previsto para ser assinado em junho de 2008 e um secretariado a ser instalado em Quito.
Trata-se da recuperação parcial, mas com maior significado político, do projeto lançado
em setembro de 2000, a convite do presidente Fernando Henrique Cardoso, no sentido de
ser constituída a Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana (IIRSA), com vistas a
favorecer a vinculação física e grandes obras de infra-estrutura entre os países da região.
Independentemente do maior ou menor êxito de todos esses projetos, o fato é que
os países da região estão quase todos unidos informalmente por uma rede de acordos
comerciais de liberalização econômica que tem no seu centro os EUA, o promotor
45
original da idéia da Alca, recusada por Argentina, Brasil e Venezuela. Os EUA, numa
estratégia ofensiva de conquista de mercados, que os levou do antigo multilateralismo ao
minilateralismo de fato, a pretexto de oferecer acesso ao seu enorme mercado a países
que dispõem de pequena base industrial ou até agrícola, acabam patrocinando ampla
discriminação contra os países mais competitivos da região, que são justamente os do
Mercosul. As implicações para o Brasil são importantes, uma vez que a estratégia dos
EUA pode levar o Mercosul a uma maior introversão do que seria recomendável, bem
como ao aumento dos conflitos bilaterais como regra de “convivência”. Não se trata,
obviamente, de cenário desejado pelo Brasil ou pelo Mercosul, que são, assim, obrigados
a empreender uma disputa para o estabelecimento de redes de acordos paralelos.
Com esse tipo de comportamento, os dois mais importantes países do hemisfério,
EUA e Brasil, acabam contribuindo, voluntariamente ou não, para o reforço de uma das
piores deformações do sistema multilateral de comércio na atualidade: o chamado
spaghetti bowl – ou seja, um emaranhado de acordos comerciais não necessariamente
compatíveis entre si, mas convivendo no mesmo “prato” – de que fala o economista
indiano da Columbia University, Jagdish Bhagwati. O cenário previsível é o do aumento
dos conflitos e um stress inevitável no sistema de solução de disputas da OMC, onde
diversos casos têm sido concluídos, sem que os resultados finais tenham sido acatados
pela parte perdedora, geralmente poderosa (como no exemplo do algodão, desrespeitado
solenemente pelos EUA, contra interesses legítimos do Brasil e de muitos outros países
exportadores do produto).
3.5. Recursos energéticos
A economia mundial já sofreu com os “velhos” e volta a conviver com novos
choques do petróleo: as diferenças entre uns e outros podem estar na natureza do
elemento provocador, um choque de oferta, nos anos 1970, um choque de demanda,
atualmente. Mas os impactos para os importadores líqüidos são sempre prejudiciais,
refletindo pressões inflacionárias sobre todos os preços vinculados a essa mercadoria
estratégica e conduzindo a novas transferências líqüidas de renda de consumidores para
produtores. O Brasil dispõe de recursos energéticos diversificados, mas sua dependência
do petróleo, como combustível e insumo industrial, continua significativa, agora
46
diminuída em função do aumento da oferta nacional. Subsistem, contudo, fragilidades,
em razão da estrutura industrial do refino (ainda fortemente baseada em petróleo
importado).
A alegada auto-suficiência, na verdade, não é um ganho permanente, mas um
processo que deve ser perseguido constantemente, com base nos investimentos de risco
em exploração – agora compartilhados com o capital estrangeiro – e na diversificação dos
usos industriais, como princípio: tipos e fontes de combustíveis fósseis vêm sendo
ampliados em bases nacionais e até mesmo regionais, não sem riscos de investimentos,
como os casos da Bolívia e do Equador demonstram de maneira eloqüente. De toda
forma, novas alternativas vêm sendo buscadas, não apenas para contemplar nossa própria
matriz energética – com base no consagrado etanol de cana-de-açúcar e em novas fontes
de biocombustível de origens diversas – como também na cooperação com parceiros em
realidades geopolíticas relativamente inéditas do novo mapa petrolífero mundial (Ásia
central e do sul, costas da África, etc.).
A equação energética brasileira dificilmente conseguirá assegurar a autonomia
completa em combustíveis fósseis: a busca constante de fontes internas, de petróleo ou de
gás, terá de ser necessariamente complementada em fontes regionais, e aqui a geopolítica
é bastante complicada pela emergência de forças nacionalistas que colocam em risco os
investimentos já realizados ou planejados da grande estatal brasileira do setor (Petrobras).
O cenário para o Brasil passa a ser o de apostar na boa convivência com vizinhos por
vezes difíceis (como a Bolívia), ao mesmo tempo em que continua a sua busca por fontes
próprias de fósseis ou por soluções tecnológicas eficientes em renováveis. Neste último
terreno, tendo em vista sua dotação favorável de fatores, o Brasil tem todas as condições
de aparecer no mundo como um major player (apenas não se sabe se “politicamente
correto”, em vista dos problemas continuados de devastação ambiental nas fronteiras
agrícolas e pecuárias da Amazônia).
3.6. Segurança e estabilidade
Finalmente, no que se refere aos cenários geopolíticos de possíveis conflitos – e,
talvez, de novas hecatombes humanas, em vista da proliferação nuclear e do terrorismo
fundamentalista –, existem dúvidas sobre se o Brasil será chamado a desempenhar um
47
papel de relevo na segurança internacional, embora ele conserve bastante importância no
plano regional. A América do Sul parece ser uma região relativamente imune aos riscos
mais evidentes de envolvimento em conflitos de grandes proporções; mas ela não pode
ser considerada ao abrigo de seus efeitos indiretos, sobretudo quando esses riscos
assumem novas formas, para as quais não existem fatores credíveis de dissuasão.
O terrorismo de cunho fundamentalista islâmico, que parece ser a fonte mais
provável das novas ameaças às potências ocidentais, não deve fazer da América do Sul
uma base de operações, embora não se possa descartar tanto o proselitismo religioso,
como a mobilização de recursos de tipos diversos entre as comunidades de uma mesma
afinidade religiosa ou étnica. Os riscos de grandes ataques terroristas, no plano mundial,
continuarão a ser combatidos – sobretudo sob comando dos EUA – pela conjunção de
operações de inteligência com a repressão pura e simples, o que promete muitas vítimas
no futuro de médio prazo. A diplomacia brasileira atual tem afirmado sua preferência por
atuar sobre causas das ameaças terroristas, o que pode revelar uma incompreensão quanto
à natureza do fenômeno e as possibilidades de “dissuasão preventiva”, pelo menos no
curto prazo. Não deverá ocorrer evolução significativa no tratamento dessa questão antes
de novos desenvolvimentos, talvez dramáticos, do fenômeno terrorista.
No que se refere à não-proliferação nuclear e aos regimes restritos para o controle
de tecnologias sensíveis, existem novos desafios, igualmente, que tampouco serão
resolvidos com base na pressão pura e simples ou na chantagem econômica, como parece
ser o método habitual das grandes potências. Ao não oferecerem promessas credíveis de
desarmamento efetivo e de não recurso aos artefatos de que dispõem em caso de conflitos
graves, elas deixam aberta a porta para alguns proliferadores estatais. Em todo caso,
existem atores nesse processo, nem todos estatais, que são imunes a quaisquer tipos de
“persuasão” antinuclear: ditadores megalomaníacos e terroristas profissionais estarão
sempre dispostos a enveredar pelo caminho atômico, ainda que de uma “bomba suja”. As
possibilidades que se abrem em alguns países – o Paquistão, desestabilizado pela
anarquia política interna, aparece como um dos “ventres sensíveis” da proliferação
descontrolada, mas a própria Rússia e países da Ásia central podem entrar no jogo
involuntariamente – são por demais preocupantes e fazem com que essa questão se
mantenha no topo da agenda das grandes potências no futuro previsível.
48
O papel do Brasil nesse tipo de questão é propriamente marginal, a não ser como
membro temporário do CSNU ou permanente da Conferência do Desarmamento, se é que
questões desse tipo podem ter tratamento eficaz nesses foros de discussão política. Outras
instâncias podem ser acionadas para o encaminhamento sigiloso de alguns casos; a
participação do Brasil em discussões ou medidas práticas dependerá de quão confiável
ele pode aparecer aos olhos dessas grandes potências para seu envolvimento nesses casos.
Também permanecerá na agenda internacional, durante muitos anos à frente, e na
pauta diplomática brasileira, a questão da reforma do CSNU: quem entraria, exatamente,
e quais seriam as bases de alguns acertos regionais, inevitáveis, realisticamente falando?
O Brasil aparece como um eterno candidato, com os sucessos e frustrações de uma luta
de longo curso, na qual pequenos compromissos táticos são o preço a pagar por alguma
grande vitória estratégica mais à frente. Durante algum tempo, se considerou que sua
participação em missões de paz da ONU, a exemplo da Minustah, no Haiti, poderia
representar uma espécie de bilhete de ingresso no CSNU, o que não é obviamente o caso.
No jogo das grandes potências, boa vontade política e disposição para a cooperação
desinteressada não parecem ser, necessariamente, requisitos qualificadores. Apenas a
manifestação de poder, em bases próprias, qualifica para o exercício de responsabilidades
mundiais, como parece pensar a Índia. Abre-se, aqui, uma possível fonte de
desentendimentos políticos – com conseqüências práticas – entre soldados e diplomatas,
os primeiros, presumivelmente, considerando que a detenção de artefatos nucleares
confere respeitabilidade e, portanto, “aceitabilidade” de candidatos ao clube dos grandes,
os segundos procurando pautar-se pela letra dos tratados e das obrigações internacionais.
De toda forma, a questão parece ter sido definitivamente resolvida pelo pacto
constitucional, que submete todas as atividades nucleares à sua utilização pacífica, o que
veda, em princípio, seu desvio para outras finalidades. Não se vê, de toda forma, em quê
a posse de um artefato nuclear poderia adiantar a causa do Brasil no plano internacional.
Suas causas básicas são as do desenvolvimento econômico, da cooperação técnica, da
luta pelos direitos humanos e, presumivelmente, da democratização do sistema mundial
de poder. A segurança internacional exige um pouco mais do que isso, pois depende,
também, de meios adequados para o exercício da força e de vontade política e capacidade
de decisão para querer e poder utilizá-la, em circunstâncias determinadas, supostamente
49
sempre de acordo com as regras do direito internacional e do respeito às instituições que
conferem legitimidade ao seu uso. Em qualquer hipótese, o Brasil precisaria dispor de
condições adequadas e efetivas para entrar nesse “jogo de grandes”: os requisitos
indispensáveis para isso, sem que a ferramenta nuclear entre necessariamente em linha de
conta, seriam soldados e capacidade econômica. O Brasil precisaria se preparar para isso,
consciente de que esses requisitos são construídos inteiramente dentro de sua própria
casa.
Brasília, 11 de fevereiro de 2008
50
Leituras complementares: Almeida, Paulo R.: Os Primeiros Anos do Século XX: o Brasil e as relações
internacionais contemporâneas (São Paulo: Paz e Terra, 2001) _______ : O Brasil e o multilateralismo econômico (Porto Alegre: Livraria do Advogado,
1999) Aron, Raymond: Paz e Guerra entre as Nações (São Paulo: IMESP, 2002) Bauer, Peter Thomas: Economic Analysis and Policy in Under-developed Countries
(Cambridge: Cambridge University Press. 1957) _______ : Dissent on Development: Studies and Debates in Development Economics
(Londres: Weidenfeld & Nicolson, 1971) _______ : Equality, the Third World and Economic Delusion (Londres: Weidenfeld &
Nicolson, 1981) _______ : Reality and Rhetoric: Studies in the Economics of Development (Londres:
Weidenfeld & Nicolson, 1984) Baumann, Renato (org): O Brasil e a Economia Global (Rio de Janeiro: Campus, 1996) Beinhocker, Eric D.: The Origin of the Wealth: Evolution, complexity, and the Radical
Remaking of Economics (Boston: Harvard Business School Press, 2006) Biderman, Ciro e Paulo Arvate (orgs.): Economia do Setor Público no Brasil (Rio de
Janeiro: Campus, 2004) Carvalho, Maria Izabel Valladão; Santos, Maria Helena de Castro (orgs.): O século 21 no
Brasil e no mundo (Bauru, SP: Edusc, 2006) Casella, Paulo Borba e Mercadante, Araminta de A. (orgs.): Guerra Comercial ou
integração mundial pelo comércio: a OMC e o Brasil (São Paulo: LTr, 1998) Diamond, Jared: Armas, Germes e Aço: os destinos das sociedades humanas (9ª ed.: Rio
de Janeiro: Record, 2007) _______ : Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso (3ª ed.; Rio de
Janeiro: Record, 2006) Easterly, William: The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have
Done So Much Ill and So Little Good (New York: Penguin Press, 2006) _______ :The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in
the Tropics (Cambridge, Mass.; The MIT Press, 2001) Eichengreen, Barry: A Globalização do Capital (São Paulo: Editora 34, 2002) Ferguson, Niall: The War of the World (Londres: Penguin, 2006) _______ : Empire: How Britain Made the Modern World (London: Allen Lane, 2003) _______ : Colossus: The Price of America’s Empire (New York: Penguin Press, 2004) Franco, Gustavo H. B.: Crônicas da convergência: ensaios sobre temas já não tão
polêmicos (Rio de Janeiro: Topbooks, 2006) Frieden, Jeffrey: Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New
York: Norton, 2006) Fukuyama, Francis. “The End of History?”, The National Interest (nr. 16, Summer 1989,
p. 3-18) Johnson, Paul: A History of Modern World from 1917 to the 1980’s (London: Weidenfeld
and Nicholson, 1983); ed. americana: Modern Times: the world from the twenties to the eighties (New York: Harper and Row, 1985); ed. Brasileira: Tempos Modernos: o mundo dos anos 20 aos 80 (2ª ed.; Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1998)
51
Kennedy, Paul: The Parliament of Man: the past, present, and future of the United Nations (New York: Random House, 2006)
Keylor, William R.: The Twentieth-Century World: an international history (Oxford: Oxford University Press, 1996)
Lacerda, Antonio Correa de: O Impacto da Globalização na Economia Brasileira (São Paulo: Contexto, 1998)
_______ (org.): Crise e oportunidade: o Brasil e o cenário internacional (São Paulo: Lazuli, 2006)
Lafer, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira (Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998)
Landes, David S.: A Riqueza e a Pobreza das Nações: por que algumas são tão ricas e outras são tão pobres (Rio de Janeiro: Campus, 1996)
Magnoli, Demétrio: Relações Internacionais: teoria e história (São Paulo: Saraiva, 2005) Magnoli, Demétrio: História das Guerras (São Paulo: Contexto, 2006) Mayer, Arno. The Persistence of the Old Régime: Europe to the Great War (Londres:
Croom Helm, 1981; edição brasileira: Editora Campus) McWilliams, Wayne; Piotrowski, Harry: The World Since 1945: a history of
international relations (Londres: Lynne Riner, 1997) Oliveira, Henrique Altemani; Lessa, Antônio Carlos (orgs): Relações internacionais do
Brasil: temas e agendas (São Paulo: Saraiva, 2006, 2 vols) Saraiva, José Flavio Sombra (org.): História das relações internacionais
contemporâneas: da sociedade global do século XIX à era da globalização (São Paulo: Saraiva, 2006)
Reynolds, David: One World Divisible: a global history since 1945 (New York: Norton, 2000)
Warsh, David: Knowledge and the Wealth of Nations: a History of Economic Discovery (New York: Norton, 2006)
Yergin, Daniel; Stanislaw, Joseph: The Commanding Heights: The Battle for the World Economy (New York: Touchstone, 2002)
Paulo Roberto de Almeida Doutor em ciências sociais, mestre em planejamento econômico, diplomata de carreira desde 1977; professor de Economia Política Internacional no Mestrado em Direito do
Centro Universitário de Brasília – Uniceub. ([email protected]; www.pralmeida.org)






















































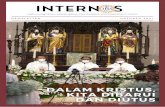



![lista de alumnos electores (consejeros internos) [0024] enp 4 ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317003d71e3f20629069d8d/lista-de-alumnos-electores-consejeros-internos-0024-enp-4-.jpg)