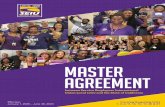1000 Perguntas e Respostas - Direito Constitucional
Transcript of 1000 Perguntas e Respostas - Direito Constitucional
1.000 PERGUNTAS E RESPOSTAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL
DOS AUTORES
Obras destinadas aos estudos para as provas das Faculdades de Direito, aos Exames
da OAB e a Concursos Públicos:
* 1.000 Perguntas e Respostas de PROCESSO CIVIL
* 1.000 Perguntas e Respostas de PROCESSO PENAL
* 1.000 Perguntas e Respostas de DIREITO CIVIL
* 1.000 Perguntas e Respostas de DIREITO PENAL
* 1.000 Perguntas e Respostas de DIREITO COMERCIAL
* 1.000 Perguntas e Respostas de DIREITO DO TRABALHO
* 1.000 Perguntas e Respostas de DIREITO TRIBUTÁRIO
* 1.000 Perguntas e Respostas de DIREITO ADMINISTRATIVO
* 1.000 Perguntas e Respostas sobre ESTATUTO DA OAB/CÓDIGO DE ÉTICA
José Cretella Júnior
Professor Titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP
José Cretella Neto
Advogado em São Paulo
1.000 PERGUNTAS E RESPOSTAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Para as provas das Faculdades de Direito
Para os Exames da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
Para Concursos Públicos
Respostas atualizadas segundo a Constituição Federal de 1988 e as Emendas
Constitucionais n.º 1/92 a 19/97.
3.ª edição
EDIÇÃO REVISTA FORENSE
Rio de Janeiro
1999
SUMÁRIO
Abreviaturas e siglas usadas IX
Apresentação XI
Capítulo I - INTRODUÇÃO - PRINCÍPIOS - GENERALIDADES
I.I. Evolução Histórica
1
I.2. As Constituições no Brasil
7
I.3. O Direito Constitucional e suas Relações com outros Ramos Afins
15
Capítulo II - CONSTITUIÇÃO
II. 1. Poder Constituinte. Reforma
19
II.2. Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade.
Ação Declaratória de Constitucionalidade
24
II.3. O Estado e seus Tipos. O Estado Brasileiro
30
II.4. As Descentralizações do Estado Brasileiro
36
Capítulo III - SISTEMAS E REGIMES POLÍTICOS - FORMAS DE GOVERNO:
DEMOCRACIA
III. I. Regimes, Formas e Sistemas Políticos
39
III.2. A Democracia e seus Tipos. Partidos Políticos. A Participação Política
40
III.3. Valores e Fatores Condicionantes da Democracia
46
Capítulo IV - A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
IV. I. A "Separação de Poderes"
49
IV.2. O Presidencialismo
52
IV.3. O Parlamentarismo
53
IV.4. O Sistema Diretorial
55
Capítulo V - OS DIREITOS POLÍTICOS
V.1. Nacionalidade
57
V.2. Cidadania. Direitos Políticos
63
V.3. Asilo Político. Extradição. Expulsão, Deportação. Repatriamento.
Banimento
66
Capítulo VI - O PODER LEGISLATIVO E SUAS TAREFAS
VI.1. Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo
71
V2.2. A Função Fiscalizadora do Parlamento.
Os Tribunais de Contas. As comissões Parlamentares
76
VI.3. Processo Legislativo. A Elaboração da Lei
85
Capítulo VII - O PODER EXECUTIVO
VII.1. Atribuições. Estruturação do Governo. Missão do Poder Executivo
97
VII.2. O Impeachment
106
VII.3. A Administração Civil
109
VII.4. As Forças Armadas
111
VII.5. A Segurança Pública
114
Capítulo VIII - O PODER JUDICIÁRIO - O MINISTÉRIO PÚBLICO
VIII.1. O Poder Judiciário e suas Garantias
117
VIII.2. Organização da Justiça Brasileira
122
VIII.3. Funções Essenciais à Justiça
134
Capítulo IX - OS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE DIREITO
IX.1. Generalidades
141
IX.2. Doutrina dos Direitos Fundamentais e sua Evolução
146
IX.3. Os Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira
150
Capítulo X - OS REMÉDIOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL
X.1. Generalidades
161
X.2. Habeas Corpus
162
X.3. Mandado de Segurança
165
X.4. Mandado de Injunção
169
X.5. Habeas Data
169
X.6. Ação Popular
170
X.7. Ação Civil Pública
171
X.8. Direito de Petição
172
X.9. Direito a Certidões
173
Capítulo XI - OS SISTEMAS DE EMERGÊNCIA
XI.1. Principais Sistemas
175
Capítulo XII - A ESTRUTURA ECONÔMICO-SOCIAL - BASES E VALORES DA ORDEM ECONÔMICA
- ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
XII.1. Do Ordenamento Econômico
183
Capítulo XIII - DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
XIII.l. Sistemas Financeiros
195
Capítulo XIV - A ORDEM SOCIAL: BASES E VALORES
XIV.1. Generalidades
197
XIV.2. Seguridade Social
197
XIV.3. Educação
200
XIV.4. Cultura
202
XIV.5. Desporto
202
XIV.6. Ciência e Tecnologia
203
XIV.7. Comunicação Social
204
XIV.8. Meio Ambiente
206
XIV.9. Família, Criança, Adolescente e Idoso
208
XIV.10. Índios
213
Bibliografia
217
ABREVIATURAS E SIGLAS USADAS
ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Adin Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
ARENA Aliança Renovadora Nacional
art. artigo
CF Constituição Federal
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CP Código Penal
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
DEIP Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda
DF Distrito Federal
DIP Departamento de Imprensa e Propaganda
EC Emenda Constitucional
ECR Emenda Constitucional de Revisão
ed. edição
Ed. Editora
etc. et cetera.
Ex. Exemplo
Gen. General
JCJ Juntas de Conciliação e Julgamento
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias
LICC Lei de Introdução ao Código Civil
LOMN Lei Orgânica da Magistratura Nacional
MDB Movimento Democrático Brasileiro
MERCOSUL Mercado Comum do Sul
MP Ministério Público
nº número
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
ONG's Organizações Não-Governamentais
ONU Organização das Nações Unidas
PC do B Partido Comunista do Brasil
PDT Partido Democrático Trabalhista
Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A.
PFL Partido da Frente Liberal
PL Partido Liberal
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PP Partido Popular
PSB Partido Socialista Brasileiro
PSD Partido Social Democrata
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PSP Partido Social Popular
PT Partido dos Trabalhadores
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
R. Resposta
RISTF Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
RISTJ Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
SAE Secretaria de Assuntos Estratégicos
SNI Serviço Nacional de Informações
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
STM Superior Tribunal Militar
SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUS Sistema único de Saúde
TCE Tribunal de Contas do Estado
TCM Tribunal de Contas do Município
TCU Tribunal de Contas da União
TFR Tribunal Federal de Recursos
TJ Tribunal de Justiça
trad. tradução
TRE Tribunal Regional Eleitoral
TRF Tribunal Regional Federal
TRT Tribunal Regional do Trabalho
TSE Tribunal Superior Eleitoral
TST Tribunal Superior do Trabalho
UDN União Democrática Nacional
UE União Européia
vol. volume
APRESENTAÇÃO
Este livro faz parte de uma coleção - 1.00O Perguntas e Respostas - originalmente
aos candidatos aos Exames da OAB.
Para grata surpresa dos autores, no entanto, os alunos de graduação dos Cursos
de Direito de todo o País passaram a adquiri-los a fim de estudar para as provas das
matérias lecionadas nas faculdades, sendo que, em algumas delas os próprios professores
passaram a adotar nossos livros.
Também candidatos a concursos públicos, sempre preocupados em estudar as matérias
exigidas, no menor espaço de tempo possível, e de forma organizada, vêm utilizando
os volumes da coleção para complementar sua preparação.
Por isso, acrescentamos nas capas que os livros podem ser usados para as provas
das Faculdades de Direito, para os Exames da OAB e para Concursos Públicos.
Como nos demais volumes da coleção, procurou-se facilitar o estudo, segundo
uma estrutura lógica e mantendo, em boa parte, a ordem das matérias de acordo com
a Constituição Federal de 1988, procurando, também, seguir os tópicos do Curso de
Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP.
Assim, os estudantes e candidatos poderão preparar-se, de forma organizada,
enfocando as partes em que se sentirem mais inseguros, mas sem perder de vista o sistema
jurídico constitucional, que consiste em interpretar dispositivos não de forma isolada,
mas em consonância com todo o conjunto normativo.
A todos, bons estudos, boas provas!
Os Autores
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO - PRINCÍPIOS - GENERALIDADES
I.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA
1) Em que sentidos pode ser entendido o vocábulo "Constituição"?
R.: Constituição é vocábulo que pode ser entendido em sentido político, sociológico
ou puramente jurídico.
2) O que significa o vocábulo "Constituição", em sentido político?
R.: Em sentido político, Constituição é um documento formal e solene, um conjunto
de normas jurídicas, que dispõem sobre a organização fundamental do Estado e orientam
seu funcionamento, além de estabelecer garantias aos direitos individuais e coletivos.
3) O que significa o vocábulo "Constituição" em sentido sociológico?
R.: Em sentido sociológico, Constituição é a soma dos fatores reais de poder que existem
em determinado país, consistindo a lei escrita meramente em uma formalização desses
poderes.
4) O que significa o vocábulo "Constituição", em sentido puramente jurídico?
R.: Em sentido puramente jurídico, Constituição é uma norma fundamental hipotética,
que serve de fundamento lógico de validade da norma positiva suprema, dentro de um
ordenamento jurídico, que regula a criação de outras normas.
5) Como pode ser classificada a Constituição, quanto à forma das regras constitucionais?
R.: A Constituição pode ser classificada, quanto à forma das regras constitucionais,
em escrita (consiste em normas legislativas positivadas) e não escrita (também
denominada consuetudinária ou inorgânica - consiste na observação dos usos e dos
costumes).
pág. 2
6) De que espécies pode ser a Constituição escrita?
R.: A Constituição escrita pode ser codificada (quando todas as normas constam de
um único diploma legal, a Constituição) ou não-codificada (quando as normas constam
de diversos diplomas legais).
7) Como pode ser classificada a Constituição, quanto ao conteúdo das regras
constitucionais?
R.: A Constituição pode ser classificada, quanto ao conteúdo das regras constitucionais,
em material e formal.
8) De que espécies pode ser a Constituição material?
R.: A Constituição material pode ser material em sentido amplo (enquanto refletir
e se identificar plenamente com o regime político ao qual o Estado está submetido)
e material em sentido estrito (quando o conteúdo consiste em normas que tratam
exclusivamente de matérias constitucionais).
9) O que é Constituição formal?
R.: Constituição formal é aquela solenemente promulgada, diploma orgânico que reflete
a estrutura e o funcionamento do Estado, somente passível de modificações mediante
processos e formalidades especiais, nela previstos.
10) Como pode ser classificada a Constituição, quanto à origem?
R.: A Constituição pode ser classificada, quanto à origem, em dogmática e histórica.
11) O que é Constituição dogmática?
R.: Constituição dogmática é a que resulta da aplicação de princípios (ou dogmas),
de modo consciente, que fixam a organização fundamental do Estado.
12) O que é Constituição histórica?
R.: Constituição histórica é aquela que provém de lenta evolução dos valores do povo,
em determinada sociedade, resultando em regras escritas (leis) e não escritas (usos
e costumes).
pág. 3
13) Como pode ser classificada a Constituição, quanto à estabilidade das regras
constitucionais?
R.: A Constituição pode ser classificada, quanto à estabilidade das regras
constitucionais, em rígida, semi-rígida e flexível.
14) O que é Constituição rígida?
R.: Constituição rígida é aquela em que as regras constitucionais somente podem ser
alteradas mediante processo especial e qualificado, de infreqüente aplicação.
15) O que é Constituição semi-rígida?
R.: Constituição semi-rígida é aquela em que as regras constitucionais podem ser
alteradas, em parte pelo processo legislativo comum e em parte, por processo especial.
16) O que é Constituição flexível?
R.: Constituição flexível é aquela em que as regras constitucionais são passíveis
de modificações pelo processo legislativo comum.
17) Em que consiste a chamada Constituição-garantia?
R.: Constituição-garantia é a denominação que se dá à Constituição do tipo clássico,
que assegura liberdades individuais e coletivas e limita o poder do Estado.
18) Em que consiste a chamada Constituição-balanço?
R.: Constituição-balanço é a denominação que se dá à Constituição que meramente descreve
e sistematiza a organização política do Estado, refletindo um estágio nas relações
de poder, sendo revisada a cada salto evolutivo significativo. Foi o tipo utilizado
nos países socialistas, antes da queda do Muro de Berlim, em 1989.
19) Em que consiste a chamada Constituição-dirigente?
R.: Constituição-dirigente é a denominação que se dá à Constituição cujas normas
estabelecem diretrizes para o exercício do poder, de forma a atingir objetivos políticos,
sociais e econômicos, e que contém, para tal, normas constitucionais programáticas.
20) Como pode ser classificada a Constituição, quanto ao modo de elaboração?
R.: A Constituição pode ser classificada, quanto ao modo de elaboração, em dogmática
(sempre escrita, elaborada por órgão constituinte, consagra os dogmas políticos e
jurídicos dominantes na época da elaboração) e histórica (sempre não escrita, ou
costumeira, quando resulta de longo processo de sedimentação política, social e
jurídica, não se conseguindo determinar ao certo sua fonte).
pág. 4
21) Como pode ser classificada a Constituição, quanto à origem?
R.: A Constituição pode ser classificada, quanto à origem, em popular (ou democrática),
quando elaborada por uma Assembléia Constituinte, composta por representantes eleitos
pelo povo, e outorgada (ou imposta), quando o governante ou interposta pessoa elabora
o texto constitucional, sem participação do povo.
22) Que são regras materialmente constitucionais?
R.: Regras materialmente constitucionais são aquelas que dispõem sobre as formas de
governo, do Estado, de aquisição e exercício do poder, da estrutura dos órgãos de
poder do Estado e dos limites da ação estatal, contidas ou não na Constituição.
23) Que são regras formalmente constitucionais?
R.: Regras formalmente constitucionais são aquelas que, embora contidas na
Constituição, não têm conteúdo constitucional.
24) Qual a origem histórica das Constituições?
R.: A origem histórica das Constituições costuma ser apontada como a Magna Carta,
de 1215, um documento escrito, outorgado pelo Rei João Sem Terra a seus nobres, celebrado
na Inglaterra, garantindo-lhes determinados direitos e benefícios.
25) A Magna Carta estabelecia limites à atuação do rei, relativamente aos direitos
de todas as pessoas do povo?
R.: Não. Era um pacto visando o respeito aos direitos dos senhores feudais,
exclusivamente, por parte da Coroa, não incluindo garantias às pessoas do povo.
26) Que outros diplomas legislativos são apontados como formadores do moderno conceito
de Constituição?
R.: Aponta-se: a) a Petition of Rights, de 1628, imposta pelo Parlamento inglês ao
Rei Carlos I, da Inglaterra, para que a Coroa respeitasse os direitos de todos os
cidadãos ingleses; e b) os contratos de colonização, celebrados na América do Norte
pelos peregrinos ingleses (como o Compact, de 1620, celebrado a bordo do navio Mayflower
e as Fundamental Orders of Connecticut, de 1639).
pág. 5
27) Em que diferem esses diplomas legais do século XVII de diplomas legais anteriores,
tais como a Magna Carta?
R.: Embora a Magna Carta constitua inegável avanço no campo jurídico constitucional,
tanto ela quanto os forais e as cartas de franquia eram destinadas a determinados
grupos de pessoas, sendo sempre outorgadas pelo monarca; os diplomas legais do século
XVII diferenciam-se destas porque refletem o estabelecimento e a organização do governo
pelos próprios cidadãos, que a eles se submetem, consistindo em uma espécie de pacto
(ou contrato) social, idéia desenvolvida pelos filósofos Locke, Hobbes, e Rousseau.
28) Que avanços surgiram no século XVIII, em relação à organização social do Homem?
R.: No século XVIII surge o Iluminismo, doutrina que individualiza os direitos do
Homem, separando-os dos da sociedade; essa visão ideológica é fonte do liberalismo
econômico, que privilegia a livre-concorrência em face do dirigismo estatal, sendo
representada pela expressão laissez-faire. A ênfase nos direitos naturais do Homem
impõe limites à atuação do Estado, prevendo remédios à violação de direitos dos cidadãos.
Do ponto de vista organizacional, surge a doutrina da separação dos poderes, elaborada
por John Locke no livro Segundo Tratado do Governo Civil e por Montesquieu, em seu
livro O Espírito das Leis. Em 1789, eclode a Revolução Francesa, ocasião em que foi
promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (26.08.1789), que a consagra
no art. 16.
29) Em que consiste a doutrina da separação dos poderes?
R.: A doutrina da separação dos poderes baseia-se na idéia de que todo homem investido
de poder é tentado a abusar desse poder, e que a divisão de poderes e funções do Estado
é necessária para impedir a arbitrariedade; constitui a base da organização liberal
e das democracias modernas, o instrumento da "segurança dos cidadãos".
pág. 6
30) O que é constitucionalismo?
R.: Constitucionalismo é o movimento de caráter político e jurídico, de cunho liberal,
em voga entre o final do século XVIII e o término da Primeira Guerra Mundial, cujo
objetivo é o estabelecimento de Estados de direito baseados em regimes constitucionais,
isto é, fundados numa Constituição democrática, que delimita claramente a atuação
do Poder Público, mediante a separação dos poderes, e assegura ampla proteção aos
direitos dos cidadãos, impondo o exercício, no plano político, do chamado "governo
das leis e não dos homens".
31) Que transformações sofreu o constitucionalismo, após o término da Primeira Guerra
Mundial?
R.: Ao término da Primeira Guerra Mundial, surgiram novos países na Europa, que adotaram
Constituições escritas; outras correntes políticas, como as defendidas pelos partidos
socialistas e democratas-cristãos, passaram a ter influência junto à opinião pública,
e dissociaram o constitucionalismo do movimento liberal, acrescendo dimensão social
e econômica às Constituições, contrabalançando a anterior supremacia dos direitos
individuais.
32) O que se entende por racionalização do poder?
R.: Entende-se por racionalização do poder uma forma extremada de constitucionalismo,
que consiste na tentativa de utilizar mecanismos jurídicos, elaborados pelos teóricos
do Direito, no sentido de incorporá-los às Constituições, enquadrando completamente
a vida política da nação nessa espécie de documento legal.
33) Que críticas são dirigidas à corrente doutrinária da racionalização do poder?
R.: As principais críticas são as seguintes: a) a vida política de uma nação é por
demais variada para ser completamente regulada por uma Constituição rígida; e b) nenhuma
regra jurídica, por si só, logrará êxito, à falta de um adequado substrato
sócio-econômico, com o qual se harmonize.
34) Pode o constitucionalismo ser considerado tendência em completo desuso?
R.: Não. Embora bastante modificado em relação à forma original, ressurge o
constitucionalismo, com maior ou menor intensidade, sempre que um Estado decide elaborar
nova Constituição ou emendar a existente; ainda que suas virtudes já sejam menos
evidentes, há aqueles que continuam a acreditar na possibilidade de racionalizar o
poder, insculpindo na Constituição todas as leis fundamentais reguladoras da vida
política da nação.
pág. 7
I.2. CONSTITUIÇÕES NO BRASIL
35) Que Constituições já teve e tem o Brasil?
R.: O Brasil, independente de Portugal desde 1822, teve oito Constituições, a primeira
promulgada no Império, em 1824; a segunda, e as seguintes foram promulgadas durante
o período republicano, nos anos de: 1891, 1934, 1937 (denominada "polaca", pois se
inspirou na Constituição polonesa), 1946, 1967 (regime militar), 1969 (verdadeira
Constituição, embora formalmente outorgada pela Emenda Constitucional n.º 1) e,
finalmente, a de 1988.
36) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da Constituição do
Império, a primeira Constituição do Brasil, de 1824?
R.: Para elaborar a Constituição do Império foi criada uma Assembléia Constituinte,
formada de delegados das Províncias, cujo primeiro cuidado foi o de elaborar uma
compilação das leis existentes; dissolvida a Assembléia pelo Imperador, devido aos
incidentes entre brasileiros e portugueses "adotivos", foi criado o Conselho de Estado,
que apresentou o Novo Projeto de Constituição, aprovado na íntegra pelo Imperador
D. Pedro I. Suas mais importantes características são: a) influência das quatro
Declarações Revolucionárias Francesas e do filósofo positivista e jurista francês
Benjamin Constant; b) proteção aos direitos civis e políticos do cidadão; c) abolição
de privilégios não essenciais e inteiramente ligados aos cargos por utilidade pública;
e d) abolidas, as penas de açoite, tortura, marcas de ferro quente e todas as penas
cruéis.
37) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da segunda Constituição
do Brasil e primeira da República, de 1891, e da reforma que a ela se seguiu, em 1926?
R.: Por orientação de Rui Barbosa, a primeira Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil tomou por modelo a Constituição Norte-Americana, dela extraindo seus
princípios fundamentais e sendo promulgada em 24.02.1890, com 90 artigos;
posteriormente, em 1926, foi profundamente reformada, passando a apresentar as
seguintes características: a) seus princípios foram enumerados; b) foi instituído
o veto parcial; c) adequação do habeas corpus somente para garantir a liberdade de
locomoção; d) determinação de que nenhum emprego seria criado, nem vencimento algum,
civil ou militar, seria alterado, senão por lei ordinária especial; e e) outorgada
competência ao Chefe do Poder Executivo para poder expulsar do território nacional
os estrangeiros perigosos à ordem pública ou aos interesses da República.
pág. 8
38) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da terceira Constituição
do Brasil, e segunda da República, de 1934?
R.: Vitoriosa a Revolução de 1930 e deposto o Presidente Washington Luís, assume o
Governo uma Junta Governativa composta por dois Generais (Tasso Fragoso e Menna Barreto)
e um Contra-Almirante (Isaías de Noronha), que, a seguir, transmitem o Governo ao
chefe supremo da revolução, Getúlio Vargas; promulgada em 16.07.1934, continha 187
artigos e apresentava as seguintes características: a) mantinha a forma federativa
de Governo; b) declarava independentes e harmônicos os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário; c) discriminava os impostos federais e estaduais e assegurava autonomia
municipal, em tudo o que se referisse ao peculiar interesse da Comuna; d) a Câmara
dos Deputados compunha-se, além de representantes do povo, eleitos mediante sistema
proporcional e sufrágio direto, também de representantes de associações profissionais,
no total de um quinto da representação popular; e e) O Senado não tomava parte na
votação de todas as leis. Em 12.12.1935 foram promulgadas as Emendas n.ºs 1, 2 e 3.
39) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da quarta Constituição
do Brasil, e terceira da República, de 1937?
R.: Em 10.11.1937, Getúlio Vargas comanda um golpe de Estado, alegando riscos à paz
política e social, com ameaças de guerra civil e de infiltração comunista; fecha o
Congresso e passa a governar por Decretos-leis; promulga nova Constituição, contendo,
também, 187 artigos, elaborada pelo jurista Francisco Campos, que apresenta as seguintes
características: a) o Parlamento pode autorizar o Presidente da República a expedir
Decretos-leis, mediante ressalvas (art. 12); no art. 180, permite que o Presidente
expeça Decretos-leis enquanto não se reunir o Parlamento Nacional (nunca se reuniu
durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas); b) transforma a Federação em Estado
unitário, revogando as Constituições estaduais; e c) institui o Departamento de Imprensa
e Propaganda-DIP e, em cada Estado o DEIP, com radioescutas, tudo ouvindo e controlando.
Na verdade, a CF de 1937 (denominada "Polaca", pelo modelo seguido e por seu caráter
absolutista, precedida de justificação), legalizava uma ditadura de caráter populista,
que somente foi afastada a partir do final da 2.ª Guerra Mundial.
pág. 9
40) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da quinta Constituição
do Brasil, e quarta da República, de 1946?
R.: Afastado Getúlio Vargas do poder, foi reunida, em 02.02.1946, a Assembléia Nacional
Constituinte; a nova Constituição foi promulgada em 18.09.1946, e refletia, de modo
preciso, todo o quadro social e Político do mundo e do Brasil, após a 2.ª Guerra Mundial,
entrando o mundo numa fase em que predominava o espírito democrático, e o social se
sobrepunha ao individual. Apresentava como principais características, algumas delas
inovadoras: a) o Poder Judiciário tinha como ápice o STF e cada Estado tinha um Tribunal
de Justiça; b) controle constitucional de qualquer lesão de direito; c) restabelecimento
do cargo de Vice-Presidente da República; d) criação do Tribunal Federal de Recursos-TFR
e do Conselho Nacional de Economia; e) integração da Justiça do trabalho ao âmbito
do Judiciário; e f) reconhecimento do direito de greve.
41) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da sexta Constituição
do Brasil, e quinta da República, de 1967?
R.: Jânio Quadros, democraticamente eleito em 1960, renunciou sete meses depois, em
25.08.1961, sendo sucedido pelo Vice-Presidente eleito (pelo sistema vigente então,
não precisavam, os candidatos a presidente e Vice, pertencer à mesma chapa), João
("Jango") Goulart. Visando transformar o Brasil em uma República Sindicalista, de
feição socialista, embora admirador do peronismo argentino e do caudilhismo de Getúlio
Vargas (seu "pai político"), chocou-se Jango com o forte sentimento e orientação
nacionalista das Forças Armadas, que o depuseram em 31.03.1964, assumindo o Governo
o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco; seu sucessor, eleito indiretamente
pelo Congresso, Gen. Arthur da Costa e Silva, incumbiu um corpo de juristas da elaboração
do projeto de nova Constituição, que entrou em vigor em 15.03.1967, contendo 189 artigos
e reflete o caráter autoritário do Governo Militar.
pág. 10
42) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da sétima Constituição
do Brasil, e sexta da República, de 1969?
R.: Resultado da conturbação política da época, que culminou com discurso injurioso
às Forças Armadas, proferido no Plenário da Câmara Federal por um Deputado, em setembro
de 1968, foi editado o Ato Institucional n.º 5, em 13.12.1968, que implantou nítido
regime de força no país, abolindo as garantias para o cidadão e para a Magistratura.
Falecendo o Presidente Costa e Silva, após enfermidade que o afastou do poder, a Junta
Militar que governava em seu lugar editou a Emenda Constitucional n.º 1, em 17.10.1969,
que reiterava o caráter autoritário da CF de 1967, alterando-a. A nova Constituição,
com 217 artigos (embora denominada "Emenda", deve ser considerada verdadeira Carta
Constitucional), e os Atos Institucionais editados, consagraram o mais autoritário
regime da História do Brasil, dispondo, por exemplo que: a) seria autorizado o banimento
do brasileiro que se tornasse inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional;
b) passavam a existir as penas de prisão perpétua e pena de morte, em hipóteses de
guerra externa, psicológica, adversa, revolucionária ou subversiva; c) era vedado
o emprego de mandado de segurança e de habeas corpus, relativamente a atos do Estado;
d) ficava suspensa a vitaliciedade e a inamovibilidade dos magistrados; e e) era
permitida a cassação de mandatos eletivos, nas três esferas de Poder.
43) Como foi elaborada e quais as mais marcantes características da oitava Constituição
do Brasil, e sétima da República, de 1988?
R.: O Governo Militar, após a enfermidade de Costa e Silva (que culminou com seu
falecimento, em dezembro de 1969), substituído por uma Junta, passou para as mãos
do Gen. Emílio Garrastazu Médici, precisamente na data da entrada em vigor da EC n.º
1/69, 17.10.1969; foram reabertas as Assembléias Legislativas dos Estados e prometida
gradativa abertura do regime; sucedeu-o, em 1974, o Gen. Ernesto Geisel, que também
passou a promover um programa de abertura política, "lenta, gradual e segura", segundo
o critério alardeado pelo governo, na época; sucedeu-o, por sua vez, por meio de nova
eleição indireta, o Gen. João Baptista Figueiredo, durante cujo mandato ocorreram
amplas manifestações populares, que visavam à redemocratização do país e a realização
de eleições diretas (movimento "Diretas Já !"). Ainda uma vez, foram realizadas eleições
indiretas, ganhando o candidato Tancredo Neves, que deveria tomar posse em 15.03.1985;
acometido de grave moléstia, assumiu a Presidência, de forma irregular, José Sarney,
seu Více (a rigor, deveria assumir o Presidente da Câmara dos Deputados, pois o Vice
somente sucede o Presidente, quando afastado; como não chegou a tomar posse, Tancredo
não era, ainda, Presidente), dando início à era chamada de "Nova República". Convocada
para se reunir unicameralmente a Assembléia Nacional Constituinte, em 01.02.1987,
culminaram os trabalhos com a promulgação da Nova Constituição, a 05.10.1988, com
245 artigos e mais 70 artigos constantes do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, cuja mais significativa característica é seu cunho democrático,
que firma o Brasil como Estado de Direito; algumas inovações merecem destaque: a)
mandado de segurança coletivo; b) mandado de injunção; c) habeas data; d) proteção
a direitos difusos e coletivos; e e) consagração do STF como Corte predominantemente
constitucional, criação do Superior Tribunal de Justiça - STJ e extinção do Tribunal
Federal de Recursos - TFR.
pág. 11
44) Qual a estrutura da atual Constituição do Brasil, de 1988?
R.: A Constituição brasileira abre com um Preâmbulo, que consiste em declaração solene
dos membros da Assembléia Nacional Constituinte, sintetizando o pensamento que norteou
o trabalho de elaboração, e afirmando que, reunidos para instituir um Estado Democrático,
a promulgam; os 245 artigos e centenas de incisos da Lei Magna distribuem-se em 10
capítulos, denominados Títulos, que são: I - Dos Princípios Fundamentais (arts. 1.º
a 4.º); II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5.º a 17); III - Da Organização
do Estado (arts. 18 a 43); IV - Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135); V - Da
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144); VI - Da Tributação
e do Orçamento; VII - Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192); VIII - Da
Ordem Social (arts. 193 a 232); IX - Das Disposições Constitucionais Gerais (arts.
233 a 245). Além disso, ao final, 70 artigos (numerados de 1.º a 70), compõem o ADCT
- Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
pág. 12
45) Como pode ser classificada a atual Constituição brasileira?
R.: A atual Constituição brasileira pode ser classificada como formal, escrita,
dogmática, popular e rígida.
46) Qual o importante princípio político consagrado no art. 1.º da CF de 1988?
R.: O art. 1.º consagra o princípio da democracia direta, isto é, o poder político
pode ser exercido não apenas por meio dos representantes do povo (democracia indireta),
mas também por qualquer cidadão que, por meio de mecanismos previstos, poderá submeter
projeto de lei ao Congresso.
47) Quais os fundamentos democráticos do poder, constitucionalmente assegurados?
R.: Os fundamentos democráticos do poder, estabelecidos no art. 1.º da CF são: a)
a soberania; b) a cidadania; c) a dignidade da pessoa humana; e d) os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
48) Quais os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estabelecidos
na CF?
R.: Os objetivos fundamentais, estabelecidos pelo art. 3.º da CF, são: a) construir
uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o desenvolvimento nacional; c)
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
e d) promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
49) Que espécies de direitos e garantias fundamentais constam da CF de 1988?
R.: A atual CF estabelece garantias e direitos fundamentais que podem ser agrupados
em quatro espécies: a) direitos individuais e coletivos (art. 5.º, contendo 77 incisos;
b) direitos sociais (arts. 6.º a 12); c) nacionalidade (art. 12); e d) direitos políticos
(arts. 14 a 17).
50) As regras constitucionais informais significam a dissolução das Constituições
tradicionais?
R.: Não. O acolhimento de regras constitucionais informais, pelos sistemas jurídicos,
somente ocorre quando essas regras obedecem a determinados requisitos, tais como se
constituírem em expectativas regulares de comportamentos e decisões, terem conexão
imediata com as normas jurídico-constitucionais (como regras complementares), terem
um fundamento de validade jurídica e se situarem dentro dos limites dos princípios
e das normas do Direito Constitucional formal. As Constituições tradicionais não perdem
seu papel fundamental, apenas incorporam essas normas, o que lhes confere nova ótica
legal.
pág. 13
51) Que são normas constitucionais auto-executáveis?
R.: Normas constitucionais auto-executáveis são aquelas que devem ser aplicadas
imediatamente, a partir da entrada em vigor da Constituição, sem a necessidade de
regra jurídica infraconstitucional posterior.
52) Que são normas constitucionais não auto-executáveis?
R.: Normas constitucionais não auto-executáveis são aquelas que não podem ser
imediatamente aplicadas, a partir da entrada em vigor da Constituição, porque necessitam
de regra jurídica infraconstitucional posterior, que estabeleça a forma e as condições
de aplicabilidade da norma.
53) Que modelos de Constituição vigoraram no Mundo, no século XX?
R.: No século XX, os principais modelos de Constituição seguidos no Mundo foram: a)
do Estado de direito liberal; b) do Estado social; e c) do Estado socialista.
54) Quais os elementos constitutivos da Constituição do Estado de direito liberal?
R.: Os principais elementos constitutivos desse modelo constitucional são: a) o único
referencial da Constituição é o Estado; b) observação dos princípios fundamentais
da concepção de Estado liberal: autonomia privada, economia de mercado, garantias
à propriedade privada, ingerência mínima do Estado, apenas de forma subsidiária e
secundária; c) racionalização e limitação do poder do Estado, e consagração de garantias
do indivíduo contra sua atuação; d) dualismo Estado-sociedade, expresso na força
normativa da Constituição, que regula juridicamente a organização dos órgãos do Estado,
em separado da sociedade; e e) a interpretação da vontade constitucional é feita com
base no texto escrito, expresso, e no contexto jurídico amplo, oculto.
pág. 14
55) Quais os elementos constitutivos da Constituição do Estado social?
R.: Os principais elementos constitutivos desse modelo constitucional são: a) os
referenciais da Constituição são o Estado e a sociedade; b) observação dos princípios
fundamentais da concepção de Estado social: intervenção do Estado nos planos social,
econômico e político, de forma a assegurar as formas de existência social, a igualdade
econômica e restringir a liberdade do indivíduo em face do interesse social; c) imposição
de fins e tarefas ao Poder Público, de modo que os direitos das pessoas sejam atingidos
mediante participação direta do Estado; e d) a interpretação da vontade constitucional
é feita por meio da análise do texto e do contexto, descodificados, isto é, a mensagem
social, econômica e cultural é inequivocamente enunciada.
56) Quais os elementos constitutivos da Constituição do Estado socialista?
R.: Os principais elementos constitutivos desse modelo constitucional são: a) os
referenciais da Constituição são, pretensamente, o Estado e a sociedade; b) observação
dos princípios fundamentais da concepção de Estado socialista, que tem caráter
classista, controla ao máximo a propriedade e os meios de produção e é centralizador
de decisões em todas as esferas da vida social e econômica; c) as tarefas do Estado
são enunciadas de forma programática; d) preponderância extremada dos objetivos do
Estado em face dos direitos individuais, restando ao indivíduo poucas defesas contra
as pretensões estatais; e e) a Constituição contém forte matiz ideológico, servindo
ao mesmo tempo de programa de ação e de balanço das conquistas consideradas
revolucionárias.
57) De que espécies podem ser os elementos constitutivos da Constituição, segundo
o conteúdo das normas?
R.: Os elementos constitutivos da Constituição, segundo o conteúdo das normas, podem
ser das seguintes espécies: a) orgânicos - normas sobre a estrutura e o funcionamento
do Estado e o exercício do poder; b) limitativos - normas que delimitam a atuação
do Estado e asseguram proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos; c)
sócio-ideológicos - normas que equilibram a extensão dos direitos individuais com
os direitos da coletividade, por meio da ação intervencionista do Estado, assegurando
proteção a grupos minoritários; d) de estabilização constitucional - normas que prevêem
a solução de conflitos constitucionais, a defesa do Estado, das instituições e da
própria Constituição; e e)formais de aplicabilidade - normas que prescrevem regras
de aplicação da Constituição.
pág. 15
58) Indicar, no texto da atual Constituição brasileira, normas que exemplificam cada
uma das espécies de elementos constitucionais.
R.: a) elementos orgânicos: Título IV - Da Oganização dos Poderes e do Sistema de
Governo; b) elementos limitativos: Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
c) elementos sócio-ideológicos: Título VIII - Da Ordem Social; d) elementos de
estabilização constitucional - art. 102, I, a - ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal ou estadual; e e) elementos formais de aplicabilidade
- ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
I.3. O DIREITO CONSTITUCIONAL E SUAS RELAÇÕES COM OUTROS RAMOS AFINS
59) Em que consiste o Direito Constitucional?
R.: Direito Constitucional é o ramo do direito público interno que tem como objeto
a forma e a estrutura do Estado, dos sistemas de governo, a organização, o funcionamento,
as atribuições e as relações entre seus órgãos superiores, o Poder Legislativo e o
Poder Executivo e, por fim, a participação ativa do povo, no governo, cuja importância
é cada vez mais acentuada, nos modernos Estados de direito.
60) Qual a relação entre o Direito Constitucional e a Ciência Política?
R.: O Direito Constitucional tem por objeto o estudo do estatuto jurídico do poder;
a Ciência Política tem por objeto o estudo do poder, no plano político.
61) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Administrativo?
R.: O Direito Administrativo estuda e regula a estrutura e a ação da Administração
Pública, buscando seus princípios e orientação na Constituição.
pág. 16
62) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Processual?
R.: O Direito Processual estuda e regula a atuação do Poder Judiciário, cuja estrutura
é determinada pela Constituição; os princípios fundamentais do Direito Processual
são expressamente determinados, ou se inspiram, no texto constitucional.
63) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Tributário?
R.: O Direito Tributário estuda e regula o poder de tributar das pessoas jurídicas
de direito público político interno (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
e suas relações com os contribuintes ou responsáveis tributários; os princípios
fundamentais do Direito Tributário aparecem expressamente determinados, ou se
inspiram, no texto constitucional.
64) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Penal?
R.: O Direito Penal orienta-se por princípios constitucionais, fundados nos direitos
e liberdades garantidos aos cidadãos pela Constituição.
65) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Civil?
R.: As regras de Direito Civil devem obedecer às normas constitucionais gerais sobre
família e propriedade.
66) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Comercial?
R.: As regras de Direito Comercial sofrem restrições impostas pelas normas
constitucionais, que dispõem sobre o controle acionário de empresas que exploram
determinadas atividades, ou determinam a existência de monopólios estatais, isto é,
vedam a participação da iniciativa privada em alguns segmentos da economia do país.
67) Qual a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Trabalhista?
R.: O Direito do Trabalho tem por objeto o estudo e a regulamentação das relações
jurídicas individuais e coletivas entre empregados e empregadores, e suas normas devem
obedecer aos preceitos constitucionais que dispõem sobre as garantias, os direitos
e os deveres de ambos.
pág. 17
68) Qual a relação entre o Direito Constitucional e a Teoria Geral do Estado?
R.: A Teoria Geral do Estado fornece elementos essenciais ao Direito Constitucional,
quanto à estrutura do Estado e à atuação dos regimes de governo inspirados por diversas
correntes políticas.
69) Qual a relação entre o Direito Constitucional e a Economia?
R.: A Economia fornece os conhecimentos necessários para adequar as normas
constitucionais que têm influência na vida econômica do país.
70) Qual a relação entre o Direito Constitucional e a Filosofia?
R.: A Filosofia fornece valores morais e éticos, orientativos do funcionamento das
organizações políticas.
71) Qual a relação entre o Direito Constitucional e a Sociologia?
R.: A Sociologia explica o funcionamento e o inter-relacionamento entre os diversos
fenômenos sociais, fornecendo o contexto necessário para a elaboração normativa.
CAPÍTULO II - CONSTITUIÇÃO
II.1. PODER CONSTITUINTE. REFORMA
72) Em que consiste o Poder Constituinte?
R.: Poder Constituinte é o órgão legislativo do Estado, dotado de autoridade política,
cuja finalidade é criar ou rever a Constituição, e do qual derivam todos os outros
poderes do Estado, não sendo instituído por nenhum anterior a ele.
73) Em que época surge a noção de Poder Constituinte?
R.: A noção de Poder Constituinte surge com o panfleto de Sièyès, do início da chamada
Idade Moderna, sendo contemporânea da noção de Constituição escrita.
74) Quem detém a titularidade do Poder Constituinte?
R.: O detentor da titularidade do Poder constituinte é o povo.
75) O que é Poder Constituinte originário?
R.: Poder Constituinte originário (também chamado próprio) é o órgão legislativo
incondicionado, dotado de autoridade política máxima, e que promove a criação de nova
Constituição (em Estado que acabou de nascer), ou a substituição de uma Constituição
por outra ou, ainda, dá origem a novo Estado.
76) Quais os atributos do Poder Constituinte originário?
R.: O Poder Constituinte originário apresenta os seguintes atributos: a) é causa de
si, porque não se fundamenta em nenhum outro; b) é autônomo, porque não vinculado
a nenhum outro poder, que o circunscreva, c) é incondicionado, porque não existe,
em texto anterior, nenhum conjunto de normas que lhe dite o modo de agir; e d) é limitado,
porque disciplinado por princípios de direito natural.
pág. 20
77) O que é Poder Constituinte derivado?
R.: Poder Constituinte derivado (também chamado impróprio, ou instituído) é aquele
que, fundado e previsto no Poder Constituinte originário, pode modificar ou completar
a Constituição, ou ainda, institucionalizar os Estados federados que dela derivem,
sem qualquer tipo de ruptura com a situação jurídica e política anterior.
78) Qual a natureza do Poder Constituinte?
R.: A natureza do Poder Constituinte é a de poder de direito, anterior ao Direito
Positivo do Estado, e superior a este, que é o Direito Natural, que é a base da liberdade
humana para estabelecer as instituições que governarão a sociedade.
79) De que fator decorre a legitimidade do governo estabelecido?
R.: A legitimidade do governo estabelecido é amparada pelo desejo da opinião predominante
(consensus), na sociedade.
80) Qual a diferença entre legitimidade e legalidade de um governo estabelecido?
R.: A legitimidade deriva do consenso (vontade da maioria); a legalidade tem origem
na lei, justa ou injustamente promulgada.
81) De que espécies pode ser o poder governamental?
R.: O poder governamental pode ser: a) de fato, quando não têm legitimidade, mesmo
que apoiado na legalidade; e b) de direito, quando fundado na legitimidade.
82) Quem é agente do Poder Constituinte?
R.: Agente do Poder Constituinte é o indivíduo ou grupo de indivíduos que elabora
a Constituição do Estado, com fundamento nesse Poder, exercendo-o em nome do povo.
83) Qual o veículo do Poder Constituinte originário?
R.: Veículo do Poder Constituinte originário é, em geral, uma revolução (em sentido
jurídico), que ocasiona a perda de eficácia da Constituição anterior, e permite a
entrada em vigor de uma nova Constituição.
pág. 21
84) Somente uma revolução em sentido jurídico (isto é, o rompimento da Constituição
vigente) possibilita o surgimento de nova Constituição?
R.: Não. É possível o surgimento de nova Constituição a partir de profunda reforma
na anterior, de acordo com normas nela própria previstas, resultando em Carta Magna
bastante diversa da existente; é, também, possível, que seja outorgada por um país
colonizador ao colonizado, à época da independência nacional.
85) Quais as características do Poder Constituinte originário?
R.: O Poder Constituinte originário apresenta as seguintes características: a) é
inicial, pois todos os poderes dele derivam; b) é ilimitado, dentro de um ordenamento
jurídico positivo; e c) é incondicionado, pois as formas para sua manifestação não
são previamente fixadas.
86) De que formas pode uma nova Constituição ser editada?
R.: Uma nova Constituição pode ser editada por meio de: a) outorga; b) convocação
de Assembléia Constituinte; e c) plebiscito.
87) Em que consiste a outorga da Constituição? Dar exemplo.
R.: Outorga da Constituição é a imposição de um texto constitucional, elaborado sem
consulta popular, e promulgado por um Poder Constituinte que age dentro da legalidade,
mas não sempre com legitimidade. Ex.: Constituição brasileira de 1937 ("polaca"),
elaborada por Ministro de Estado.
88) Em que consiste a convocação de uma Assembléia Constituinte para estabelecer nova
Constituição? Dar exemplos em que essa situação efetivamente ocorreu, no Brasil.
R.: Consiste na eleição ou indicação de um grupo de indivíduos que discutem e elaboram
um texto (projeto) constitucional, o qual pretendem ser representativo das aspirações
populares, podendo ou não submetê-lo à votação popular. Ex.: Constituições de 1946
e de 1988.
89) Em que consiste o estabelecimento de uma Constituição por meio de plebiscito?
R.: O estabelecimento de uma Constituição por meio de plebiscito (método bonapartista)
consiste em submeter à aprovação do povo o nome de determinado indivíduo para que,
em seu nome, elabore e promulgue novo texto constitucional.
pág. 22
90) Quais as características do Poder Constituinte derivado?
R.: O Poder Constituinte derivado apresenta as seguintes características: a) provém
do Poder Constituinte originário; b) é subordinado ao originário, sendo por ele limitado;
e c) é condicionado, na medida em que somente se manifesta segundo formas
preestabelecidas e fixadas.
91) Quais as espécies de Poder Constituinte derivado?
R.: O Poder Constituinte derivado pode ser: a) de revisão; e b) dos Estados-Membros,
no caso de Estado Federal.
92) Como a doutrina distingue os termos "reforma", "emenda" e "revisão", aplicados
ao procedimento de alteração da Constituição?
R.: A melhor doutrina considera que reforma é gênero, de que emenda e revisão são
espécies.
93) Como se diferencia a emenda da revisão constitucional?
R.: Emenda consiste em modificação de norma contida na Constituição, considerada não
estabilizada pelo legislador constitucional, por meio de procedimento formal; revisão
consiste em alteração anexável ao texto constitucional, efetuada por meio de
procedimento que exige maiores formalidades do que a emenda, para garantir maior
estabilidade às normas alteradas.
94) Em que consiste o poder de revisão?
R.: Poder de revisão, a mais importante espécie de Poder Constituinte derivado, é
o poder, constitucionalmente previsto, de promover alterações no texto da Constituição
vigente, de forma a adaptá-la a novas exigências políticas, sociais ou econômicas.
95) Em que consiste o Poder Constituinte dos Estados-Membros?
R.: Consiste no poder, constitucionalmente estabelecido, de institucionalizar pessoas
jurídicas políticas de Direito Público interno previstas na Constituição Federal,
na forma estabelecida.
96) O poder de revisão da Constituição é ilimitado?
R.: Não. As limitações ao poder de revisão devem ser estabelecidas no próprio texto
constitucional, que pode, até mesmo, prever a revisão completa da Constituição; à
falta de previsão constitucional, considera-se que a Constituição não pode ser
completamente revista.
pág. 23
97) Que espécies de limitações existem ao poder de revisão da Constituição?
R.: As limitações ao poder de revisão da Constituição podem ser temporais,
circunstanciais ou materiais.
98) Em que consistem as limitações temporais ao poder de revisão?
R.: As limitações temporais consistem na imposição de datas determinadas para que
se proceda à revisão da Constituição, não permitindo que sejam efetuadas em outras
épocas.
99) Em que consistem as limitações circunstanciais ao poder de revisão?
R.: As limitações circunstanciais consistem na vedação a que se proceda à revisão
da Constituição durante a ocorrência de determinados eventos, como estado de sítio,
intervenção federal, guerra, ou ocupação estrangeira, situações que influem de modo
negativo na vontade dos membros do órgão revisor.
100) Em que consistem as limitações materiais ao poder de revisão?
R.: As limitações materiais ao poder de revisão consistem em vedação a que determinadas
matérias sejam objeto de alteração, como a forma de Estado, os direitos e as garantias
individuais ou a separação dos Poderes.
101) Que espécies de limitações prevê a Constituição Federal de 1988 ao poder de revisão
da Constituição, e em que artigos se encontram?
R.: A CF de 1988 prevê limitações temporais (art. 3.º do ADCT - Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, após cinco anos de sua promulgação, pelo voto da maioria
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral), circunstanciais
(art. 60, § 1.º, durante a vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado
de sítio) e materiais (art. 60, § 4.º, quanto à abolição da forma federativa do Estado,
do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos Poderes e dos direitos
e garantias individuais).
pág. 24
102) De que forma pode a CF brasileira ser reformada?
R.: A revisão constitucional, prevista pela CF de 1988 no art. 3.º do ADCT, já foi
realizada; doravante, somente se poderá reformar a CF por meio de emenda constitucional.
103) De quem poderá ser a iniciativa para propor emenda constitucional?
R.: De acordo com o art. 60, I, II e III, da CF, emenda constitucional poderá ser
proposta por iniciativa de: a) um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados;
b) um terço, no mínimo, dos membros do Senado Federal; c) do Presidente da República;
e d) de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
104) Como deverá ser discutida e votada a proposta de emenda constitucional, no Brasil?
R.: Segundo dispõe o art. 60, § 2.º da CF, a proposta de emenda constitucional será
discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
II.2. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE CONSTITUCIONALIDADE
105) Em que consiste a denominada "supremacia constitucional"?
R.: Entende-se por supremacia constitucional o fato de que a constituição é considerada
a pedra angular do sistema jurídico-político do país, conferindo validade e legitimidade
aos poderes do Estado, dentro dos limites por ela impostos, não podendo ser contrariada
por qualquer texto ou dispositivo legal do ordenamento jurídico, sob pena de ser
considerado inconstitucional.
106) Quais as possíveis espécies de inconstitucionalidade previstas em nossa
Constituição Federal?
R.: Nossa Constituição Federal prevê duas espécies de inconstitucionalidade: a) por
ação, prevista no art. 102, I, a e III, a, b, e c; b) por omissão, prevista no art.
103, §§ 1.º, 2.º e 3.º.
pág. 25
107) Quando ocorre a inconstitucionalidade por ação?
R.: Ocorre inconstitucionalidade por ação quando atos legislativos ou administrativos
contrariam normas ou princípios contidos na Constituição.
108) Quando ocorre inconstitucionalidade por omissão?
R.: Ocorre inconstitucionalidade por omissão quando deixam de ser praticados atos
legislativos ou administrativos, exigidos pela Constituição, para permitir a plena
aplicação da norma constitucional.
109) Qual a técnica constitucional prevista para defender a supremacia constitucional,
isto é, evitar que ocorram inconstitucionalidades?
R.: A técnica prevista para defender a supremacia constitucional é denominada controle
de constitucionalidade das leis.
110) Que sistemas são utilizados para exercer o controle de constitucionalidade?
R.: O controle de constitucionalidade pode ser exercido segundo os sistemas político
(quando órgãos políticos verificam a ocorrência de inconstitucionalidades),
jurisdicional (quando o controle é feito por intermédio do Poder Judiciário) ou misto
(quando tanto órgãos políticos quanto o Poder Judiciário têm competência para coibir
a ocorrência de inconstitucionalidades, sendo a competência de cada um determinada
pela categoria do ato legislativo ou administrativo).
111) Quais os critérios de controle de constitucionalidade utilizados pelos sistemas
constitucionais existentes?
R.: Existem sistemas de controle concentrado da constitucionalidade (quando somente
o órgão máximo do Poder Judiciário ou uma Corte Constitucional têm competência para
exercê-lo) e sistemas de controle difuso da constitucionalidade (quando diversos órgãos
e instâncias do Poder Judiciário têm competência para exercê-lo).
112) Quais os modos de exercer o controle de constitucionalidade, no sistema de controle
difuso?
R.: No sistema de controle difuso da constitucionalidade, pode-se exercê-lo: a) por
via incidental, dentro de um processo judicial, em que a parte argüi, por meio de
exceção, a inconstitucionalidade de determinada norma; b) por meio de ação direta
de inconstitucionalidade, que pode ser proposta pelas partes legitimadas pelo
ordenamento jurídico; e c) por iniciativa do juiz, de ofício, dentro de um processo
judicial.
pág. 26
113) Qual o sistema de controle de constitucionalidade previsto pela atual CF?
R.: O sistema brasileiro atual é jurisdicional, combinando os sistemas de controle
concentrado e difuso. A CF de 1891 instituiu exclusivamente o controle difuso, à
semelhança do judicial review norte-americano; as Constituições posteriores agregaram
novos elementos, que permitiram exercer o controle concentrado da constitucionalidade.
114) Quem tem capacidade processual para propor ação direta de inconstitucionalidade?
R.: Segundo o art. 103 da CF, podem propor ação direta de inconstitucionalidade: o
Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados,
a Mesa da Assembléia Legislativa, o Governador de Estado, o Procurador-Geral da
República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso
Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
115) De que espécies pode ser a ação direta de inconstitucionalidade?
R.: A ação direta de inconstitucionalidade pode ser interventiva, genérica ou supridora
de omissão.
116) Quando cabe ação direta de inconstitucionalidade interventiva?
R.: Cabe ação direta de inconstitucionalidade interventiva quando se destina a promover
intervenção: a) da União em algum Estado da Federação; ou b) de algum Estado, em Município
situado dentro de seus limites territoriais.
117) Quando cabe ação direta de inconstitucionalidade genérica?
R.: Cabe ação direta de inconstitucionalidade genérica quando o autor deseja obter
declaração judicial de inconstitucionalidade, em tese, de: a) lei ou ato normativo,
federal ou estadual, em face da CF, ou b) lei ou ato normativo, estadual ou municipal,
em face da Constituição Estadual.
pág. 27
118) Quando cabe ação direta de inconstitucionalidade supridora de omissão?
R.: Cabe ação direta de inconstitucionalidade supridora de omissão quando a
responsabilidade pela edição da norma faltante prevista ou pela adoção das necessárias
providências for, respectivamente: a) do legislador, ou b) do administrador.
119) Qual o efeito jurídico da decisão judicial sobre ação de controle de
constitucionalidade, exercida por via incidental, e acolhida pelo Poder Judiciário?
R.: A decisão judicial fará coisa julgada e terá efeito somente entre as partes
(incluindo, eventualmente, terceiros, que tenham interesse jurídico), não se
projetando para fora do processo.
120) A partir de que momento passa a surtir efeito a decisão judicial, no caso de
ação de controle de constitucionalidade, exercida por via incidental?
R.: A decisão judicial, no caso concreto, terá efeito retroativo (ex tunc), invalidando
qualquer relação jurídica fundada no ato reconhecido como inconstitucional, mas somente
inter partes. A lei ou o ato permanecerão válidos até que sua executoriedade seja
suspensa pelo Senado.
121) Qual o efeito da suspensão de lei ou ato pelo Senado?
R.: A lei ou ato passarão a não mais produzir efeitos somente a partir da data da
suspensão de sua executoriedade (efeito ex nunc), permanecendo válidas as relações
jurídicas neles fundadas, estabelecidas antes da suspensão.
122) Qual o efeito jurídico da decisão judicial sobre a ação direta de
inconstitucionalidade genérica?
R.: A decisão judicial que acolhe a pretensão de ter declarada a inconstitucionalidade
de qualquer lei ou ato, objeto de ação direta de inconstitucionalidade genérica, faz
coisa julgada material, e se projeta para fora do processo, tendo efeito erga omnes,
isto é, elimina do mundo jurídico o ato declarado inconstitucional e obriga as
autoridades a não mais estabelecerem quaisquer relações jurídicas com fundamento na
lei ou ato reconhecido como inconstitucional.
pág. 28
123) Qual o efeito jurídico da decisão judicial sobre a ação direta de
inconstitucionalidade interventiva?
R.: A decisão judicial que acolhe a pretensão de ter declarada a inconstitucionalidade
de qualquer lei ou ato, objeto de ação direta de inconstitucionalidade interventiva
proposta pelo Procurador-Geral da República (ou pelo Procurador-Geral do Estado,
conforme o caso) tem por efeito restabelecer a normalidade jurídica quanto aos atos
praticados pelo órgão político público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios)
que estão descumprindo a Constituição. Declarada a inconstitucionalidade, será também
decretada intervenção se não ocorrer imediata suspensão da lei ou ato reconhecido
como inconstitucional.
124) Qual o efeito jurídico da decisão judicial sobre a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão?
R.: A decisão judicial que acolhe a pretensão de ter declarada a inconstitucionalidade
por omissão tem por efeito produzir um comando, dirigido ao Poder Legislativo ou a
órgão administrativo, para que elabore a lei ou o ato faltante no ordenamento jurídico
(no caso de órgão administrativo, concede-se o prazo de trinta dias).
125) Qual a conseqüência do não-cumprimento da decisão judicial, por parte do Poder
Legislativo ou do órgão administrativo?
R.: Em tese, a nova omissão caracterizará grave infração à ordem jurídica. Na prática,
por não ter sido prevista na Constituição o suprimento, por parte do Poder Judiciário,
da norma faltante, a declaração judicial de inconstitucionalidade, no caso de omissão,
não ocorrerá qualquer tipo de sanção ao Poder Legislativo ou ao órgão administrativo
omissos.
126) Qual a natureza jurídica da decisão judicial sobre a constitucionalidade de
determinado ato?
R.: No caso de ação direta de inconstitucionalidade genérica, a decisão judicial terá
natureza jurídica simultaneamente declaratória (porque o Poder Judiciário declara
a inconstitucionalidade) e constitutiva-negativa (porque desfaz as relações jurídicas
estabelecidas); no caso de ação de inconstitucionalidade interventiva, a natureza
jurídica da decisão judicial é, também, declaratória, mas prepondera o efeito
condenatório (o Poder Judiciário emite decreto de intervenção); e, no caso de
inconstitucionalidade por omissão, além da natureza declaratória da decisão, tem ela,
também, natureza mandamental (o Poder Judiciário emite uma ordem).
pág. 29
127) O que é a ação declaratória de constitucionalidade?
R.: A ação declaratória de constitucionalidade é inovação introduzida pela Emenda
Constitucional n.º 3, de 17.03.1993, que a acrescentou ao texto do art. 102, I, a,
da CF, e tem por objeto a rápida resolução de pendências judiciais, quando existe
grande número de ações onde se argüi a inconstitucionalidade de determinada lei ou
de ato normativo federal.
128) Quem tem legitimidade para propor a ação declaratória de constitucionalidade?
R.: A Emenda Constitucional n.º 3/93 legitimou como autores da ação declaratória de
constitucionalidade: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da
Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República, acrescentando o § 4.º ao art.
103.
129) Quem tem competência para processar e julgar a ação declaratória de
constitucionalidade?
R.: Tem competência originária e exclusiva para o julgamento da ação declaratória
de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 102, I, a,
modificado pela EC n.º 3/93.
130) Qual o efeito da decisão definitiva de mérito, proferida pelo STF, nas ações
declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal?
R.: Segundo o art. 102, § 2.º, da CF, introduzido ao texto constitucional pela EC
n.º 3/93, a decisão definitiva de mérito terá eficácia erga omnes e produzirá efeito
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.
131) Poderá a ação declaratória de constitucionalidade ser utilizada de forma
inconstitucional?
R.: Sim. A doutrina aponta o efeito de paralisação de inúmeros feitos, em que são
discutidas questões de interesse coletivo; se a decisão judicial for a de rejeitar
a pretensão do autor, não haverá inconstitucionalidade, mas se a decisão judicial
acolher a pretensão, o efeito será o de evitar que se discutam questões jurídicas,
objeto de grande número de ações em curso, ofendendo os princípios do contraditório
e da ampla defesa. No último caso, a doutrina reconhece que, sem que se atenda a esses
princípios constitucionais, poderá haver inconstitucionalidade.
pág. 30
132) Qual a posição majoritária, no STF, acerca da finalidade da ação declaratória
de constitucionalidade?
R.: A posição majoritária no STF é a de considerar a ação declaratória de
constitucionalidade como inserida no sistema de controle abstrato da
constitucionalidade de normas, visando a defesa da ordem jurídica, e não se destinando
diretamente à tutela de Direitos Subjetivos.
133) Leis ou atos normativos estaduais ou municipais podem ser objeto de ação
declaratória de constitucionalidade?
R.: Não. A EC n.º 3 somente previu a possibilidade de ser objeto de ação declaratória
de constitucionalidade, lei ou ato normativo federal.
134) Qual a função do Advogado-Geral da União, no julgamento de ações envolvendo controle
de constitucionalidade, processadas e julgadas pelo STF?
R.: O Advogado-Geral da União deverá ser previamente citado quando o STF apreciar
a inconstitucionalidade em tese, de norma legal ou ato normativo, devendo defender
o ato ou o texto impugnado; no caso de ação declaratória de constitucionalidade, não
atuará no processo, pois não estará exercendo defesa relativa a ataque à
constitucionalidade de qualquer norma legal ou ato normativo.
135) Qual a função do Procurador-Geral da República, no julgamento de ações envolvendo
controle de constitucionalidade, processadas e julgadas pelo STF?
R.: Segundo o que dispõe o art. 103, § 1.º, da CF, deverá o Procurador-Geral da República
ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos
de competência do STF.
II.3. O ESTADO E SEUS TIPOS. O ESTADO BRASILEIRO
136) O que é Estado, na concepção clássica?
R.: Entende-se por Estado, na concepção clássica, um ordenamento jurídico geral e
centralizado de poderes. É a síntese dos poderes soberanos.
pág. 31
137) Quais os elementos constitutivos do Estado, na concepção clássica?
R.: O Estado é constituído pelos seguintes elementos: a) território, porção geográfica
onde exerce sua soberania; b) população, conjunto de seres humanos convivendo em
comunidade historicamente estabelecida e definida; e c) poder, que consiste na
capacidade, legalmente conferida à autoridade pública, para que cumpra e faça cumprir
as normas estatais.
138) Quais os fenômenos atuais, que desafiam a concepção clássica de Estado?
R.: No mundo atual, a globalização e a transnacionalização econômicas, ambientais
e dos Direitos Humanos, colocam em questão o Estado como centro de poder político;
criam-se, por meio de empresas transnacionais e de Organizações Não-Governamentais
- ONG's, mecanismos alternativos de auto-regulação e controle da sociedade,
descentralizados e pouco ou nada dependentes do Estado.
139) O que é o paradigma do Estado Constitucional informal?
R.: O paradigma do Estado Constitucional informal reflete uma nova e moderna
interpretação política jurídica e da função e atuação do Estado e da sociedade.
140) Em que consiste essa nova e moderna interpretação jurídica e política da função
e atuação do Estado e da sociedade?
R.: A nova interpretação jurídica e política da sociedade e do Estado consiste em
levar em consideração mecanismos alternativos de produção e aplicação das normas,
tais como: a) desoficialização, que consiste na diminuição da importância das fontes
do direito formal, em especial do Estado; b) descodificação, que é o atenuamento da
idéia de que o direito deve, obrigatoriamente, vir expresso em um código formal; e
c) desregulamentação (ou deslegalização), que consiste na substituição progressiva
do direito formal estatal pela autonomia dos sujeitos e das comunidades.
141) Em que consiste a soberania do Estado?
R.: A Soberania do Estado consiste em que não se sujeita a nenhum outro ordenamento
jurídico que não seja o seu próprio. Significa que, por exemplo, uma ordem judicial
prolatada em país estrangeiro não vincula qualquer outro Estado a seu cumprimento.
Soberano é, assim, o Estado que pode editar seu direito, no mais alto grau, ou seja,
editar sua Constituição.
pág. 32
142) Não se sujeitam os Estados a nenhuma ordem jurídica que não as internas?
R.: Os Estados não se sujeitam a normas jurídicas de outros Estados, seguindo a máxima
"pars in parem non habet jurisdictionem". No entanto, devem submeter-se à chamada
ordem internacional, estabelecida por meio de organizações internacionais (como a
ONU, por exemplo) ou pelos tratados internacionais de que são signatários.
143) Em que consiste a descentralização das atividades do Estado?
R.: O Estado, para poder atuar nas diversas áreas de sua competência, descentraliza
administrativa e politicamente seu poder de governar. A descentralização serve para
aumentar a eficácia governamental, e também para limitar o poder do Estado.
144) Quais as formas de Estado, segundo o critério do grau de descentralização da
atividade governamental?
R.: Segundo o critério do grau de descentralização da atividade governamental, o Estado
pode ser unitário ou constitucionalmente descentralizado.
145) Quando se diz que o Estado é unitário?
R.: Diz-se que o Estado é unitário quando a descentralização de seus poderes está
submetida ao controle de um Poder Central, que pode ampliar ou reduzir o grau de
descentralização, podendo até mesmo suprimi-lo; é unitário o Estado que tem um só
impulso governamental, do centro para a periferia, como a França.
146) O Estado pode ser considerado como unitário e descentralizado?
R.: Sim. Exemplo dessa forma de Estado é o sistema existente no Brasil, entre 1822
e 1889, que tinha características de Estado unitário (havia um Poder Central, o
Imperador) e descentralizado (a descentralização era política).
pág. 33
147) Quando se diz que um Estado é constitucionalmente descentralizado?
R.: Diz-se que um Estado é constitucionalmente descentralizado quando a
descentralização política consta expressamente da Constituição desse Estado, não
estando o grau de descentralização sujeito à atuação de um Poder Central.
148) Em que consiste o Estado Federal?
R.: Estado Federal é o constituído por coletividades públicas (Estados federados),
dotadas de autonomia político-constitucional, sendo representados por um órgão cameral
(Senado), que assegura sua participação junto ao Poder Central. A estrutura federativa
é constitucionalmente garantida, como norma absolutamente estável (cláusula pétrea).
149) O Brasil é um Estado Federal?
R.: Sim. Desde o Decreto n.º 1, de 15.11.1889, data da Proclamação da República, passou
o Brasil a ser uma Federação, com a transformação das Províncias em Estados, que gozavam
de autonomia; a CF de 1891 adotou o modelo de federalismo dualista. As Constituições
posteriores deram ênfase ao papel da União, pela adoção do modelo federalista
cooperativo, que foi levado a seu ápice pela CF de 1967, que adotou o chamado federalismo
de integração. A CF de 1988, art. 1.º, dispõe que o Brasil é uma República Federativa.
150) Qual o modelo de federalismo adotado pela atual Constituição?
R.: A CF de 1988 substituiu o federalismo de integração da Carta anterior, restabelecendo
o federalismo cooperativo, mediante um sistema de repartição de competências, que
visa ao restabelecimento do equilíbrio das relações políticas entre o Poder Central
e os Estados federados. Essa mudança de modelo permite afirmar que a CF atual conferiu
feição mais nitidamente federalista ao Brasil.
151) Qual a forma do governo brasileiro?
R.: O governo brasileiro tem a forma de República, conforme dispõe o art. 1.º da CF
("A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito...").
152) De que forma é descentralizado o poder, no Estado brasileiro?
R.: O poder é partilhado (descentralizado) entre a União, os Estados-Membros, o Distrito
Federal e os Municípios, por meio da atribuição de competências, exclusivas,
complementares, suplementares ou concorrentes. Assim, por exemplo, a arrecadação de
tributos e a repartição de rendas são atividades delegadas a todas essas pessoas
políticas de Direito Público, que exercem poder dentro dos limites de suas respectivas
competências.
pág. 34
153) Em que difere, historicamente, a formação dos Estados Unidos da América da do
Brasil, como Estados Federais?
R.: Nos EUA, o Estado Federal foi formado por 13 Estados que já anteriormente existiam,
processo denominado federalismo por agregação; no Brasil, o Estado era unitário, tendo
sido desmembrado (descentralização política) em Estados-Membros, que não existiam
anteriormente, num processo denominado federalismo por segregação.
154) Qual a distinção entre Estado Federal e União Federal?
R.: O Estado Federal é uma unidade nas relações políticas e jurídicas internacionais,
ou seja, é dotado de personalidade jurídica de Direito Público internacional, detentor
exclusivo da soberania nacional, que é o poder de autodeterminação; a União Federal
é pessoa jurídica de Direito Público interno, formada pela reunião dos Estados-Membros.
155) Em que sentido goza o Estado-Membro de autonomia, no Estado Federal?
R.: A autonomia significa que o Estado exercita poder político dentro dos limites
de competência fixados pela Constituição. Exemplos de suas atividades são: instituição
de tributos, criação de órgãos administrativos estaduais, e descentralização de seus
próprios poderes, para os Municípios situados dentro de seu território.
156) Quais os princípios que regem as relações internacionais do Estado brasileiro?
R.: Segundo a CF, art. 4.º, o Estado brasileiro rege-se, nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios: a) independência nacional; b) prevalência dos direitos
humanos; c) autodeterminação dos povos; c) não-intervenção; d) igualdade entre os
Estados; e) defesa da paz; f) solução pacífica dos conflitos; g) repúdio ao terrorismo
e ao racismo; h) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e i) concessão
de asilo político.
pág. 35
157) Qual a fundamental diferença entre o modelo de Estado Federal adotado no Brasil
e os modelos de outros Estados Federais?
R.: A principal diferença reside na existência de três ordens de competência (União,
Estados-Membros e Municípios), enquanto que os Estados Federais normalmente adotam
somente duas ordens (União e Estados-Membros).
158) Em que consiste a intervenção federal?
R.: A intervenção federal é ato de natureza política, excepcional, praticado pela
União Federal, que consiste em assumir, temporariamente, as competências do
Estado-Membro ou do Distrito Federal.
159) A União tem poderes para intervir nos Estados-Membros e no Distrito Federal?
R.: Sim, porém somente em casos extremamente graves de ameaça à desagregação do
Estado-Membro ou do Distrito Federal e, ainda assim, de forma temporária. A CF de
1988 previu nos arts. 34 e 36, a intervenção da União nos Estados-Membros e no Distrito
Federal.
160) A União tem poderes para intervir nos Municípios?
R.: Não. A CF não prevê intervenção da União nos Municípios, nos quais a intervenção
somente pode ocorrer por parte dos Estados-Membros.
161) De que modo se processa a intervenção da União nos Estados-Membros?
R.: O Presidente da República submeterá o decreto de intervenção ao Congresso Nacional,
extraordinariamente convocado para tal, para que em 24 horas o aprecie, aprovando-o
ou rejeitando-o. Em outros casos, a decisão sobre a intervenção será de competência
do STF, do STJ ou do TSE.
162) Qual a natureza jurídica do decreto da intervenção?
R.: O decreto de intervenção tem natureza jurídica de ato administrativo complexo.
Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho trata-se de "competência vinculada", pois pode
originar-se de decisão ou requisição judicial, de requisição do Procurador-Geral da
República, de requisição do Poder Legislativo ou do Poder Executivo ao Presidente
da República, que simplesmente formalizará o decreto. Pode constituir-se, ainda, em
ato administrativo discricionário, quando, a juízo do Presidente, ocorrer ameaça à
integridade nacional, intervenção estrangeira ou de Estado em outro, perturbação grave
à ordem, coação ao Legislativo ou ao Executivo estaduais e reorganização financeira
do Estado-Membro.
pág. 36
163) Em que casos pode ocorrer intervenção dos Estados-Membros em Município situado
em seu território?
R.: Conforme dispõe o art. 35 da CF, pode o Estado-Membro intervir em município situado
em seu território nos seguintes casos: a) falta de pagamento, por dois anos consecutivos,
da dívida fundada; b) falta de prestação de contas devidas, na forma da lei; c) não
tiver sido aplicado o percentual mínimo exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino, atualmente fixado em 25%; e d) se o TJ do Estado der
provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na
Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
II.4. AS DESCENTRALIZAÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO
164) Em que consiste a autonomia dos Estados-Membros, no Brasil?
R.: Os Estados-Membros dispõem de autonomia, isto é, do direito à auto-organização,
conforme as limitações impostas por sua própria Constituição Estadual, que não pode,
evidentemente, afrontar a Constituição Federal, devendo adaptá-la às peculiaridades
locais.
165) O que são Territórios?
R.: Considerados embriões de Estado, no plano político, são os Territórios, no plano
jurídico, divisões administrativas da União, cuja tendência é ganhar autonomia e
transformar-se em Estado-Membro; o Governador é nomeado pelo Presidente da República,
devendo ser previamente aprovado pelo Senado Federal; não elegem Senadores, somente
Deputados Federais; todas as competências estaduais são exercidas pela União, dentre
as quais a arrecadação de tributos. A CF de 1988 dispõe sobre os Territórios no art.
33, mas, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - arts. 12 a 15,
extingue essa espécie de pessoa jurídica pública política, da organização política
do país.
pág. 37
166) Qual a situação dos antigos Territórios Federais brasileiros, após o advento
da CF de 1988?
R.: Até 1988, o Brasil tinha Territórios Federais, que foram transformados, pela nova
Constituição, em Estados-Membros da federação, exceto Fernando de Noronha, que foi
incorporado ao Estado de Pernambuco.
167) Qual a situação do Distrito Federal no quadro político-constitucional, após a
CF de 1988?
R.: A atual situação político-constitucional do Distrito Federal é semelhante à dos
Estados-Membros, reconhecido como entidade federativa (art. 1.º) gozando de autonomia
para auto-organização administrativa, conforme dispõe o art. 32 da CF; ao Distrito
Federal, pessoa jurídica pública política, atribuiu a CF competências legislativas
reservadas aos Estados e Municípios (art. 32 parágrafo único), e competência legislativa
concorrente com a da União, nos termos do art. 24; o DF pode instituir os impostos
previstos no art. 155 e perceber receitas, de acordo com o art. 157, 159, I e II,
caput e §§ 1.º, 2.º e 3.º, e art. 160.
168) Qual a situação do Município no quadro político-constitucional, após a CF de
1988?
R.: A CF de 1988 confere ao Município o status de entidade federativa (art. 1.º),
regido por Lei Orgânica Municipal (nos termos do art. 29), dotado das competências
previstas no art. 30, podendo instituir os impostos previstos no art. 156 e receber
as rendas de acordo com o art. 158, 159, II, caput e §§ 1.º, 2.º e 3.º, e art. 160.
169) O que são Regiões Metropolitanas?
R.: Regiões Metropolitanas são entidades administrativas, instituídas pelos
Estados-Membros (no regime anterior, a competência era da União), por Lei Complementar
(art. 25, § 3.º), consistindo em agrupamentos de municípios limítrofes, todos
pertencentes ao mesmo Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum (tipicamente nas áreas de saneamento, transportes
públicos, abastecimento de água, etc., atividades que devem ser equacionadas de forma
conjunta), visando seu desenvolvimento sócio-econômico.
pág. 38
170) O que são Regiões de Desenvolvimento?
R.: Regiões de Desenvolvimento são entidades federais destinadas a promover o
desenvolvimento de determinadas áreas, dentro de um mesmo complexo geoeconômico e
social do Brasil, e que recebem expressiva dotação orçamentária, e incentivos regionais,
tais como igualdade de tarifas, fretes e seguros de responsabilidade do Poder Público,
juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções
ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas,
além de prioridade nos investimentos de infra-estrutura em áreas sujeitas a secas
periódicas. A Região de Desenvolvimento mais conhecida é a SUDENE - Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste, criada pela Lei n.º 3.692/59.
CAPÍTULO III - SISTEMAS E REGIMES POLÍTICOS - FORMAS DE GOVERNO: DEMOCRACIA
III.1. REGIMES, FORMAS E SISTEMAS POLÍTICOS
171) Qual o conceito de "regime político"?
R.: Regime político, em um conceito estrutural, é o complexo de princípios e instituições
políticas, que caracterizam determinada concepção de Estado e de sociedade, orientando
seu ordenamento jurídico, mediante a produção de normas que o institucionalizam e
que regulamentam o exercício do poder pelo Estado, as relações jurídicas entre o Estado
e seus cidadãos e entre o Estado e os Estados estrangeiros.
172) Quais as espécies de regimes políticos, conforme a doutrina?
R.: A doutrina distingue, basicamente, três espécies de regimes políticos: o
democrático, o autoritário e o totalitário.
173) Quais as principais características do regime político democrático?
R.: Embora não exista consenso definitivo sobre o conceito de "democracia", é possível
assinalar as principais características do regime político democrático, que são: a)
livre participação dos governados nas decisões fundamentais dos governantes, que agem
como verdadeiros mandatários; b) eleições livres e periódicas; e c) garantias legais
de efetiva proteção aos direitos dos cidadãos, tais como liberdade de associação,
de informação e de deslocamento.
174) Quais as principais características do regime político autoritário?
R.: No regime político autoritário, determinado grupo governante exerce o poder dentro
de um regime de legalidade preexistente, por eles estabelecido e imposto à sociedade,
com pouca ou nenhuma participação popular nas decisões.
pág. 40
175) Quais as características do regime político totalitário?
R.: No regime político totalitário, existe uma corrente ideológica única, imposta
por partido de massa, também único, de forma que o poder político é exercido de forma
concentrada e centralizada, por um grupo dominante, que se perpetua no governo, somente
podendo ser dele afastado por meio de processos de ruptura, freqüentemente com emprego
de violência, como guerra civil, guerrilha, ou revolução.
176) De que espécies pode ser o sistema de governo?
R.: O sistema de governo poder ter forma de monarquia ou de república.
177) Quais as espécies de monarquia existentes?
R.: A monarquia, que tende a ser vitalícia, pode ser hereditária ou eletiva, conforme
o poder seja exercido por um rei, respectivamente, segundo uma linha de sucessão
genealógica, ou segundo um processo de escrutínio (votação); pode, ainda, ser
classificada em democrática (quando o Parlamento tem efetiva função legislativa e
independente) e aristocrática (há uma burocracia estatal, constituída geralmente por
membros da nobreza, que exercem grande influência sobre o rei). Modernamente, nos
países desenvolvidos, onde ainda existe esse sistema de governo, fala-se em monarquia
democrática constitucional, onde a função e a atuação do rei são legalmente limitadas.
III.2. A DEMOCRACIA E SEUS TIPOS. PARTIDOS POLÍTICOS. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
178) Como costuma a doutrina distinguir os diversos tipos de democracia?
R.: A doutrina costuma dividir os diversos tipos de democracia em direta, indireta
e semidireta.
179) Quais as principais características da democracia direta?
R.: A democracia direta é uma forma ideal de exercício de poder, pela qual todos os
cidadãos participam ativamente de todos os processos decisórios da sociedade. É prática
atualmente quase inexistente, nos dias de hoje, a não ser em certos pequenos cantões
da Suíça, pelas seguintes dificuldades: a) seria impossível que milhões de pessoas
participassem direta e pessoalmente de inúmeras decisões, exigidas pela sociedade
moderna; e b) a crescente complexidade técnica dos assuntos discutidos dificulta a
ampla compreensão dos temas discutidos.
pág. 41
180) Quais as principais características da democracia indireta?
R.: A democracia indireta (ou representativa, no modelo clássico implantado pelas
revoluções liberais, a partir do século XVIII) é aquela em que o governo é exercido
por representantes do povo, livre, periódica e legalmente eleitos pelos governados,
por meio do sufrágio universal, devendo tomar decisões em nome de toda a sociedade.
181) De que espécies pode ser a democracia representativa?
R.: A democracia representativa pode ser pura (ou tradicional) ou pelos partidos (ou
partidária).
182) Em que consiste a democracia tradicional?
R.: Na democracia tradicional, os governantes constituem uma classe aristocrática,
eleita por intermédio do chamado sufrágio censitário, em que a maior parte dos cidadãos
não tem direito a voto, podendo eleger e ser eleitos somente os do sexo masculino
e, dentre eles, os mais ricos.
183) Em que consiste a democracia partidária?
R.: Na democracia partidária, os candidatos a governantes devem filiar-se a partidos
políticos, que elaboram programas de governo, com os quais se identificam e se propõem
a executar, depois de eleitos.
184) O que é partido político?
R.: Partido político é a associação de pessoas físicas, formada e organizada em torno
de princípios ideológicos e de um programa de ação, neles inspirados, que busca a
defesa de determinados interesses mediante a conquista legal do poder, e que atua
como canal de representação política dos eleitores.
185) Quais as teorias que explicam a natureza jurídica da representação política?
R.: A natureza jurídica da representação política é explicada por três teorias: a)
do mandato representativo, que considera que entre o eleitor e o eleito existe um
contrato, similar ao contrato de mandato, do Direito Privado; b) da investidura, que
explica a representação política como a outorga de poder ao eleito para manifestar-se
pela totalidade de seus eleitores, deles não recebendo comandos imperativos; e c)
do mandato partidário, que interpreta a relação entre eleitor e eleito como fenômeno
inserido no modelo da democracia praticada com o concurso dos partidos políticos.
pág. 42
186) Qual a natureza jurídica dos partidos políticos?
R.: De acordo com a CF de 1988, art. 17, § 2.º os partidos políticos adquirem personalidade
jurídica nos termos da lei civil, o que significa que sua natureza jurídica é de pessoa
jurídica de Direito Privado.
187) A que espécies de controle estão sujeitos os partidos políticos?
R.: Os partidos políticos sujeitam-se às seguintes espécies de controles: a) externo,
ou seja, uma regulamentação que fixa regras de conduta e respeito a leis penais e
de polícia, bem como sobre a obtenção de recursos financeiros; b)
ideológico-programático, que visa a impedir atividades revolucionárias ou subversivas;
e c) interno, que garante caráter democrático à organização interna do partido.
188) Quais as regras restritivas à liberdade e ao funcionamento dos partidos, na atual
Constituição Federal?
R.: Os partidos políticos deverão ter caráter nacional (isto é, não poderão ter caráter
estadual ou municipal), são proibidos de receber recursos financeiros de entidade
ou governo estrangeiros ou de ser a estes subordinados, devendo prestar contas à Justiça
Eleitoral e desenvolver atuação parlamentar de acordo com a lei (art. 17, incisos
I, II, III e IV); ao adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, devem,
obrigatoriamente, registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral - TSE (art.
17, § 2.º); são, também, proibidos de utilizar organizações paramilitares (art. 17,
§ 4.º).
189) Quais as garantias dadas pela CF aos partidos políticos?
R.: A atual CF permite a livre criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos
políticos, resguardada a soberania, o regime democrático, o pluripartidarismo, e os
direitos fundamentais da pessoa humana (art. 17, caput); além disso, aos partidos
políticos é assegurada autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina
partidárias (art. 17, § 1.º); têm direito a recursos do fundo partidário e acesso
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (art. 17, § 2.º), que é, atualmente,
a Lei n.º 4.740/65.
pág. 43
190) Quais os sistemas partidários existentes?
R: Existem hoje os seguintes sistemas partidários: a) unipartidário, em que um só
partido domina o cenário político do país, sistema característico de governos
ditatoriais; b) bipartidarismo, em que dois partidos disputam as eleições e elegem
representantes; podem existir outros partidos, mas de expressão muito inferior, que
não chegam a influir no sistema partidário; e c) pluripartidarismo (ou
multipartidarismo), em que três ou mais partidos integram o sistema partidário.
191) Qual o sistema partidário brasileiro, nas últimas décadas?
R.: Em 1946, o sistema era pluripartidário, com três partidos de grande expressão
(UDN, PSD e PTB) e alguns de importância regional; em 1965, o sistema passou a ser
bipartidário, por força do Ato Institucional n.º 2, com a criação de dois partidos,
a ARENA e o MDB; a partir de 1979, o sistema voltou a ser pluripartidário, existindo
quatro grandes partidos (PMDB, PFL, PT, PSDB), quatro partidos médios (PP, PDT, PSP
e PTB), três partidos pequenos (PSB, PL e PC do B) e uma dezena de partidos menores.
192) Que críticas são dirigidas à democracia partidária?
R.: Embora hoje disseminada e aceita a democracia partidária, como canal legítimo
de exercício da vontade popular, são dirigidas, basicamente as seguintes críticas
a esse modelo, pelo risco que oferece à democracia: a) a disputa por verbas, necessárias
para custear campanhas eleitorais cada vez mais caras e sofisticadas, permite que
grupos de pressão exerçam influência sobre os partidos, deles exigindo como
contrapartida, a defesa de interesses particulares; b) como corolário, costuma ocorrer
manipulação dos meios de comunicação de massa, de modo a influenciar o eleitorado,
criando uma "opinião pública" favorável a determinadas teses, além da personalização
do poder; c) os partidos políticos, na busca por votos, tendem a desenvolver programas
genéricos, que não conflitam com a opinião do eleitorado, num primeiro momento, mas
cuja execução demanda decisões específicas; e d) os partidos costumam ter nítido caráter
oligárquico, sendo dominados por reduzido grupo de pessoas.
pág. 44
193) Em que consiste a democracia semidireta?
R.: A democracia semidireta (que costuma ser incluída, por alguns doutrinadores, no
modelo de democracia indireta) consiste em um sistema basicamente representativo,
sendo, porém, adotados mecanismos que permitem a participação popular imediata na
tomada de determinadas decisões, tais como o referendo e a iniciativa legislativa
popular.
194) Quais os mecanismos de democracia semidireta previstos na CF de 1988?
R.: A CF de 1988 previu, no art. 14, I, II e III, os seguintes mecanismos de democracia
semidireta: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.
195) O que é plebiscito?
R.: Plebiscito é a manifestação da vontade do povo, de caráter excepcional, sobre
decisões referentes a modificações territoriais (agregações ou desagregações),
alterações da forma de governo, instauração de nova forma de governo, e mudanças na
estrutura do Estado.
196) Quais os efeitos da realização do plebiscito?
R.: O plebiscito pode ser realizado antes ou depois do evento sobre o qual o povo
deverá se pronunciar; se realizado antes, constituirá o plebiscito condição suspensiva
do evento; se realizado depois, o resultado favorável terá caráter de confirmação
ou consagração do evento, ao passo que o resultado desfavorável consistirá em condição
resolutiva do ato.
197) A CF de 1988 já havia preordenado a realização de plebiscito?
R.: Sim. Além da previsão do instituto, nos arts. 14, I, e 18, §§ 3.º e 4.º, a ADCT,
art. 2.º, fixou data para a realização de plebiscito em 07.07.1993, antecipada para
21.04.1993 por força da EC n.º 2, de 25.08.1992, ocasião em que o povo foi chamado
a se manifestar sobre a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema
de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que deveriam vigorar no país a partir
de 01.01.1995.
pág. 45
198) O que é referendo?
R.: Referendo (referendum) é uma manifestação da vontade do povo, destinada à aprovação
ou desaprovação de um ato normativo, seja ele a própria Carta Constitucional, uma
lei ordinária ou um ato jurídico.
199) De que espécies pode ser o referendo?
R.: O referendo pode ser obrigatório ou facultativo, conforme a Constituíção disponha
que o ato normativo seja submetido à manifestação do povo, ou se delegar à comunidade
ou a um órgão o poder de realizá-lo ou não; pode ser ante legem ou post legem, conforme
se realize antes ou depois do ato normativo; pode, finalmente, ser constituinte (quando
se tratar de Emenda Constitucional) ou legislativo (quando se tratar de lei ordinária).
200) Quais os efeitos da realização do referendo?
R.: Se aprovado o ato normativo, passará a ter existência (se ainda não existia),
ou continuar a vigorar (se já tivesse sido aprovado pelos mecanismos institucionais),
no ordenamento jurídico, o que demonstra o efeito constitutivo da decisão popular;
se rejeitado, o ato não se incorporará ao ordenamento jurídico, ou, se já estiver
em vigor, será ab-rogado, evidenciando o efeito desconstitutivo (ou
constitutivo-negativo) do referendo.
201) A CF de 1988 já havia preordenado uma data para a realização de referendo?
R.: Não. Embora previsto no art. 14, II, da CF, e o art. 49, XV, atribua competência
ao Congresso Nacional para autorizá-lo, não está prevista, no texto constitucional,
qualquer data para a realização de referendo, nem o procedimento para instaurar o
processo, que deverá ser feito por lei ordinária.
202) O que é iniciativa popular?
R.: Iniciativa popular é a manifestação direta do povo destinada a apreciar revisão
total ou parcial da Constituição, ou a propor novo texto, mediante a apresentação
de projeto de lei ou de documento contendo a reivindicação.
203) De que espécies pode ser a iniciativa popular?
R.: A iniciativa popular pode ser formulada (quando apresentada em forma de lei, pronta
para ser apreciada pelo órgão legislativo competente) e não formulada (quando
apresentada de modo não articulado, consistindo em documento descrevendo o objeto
da manifestação, e a reivindicação dos proponentes, cabendo ao órgão legislativo a
redação do texto, em forma de lei, para apreciação).
pág. 46
204) Como dispõe a CF sobre a iniciativa popular?
R.: O art.14, III, da CF prevê a existência do mecanismo da iniciativa popular, dispondo,
no art. 61, § 2.º, que poderá ser apresentada à Câmara dos Deputados, desde que subscrita
por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuídos por pelo menos cinco Estados,
com não menos de 0,3% de eleitores de cada um deles.
III.3. VALORES E FATORES CONDICIONANTES DA DEMOCRACIA
205) Em que consiste a democracia?
R.: Democracia é o processo de convivência social em que ocorre a afirmação da cidadania
de um povo, sendo-lbe garantidos os direitos fundamentais, mediante o exercício direto
ou indireto do poder que dele emana, e que visa seu benefício. O conceito clássico
de Lincoln traduz, de forma concisa, essa definição: "é o governo do povo, pelo povo
e para o povo".
206) Quais os valores básicos da democracia?
R.: Os valores básicos, ou fundamentos, da democracia são a liberdade e a igualdade.
207) Quais os princípios básicos da democracia?
R.: Os princípios básicos da democracia são os seguintes: a) da soberania popular,
que consiste em ter o povo como fonte única de poder; e b) da participação do povo
no poder, que pode ser de forma direta ou indireta (representação).
208) Qual o modelo de democracia objetivado pelos constituintes, ao elaborarem a CF
de 1988?
R.: O modelo consagrado pela CF de 1988 é o de democracia representativa, em que os
principais representantes são os partidos políticos, sendo também incorporados
mecanismos de participação direta do cidadão e princípios de justiça social; nesse
sentido, o modelo almejado é o de uma democracia social, participativa, pluralista,
do tipo capitalista.
pág. 47
209) Em que consiste a sociedade pluralista?
R.: Sociedade pluralista é aquela em que convivem, em liberdade, pessoas que têm
interesses contrários, sendo seus conflitos resolvidos dentro de um ordenamento
jurídico aceito pela maioria, que reflete a noção de justiça de um povo, e garante
os direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade.
210) Em que consiste a poliarquia?
R.: Poliarquia é a sociedade pluralista, em que o poder é exercido de forma repartida
por inúmeros grupos, de forma que o sistema político somente funciona como resultado
de contínua negociação política entre esses grupos.
211) Em que consiste a chamada concepção liberal da sociedade?
R.: A concepção liberal da sociedade surge com a Revolução Francesa e a Independência
Americana, sendo reflexo do Iluminismo, inspirando as Constituições da época, e as
que se seguiram, e que privilegiavam a liberdade individual, reputando-a mais importante
do que a igualdade, embora este valor também delas constasse.
212) Em que consiste a chamada concepção marxista da sociedade?
R.: O filósofo e economista alemão Karl Marx (1818-1883), autor da obra O Capital
(1867), inspirou a criação de sociedades em que a igualdade, como valor, superava,
de forma desproporcional, os valores de liberdade e direitos individuais, não se
reconhecendo ao indivíduo qualquer autonomia, sendo seus atos regulamentados pelo
poder estatal.
213) Em que consiste a chamada concepção social da sociedade?
R.: Temperando as posições radicais das concepções liberal e marxista da sociedade,
surge a concepção social da sociedade, em que a autonomia individual é respeitada,
garantida a liberdade do indivíduo mediante intervenção do Estado nos campos econômico
e social, que visa a obtenção de iguais oportunidades para as pessoas; a igualdade
passa a ser não meramente uma igualdade jurídica, mas de oportunidades.
CAPÍTULO IV - A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
IV.1. A "SEPARAÇÃO DE PODERES"
214) Em que consiste a "separação de poderes"?
R.: Separação de poderes é a técnica utilizada para restringir a amplitude de cada
um dos poderes legítimos do Estado, tradicionalmente apontados pela doutrina como
Executivo, Judiciário e Legislativo, descentralizando-os, separando-os e
dividindo-lhes as tarefas e funções, isto é, delimitando-lhes as respectivas
competências.
215) Quais as funções do Estado?
R.: As funções do Estado são: a) fazer a lei; b) aplicá-la de ofício, a priori, evitando-se
danos ao indivíduo ou à sociedade; e c) aplicá-la a posteriori, mediante provocação
do interessado.
216) Cada função do Estado é exercida por um único Poder?
R.: Não. Cada Poder do Estado tem uma função principal, e duas acessórias. Assim,
por exemplo, o Poder Judiciário aplica a lei, ao julgar o caso concreto (função
principal), mas também legisla e pratica atos administrativos (funções acessórias).
217) Por que é necessário proceder à delimitação dos poderes do Estado?
R.: Reconhece-se que o poder, exercido de forma concentrada e ilimitada, acarreta
males tais como arbitrariedades, cometidas contra os indivíduos, corrupção e atentados
à democracia, razão pela qual se considera necessário que deve ser delimitado e
funcionalmente repartido.
pág. 50
218) Qual a origem histórica da separação de poderes?
R.: A separação de poderes (ou divisão funcional do poder) originou-se na revolução
constitucional da Inglaterra (a chamada "Revolução Gloríosa", entre 1688 e 1689, um
dos vários conflitos do século XVII, entre as estruturas feudais e o capitalismo em
expansão, e que marcou o fim do absolutismo no país, substituindo-o pelo Estado
liberal-capitalista), com a edição da "Bill of Rights", de 1689, que limitou os poderes
do rei (Guilherme de Orange, que havia derrotado a Jaime II) e os equiparou aos do
Parlamento, além de reconhecer a independência do Judiciário; a cada órgão foram
atribuídas funções determinadas, tendo sido suas idéias básicas consagradas no texto
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, promulgada na França.
219) Em que consiste o chamado "sistema de freios e contrapesos"?
R.: Entende-se por sistema de freios e contrapesos ("checks and balances") o modelo
de divisão de poder no qual o poder político é exercido por vários órgãos independentes,
de forma que a nenhum deles é permitido agir de forma isolada, sem ser submetido a
controle por outro órgão de poder, e que se tem mostrado eficaz processo de prevenção
do arbítrio.
220) Como são tradicionalmente classificadas as funções do Estado?
R.: As funções do Estado são tradicionalmente classificadas em executiva (ou
administrativa), legislativa e judicial, segundo a concepção de Estado de Montesquieu
(1689-1755), expresso na clássica obra O Espírito das Leis (1748).
221) Que críticas são feitas a essa concepção clássica de tripartição das funções
do Estado?
R.: A doutrina considera que a classificação tradicional não é dotada do necessário
rigor científico, porque, por exemplo, as funções jurisdicional e executiva têm a
mesma natureza (administrativa), diferindo apenas quanto ao modo de atuação no caso
concreto, não se justificando a tripartição tradicional das funções do Estado; além
disso, a ocorrência do fenômeno da interpenetração dos poderes (pelo qual o Legislativo
julga, o Executivo legisla, e o Judiciário administra, funções exercidas de modo
secundário), demonstra a limitada validade da concepção tradicional. Teóricos como
Georges Burdeau propõem diferente critério, baseado no grau de intensidade do poder
estatal, que consiste em dividir as funções do Estado em governamental e administrativa.
pág. 51
222) Em que consistem as funções governamental e administrativa, conforme a concepção
de Burdeau?
R.: A função governamental, conforme Burdeau, consiste na introdução original de questão
no ordenamento jurídico, ou modificação de norma preexistente; a função administrativa
consiste no exercício do poder segundo normas já estabelecidas no ordenamento jurídico.
223) Qual a concepção de Löwenstein sobre a repartição das funções entre os órgãos
de poder do Estado?
R.: A concepção de Löwenstein consiste em diferente repartição das funções do Estado,
por ele denominadas estabelecimento de políticas ("policy determination"), execução
de políticas ("policy execution") e controle de políticas ("policy control"), sendo
as duas primeiras identificáveis com a concepção de Burdeau, e a última, considerada
por ele como o fundamento do regime constitucional, por permitir a fiscalização da
atividade governamental, adequando-a à vontade popular (controle político), bem como
a submissão da autoridade pública ao Poder Judiciário (controle formal).
224) Como podem ser classificados os sistemas de governo, segundo o critério da separação
de poderes?
R.: Segundo o critério da separação de poderes, os sistemas de governo podem ser
classificados em: a) de concentração de poderes, em que não se divide o poder, que
não raro passa a ser exercido de forma autoritária; b) de colaboração de poderes,
em que os poderes são distintos, mas não são exercidos de forma independente,
característica típica do parlamentarismo; e c) de separação de poderes, em que os
poderes são distintos, e exercidos de forma independente, característica típica do
presidencialismo.
225) Como se enquadra o sistema suíço de governo nessa classificação?
R.: O sistema suíço é sui generis, pois consiste em um governo de Assembléia (denominado
sistema convencional, porque repousa numa Convenção, assinada em 01.08.1291, no cantão
de Schwyz, que deu origem à Confederação Helvética, nome oficial da Suíça), com tendência
a nela concentrar poderes legislativos e executivos, mas que não pode ser classificado
como de completa concentração porque o Poder Judiciário é órgão dotado de independência
funcional, que permite a garantia aos direitos e à liberdade.
pág. 52
IV.2. O PRESIDENCIALISMO
226) Qual a origem histórica do Presidencialismo?
R.: O Presidencialismo surgiu nos Estados Unidos da América, sendo criado pelo 2.º
Congresso Continental de Filadélfia (1775), que conclamou os cidadãos americanos às
armas e nomeou George Washington comandante das tropas; em 4 de julho de 1776 foi
formalmente declarada a Independência, elaborada por um comitê de cinco membros,
presidida por Thomas Jefferson; em 1787 foi proclamada a primeira Constituição dos
Estados Unidos, inspirada nos ideais iluministas, que adotava a forma republicana
de governo e a separação dos três poderes do Estado; George Washington foi eleito
o primeiro Presidente, tomando posse em 1789.
227) Quais as características do Presidencialismo?
R.: O sistema presidencialista apresenta as seguintes características: a) é o sistema
adotado pelas Repúblicas; b) a divisão de poderes é relativamente rígida e tal que,
embora deva existir harmonia entre eles, exercem-no de forma independente e autônoma;
c) o Presidente da República, órgão unipessoal, exerce as funções de Chefe do Estado,
do Governo e da Administração Pública, sendo eleito em pleitos periódicos, direta
ou indiretamente, por período fixo, e não pode ser destituído pelo órgão legislativo
por "falta de confiança", como no Parlamentarismo; d) o órgão legislativo é eleito
por período fixo, não podendo ser dissolvido; e) os Ministros de Estado exercem cargos
de confiança do Presidente da República, sendo dele meramente auxiliares, atuando
isoladamente, em cada pasta; e f) a execução do plano de governo é de exclusiva
responsabilidade do Presidente da República, que não precisa consultar os demais poderes
para tal.
pág. 53
228) Como ficará caracterizado o sistema em que existe um Presidente da República,
legitimamente eleito pelo povo, mas que exerce seu poder de forma absolutamente
centralizada, nos termos da Constituição vigente, sem que seus atos possam ser revistos
pelos demais poderes?
R.: Um sistema com essas características será formalmente presidencialista; na
realidade, essa forma de exercício de poder caracteriza um sistema no mínimo autoritário,
tendendo para uma ditadura.
229) Quais os principais pontos positivos e negativos, do Presidencialismo, apontados
pela doutrina?
R.: No Presidencialismo, aponta a doutrina os seguintes pontos positivos: a) funciona
melhor nos sistemas em que existem muitos partidos políticos, reduzindo a dependência
da boa vontade do Legislativo; e b) o sistema favorece uma tomada mais rápida de decisões
e a unidade de comando político. Como pontos negativos: I) o sistema dá margem ao
ênfase exagerado da pessoa do candidato (e não de programas de governo), que não raras
vezes "vende" bem sua imagem, convencendo o eleitorado, e derrotando candidatos melhor
preparados, mas incapazes de despertar a simpatia da opinião pública; II) a concentração
de poderes nas mãos de um único órgão tende a facilitar a prática de atos autoritários
e, não raro, de corrupção; e III) o sistema presidencialista apresenta dificuldades
para solucionar conflitos sociais ou políticos relevantes.
IV.3. O PARLAMENTARISMO
230) Qual a origem histórica do Parlamentarismo?
R.: O Parlamentarismo é um sistema de governo que vem se desenvolvendo e aprimorando
desde o século XVII, quando da Revolução Gloriosa, de 1688, resultou a delimitação
dos poderes da monarquia, mediante a atribuição ao Parlamento, do poder de elaborar
leis, inclusive tributárias.
231) Quais as características do Parlamentarismo?
R.: O sistema parlamentarista apresenta as seguintes características: a) é o sistema
adotado pelas monarquias constitucionais; b) os Poderes Legislativo e Executivo são
interdependentes sendo somente o Judiciário um poder completamente autônomo; c) o
Poder Executivo é exercido pelo Chefe de Estado (o rei ou o Presidente), que representa
o país, e pelo Chefe de Governo (Primeiro-Ministro ou Presidente do Conselho), indicado
pelo Chefe de Estado, consistindo a chamada estrutura dualista do Executivo; d) o
Chefe de Governo indica os demais Ministros, cuja investidura depende da confiança
do Legislativo, e que governam de forma colegiada; e) a indicação do Chefe de Governo
depende da aprovação de seu plano de governo pelo órgão legislativo, que assume a
responsabilidade política por sua execução, traço marcante do Parlamentarismo; f)
o Governo depende da confiança do Parlamento, podendo ser por ele destituído; e g)
a apuração do grau de confiança do povo no Parlamento faz-se mediante sua dissolução,
que provoca o rompimento de coligações partidárias, convocando-se eleições
extraordinárias, destinadas a escolher novos representantes.
pág. 54
232) Quais os principais pontos positivos e negativos, do Parlamentarismo, apontados
pela doutrina?
R.: No Parlamentarismo, aponta a doutrina os seguintes pontos positivos: a) existe,
em princípio, melhor entendimento entre o Governo e o Parlamento, porque os Ministros
escolhidos representam a corrente preponderante, no órgão legislativo, no momento
de sua escolha; b) o Parlamentarismo é um sistema de tomada de decisões mais maleável,
o que possibilita atuar com eficiência na solução política de crises; e c) o
Parlamentarismo é sistema mais sensível às exigências sociais e políticas da sociedade.
Como pontos negativos: I) a velocidade de tomada de decisões pode ficar comprometida
pelo exaustivo processo de discussões e comprometimentos, devido às coligações
partidárias; e II) no caso de pluripartidarismo, o sistema resulta em governo instável,
fraco e ineficaz, sempre suscetível de alteração nas composições entre os partidos.
233) De que espécies pode ser o Parlamentarismo?
R.: O Parlamentarismo pode ser de duas espécies: a) dualista, quando a Constituição
do gabinete depende da vontade do monarca, e sua manutenção, do apoio do Parlamento,
e b) monista, quando o gabinete é constituído por parlamentares pertencentes à corrente
política que dispõe de maioria na casa legislativa, e não da vontade do monarca, e
sua permanência também somente depende do apoio do Parlamento.
pág. 55
234) O que é a chamada "racionalização do Parlamentarismo"?
R.: O pluripartidarismo e a extensão do direito de voto à população em geral provocaram
crise nos sistemas parlamentaristas, pela instabilidade dos gabinetes; visando
assegurar a estabilidade do sistema e aumentar sua eficácia, procurou-se consolidar
regras jurídicas em Constituições escritas, de caráter rígido, tendência que ficou
conhecida como a "racionalização do Parlamentarismo".
235) Já houve Parlamentarismo no Brasil?
R.: Sim. A Emenda Constitucional n.º 4, de 02.09.1961, feita à CF de 1946 instituiu
o Parlamentarismo no Brasil, cabendo a João Goulart a Presidência da República e a
Tancredo Neves a Presidência do Conselho de Ministros; essa forma de governo durou
até 23.01.1963, quando a EC n.º 6 restabeleceu o Presidencialismo.
IV.4. O SISTEMA DIRETORIAL
236) Em que consiste o sistema diretorial?
R.: Sistema diretorial (ou convencional, ou, ainda, governo de Assembléia) é o sistema
de governo em que a elaboração e a aplicação das leis estão concentrados em um único
Poder; em outras palavras, não há separação entre o Poder Executivo e o Legislativo,
somente entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.
237) Quem exerce a Chefia do Estado e do Governo, no sistema diretorial?
R.: No sistema diretorial, o Presidente exerce, de forma meramente protocolar, a Chefia
do Estado; a Chefia do Governo é exercida por um órgão político executivo colegiado,
constituído por membros da Assembléia, a Comissão, regime que tem, portanto, um centro
único de Poder.
238) Que países do mundo adotam o sistema diretorial?
R.: Atualmente, apenas a Suíça adota o sistema diretorial, em sua forma mais pura;
a antiga URSS o adotava, embora com características próprias, bem como alguns dos
países ex-socialistas como Bulgária, Hungria, e Romênia; o Uruguai tentou copiar o
modelo suíço, mas o resultado foi um Presidencialismo disfarçado, com muitos chefes,
atuando sem a necessária coordenação.
pág. 56
239) Por que o sistema diretorial é de aplicação limitada?
R.: A Suíça teve formação histórica peculiar, que a diferencia dos demais países;
o país é dividido em unidades políticas denominadas Cantões, que se reúnem de forma
confederada (daí o nome oficial da Suíça, "Confederação Helvética"); a população é
pequena, o território é escasso (a área geográfica parece maior do que é, na realidade,
pelo grande número de montanhas, que tornam boa parte das terras, inabitáveis, mas
constitui, também, formidável barreira de defesa natural, o que explica, em parte,
porque nunca foi conquistada); o povo tem, há várias gerações, alto poder aquisitivo,
existe tradição de autogoverno e respeito à cidadania, além de forte sentimento de
nacionalismo e independência. Esse conjunto de fatores propicia o exercício de um
sistema democrático sem paralelo. Nenhum outro país reúne essas especiais
características, o que torna praticamente inviável seu desenvolvimento fora da Suíça.
CAPÍTULO V - OS DIREITOS POLÍTICOS
V.1. NACIONALIDADE
240) O que é nacionalidade?
R.: Nacionalidade é o conjunto de vínculos políticos e jurídicos entre alguém e
determinado Estado, integrando o indivíduo no povo de um país, ou seja, é o status
do indivíduo perante o Estado, sendo um de seus elementos constitutivos.
241) O conceito de povo equivale ao de população?
R.: Não. População refere-se a pessoas que residem em determinado território, sejam
ou não nacionais de determinado país, submetidos ao ordenamento jurídico e político
daquele Estado; povo refere-se a uma comunidade de mesma base sócio-cultural, que
não depende de base territorial para ser reconhecido.
242) O conceito de nação equivale ao de Estado?
R.: Não. Estado é a nação politicamente organizada; é possível haver um Estado com
mais de uma nação, como no caso do Império austrohúngaro, em que havia pelo menos
duas nações que em nada se identificavam, a começar pela língua. Para que exista Estado,
é necessário que haja uma população, reunida sobre certo território, submetida às
mesmas leis, e que essas leis sejam elaboradas pelo órgão representativo dessa população.
243) Qual o status do indivíduo perante determinado Estado?
R.: Perante determinado Estado, o indivíduo somente pode ser nacional ou estrangeiro.
pág. 58
244) De que espécies pode ser a nacionalidade?
R.: A nacionalidade pode ser primária (ou originária), que resulta de ato involuntário
do indivíduo, como o nascimento ou a ocorrência de condição considerada pelo Estado
como suficiente para atribuir-lhe tal status político e jurídico, ou secundária (ou
adquirida), que se obtém mediante ato voluntário, preenchidas determinadas condições,
exigidas pelo Estado, para que seja concedida.
245) Quais as formas de aquisição de nacionalidade primária?
R.: A nacionalidade primária pode ser adquirida segundo os critérios da origem
territorial (jus solis), ou da origem sangüínea (jus sanguinis).
246) Em que espécies de Estados costuma-se adotar um ou outro critério de aquisição
de nacionalidade primária?
R.: Jus solis é o critério adotado, em geral, pelos Estados de imigração, como os
Estados das Américas, enquanto que o critério do jus sanguinis é o geralmente adotado
pelos países de emigração, como os da Europa.
247) Quais as formas de aquisição de nacionalidade secundária?
R.: A nacionalidade secundária pode ser adquirida segundo os critérios da vontade
do Estado ou da vontade do indivíduo.
248) Quem é considerado nacional, pela Constituição brasileira?
R.: A CF brasileira considera nacional a pessoa humana que se vincula ao Brasil pelo
nascimento ou pela naturalização.
249) Quem a CF brasileira considera brasileiros natos?
R.: A CF considera (art. 12, I, a, b e c) brasileiros natos os nascidos: a) no Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país; b) no
estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja
a serviço do governo brasileiro; e c) no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade
brasileira (este dispositivo resultou de alteração do texto constitucional original,
por parte da ECR n.º 3 de 07.06.1994).
250) O que é naturalização?
R.: Naturalização é a aquisição da nacionalidade brasileira por estrangeiro, mediante
declaração expressa de vontade, preenchidas as condições prescritas na regra jurídica
constitucional.
pág. 59
251) Qual a natureza jurídica da naturalização?
R.: A naturalização tem natureza jurídica de contrato de Direito Público constitucional,
classificando-se como sinalagmático perfeito, comutativo, não-oneroso, de adesão e
realizado intuitu personae.
252) De que espécies pode ser a naturalização?
R.: A naturalização pode ser: a) tácita, quando os estrangeiros residentes em determinado
país não manifestarem o ânimo de manter a nacionalidade de seu país de origem, dentro
do prazo legal; e b) expressa, quando depender de manifestação do estrangeiro no sentido
de adquiri-la.
253) Quem a CF brasileira considera brasileiros naturalizados?
R.: A CF considera (art. 12, II, a e b) brasileiros naturalizados: a) os que, na forma
da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, sendo exigida aos originários dos países
de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral
(naturalização expressa ordinária); e b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade,
residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos (modificação introduzida pela
ECR n.º 3/94, pois o texto original fixava o prazo em 30 anos) e sem condenação penal,
desde que requeiram a nacionalidade brasileira (naturalização expressa
extraordinária).
254) A CF brasileira prevê naturalização tácita ou expressa?
R.: Atualmente, a CF de 1988 prevê somente a naturalização expressa, mas as Constituições
Federais anteriores previam a nacionalidade tácita, ao lado da expressa.
255) Qual é, então, o critério legal adotado pelo Brasil, para considerar alguém como
brasileiro?
R.: O Brasil adota, basicamente o critério do jus solis, mas, em certos casos, adota
o jus sanguinis, desde que presentes outras condições de fato.
256) Será considerado nacional, pela lei brasileira, o indivíduo nascido no Brasil,
de pais estrangeiros, a serviço de seu país de origem?
R.: Não. Embora nascido em território brasileiro, a circunstância dos pais estarem
a serviço de país estrangeiro implica não considerar o filho como brasileiro.
pág. 60
257) O que é reciprocidade?
R.: Reciprocidade é o instituto do Direito Internacional, mediante o qual dois Estados
soberanos celebram acordo sobre determinados pontos, estabelecendo mútuos benefícios
a respeito do tratamento que deve ser dispensado aos nacionais dos países contratantes.
258) Quais as diferenças entre a condição jurídica do brasileiro nato e a do brasileiro
naturalizado?
R.: O art. 5.º, caput, consagra o princípio da igualdade, não podendo a lei fazer
distinções entre o brasileiro nato e o naturalizado; o tratamento desigual, em favor
do brasileiro nato, somente pode ocorrer se houver dispositivo constitucional expresso
a respeito (art. 12, § 2.º).
259) Em que casos poderá o brasileiro perder a nacionalidade?
R.: O brasileiro poderá perder a nacionalidade quando (art. 12, § 4.º, I e II): a)
tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade
nociva ao interesse nacional; e b) adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou de imposição de
naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro,
como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis
(item b alterado pela ECR n.º 3/94).
260) Poderá o brasileiro nato, que não adquiriu outra nacionalidade, e praticou ato
nocivo ao interesse nacional, ter declarada a perda de sua nacionalidade?
R.: Não. Brasileiros natos, que não adquiriram outra nacionalidade e culpados pela
prática de atos nocivos ao interesse nacional, sujeitam-se somente a sanções de natureza
penal e eleitoral.
261) Como poderá readquirir a nacionalidade brasileira aquele que a houver perdido?
R.: A reaquisição da nacionalidade perdida somente poderá ocorrer: a) por meio de
ação rescisória, que anule a decisão judicial que a tenha cancelado; e b) por decreto
do Presidente da República, nos casos de a perda ter ocorrido por naturalização
voluntária ou da perda ter sido decretada no regime das Constituições anteriores e
do art. 22, II, do Estatuto dos Estrangeiros (perda de nacionalidade quando aceitar
de governo estrangeiro comissão, emprego ou pensão, sem prévia autorização do Presidente
da República, dispositivo não recepcionado pela atual CF).
pág. 61
262) O que é apátrida?
R.: Apátrida é a pessoa que, por força da diversidade de critérios de aquisição da
nacionalidade (conflito negativo), não se vincula a nenhum Estado, isto é, não tem
nacionalidade.
263) O que é polipátrida?
R.: Polipátrida é a pessoa que, por força da diversidade de critérios de aquisição
da nacionalidade, vincula-se a mais de um Estado, isto é, tem múltiplas nacionalidades.
264) Qual será a nacionalidade do filho de pais italianos, que não estejam a serviço
de seu país, nascido no Brasil?
R.: Nessa situação, a pessoa será polipátrida, pois, pelo direito italiano, que adota
o critério do jus sanguinis, terá nacionalidade italiana, e pelo direito brasileiro,
que adota o critério do jus solis, será brasileiro.
265) Qual será a nacionalidade do filho de pais brasileiros, que não estejam a serviço
de seu país, nascido na Itália, antes de residir no Brasil?
R.: Nessa situação, a pessoa será apátrida, pois nem o direito italiano nem o direito
brasileiro a reconhecerão como seus respectivos nacionais. Antes da ECR n.º 3/94,
a pessoa nascida nessas condições podia ser registrada na repartição consular brasileira
competente, mas a redação defeituosa da referida emenda não incluiu essa possibilidade,
situação que deverá ser corrigida, sob pena de ser permitida a existência de inúmeros
apátridas, que a rigor, deveriam ser brasileiros, em virtude do elevado número de
brasileiros que vivem e trabalham no exterior.
266) Além do art. 12 da CF de 1988, quais os principais diplomas legais referentes
à questão da nacionalidade?
R.: O principal diploma legal ordinário referente à nacionalidade é a Lei n.º 6.815,
de 19.08.1980, o chamado Estatuto dos Estrangeiros, modificado pela Lei n.º 6.964,
de 09.12.1981; vigora ainda a Lei n.º 818, de 18.09.1949, exceto no que dispõe sobre
a condição jurídica do estrangeiro, revogada parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 941
(este último, revogado pelo Estatuto dos Estrangeiros).
pág. 62
267) Quem é considerado estrangeiro, perante a lei brasileira?
R.: Estrangeiro, perante a lei brasileira, é quem tenha nascido fora do território
do Brasil, e que não tenha adquirido nacionalidade brasileira por qualquer das formas
previstas na Constituição Federal; será estrangeiro, também, aquele que, embora nascido
no Brasil, seja filho de pais estrangeiros a serviço de seu país de origem.
268) Qual o tratamento jurídico dado aos estrangeiros residentes no Brasil?
R.: A lei brasileira prevê tratamento jurídico igual, em princípio, entre os estrangeiros
residentes no Brasil e os brasileiros, natos ou naturalizados, principalmente quanto
aos direitos e deveres no plano cível.
269) Qual o tratamento dispensado aos portugueses com residência permanente no país,
relativamente aos direitos políticos?
R.: Segundo dispõe o art. 12, II, b, § 1.º, da CF (com a redação dada pela ECR n.º
3/94) aos portugueses com residência permanente no Brasil, e desde que haja reciprocidade
em favor dos brasileiros, serão concedidos os mesmos direitos inerentes aos brasileiros
natos, salvo determinados casos, especialmente ressalvados pela Constituição, tais
como a eleição para cargos como o de Presidente da República ou de Ministro do STF;
na prática, os direitos concedidos aos portugueses aqui residentes são os mesmos dos
brasileiros naturalizados.
270) Dar exemplos de direitos limitados, regulados especificamente ou negados a
estrangeiros.
R.: A CF brasileira limita aos estrangeiros a aquisição e o arrendamento de propriedade
rural (art. 190), regula especificamente os investimentos de capital estrangeiro e
a remessa de lucros para o exterior (art. 172) e veda a que estrangeiros recebam concessão
ou autorização para a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento de
energia hidráulica (art. 176, § 1.º, e § 4.º, alterado este último parágrafo pela
EC n.º 6/95) e também que sejam proprietários de empresa jornalística e de radiodifusão
(art. 222).
pág. 63
271) Qual a obrigação imposta ao brasileiro, não exigida do estrangeiro, no Brasil?
R.: Para o nacional, é obrigatório o alistamento militar, enquanto que o estrangeiro
não tem essa obrigação.
V.2. CIDADANIA. DIREITOS POLÍTICOS
272) Em que consiste a cidadania?
R.: Cidadania é o conjunto de direitos do indivíduo (cidadão) no plano político, que
lhe permite votar e assumir cargo eletivo, interferindo, dessa forma, no processo
governamental.
273) Qual a diferença entre nacionalidade e cidadania?
R.: Nacionalidade é o vínculo entre o indivíduo e determinado território; cidadania
é o vínculo entre o indivíduo e determinado Estado. Assim, a nacionalidade é condição
necessária da cidadania, mas não suficiente.
274) De que formas pode ser exercida a cidadania?
R.: A cidadania pode ser exercida de forma ativa (que consiste em poder votar, escolher
os governantes) ou de forma passiva (que consiste em poder ser eleito); somente pode
exercer a cidadania passiva quem for, também, cidadão ativo.
275) De que forma adquire o brasileiro o status de cidadão ativo?
R.: O brasileiro pode adquirir o status de cidadão ativo aos 16 anos; aos maiores
de 18 e menores de 70 anos obriga a lei a inscrição como eleitor e o voto (CF, art.
14, § 1.º, I e II, b).
276) O cidadão português poderá inscrever-se como eleitor?
R.: Sim, desde que tenha residência permanente no Brasil, e haja reciprocidade com
relação ao brasileiro, isto é, que ao brasileiro residente em Portugal, seja, também,
garantido o direito de inscrever-se como eleitor (CF, art. 12, § 1.º).
277) Para quem é facultativo tornar-se cidadãos ativos?
R.: A CF, art. 14, II, a, b, e c, dispõe que podem tornar-se cidadãos ativos,
facultativamente, os analfabetos, os maiores de 70 anos, e os maiores de 16 e menores
de 18 anos.
pág. 64
278) Quem está proibido de inscrever-se como eleitor?
R.: Não podem se inscrever como eleitores, isto é, não podem exercer a cidadania ativa:
a) os menores de 16 anos; b) os conscritos, durante o período de serviço militar
obrigatório; e c) os estrangeiros (CF, art. 14, §§ 1.º, II, c e 2.º). Desde a EC n.º
25/85, não mais se proíbe ao analfabeto que vote.
279) Quem pode exercer a cidadania passiva?
R.: Podem exercer a cidadania passiva, isto é, são elegíveis (CF, art. 14, § 3.º,
I a VI), na forma da lei, aqueles que preencherem as seguintes condições: a) ter
nacionalidade brasileira; b) estar em pleno gozo de seus direitos políticos; c) estar
em situação regular perante o serviço militar; d) estar domiciliado na circunscrição
eleitoral onde se candidatar; e) estar filiado a partido político legalizado; e e)
ter as idades mínimas para cada cargo eletivo. Os Senadores, os Deputados Federais,
os Deputados Estaduais e os vereadores podem ser reeleitos indefinidamente. Além disso,
por força da EC n.º 16, de 04.06.1997, podem o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos reeleger-se uma única vez.
280) Quais as idades mínimas exigidas para a candidatura aos cargos eletivos no Brasil?
R.: Segundo o art. 14, VI, as idades mínimas para poder ser eleito, no Brasil são:
a) Presidente, Vice-Presidente da República e Senador: 35 anos; b) Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal: 30 anos; c) Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito e Vice-Prefeito: 21 anos; d) Vereador: 18 anos.
281) Quem está proibido de exercer a cidadania passiva?
R.: Não podem exercer a cidadania passiva, isto é, são inelegíveis: a) aqueles que
não preencherem as condições exigidas no art. 14, § 3.º, I a VI; b) os inalistáveis;
c) os analfabetos (CF, art. 14, § 4.º); e d) o cônjuge e os parentes consangüíneos
ou afins do titular, no território de sua jurisdição, de Presidente da República,
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido,
ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito (art. 14, § 7.º). Segundo o art. 14,
§ 9.º, (modificado pela ECR n.º 4/94), lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação.
pág. 65
282) O militar alistável poderá exercer a cidadania passiva?
R.: Sim, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) se contar menos de 10 anos
de serviço, deverá afastar-se da atividade; b) se contar mais de 10 anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato
da diplomação, para a inatividade (CF, art. 14, § 8.º, I e II).
283) De que forma podem os estrangeiros adquirir direitos políticos, no Brasil?
R.: Somente após a naturalização podem os estrangeiros adquirir direitos políticos
(isto é, a cidadania) no Brasil, que são exclusivos dos brasileiros natos ou
naturalizados.
284) Citar alguns dos direitos políticos de que os estrangeiros passam a gozar, após
o processo de naturalização.
R.: Adquirem os estrangeiros, após a naturalização, inúmeros direitos políticos, tais
como os de: votar e ser votado; pertencer a partido político; ser servidor público;
alistar-se nas Forças Armadas.
285) Que cargos eletivos são privativos de brasileiros natos?
R.: Somente brasileiros natos podem exercer os cargos de: a) Presidente e Vice-Presidente
da República; b) Presidente da Câmara dos Deputados; c) Presidente do Senado Federal;
d) Ministro do STF; e) carreira diplomática; e f) oficial das Forças Armadas (CF,
art. 12, § 3.º, I a VI).
286) Como poderá o brasileiro perder seus direitos políticos de forma definitiva?
R.: Nos termos do art. 15 da CF, somente poderá o brasileiro perder seus direitos
políticos de forma definitiva: a) se decisão judicial transitada em julgado cancelar
sua naturalização; ou b) por recusa em cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa, nos termos do art. 5.º, VIII (invocar crença religiosa ou convicção
religiosa ou política para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei).
287) Como poderá o brasileiro perder os direitos políticos de forma temporária?
R.: Nos termos do art. 15 da CF, poderá o brasileiro perder seus direitos políticos
de forma temporária (a denominada suspensão): a) por incapacidade civil absoluta;
b) por força de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
e c) por improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4.º.
pág. 66
288) Que conseqüências têm a perda definitiva e a suspensão dos direitos políticos?
R.: Perdidos definitivamente ou suspensos os direitos políticos, será privado o
indivíduo: a) da condição de cidadão, ou seja, não poderá votar nem ser votado; b)
do cargo que esteja ocupando, cujo preenchimento seja exclusivo de cidadão; e c) do
mandato representativo, caso tenha sido eleito.
289) Como poderá o brasileiro, uma vez perdidos seus direitos políticos, recuperá-los?
R.: Se a perda for definitiva, a recuperação dos direitos políticos dependerá de
iniciativa do interessado, que deverá fazer prova do cumprimento da exigência legal,
cujo descumprimento motivou a perda; se for temporária, a recuperação dos direitos
políticos independerá de iniciativa do interessado, que os recuperará de forma
automática, cessada a causa da perda ou por decurso de prazo.
V.3. ASILO POLÍTICO. EXTRADIÇÃO. EXPULSÃO. DEPORTAÇÃO. REPATRIAMENTO. BANIMENTO
290) Em que consiste o asilo político?
R.: Asilo político é o instituto de Direito Internacional, fundado nos direitos humanos,
e erigido à condição de princípio basilar das relações internacionais do Brasil (CF,
art. 4.º, X), que consiste em permitir a entrada do estrangeiro, em território nacional,
sem a necessidade da observância dos requisitos de ingresso, em razão de perseguição,
em seu país de origem, por motivos políticos, ideológicos ou religiosos.
291) Em que consiste a extradição?
R.: Extradição é a entrega, por um Estado a outro, de indivíduo, acusado de prática
de delito, ou já condenado perante a Justiça de Estado estrangeiro, competente para
julgá-lo e puni-lo, mediante solicitação do segundo ao primeiro.
pág. 67
292) A quem compete legislar sobre extradição?
R.: Compete privativamente à União legislar sobre extradição, conforme o art. 22,
XV da CF de 1988.
293) Qual a instância do Poder Judiciário competente para processar e julgar o pedido
de extradição formulado por Estado estrangeiro?
R.: Nos termos do art. 102, I, g, da CF, compete ao STF processar e julgar originariamente
a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
294) Caberá extradição de estrangeiro, acusado de crime político em seu país de origem?
R.: Não. Será denegado o pedido de extradição de estrangeiro, acusado de crime político
em seu país de origem, pois essa acusação poderá estar ocultando verdadeira intenção
de perseguição ao indivíduo; ainda que haja delito comum envolvido, será este absorvido
pelo crime político, não ensejando extradição.
295) Em que consiste a expulsão?
R.: Expulsão é o fato administrativo que consiste na retirada forçada de estrangeiro
do território nacional, motivada pela prática de atos que atentem contra a ordem interna
ou as relações internacionais do Estado que as promove.
296) A quem compete legislar sobre expulsão?
R.: Compete privativamente à União legislar sobre expulsão, conforme o art. 22, XV,
da CF de 1988.
297) Quem deverá decidir sobre a expulsão de estrangeiro do território brasileiro?
R.: Compete ao Presidente da República decretar a expulsão de estrangeiro (ou revogá-la)
do território brasileiro, estando o decreto sujeito ao exame de seus pressupostos
legais e ao controle de constitucionalidade, por parte do Poder Judiciário.
298) Em que casos não poderá ser expulso o estrangeiro que praticou atos que tornam
sua presença no Brasil, inconveniente?
R.: Não será expulso o estrangeiro que tenha praticado atos atentatórios à ordem interna
ou às relações internacionais do Brasil nos seguintes casos: a) quando a expulsão
implicar extradição não admitida pelo direito brasileiro; b) se o estrangeiro for
casado há mais de cinco anos com cônjuge brasileiro, do qual não esteja divorciado
ou separado, de fato ou de direito; ou c) se o estrangeiro tiver filho brasileiro
sob sua guarda ou que dele dependa economicamente.
pág. 68
299) Qual a diferença entre extradição e expulsão?
R.: A extradição deve ser feita pelo Brasil, depois de solicitada por Estado estrangeiro,
motivada por prática de delito ocorrido fora do território brasileiro, e decidida
em processo judicial, pelo STF; a expulsão é ato administrativo, fundamentado em prática
de delito ocorrido dentro do território brasileiro, que independe de solicitação de
outro Estado, e decidida sua conveniência e oportunidade pelo Presidente da República.
300) O que é deportação?
R.: Deportação é a retirada forçada de estrangeiro do território nacional, por parte
da autoridade de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, motivada por sua entrada
ou permanência de forma irregular no país.
301) Para onde deverá ser deportado o estrangeiro que entrar ou permanecer em território
brasileiro de forma irregular?
R.: O estrangeiro que entrar ou permanecer em território brasileiro de forma irregular
será deportado para o país de origem, ou para o país da última procedência, ou ainda,
para qualquer país que se disponha a acolhê-lo.
302) Caso não seja possível proceder à deportação, ou se o estrangeiro demonstrar
periculosidade, qual deverá ser o procedimento?
R.: Nesses casos, deverá ser decretada a expulsão do estrangeiro do território
brasileiro.
303) Qual a diferença entre extradição/expulsão e deportação?
R.: Extradição e expulsão encontram fundamento legal na prática de delito, ocorrido
respectivamente, fora ou dentro do Brasil; na deportação não há falar em delito, sendo
esta motivada por irregularidade quanto às normas de entrada ou de permanência do
estrangeiro em território brasileiro.
pág. 69
304) O que é repatriação?
R.: Repatriação é a retirada forçada do estrangeiro clandestino ou impedido de entrar
no País, identificado no momento da entrada no território nacional, às custas do
transportador.
305) Quais as diferenças entre deportação e repatriação?
R.: Na deportação, o estrangeiro já se encontra no país, e é efetuada com recursos
do próprio deportando (se for comprovado que disponha de recursos para tal), do
transportador ou de terceiros (se for possível identificar quem deva ou possa fazê-lo),
mas, se nenhum destes puder pagar, ou se não se identificar o transportador responsável
pela entrada, ou ainda, terceiro que se responsabilize, os custos correrão por conta
da União; o processo de repatriação inicia-se no momento da tentativa de entrada do
estrangeiro, e os custos correm por conta do transportador, que é imediatamente
identificável.
306) Que diplomas legais regulam o asilo político, a extradição, a expulsão, a deportação
e a repatriação?
R.: Os principais diplomas legais são a Constituição Federal e a Lei n.º 6.815, de
19.08.1980, alterada pela Lei n.º 6.964, de 09.12.1981, a Instrução de Serviço n.º
03, de 17.08.1990, além de tratados e convenções internacionais dos quais é signatário
o Brasil.
307) Quais dos seguintes institutos são aplicáveis a brasileiros, no Brasil: asilo
político, extradição, expulsão, deportação ou repatriação?
R.: Aos brasileiros natos não se aplica nenhum desses institutos; aos brasileiros
naturalizados, aplica-se somente a extradição, em caso de crime comum, praticado antes
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, na forma da lei (CF, art. 5.º, LI).
308) O que é banimento?
R.: Banimento (também conhecido como degredo) é a retirada forçada do nacional do
território de seu país de origem.
309) O ordenamento jurídico brasileiro autoriza o banimento?
R.: Não. O banimento é pena expressamente vedada pela CF, art. 5.º, XLVII, d.
CAPÍTULO VI - O PODER LEGISLATIVO E SUAS TAREFAS
VI.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
310) Qual a atribuição do Poder Legislativo, segundo a doutrina clássica?
R.: A doutrina clássica de concepção do Estado (Montesquieu), que atribui a cada um
dos Poderes funções determinadas, prevê que ao Poder Legislativo cabe exclusividade
no estabelecimento de regras de direito gerais, abstratas e impessoais (isto é, leis),
que devem ser observadas por toda a sociedade.
311) Por que a doutrina clássica não pode ser aplicada rigidamente ao Estado atual?
R.: As Constituições rígidas não delegavam funções de um Poder a outro, mas, em face
das crescentes exigências sócio-econômicas da sociedade atual, relativas a questões
cada vez mais complexas, não tem mais o Parlamento a necessária agilidade para
atendê-las; assim, é freqüente a delegação dos poderes que o Legislativo não consegue
desempenhar, como, por exemplo, a edição de regulamentos administrativos por parte
do Poder Executivo. Há uma evidente crise no Legislativo, e conseqüente fortalecimento
do Executivo.
312) Quais as formas existentes de organização do Legislativo?
R.: Existem, basicamente, duas formas de organização do Legislativo, o unicameral
(utilizado somente em países de pequeno território e população reduzida, como
Liechtenstein e Luxemburgo) e o bicameral, em que duas Casas Legislativas, atuando
de forma complementar e conjunta, desempenham as funções típicas desse poder.
pág. 72
313) De que espécies pode ser o bicameralismo?
R.: O bicameralismo pode ser aristocrático, federal, sistemático (ou de moderação)
e técnico.
314) Em que consiste o bicameralismo aristocrático?
R.: Bicameralismo aristocrático é o sistema em que uma das Câmaras representa a nobreza,
um modelo que vigorou até o século XIX, do qual é exemplo a Câmara dos Lordes, da
Grã-Bretanha, estando, atualmente, em desuso; tem força política por causa da tradição
da Coroa, mas juridicamente sua influência é cada vez mais reduzida.
315) Em que consiste o bicameralismo federal?
R.: Bicameralismo federal é o sistema em que uma das Casas representa os Estados Federados
(Câmara Alta) e a outra, o povo (Câmara Baixa), modelo encontrado, atualmente, em
todos os Estados federais.
316) Em que consiste o bicameralismo sistemático?
R.: Bicameralismo sistemático (ou de moderação) é o sistema em que uma das Casas tempera
os impulsos da outra, atuando como contrapeso, modelo seguido, por exemplo, pela França
e pela Itália, com o papel moderador desempenhado pelos respectivos Senados.
317) Em que consiste o bicameralismo técnico?
R.: Bicameralismo técnico é o sistema em que uma das Casas desempenha assessoria técnica
especializada.
318) O que é lei?
R.: Lei é ato normativo formal e escrito, aprovado e editado pelo Parlamento, de caráter
geral e abstrato, que estabelece direitos e obrigações, indicando a forma de atuação
do Estado, estabelecendo o âmbito e os limites da atuação estatal, e cujo conteúdo
reflete a concepção de justiça da maioria parlamentar; dito de outra forma: é a declaração
solene da norma jurídica feita pelo Poder competente.
319) Existem outras regras jurídicas válidas, além da lei, que regulam a conduta das
pessoas?
R.: Sim. Além da lei, existem outros mecanismos que disciplinam da conduta, denominados
equivalentes funcionais reguladores, dentre os quais podem ser mencionados: a autonomia
contratual da vontade, o mercado (no plano econômico), as soluções comunitárias de
conflitos, e as barganhas políticas.
pág. 73
320) O que são normas-regra?
R.: Normas-regra são aquelas em que o legislador prescreve e disciplina condutas,
ou instrumenta a organização de entidades e de atividades; seguem um critério de
efetividade.
321) O que são normas-objetivo?
R.: Normas-objetivo são aquelas em que o legislador determina resultados concretos
a alcançar, isto é, fins a perseguir; seguem um critério finalístico.
322) Como se classificam as leis, quanto à abrangência?
R.: Classificam-se as leis, quanto à abrangência, em leis gerais, especiais e singulares.
323) O que é lei geral?
R.: Lei geral, que é a regra, é a norma jurídica dotada de abrangência máxima,
caracterizando-se pela impessoalidade; na órbita federal, temos, por exemplo, o Código
Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, etc.
324) O que é lei especial?
R.: Lei especial é a norma jurídica que enquadra classes ou categorias de pessoas,
como, por exemplo, o Estatuto da OAB, o Estatuto dos Funcionários Públicos da União,
etc.
325) O que é lei singular?
R.: Lei singular é a norma jurídica que incide sobre uma única pessoa, ou sobre um
número restrito de pessoas, como, por exemplo, lei que define os crimes de
responsabilidade do Presidente da República.
326) Que espécies de leis existem, no Brasil?
R.: Além das leis constitucionais, existem, no Brasil, leis ordinárias, leis
complementares e leis delegadas.
pág. 74
327) O que é lei ordinária?
R.: Lei ordinária é a norma infraconstitucional que não necessita de maioria parlamentar
absoluta para ser aprovada.
328) O que é lei complementar?
R.: Lei complementar é uma espécie de regra jurídica que, na hierarquia dos atos
normativos, situa-se entre a norma constitucional e a lei ordinária, não ostentando
a rigidez das primeiras, nem podendo ser revogadas pela segunda, e cuja aprovação
depende de maioria parlamentar absoluta.
329) Quais as conseqüências da posição da lei complementar, na hierarquia dos atos
normativos?
R.: As conseqüências da posição da lei complementar, na hierarquia dos atos normativos,
isto é, situada entre a norma constitucional e a lei ordinária são: a) a lei complementar
não pode contrariar a Constituição vigente, sob pena de ser inválida, inconstitucional;
b) lei ordinária e lei delegada não podem contrariar lei complementar.
330) Qual a natureza jurídica da lei complementar?
R.: Considera-se a lei complementar como ato complexo desigual, pois conta com a
participação do Presidente da República (que pode, inclusive, ter a iniciativa para
sua elaboração) e também do Congresso Nacional, mas só se aperfeiçoa quando a vontade
do Parlamento coincide com a do Presidente da República ou, caso não coincidam essas
vontades, deve ser o veto do Presidente suprido por meio de novo ato complexo parlamentar.
331) Qual o quorum necessário para a aprovação de lei complementar?
R.: Segundo a CF, art. 69, a lei complementar deverá ser aprovada por maioria absoluta
em cada Casa do Congresso Nacional.
332) Qual o rito legislativo para a elaboração de lei complementar.
R.: O rito legislativo para a elaboração de lei complementar é o mesmo seguido para
a elaboração da lei ordinária, exceto quanto ao quorum, que deve ser qualificado (maioria
absoluta).
pág. 75
333) O que é lei delegada?
R.: Lei delegada é ato normativo elaborado e editado por comissão especial do Congresso
Nacional, por comissão da Câmara dos Deputados, por comissão do Senado Federal ou
pelo Presidente da República, em virtude de autorização concedida pelo Poder
Legislativo, e dentro dos limites por ele impostos.
334) Qual a natureza da lei delegada?
R.: Considera-se a lei delegada, quanto ao conteúdo e eficácia, ato primário, pois
deriva imediatamente da Constituição, embora por ela condicionado, e estabelece normas
que se situam no primeiro nível de eficácia; quanto à formalização, no entanto, pode
ser classificada como ato secundário, pois depende de ato primário do Congresso Nacional,
que efetiva a delegação e impõe limites.
335) Como é autorizada a delegação?
R.: A delegação é sempre autorizada por meio de Resolução, que especificará seu conteúdo
e os termos de seu exercício, e que deve ter origem: a) no Congresso Nacional, quando
a delegação é ao Presidente da República ou à Comissão Especial do Congresso, podendo
a Resolução ser elaborada em sessão conjunta ou em separado, em cada uma das Casas;
e b) na Câmara Federal ou no Senado, quando a delegação for à comissão de uma Casa
ou de outra, respectivamente.
336) Que matérias são vedadas à delegação?
R.: São vedadas à delegação as seguintes matérias: I) de forma expressa, indica a
CF, art. 68, § 1.º, I, II e III, os atos de competência exclusiva do Congresso e os
atos de competência privativa da Câmara ou do Senado, a matéria reservada à lei
complementar nem a legislação sobre: a) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros; b) nacionalidade, cidadania, direitos
individuais, políticos e eleitorais; c) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias
e orçamentos; II) de forma implícita, e mediante interpretação do art. 150, I, que
veda exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça, conclui-se que matéria
tributária não pode ser objeto de delegação ao Executivo.
pág. 76
337) Poderá o Legislativo editar lei ordinária, objeto da mesma matéria, durante o
prazo de vigência da delegação?
R.: Sim. A delegação é meramente uma habilitação concedida a outro Poder, mas que
não retira do Legislativo qualquer parcela de seu próprio poder.
338) Poderá o Legislativo revogar a delegação, durante o prazo de sua vigência?
R.: Sim. O Poder delegante poderá desfazer a delegação, se lhe parecer conveniente,
porque continua a ter a faculdade de praticar atos de sua competência.
339) Qual a principal força do Poder Legislativo?
R.: Antes mesmo da concepção de Estado moderno, já tinha o Parlamento relevante poder
financeiro, na medida em que tem, antes como agora, competência para instituir tributos,
autorizar gastos públicos e fiscalizar a Administração Pública.
VI.2. A FUNÇÃO FISCALIZADORA DO PARLAMENTO. OS TRIBUNAIS DE CONTAS. AS COMISSÕES
PARLAMENTARES
340) De que forma exerce o Parlamento sua função físcalizadora da Administração Pública?
R.: A fiscalização da Administração Pública é efetuada por meio do Tribunal de Contas,
órgão especializado, que examina a realização do orçamento aprovado e a aplicação
do dinheiro por parte dos órgãos encarregados de efetuar as despesas previstas.
341) Qual o fundamento jurídico que justifica a existência de órgãos de fiscalização,
tais como o Tribunal de Contas?
R.: O fundamento jurídico que justifica a existência de órgãos fiscalizadores é o
principio da obrigatoriedade de prestação de contas da Administração, direta e indireta,
encontrado na CF, art. 34, VII, c.
342) Como surgiu o Tribunal de Contas, no Brasil?
R.: O Tribunal de Contas é criação do Governo Provisório Republicano, por meio do
Decreto n.º 966-A, de 07.11.1890, elaborado por Rui Barbosa e que passou a constar
do texto constitucional a partir da primeira Constituição da República, de 1891.
pág. 77
343) Em que esferas conta o Legislativo com Tribunais de Contas?
R.: O Legislativo conta com Tribunais de Contas da União (TCU), dos Estados (TCE),
e do Distrito Federal, além de Tribunais de Contas nos Municípios de São Paulo e Rio
de Janeiro (TCM).
344) Qual a natureza jurídica do Tribunal de Contas?
R.: O Tribunal de Contas tem natureza jurídica de órgão auxiliar do Poder Legislativo,
e é a ele funcionalmente ligado (e não ao Poder Judiciário, apesar do nome "Tribunal");
o Tribunal de Contas não tem jurisdição (juris dicere, dizer o Direito, distribuir
Justiça), que é própria e exclusiva do Poder Judiciário, com o qual não tem qualquer
vinculação. Assim, é incorreto dizer-se que o Tribunal de Contas "julga". Ele apenas
"aprecia" as contas de determinado órgão, sempre adotando as posições do Legislativo,
emitindo pareceres de cunho técnico.
345) Quais as garantias constitucionais concedidas ao Tribunal de Contas da União,
para garantir sua independência orgânica?
R.: Ao Tribunal de Contas da União, assegura a CF o exercício das mesmas competências
previstas para os Tribunais do Poder Judiciário, conforme consta do art. 96, tais
como: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos; b) organizar
suas secretarias e serviços auxiliares; c) prover os cargos administrativos, por
concurso público; d) propor ao Congresso Nacional a criação e a extinção de cargos
e a fixação de vencimentos de seus membros e de serviços auxiliares.
346) Quais os privilégios constitucionais garantidos aos Ministros do TCU?
R.: A CF assegura aos Ministros do TCU as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos
e vantagens dos Ministros do STJ, além da garantia de aposentadoria após somente 5
anos de efetivo exercício do cargo; têm, também, os mesmos impedimentos dos Ministros
do STJ.
pág. 78
347) Quais os requisitos a que devem satisfazer os Ministros do TCU?
R.: O TCU, sediado no Distrito Federal, é composto por 9 Ministros nomeados dentre
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: a) ter mais de 35 e menos de 65
anos de idade; b) idoneidade moral e reputação ilibada; c) notórios conhecimentos
jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; e d) mais
de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no item anterior (art. 73, § 1.º).
348) Como são escolhidos os Ministros do TCU?
R.: Os Ministros do TCU são escolhidos: a) um terço pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do MP
junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios
de antigüidade e merecimento; e b) dois terços pelo Congresso Nacional.
349) Em que consiste a fiscalização exercida pelo Congresso Nacional sobre a União
e entidades da administração direta e indireta?
R.: Segundo o art. 70 da CF, cabe ao Congresso Nacional a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia das receitas, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
350) Quem estará sujeito à prestação de contas perante o Congresso Nacional?
R.: Segundo o art. 70, parágrafo único, da CF, estará sujeita à prestação de contas
qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome destas, assuma obrigações de natureza pecuniária.
351) Citar três atribuições do Tribunal de Contas da União.
R.: Dentre as atribuições do TCU, elencadas no art. 71 da CF, podem ser citadas as
seguintes: a) apreciar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República;
b) julgar (rectius: apreciar) as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público; e c) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
352) Qual a estrutura e composição dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal e dos Tribunais de Conselhos e Contas dos Municípios?
R.: De modo geral, aplicam-se, no que couber, as normas estabelecidas na Seção IX
do Capítulo I da CF (arts. 70 a 75), quanto à organização, composição e fiscalização
desses órgãos; as Constituições Estaduais disporão sobre seus respectivos Tribunais
de Contas, compostos por 7 Conselheiros.
353) Como é efetuado o controle das contas municipais, onde não há Tribunal de Contas
do Município, isto é, excetuados São Paulo e Rio de Janeiro?
R.: Em alguns Estados, o controle é efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado a que
pertence o Município; em outros, criou-se órgão estadual para esse fim, denominado
Conselho de Contas Municipais.
354) De que forma exerce o Parlamento controle político sobre os órgãos do governo?
R.: Os Tribunais de Contas auxiliam o Parlamento quanto ao aspecto técnico da
fiscalização; o Parlamento exerce controle político sobre o governo, recorrendo
freqüentemente aos pareceres técnicos emitidos pelos Tribunais de Contas, sendo esse
controle relevante no processo político do país. No parlamentarismo são habituais
as moções de censura ou de desconfiança ao Governo que levam, se aprovadas, à demissão
do Primeiro-Ministro ou de todo o Gabinete; no Presidencialismo, esse controle é
exercido, principalmente, por meio das Comissões Parlamentares de Inquérito-CPI's.
pág. 80
355) De que espécies podem ser as Comissões criadas no Senado e na Câmara Federal?
R.: As Comissões criadas podem ser temporárias (ou especiais), ou permanentes conforme
o prazo para seu funcionamento seja ou não limitado.
356) O que são as Comissões Parlamentares de Inquérito-CPI's?
R.: As CPI's são comissões temporárias, constituídas pela Câmara, pelo Senado, ou
em conjunto, destinadas à apuração de fatos determinados, e que têm amplo poder de
investigação, visando ao encaminhamento de suas conclusões ao Plenário, para a adoção
de providências, ou ao Ministério Público, para que apure as responsabilidades dos
infratores.
357) Como podem ser criadas as CPI's?
R.: Existe liberdade para a criação de tantas CPI's quantas necessárias, desde que
atendam às seguintes exigências: a) pelo menos um terço dos membros de cada Casa,
ou de ambas, deverá assinar o requerimento de criação, conforme a CPI seja de uma
só delas ou mista; b) o objeto da criação da CPI deve ser a apuração de fato ou de
fatos determinados; e c) a CPI deve funcionar por prazo determinado, sendo, no entanto,
possível prorrogá-lo.
358) Qual o diploma legal que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito?
R.: O diploma legal que dispõe sobre as CPI's é a Lei n.º 1.579, de 18.03.1952.
359) Qual a função das Comissões permanentes?
R.: As Comissões permanentes, criadas em cada Casa, assegurada a representação
proporcional dos partidos ou blocos partidários, têm suas funções determinadas, em
razão da matéria, pelo Regimento Interno ou pelo ato de criação. Cabe-lhes, por exemplo,
discutir e votar projeto de lei, em determinados casos, realizar audiências públicas
com entidades da sociedade civil, e convocar Ministros de Estado para prestar
esclarecimentos sobre suas pastas.
360) Quais as atribuições da Comissão parlamentar permanente mista, criada pela CF
de 1988?
R.: A CF de 1988 criou (art. 166, § 1.º) uma Comissão permanente composta por membros
do Senado e da Câmara Federal, e considerada a mais importante do Congresso Nacional,
por suas atribuições, que são, principalmente: a) examinar e emitir parecer sobre
projetos de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias (LDO), de orçamento
anual e de créditos adicionais; b) examinar e emitir pareceres sobre os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos na CF e exercer o acompanhamento e
fiscalização orçamentária, independentemente da atuação das demais Comissões; e c)
solicitar à autoridade governamental responsável que preste esclarecimentos, no prazo
de 5 dias, sobre despesas não autorizadas.
pág. 81
361) O que são Comissões representativas?
R.: Comissões representativas são aquelas que funcionam durante o recesso do Congresso
Nacional (16 de dezembro até 31 de janeiro para a primeira legislatura e até 14 de
fevereiro, nas demais). Compostas por membros das duas Casas, eleitos durante a última
sessão ordinária do período legislativo, e cuja proporção deverá espelhar a
representação de cada partido no Congresso; têm por função representar o Congresso
Nacional durante o recesso, sendo suas atribuições e a composição definidas no regimento
comum.
362) Para que serve o recesso parlamentar?
R.: Historicamente, servia o recesso parlamentar para que os membros do Parlamento
retornassem às regiões eleitorais de origem, reforçando a legitimidade de seus mandatos,
pelo contato com as bases; hoje, o recesso atende a outras necessidades, inclusive
como férias dos parlamentares.
363) O que é legislatura?
R.: Legislatura é o período de 4 anos, contados a partir do início do mandato dos
deputados federais e que termina no dia anterior ao início do próximo mandato, e que
marca o espaço de tempo que caracteriza cada Congresso.
364) Em que ocasiões ou eventos desenvolve o Congresso Nacional suas atividades, durante
determinada legislatura?
R.: Em determinada legislatura, o Congresso Nacional desenvolve suas atividades durante
sessões legislativas (que podem ser ordinárias ou extraordinárias) e reuniões conjuntas
(que podem ser ordinárias e extraordinárias).
pág. 82
365) O que é sessão legislativa ordinária?
R.: Sessão legislativa ordinária é o período anual em que se reúne o Congresso Nacional,
para exercer suas atividades, dividido em duas partes, de 15 de fevereiro a 30 de
junho e de 1.º de agosto a 15 de dezembro.
366) O que é sessão legislativa extraordinária?
R: Sessão legislativa extraordinária é aquela convocada pelo Presidente da República,
ou pelos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ou ainda, pela maioria
dos membros de ambas as Casas.
367) Em que casos pode ser convocada a sessão legislativa extraordinária?
R.: O Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
e a maioria dos parlamentares podem convocar sessão legislativa extraordinária em
casos de urgência ou de interesse público relevante; o Presidente do Senado Federal,
deverá, ainda, proceder à convocação quando da posse do Presidente e do Vice-Presidente
da República, de pedido para a decretação de estado de sítio ou em caso de decretação
de estado de defesa ou de intervenção federal.
368) O que é sessão ordinária?
R.: Sessão ordinária é aquela em que o Congresso Nacional se reúne habitualmente,
de segunda a sexta-feira, sendo disciplinada pelos Regimentos Internos da Câmara e
do Senado.
369) O que é sessão extraordinária?
R.: Sessão extraordinária é aquela convocada por qualquer das Casas do Congresso
Nacional, para que aprecie determinada matéria, ou que conclua a apreciação de matéria
que já tenha iniciado a discutir, e que funciona em horário diferente do das sessões
ordinárias.
370) O que são reuniões conjuntas?
R.: Reuniões conjuntas são sessões em que os membros da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal exercem trabalhos legislativos, cabendo a direção à Mesa do Congresso
Nacional (art. 57, § 5.º), presidida pelo Presidente do Senado.
pág. 83
371) Que matérias devem ser objeto das reuniõs conjuntas?
R.: A CF Federal prevê, no art: 57, § 3.º, as seguintes hipóteses: a) inaugurar a
sessão legislativa, em 15 de fevereiro de cada ano; b) elaborar o regimento comum;
c) regular a criação de serviços comuns às duas Casas; d) receber o compromisso do
Presidente e do Vice-Presidente da República; e) conhecer do veto e sobre ele deliberar;
f) deliberar sobre medidas provisórias; e g) discutir e votar o Orçamento.
372) Quais são as atribuições privativas da Câmara dos Deputados?
R.: Segundo o art. 51 da CF, compete privativamente à Câmara dos Deputados: a) autorizar,
por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; b) proceder à tomada de contas
do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de
60 dias após a abertura; c) elaborar seu Regimento Interno; e d) dispor sobre sua
organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos,
empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos no art. 27, § 2.º, da CF (modificado pela EC n.º 1, de
31.12.1992) e na LDO.
373) Quais as principais atribuições privativas do Senado Federal?
R.: O art. 52 elenca, em seus incisos I a XIV, extensa série de atribuições do Senado
Federal, que lhe são privativas, isto é, compete-lhe com absoluta exclusividade,
desempenhar; dentre algumas das mais importantes, podemos citar: a) processar e julgar
o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os
Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com eles; b) autorizar operações
externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; c) dispor sobre limites globais e condições para as operações de
crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal; d)
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF; e e) elaborar seu Regimento Interno.
pág. 84
374) Qual o quorum necessário para que sejam tomadas deliberações na Câmara e no Senado?
R.: De modo geral, o quorum necessário para tomar deliberações é o da maioria simples
de votos dos membros da Câmara ou do Senado; a CF, no entanto, fixa casos em que as
deliberações somente podem ser tomadas por maioria qualificada, que são: a) maioria
absoluta, arts. 55, § 2.º, 66, § 4.º e 69; b) três quintos (60%), art. 60, § 2.º;
e c) dois terços (66,67%), arts. 51, I, 52, parágrafo único e 86.
375) O que é maioria simples?
R.: Maioria simples é a quantidade de votos superior à metade dos votos apurados,
calculada em relação a todos os votos dos efetivamente presentes; aritmeticamente,
é o número inteiro imediatamente superior à metade do número total de votos dos presentes
(não é simplesmente, metade mais um, pois o número total pode ser ímpar, e a metade,
um número fracionário; nesse caso, metade mais um seria, também, número fracionário).
376) O que é maioria absoluta?
R.: Maioria absoluta é a quantidade de votos superior à metade da quantidade total
de eleitores com direito a voto, presentes ou não à votação.
377) O que é maioria relativa?
R.: Maioria relativa é a quantidade de votos superior à metade dos votos apurados
e válidos, calculada em relação a todos os votos.
378) O que é maioria qualificada?
R.: Maioria qualificada é a quantidade de votos traduzida por um número predeterminado
em lei, expressa por uma fração do número total de votos (dois terços, três quintos).
379) Qual a composição do Senado?
R.: No Senado Federal, ou Câmara Alta, cada um dos Estados-Membros e mais o Distrito
Federal tem três representantes cada, eleitos por um período de oito anos; a cada
quatro anos são renovados um terço ou dois terços dos Senadores, sucessivamente.
pág. 85
380) Qual a composição da Câmara Federal?
R.: A composição da Câmara Federal, ou Câmara Baixa, é variável, atribuindo-se a cada
Estado-Membro da Federação e ao Distrito Federal o número mínimo de 8 e máximo de
70 Deputados Federais, sendo as cadeiras distribuídas segundo a proporção de habitantes
do Estado, em relação à do país.
381) Qual a crítica mais freqüente, feita pela doutrina, sobre a distribuição das
cadeiras na Câmara dos Deputados, no Brasil?
R.: A limitação do número de deputados a 70, e o critério da proporcionalidade ao
número de habitantes de cada Estado, provocam distorção na representatividade, pois
um Estado que tenha 400.000 habitantes, terá 8 representantes, enquanto que outro,
com 40.000.000, terá 70. Em outras palavras, no primeiro, 50.000 habitantes são
representados por um Deputado, e no segundo, cada Deputado representará 571.428
habitantes, o que significa que os habitantes do primeiro tem "valor parlamentar"
superior a 12 vezes o valor dos habitantes do segundo.
382) De que forma são eleitos os Deputados?
R.: A cada 4 anos são realizadas eleições para Deputado, admitida a reeleição sem
limitação do número de mandatos consecutivos; computam-se os votos válidos (votos
a cada legenda mais votos em branco), dividindo-se esse número pelo número de cadeiras
a preencher; o resultado é o quociente eleitoral de cada partido. Divide-se o número
de votos recebido por cada partido pelo quociente eleitoral; o resultado é o número
de eleitos. Havendo sobra de votos, soma-se uma unidade ao número de candidatos eleitos
por cada partido, descartando-se os que não atingirem o quociente eleitoral; o resultado
é dividido pelo total de votos dados a cada partido, buscando-se a maior média de
votos, para apontar os eleitos "por legenda", isto é, aqueles que receberão sobras
de votos dadas aos partidos.
VI.3. PROCESSO LEGISLATIVO. A ELABORAÇÃO DA LEI
383) Em que consiste o processo legislativo?
R.: Processo legislativo é o conjunto de atos preordenados (procedimentos), praticados
pelos órgãos pertencentes ao Poder Legislativo, e que têm por objeto a elaboração
normativa, isto é, a produção de normas de Direito.
pág. 86
384) Que espécies de normas de Direito são elaboradas pelo Poder Legislativo?
R.: De acordo com o art. 59 da CF, o Poder Legislativo elabora as seguintes espécies
de normas: a) emendas à Constituição; b) leis complementares; c) leis ordinárias;
d) leis delegadas; e) medidas provisórias; f) decretos legislativos; e g) resoluções.
385) Medidas provisórias são elaboradas pelo Poder Legislativo?
R.: Não. Medidas provisórias são normas jurídicas elaboradas privativamente pelo
Presidente da República (CF, art. 62), adotadas em caso de relevância e urgência,
e imediatamente submetidas ao Congresso Nacional, para que as converta em lei e
discipline as relações jurídicas delas decorrentes.
386) O que ocorrerá se o Congresso estiver em recesso?
R.: Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente, para se
reunir no prazo de cinco dias (art. 62, caput).
387) Que papel cabe ao Congresso na apreciação das medidas provisórias, e quais as
conseqüências de sua atuação?
R.: Se o Congresso Nacional não converter a medida provisória (que, ao ser editada,
já tem força de lei) em lei, dentro de 30 dias após sua publicação, esta perderá sua
eficácia; caso, dentro de 30 dias, a medida provisória seja convertida em lei, caberá
ainda, ao Congresso Nacional, disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.
388) Quais as diferenças entre o antigo decreto-lei e as medidas provisórias?
R.: Tanto o antigo decreto-lei quanto a medida provisória são medidas de lei sujeitas
a uma condição resolutiva, isto é, perdem a eficácia se, decorridos 30 dias da edição,
não forem convertidos em lei. A diferença reside nos efeitos jurídicos de uma e de
outra, quando não ocorre conversão em lei: no caso do decreto-lei, todas as relações
jurídicas dele decorrentes permaneciam válidas; no caso da medida provisória, se não
reeditada ou não convertida em lei, todas as relações jurídicas dela derivadas ficarão
invalidadas.
pág. 87
389) Quais as limitações ao emprego de medidas provisórias?
R.: A Emenda Constitucional n.º 6/95 vedou a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da CF, cuja redação tenha sido alterada por EC a partir de
1995; além disso, somente podem ser disciplinadas por medida provisória, situações
ou matérias que não podem ser delegadas.
390) Leis delegadas são elaboradas mediante processo legislativo?
R.: Não. Embora o art. 59 da CF inclua leis delegadas no processo legislativo, a verdade
é que sua criação é resultado de mero procedimento elaborativo, não se confundindo
sua elaboração com a resolução do Congresso Nacional, especificando seu conteúdo e
o termo de seu exercício, e que outorga a delegação ao Presidente da República, mediante
solicitação, nos termos do art. 68, § 2.º, da CF; essa resolução do Congresso Nacional
é que é resultado de processo legislativo.
391) Quais os atos legislativos típicos, praticados durante o processo legislativo,
visando a elaboração de normas jurídicas?
R.: São atos legislativos típicos, praticados visando a elaboração de normas jurídicas:
a) emendas; b) iniciativa legislativa; c) votação; d) sanção; e) veto; f) promulgação;
e g) publicação.
392) O que são emendas?
R.: Emendas são propostas elaboradas em caráter privativo, pelos membros ou órgãos
da Câmara ou do Senado, destinadas a modificar matéria contida em projetos de lei,
e que têm caráter acessório.
393) O que é a iniciativa legislativa?
R.: Iniciativa legislativa é apresentação de projeto de lei ao Legislativo, qualquer
pessoa ou órgão, atribuindo a lei, às vezes, competência corrente, e às vezes,
competência exclusiva para submeter a matéria ao Parlamento.
394) Citar três casos em que o Presidente da República tem competência exclusiva para
a iniciativa legislativa.
R.: Tem competência exclusiva o Presidente da República para a iniciativa de leis
cuja matéria versa sobre: a) criação e atribuição de Ministérios; b) regime jurídico
dos servidores públicos da União; e c) normas gerais para a organização do MP e da
Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal.
pág. 88
395) Citar três casos em que o Supremo Tribunal Federal tem competência exclusiva
para a iniciativa legislativa.
R.: Tem competência exclusiva o Supremo Tribunal Federal para a iniciativa de leis
cuja matéria verse sobre: a) Estatuto da Magistratura, por meio de lei complementar;
b) criação e extinção de cargos da Magistratura e fixação de vencimentos de seus membros;
e c) proposta orçamentária, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais
Poderes na LDO, por meio de seu Presidente, e com a aprovação dos membros do Tribunal,
nos termos do art. 99, § 2.º, I.
396) Citar dois casos em que os Tribunais Superiores têm competência exclusiva para
a iniciativa legislativa.
R.: Têm competência exclusiva os Tribunais Superiores para a iniciativa de leis cuja
matéria verse sobre: a) alteração do número de membros dos Tribunais inferiores; e
b) criação e extinção de cargos e fixação de vencimentos de seus membros e dos juízes
dos Tribunais inferiores.
397) O que é sanção?
R.: Sanção é o ato legislativo, de exclusiva competência do Presidente da República,
que consiste em aprovação, expressa ou tácita, a projeto de lei aprovado pelo Poder
Legislativo.
398) Quando ocorrerá sanção expressa e sanção tácita?
R: Ocorrerá sanção expressa quando, recebido o projeto de lei aprovado pelo Legislativo,
apuser o Presidente da República sua assinatura; ocorrerá sanção tácita quando, recebido
o projeto de lei, não for assinado durante os 15 dias úteis subseqüentes ao recebimento.
399) O que é veto?
R.: Veto é o ato legislativo, de exclusiva competência do Presidente da República,
que consiste em desaprovação, total ou parcial, de projeto de lei aprovado pelo Poder
Legislativo.
400) Quais os limites ao veto presidencial?
R.: O veto total, evidentemente, refere-se a discordância quanto ao texto integral
do projeto de lei; quando parcial, nos termos do art. 66, § 2.º, deverá o veto abranger
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, isto é, não poderá
recair meramente sobre algumas palavras ou sobre parte de um inciso, por exemplo.
pág. 89
401) Que fundamentos poderá invocar o Presidente da República para vetar projeto de
lei?
R.: Nos termos do art. 66, § 1.º, o Presidente da República poderá vetar o projeto,
no todo ou em parte, com fundamento em sua inconstitucionalidade ou se considerá-lo
contrário ao interesse público.
402) Qual deverá ser o procedimento, se o projeto de lei for vetado, total ou parcialmente?
R.: Vetado parcial ou totalmente o projeto de lei, deverá o Presidente da República
comunicar ao Presidente do Senado Federal, dentro de 48 horas, os motivos do veto.
403) Qual deverá ser o procedimento do Parlamento, após o envio do veto pelo Presidente
da República?
R.: Nos termos do art. 66, § 4.º, o veto deverá ser apreciado em sessão conjunta,
dentro de 30 dias do recebimento, somente podendo ser rejeitado por maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em votação secreta; nos termos do § 6.º do mesmo artigo,
se o Parlamento não deliberar sobre o veto no prazo de 30 dias, deverá ser colocado
na ordem do dia da sessão imediatamente a seguir, sobrestadas quaisquer outras
proposições, até sua votação final.
404) O que deverá ocorrer se o veto não for mantido?
R.: Nos termos do art. 66, § 7.º, se não for mantido o veto, deverá o projeto de lei
ser enviado de volta ao Presidente da República, que deverá promulgá-la dentro de
48 horas.
405) O que deverá ocorrer se o Presidente da República não proceder à promulgação,
dentro do prazo legal de 48 horas?
R.: Se a lei não for promulgada em 48 horas, deverá ser promulgada pelo Presidente
do Senado, dentro de 48 horas; se não o fizer, dentro deste prazo, caberá ao
Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
406) O que é a promulgação da lei?
R.: Promulgação é a comunicação de que a norma jurídica existe e de que é válida (condições
de existência e validade); a autoridade que promulga a lei deve determinar-lhe a
publicação.
pág. 90
407) O que é publicação de uma lei?
R.: Publicação é o ato solene, pelo qual se comunica, por escrito, em jornal oficial,
que uma norma jurídica está em vigor e é eficaz (condições de vigência e eficácia).
408) Estão também as leis delegadas e as medidas provisórias sujeitas a sanção, veto
ou promulgação?
R.: Não. Leis delegadas e medidas provisórias não estão sujeitas a sanção, veto ou
promulgação, cabendo somente edição, mediante publicação oficial.
409) O que é procedimento legislativo?
R.: Procedimento legislativo é ato praticado pelo Poder Legislativo, (cujo conjunto
consiste no processo legislativo), visando a elaboração de projetos de lei e
impulsionando-os em direção à apreciação e à votação final, e a integração do texto,
quando aprovado, no ordenamento jurídico vigente.
410) De que espécies pode ser o procedimento legislativo?
R.: O procedimento legislativo pode ser ordinário, sumário ou especial.
411) Em que consiste o procedimento legislativo ordinário?
R.: Procedimento legislativo ordinário, o mais comum e normalmente o mais demorado,
pois permite muitas oportunidades para manifestações a respeito, das duas Casas, é
aquele destinado à elaboração de leis ordinárias.
412) Quais as fases do procedimento legislativo ordinário?
R.: Costuma-se dividir o procedimento legislativo ordinário em cinco fases: a)
introdutória, em que é apresentado o projeto de lei; b) exame nas comissões permanentes,
que emitem pareceres, emendas ou substitutivos ao projeto; c) discussões, em plenário,
quase sempre na Casa onde se originou o projeto, fase em que o projeto pode receber
emendas; d) decisória, em que o projeto é votado, o que poderá ocorrer em um ou dois
turnos; e e) revisória, em turno único de discussão e votação, quando a Casa, em que
não ocorreu ainda a votação, recebe o projeto de lei aprovado, sem emendas (art. 65,
caput), pela outra Casa.
pág. 91
413) Em que Casa terão início a discussão e a votação dos projetos lei de iniciativa
do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores?
R.: De acordo com o art. 64, caput, da CF, a discussão e a votação desses projetos
de lei terão início na Câmara dos Deputados.
414) O que ocorrerá ao término da revisão pela Casa revisora?
R.: Se a Casa revisora rejeitar o projeto de lei, será arquivado; se o projeto for
aprovado, com ou sem emendas, voltará à Casa iniciadora (art. 65); a Casa na qual
tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República
que, aquiescendo, o sancionará (art. 66, caput).
415) Em que consiste o procedimento legislativo sumário?
R.: Procedimento legislativo sumário é aquele cuja instauração depende de solicitação
do Presidente da República à Câmara dos Deputados, tendo por finalidade a apreciação,
em caráter de urgência, de projetos de lei de sua iniciativa, conforme o art. 64,
§ 4.º, da CF.
416) O que ocorrerá se nem a Câmara dos Deputados nem o Senado Federal se manifestarem,
cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobre a proposição?
R.: Não ocorrendo manifestação de nenhuma das Casas, dentro do prazo de 45 dias, a
proposição será incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos, para que seja votada.
417) O que ocorrerá se o projeto de lei for aprovado pela Câmara, mas o Senado Federal
apresentar emendas?
R.: Neste caso, o projeto de lei retornará à Câmara dos Deputados, que terá 10 dias
de prazo para apreciá-las (art. 63, § 3.º).
418) Em que casos se veda especificamente o procedimento legislativo sumário?
R.: A atual CF veda especificamente o procedimento legislativo sumário a projetos
de Códigos (art. 64, § 4.º), e os prazos desse artigo não correm durante os períodos
de recesso do Congresso Nacional.
pág. 92
419) Em que consiste o procedimento legislativo especial?
R.: Procedimento legislativo especial é o instaurado para a elaboração de emendas
constitucionais, de leis financeiras, de leis delegadas, de medidas provisórias e
de leis complementares.
420) Quais as principais prerrogativas dos congressistas?
R.: A CF, em seu art. 53, estabeleceu que os Deputados e Senadores gozam das seguintes
prerrogativas: a) inviolabilidade: são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos
(caput); b) imunidade: não podem ser presos, exceto em flagrante de crime inafiançável,
nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa (§ 1.º); c) privilégio
de foro: serão criminalmente julgados pelo STF (§ 4.º); d) limitação ao dever de
testemunhar: não terão o dever de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles
receberam informações (§ 5.º); e e) isenção do serviço militar: somente podem ser
incorporados às Forças Armadas se a Casa a que pertence o Parlamentar conceder licença,
mesmo que o parlamentar seja militar ou o país esteja em guerra (§ 6.º).
421) Qual a diferença entre a inviolabilidade e a imunidade?
R.: Inviolabilidade (ou imunidade material) consiste em, ocorrido o fato típico, não
ser ele considerado como antijurídico, deixando, portanto de constituir crime;
imunidade (melhor denominada imunidade formal) consiste em, ocorrido o fato típico,
ser ele considerado antijurídico (e, portanto, crime), mas impedir que seja instaurado
o processo, sem que a Casa a que pertence o parlamentar conceda prévia autorização.
422) O que ocorre em relação ao prazo para a instauração de processo contra o parlamentar
que cometer crime, no caso de indeferimento de licença, ou falta de deliberação, por
parte da Casa a que pertence?
R.: Nesses casos, não fluirá prazo para que seja processado, ficando em suspenso a
prescrição até o término do mandato do parlamentar (§ 2.º).
423) Qual o procedimento, no caso de parlamentar preso em flagrante por crime
inafiançável?
R.: Preso o parlamentar em flagrante, por crime inafiançável, serão os autos remetidos
à Casa à qual pertença, no prazo de 24 horas, para que esta resolva, por meio de voto
secreto da maioria de seus membros, sobre sua prisão e autorize, ou não, a formação
de culpa (§ 3.º).
pág. 93
424) Quais as vedações impostas a Deputados e Senadores, a partir da expedição do
diploma?
R.: As vedações (ou incompatibilidades) impostas a Deputados e Senadores, a partir
da expedição do diploma são (art. 54, I, a e b): a) firmar ou manter contrato com
pessoa jurídica de Direito Público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer
a cláusulas uniformes; e b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive o que seja demissível ad nutum, nas entidades constantes do item anterior.
425) Quais as vedações impostas a Deputados e Senadores, a partir da posse?
R.: As vedações (ou incompatibilidades) impostas a Deputados e Senadores, a partir
da posse são (art. 54, II, a, b, c e d): a) ser proprietários, controladores, ou diretores
de empresa, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de Direito
Público, ou nela exercer função remunerada; b) ocupar cargo ou função de que sejam
demissíveis ad nutum, em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando
o contrato obedecer a cláusulas uniformes; c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades referidas no item anterior; e d) ser titulares de mais de um
cargo ou mandato público eletivo.
426) De que formas pode o parlamentar perder o mandato?
R.: O parlamentar pode perder o mandato por cassação ou por extinção.
427) Em que consiste a cassação do mandato?
R.: Cassação do mandato é o afastamento do cargo do parlamentar, mediante procedimento
político, que se instaura por motivo do cometimento de infração capitulada no art.
54, I (desde a expedição do diploma) ou no art. 54, II (desde a posse) da CF.
428) Em que consiste a extinção do mandato?
R.: Extinção do mandato é a perda da função de deputado ou senador, por decurso do
tempo, ou pela renúncia, por exemplo.
pág. 94
429) Em que casos prevê a CF a perda do mandato parlamentar?
R.: A CF (art. 55) prevê a perda do mandato parlamentar quando o titular: I) infringir
qualquer das proibições do art. 54; II) tiver procedimento declarado incompatível
com o decoro parlamentar; III) deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão
por esta autorizada; IV) perder ou tiver suspensos os direitos políticos; V) tiver
o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos na CF; e VI) sofrer
condenação criminal em sentença transitada em julgado. Visando conferir maior rigor
ao processo que vise ou possa levar à perda do mandato, os efeitos da renúncia do
parlamentar ficarão suspensos até as deliberações finais (ECR n.º 6, de 07.06.1994).
430) O que se considera incompatível com o decoro parlamentar?
R.: Considera-se incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas
asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas;
além disso, o regimento interno das Casas define os casos considerados como incompatíveis
com o decoro parlamentar (art. 55, § 1.º).
431) Quais os casos correspondentes à cassação do mandato e à extinção do mandato
parlamentar, previstos no art. 55 da CF?
R.: Cassação de mandato: I, II e VI; extinção do mandato: III, IV e V.
432) Qual a natureza jurídica das decisões sobre a cassação e a extinção do mandato
parlamentar?
R.: Cassação: natureza desconstitutiva (ou constitutiva-negativa); extinção: natureza
declaratória.
433) Quem deverá decidir sobre a perda do mandato?
R.: A perda do mandato será decidida: I) nos casos dos itens I, II e VI acima, pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa (art. 55, § 1.º); II) nos casos dos itens III, IV
e V, pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.
pág. 95
434) Em que circunstâncias não perderá o mandato, o parlamentar afastado do Parlamento?
R.: Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: I) investido no cargo de Ministro
de Estado, Secretário de Estado, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática
temporária; II) licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar,
sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não
ultrapasse 120 dias por sessão legislativa.
435) Que espécies de direitos são assegurados aos congressistas?
R.: Aos congressistas são assegurados direitos, que podem ser classificados em
genéricos, pois são ligados à condição de parlamentares e sua atividade no Parlamento,
e específicos, que encontram amparo no texto constitucional.
436) Quais os direitos genéricos dos congressistas?
R.: Os congressistas, para poderem exercer livremente seus mandatos, têm inúmeros
direitos, tais como participar das atividades do Poder Legislativo, debatendo matérias
submetidas à Casa a que pertencem ou a comissões parlamentares, solicitar informações,
e votar projetos de lei.
437) Quais os direitos específicos dos congressistas?
R.: A CF dispõe, no art. 49, VII, que compete exclusivamente ao Congresso Nacional,
em cada legislatura, para a legislatura subseqüente, a fixação de remuneração (principal
direito específico) para os Deputados Federais e Senadores, que deve ser idêntica
para ambos.
CAPÍTULO VII - O PODER EXECUTIVO
VII.1 ATRIBUIÇÕES. ESTRUTURAÇÃO DO GOVERNO. MISSÃO DO PODER EXECUTIVO
438) Em que consiste o Poder Executivo?
R.: Poder Executivo é órgão constitucional dotado de poderes, faculdades e perrogativas,
que lhe permitem desempenhar a chefia do Estado, do Governo e da Administração, segundo
a orientação do Poder Legislativo, dada por meio de leis.
439) Quais as missões do Poder Executivo, de acordo com a doutrina clássica?
R.: A doutrina aponta as seguintes missões do Poder Executivo, dentro da concepção
de Estado-gendarme (État-gendarme): a) defesa externa do Estado; e b) manutenção da
ordem interna.
440) Qual a mudança provocada pela transformação do Estado-Gendarme em Estado do
Bem-Estar Social (Welfare State)?
R.: O Welfare State ampliou as tarefas originais do Estado e acresceu-lhe outras,
tais como a direção da vida econômica e financeira do país, criação e administração
de serviços sociais (assistência médica, educação, previdência social); além disso,
o incremento das relações internacionais dos Estados reforçou a importância do Poder
Executivo na vida política interna dos países.
441) É ainda adequada a denominação "Poder Executivo", após a instauração do Welfare
State?
R.: A expressão não é mais inteiramente adequada; a ampliação das atribuições e os
novos e variados campos em que tem efetiva atuação, sugerem que, por ter-se tornado
o poder que realmente governa, mais apropriada seria a denominação "Poder
Governamental", já utilizada pelas Constituições da Itália e da França.
pág. 98
442) Em que consiste a chefia do Estado?
R.: A chefia do Estado consiste em representá-lo internamente, perante o povo, e
externamente, perante a comunidade internacional, como símbolo da unidade nacional,
dos valores e das tradições; no primeiro caso, desempenha, também, função moderadora,
destinada a apaziguar conflitos entre os outros poderes.
443) Em que consiste a chefia do Governo?
R.: A chefia do Governo consiste no exercício do comando da política nacional, orientando
as decisões gerais e dirigindo a máquina administrativa do Estado; para tal, deve
o Chefe de Governo elaborar uma política de ação governamental, estabelecer os meios
para efetivá-la, e dotar os órgãos da Administração de mecanismos que fiscalizem sua
execução, sempre com apoio popular.
444) De que formas pode ser exercido o Poder Executivo?
R.: O Poder Executivo pode ser exercido pelas seguintes formas: a) monocrática, em
que uma única pessoa, Rei, Ditador ou Presidente, exercem o poder; b) dualista, em
que o poder é exercido em conjunto pelo Parlamento e pelo Chefe de Estado (Presidente
ou Primeiro-Ministro); c) colegial, em que o poder é exercido por dois indivíduos,
aos quais são concedidos os mesmos poderes; e d) diretorial, exercido por um Comitê,
como na Suíça.
445) Que espécie de Poder Executivo existe no Brasil?
R.: A doutrina considera que, desde a Proclamação da Independência, sempre foi o Poder
Executivo exercido de forma monocrática, sendo o Presidente da República, ao mesmo
tempo, Chefe de Estado e Chefe do Governo.
446) Quais as atribuições do Presidente da República, no Brasil, como Chefe de Estado?
R.: Como Chefe de Estado, cabem ao Presidente da República, dentre outras, as seguintes
atribuições (CF, art. 84, VII, VIII, XIX, XX, XXI, XXII): a) manter relações com Estados
Estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; b) celebrar tratados,
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; c)
declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado ou referendado pelo
Congresso Nacional; d) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso
Nacional; e) conferir condecorações e distinções honoríficas; e f) permitir, nos casos
previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente.
pág. 99
447) Quais as principais atribuições do Presidente da República, no Brasil, como Chefe
de Governo?
R.: O maior número de atribuições do Presidente da República lhe foram conferidas
devido à sua posição como Chefe de Governo; a CF enumera, como privativas, por exemplo
(art. 84, incisos, I, IV e X): a) nomear e exonerar os Ministros de Estado; b) sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução; e c) decretar e executar a intervenção federal; como passíveis
de delegação (art. 84, incisos VI, XII e XXV): I) dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração, na forma da lei; II) conceder indulto e comutar penas
; e III) promover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.
448) A quem poderá o Presidente da República delegar as atribuições mencionadas nos
incisos VI, XII e XXV do art. 84?
R.: Conforme o art. 84, parágrafo único, poderá o Presidente da República delegá-las
aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da
União, que deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações.
449) Como poderá o Presidente da República elaborar lei delegada?
R.: O Presidente da República poderá elaborar lei delegada mediante delegação do
Congresso Nacional, em resposta à sua solicitação para tal, nos termos do art. 68
da CF.
450) Poderá o Presidente da República elaborar mais de uma lei, sobre a mesma matéria,
durante o prazo de vigência da delegação?
R.: Sim. A delegação fixa o prazo e a matéria que deve ser objeto da delegação, para
permitir elaboração de lei, pelo Presidente da República, mas não limita o número
de leis que o Presidente pode editar, sobre a mesma matéria.
pág. 100
451) Quais as espécies existentes de lei delegada presidencial?
R.: A lei delegada presidencial pode ser típica, que consiste em ato complexo, mediante
o qual o Presidente da República estabelece regras jurídicas, promulgando-as, ato
que também as aperfeiçoa; e atípica, que consiste, também, em ato complexo, mediante
o qual, após a elaboração do projeto de lei pelo Presidente da República, que para
tal recebeu delegação do Parlamento, passa o Congresso Nacional a apreciá-lo, devendo
fazê-lo em votação única, vedada qualquer emenda, nos termos do art. 68, § 3.º.
452) Em que consiste a atuação dos Ministros de Estado?
R.: Aos Ministros de Estado, auxiliares graduados do Chefe do Governo da União, por
ele escolhidos com base na confiança existente, e que o assessoram diretamente, compete
basicamente (além de atribuições adicionais, outorgadas por outras leis), segundo
o art. 87 da CF: a) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades
da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos
assinados pelo Presidente da República; b) expedir instruções para a execução das
leis, decretos e regulamentos; c) apresentar ao Presidente da República relatório
anual de sua gestão no Ministério; e d) praticar os atos pertinentes às atribuições
que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.
453) Estará a escolha de Ministros pelo Presidente da República sujeita à aprovação
do Parlamento?
R.: No Brasil, não se exige que o Congresso Nacional aprove a escolha feita pelo Presidente
da República; nos regimes parlamentaristas, geralmente é exigida a ratificação pelo
Parlamento; nos EUA, deve o Senado ratificar a escolha dos Secretários de Estado.
454) Que requisitos devem preencher aqueles a quem o Presidente da República deseja
nomear Ministros?
R.: Os requisitos para que alguém possa ser nomeado Ministro, segundo o art. 87 da
CF, são: a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) ter mais de 21 anos; e c) estar
no exercício dos direitos políticos.
pág. 101
455) Como são criados os Ministérios e qual a sua estrutura?
R.: Conforme o art. 88 da CF, os Ministérios são criados por lei, que também disporá
sobre suas atribuições e estruturação; cada Ministério é dividido em Secretarias,
segundo suas peculiares atribuições.
456) Em que consiste o referendo ministerial?
R.: Referendo ministerial é o ato do Ministro de Estado, que consiste em subscrever
leis, medidas provisórias e decretos do Presidente da República, relativos a assuntos
de sua pasta.
457) Qual a importância do referendo ministerial?
R.: O referendo ministerial não é requisito de validade da norma subscrita, tendo
importância somente quanto à responsabilidade do Ministro que, ao subscrever o ato
presidencial, torna-se co-responsável, em conjunto com o Presidente.
458) Quais são os crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado?
R.: São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado: a) falta, sem justificação
adequada, à convocação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou de suas Comissões,
para prestar depoimento pessoal sobre informações referentes a assunto previamente
determinado (art. 50, caput); b) recusa a atender, não-atendimento no prazo de 30
dias, ou prestação de informações falsas, quando de pedido escrito de informação,
encaminhado pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pela Mesa do Senado Federal (art.
52, § 2.º); e c) prática de crimes conexos com os crimes de responsabilidade do Presidente
da República (arts. 52 e 85).
459) Quantos são os Ministérios atualmente existentes no Brasil e em que espécies
costumam ser agrupados?
R.: Existem, atualmente, 20 Ministérios no Brasil, agrupados em 4 setores: econômico,
político, social e militar.
460) Quais os Ministérios do setor econômico?
R.: O setor econômico compreende 10 Ministérios: a) Administração Federal e Reforma
do Estado; b) Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária; c) Ciência e Tecnologia;
d) Comunicações, e) Fazenda; f) Indústria, Comércio e Turismo; g) Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Amazônia Legal; h) Minas e Energia; i) Planejamento e Orçamento; e j)
Transportes.
pág. 102
461) Quais os Ministérios do setor político?
R.: O setor político compreende dois Ministérios: a) Justiça e b) Relações Exteriores.
462) Quais os Ministérios do setor social?
R.: O setor social compreende 5 Ministérios: a) Cultura; b) Educação e Desporto; c)
Previdência e Assistência Social; d) Saúde; e e) Trabalho.
463) Quais os Ministérios do setor militar?
R.: O setor militar compreende três Ministérios: a) Aeronáutica; b) Exército; e c)
Marinha.
464) Como é feita a eleição para a Presidência da República, no Brasil?
R.: De 1964 até 1989, as eleições foram indiretas. Desde 1989, a eleição para Presidente
e Vice-Presidente da República é realizada por sufrágio universal, e o voto, direto
e secreto, simultaneamente para os dois cargos, 90 dias antes do término do mandato
vigente (art. 77), e a cada 4 anos, sendo considerado eleito o candidato que, registrado
por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco
e os nulos; não alcançando nenhum candidato maioria absoluta, haverá segundo turno,
dentro de 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos
mais votados, sendo considerado eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
A Emenda Constitucional n.º 16, de 04.06.1997 inovou, permitindo a reeleição dos
ocupantes de cargos do Poder Executivo.
465) Como se dará a substituição presidencial, no Brasil, no caso de impedimento ou
vacância do cargo?
R.: Havendo impedimento, ou ficando vago o cargo de Presidente da República,
suceder-lhe-á, de forma definitiva, o Vice-Presidente; por impedimento deste, ou
vacância do cargo, suceder-lhe-ão, no exercício da Presidência, de forma provisória,
nesta ordem: Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e
Presidente do STF. O exercício da Presidência provisória perdurará até a realização
de eleição direta, 90 dias após aberta a última vaga, no caso de impedimento ou vacância
ocorridos nos primeiros 2 anos de mandato; ou 30 dias, se ocorrer nos últimos 2 anos,
sendo, neste caso, eleição indireta, pelo Congresso Nacional.
pág. 103
466) Em que casos pode haver impedimento do Presidente da República para o exercício
do cargo?
R.: Pode ocorrer impedimento do Presidente da República por licença, doença grave,
férias, suspensão do cargo em razão de processo, seqüestro, aprisionamento por inimigo,
ou desaparecimento.
467) Em que casos pode ocorrer vacância do cargo de Presidente da República?
R.: Pode ocorrer vacância do cargo de Presidente da República por incapacidade absoluta,
morte, renúncia, impeachment, não assunção do cargo por mais de 10 dias após a data
da posse, condenação em crimes comuns ou de responsabilidade, ou por viagem ao exterior
por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso; se se verificar, após a posse que,
à época da eleição, o candidato era absolutamente incapaz, ou que ocorreu fato que
implica nulidade absoluta das eleições, ficará, também, vago o cargo.
468) Como é fixada a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da República?
R.: Conforme a CF, art. 49, VIII, compete exclusivamente ao Congresso Nacional a fixação
da remuneração do Presidente, do Vice-Presidente e dos Ministros de Estado, o que
deve ser feito a cada exercício financeiro.
469) Qual a estrutura da Presidência da República?
R.: A Presidência da República é constituída pela Casa Civil, pela Casa Militar, pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE (que substituiu, em suas funções, o antigo
Serviço Nacional de Informações - SNI) e pela Secretaria-Geral.
470) Como poderá o Presidente da República perder o cargo?
R.: O cargo de Presidente da República poderá ser perdido por cassação, extinção,
declaração de vacância do cargo pelo Congresso Nacional, ou por ausência do País por
mais de 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional.
pág. 104
471) Em que consiste a cassação?
R.: Cassação é a perda de mandato imposta por pena acessória, aplicada ao Presidente
da República, nos crimes de responsabilidade, ou em decisão judicial condenatória
no caso de crimes comuns.
472) Em que consiste a extinção?
R.: Extinção é a perda de mandato que ocorre pela morte do Presidente da República
durante o exercício do mandato, por sua renúncia, ou pela suspensão dos direitos
políticos, ou ainda, pela perda da nacionalidade brasileira.
473) Em que consiste a declaração de vacância do cargo pelo Congresso Nacional?
R.: Declaração de vacância do cargo pelo Congresso Nacional é o ato do Parlamento
que deve ser editado quando o candidato eleito à Presidência da República deixa,
injustificadamente, de comparecer à cerimônia de posse, dentro de 10 dias da data
fixada; equivale à renúncia, extinguindo-se o mandato.
474) Em que consiste a ausência por mais de 15 dias, do País, sem autorização do Congresso
Nacional?
R.: Ausência por mais de 15 dias do País, sem autorização do Congresso Nacional é
ato do Presidente da República que equivale à renúncia; a CF dispõe que a autorização
para a ausência compete ao Congresso Nacional (art. 49, III) e prevê que a ausência
injustificada do País, sem licença do Congresso, por período superior a 15 dias, implica
perda do cargo (art. 83) mediante extinção do mandato.
475) Que são crimes de responsabilidade do Presidente da República?
R.: A CF (art. 85) dispõe que são crimes de responsabilidade do Presidente da República
os atos de sua autoria, com natureza de infração política, que atentem contra a
Constituição Federal, especialmente contra: a) a existência da União; b) o livre
exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação; c) o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais; d) a segurança interna do País; e) a probidade na administração;
f) a lei orçamentária; e g) o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
pág. 105
476) Em que diploma legal são tipificados os crimes de responsabilidade?
R.: O art. 85, parágrafo único, da CF dispõe que esses crimes serão definidos em lei
especial; com efeito, a Lei n.º 1.079, de 10.04.1950 os define, nos arts. 4.º a 13,
39, 40 estabelecendo, também, as normas de processo e julgamento.
477) Quem tem legitimidade para propor ação por crime do Presidente da República?
R.: Qualquer cidadão poderá apresentar denúncia perante a Câmara dos Deputados, que
procederá a um juízo de admissibilidade: se não admitir a denúncia, será arquivada,
mas, se admitida, passará para o exame do mérito da acusação. Julgada improcedente
a denúncia, será arquivada; se julgada procedente, por dois terços dos membros da
Câmara dos Deputados, esta autorizará a instauração do processo (CF, art. 51, I):
a) perante o STF, no caso de infrações penais comuns (arts. 86 e 102, I, b); ou b)
perante o Senado Federal, no caso de crimes de responsabilidade (arts. 52, I e 86).
478) Em que casos ficará o Presidente da República suspenso de suas funções?
R.: O Presidente da República ficará suspenso de suas funções (art. 86, § 1.º): a)
se recebida a denúncia de queixa-crime pelo STF, nas infrações penais comuns; ou b)
após a instauração do processo pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
479) Qual o tempo máximo de suspensão do Presidente da República de suas funções?
R.: De acordo com a CF, art. 86, § 2.º, o tempo máximo de suspensão do Presidente
da República, de suas funções, é de 180 dias; se o julgamento não estiver concluído,
voltará à sua função, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
pág. 106
VII.2. O IMPEACHMENT
480) O que é impeachment?
R.: Impeachment é o processo aplicado à autoridade pública, por crime de
responsabilidade, que pode ter como desfecho a decretação da perda do cargo, com
inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos.
481) Qual a etimologia do vocábulo impeachment?
R.: Em inglês, to impeach significa o ato de incriminar ou acusar, especialmente um
alto funcionário, de traição ou de má conduta; deriva do latim impedimentum (em francês:
empêchement; em italiano: impedimento). Não deve ser utilizado, em português, no
entanto, na acepção de "impedimento"; em princípio, nada há contra a utilização do
vocábulo em sua forma inglesa, como tantas outras palavras daquele idioma, que vêm
sendo incorporadas ao uso diário, casos de marketing, software, hardware, chip, mouse,
e delivery. Se se desejar usar um termo em português, pode-se empregar "imputação",
"destituição", "desvestimento", "descida do pedestal".
482) Tem o impeachment características predominantemente políticas ou jurídicas?
R.: Tem o impeachment, atualmente, características predominantemente políticas, pois
objetiva resultados políticos, é instaurado sob considerações de ordem política e
é, também, julgado segundo critérios políticos, embora adstrito a procedimento
jurídico, no qual o acusado tem a mais ampla defesa, com base no contraditório; não
deve ser esquecida, no entanto, uma faceta administrativa do instituto, já que funciona
como defesa da pessoa jurídica de Direito Público político contra o improbus
administrator.
483) Qual a origem histórica do impeachment?
R.: O impeachment foi criado na Inglaterra no século XIII, tendo natureza judicial,
e consistia na decretação da perda do cargo de autoridade condenada em processo criminal,
cumulada com pena de castigo corporal; a partir do século XVIII, passou a ser cada
vez menos utilizado, em virtude do desenvolvimento e consolidação do sistema
parlamentarista; o instituto foi retomado pelo sistema constitucional norte-americano,
que alterou suas características originais, podendo ser aplicado pelo Senado ao
Presidente, em caso de violação grave da lei, ao final de um processo com características
judiciais, como uma pena de natureza política.
pág. 107
484) Qual o diploma legal que regula o impeachment, no Brasil?
R.: A CF de 1824 já previa o instituto (aplicável somente aos Ministros de Estado),
e todas as Constituições Republicanas também prevêem o impeachment; o diploma legal
específico que o regula é a Lei n.º 1.079, de 10.04.1950.
485) Que espécie de lei é a Lei n.º 1.079/50?
R.: A Lei n.º 1.079/50 é lei singular federal, pois aplicável a uma só pessoa ou a
um grupo restrito de pessoas.
486) Por que não podem os crimes de responsabilidade do Presidente da República ser
incluídos no Código Penal ou em lei sobre crimes de responsabilidade de funcionários
públicos?
R.: Não podem os crimes de responsabilidade do Presidente da República ser incluídos
no CP, porque o Código Penal é lei geral; e não podem ser enquadrados em lei sobre
crimes de responsabilidade de funcionários públicos porque esta seria uma lei especial,
e os crimes de responsabilidade do Presidente da República são relativos a uma única
pessoa, o que é matéria para lei singular, que somente pode ser promulgada pelo Congresso
Nacional.
487) Qual o fundamento jurídico do impeachment?
R.: O impeachment tem por fundamento jurídico um crime em sentido formal (isto é,
deve ocorrer conduta tipificada na Lei n.º 1.079/50) e não conduta antijurídica, no
sentido do Código Penal; sua natureza é mista, judiciária (o Código de Processo Penal
é legislação subsidiária ao processo político, e o STF atua como juiz), política (há
uma apreciação política do processo) e administrativa.
488) O impeachment é instituto freqüentemente aplicado?
R.: Não. Por suas implicações, e o desgaste político que causa o processo do impeachment,
não tem sido o instituto freqüentemente aplicado, nem mesmo nos países de origem,
a Grã-Bretanha e os Estados Unidos; no primeiro, o último caso ocorreu em 1848, contra
Lord Palmerston, e nos EUA, até hoje, não mais do que 7 casos foram julgados. No Brasil,
tem sido utilizado contra Prefeitos e, mais raramente, contra Governadores de Estado.
Contra Presidentes da República, instaurou-se processo contra José Sarney, logo
arquivado, e contra Fernando Collor de Mello, a final, afastado do Governo, em 1992.
pág. 108
489) A quem pode ser aplicado o impeachment, no Direito brasileiro?
R.: No Brasil, o impeachment pode ser aplicado, no caso de crimes de responsabilidade:
a) ao Presidente da República; b) ao Vice-Presidente da República; c) aos Ministros
de Estado; d) aos Ministros do STF; d) ao Procurador-Geral da República; e) ao
Advogado-Geral da União; f) a Governadores; e g) a Prefeitos.
490) A aplicação do impeachment veda a que seja aplicada outra, pelo Poder Judiciário?
R.: Não. Se quaisquer dos atos praticados pela autoridade, que levaram à aplicação
do impeachment, pelo Senado, estiverem tipificados no Código Penal ou qualquer lei
penal, poderá ser-lhe, também, imposta pena criminal, pelo Poder Judiciário.
491) Quais as fases do processo de impeachment?
R.: O processo de impeachment desenvolve-se em duas fases: a) a de pronúncia; e b)
a de julgamento.
492) Em que consiste a fase de pronúncia?
R.: A fase de pronúncia inicia-se pela denúncia, que pode ser oferecida por qualquer
cidadão: a) perante a Câmara dos Deputados, nos casos de crimes de responsabilidade
do Presidente e do Vice-Presidente da República e de crimes de Ministros de Estado
conexos com os daqueles; b) perante o Senado, nos crimes de responsabilidade imputados
aos demais legitimados passivamente; a denúncia é apreciada na Casa onde foi oferecida,
até que se decida: I) pelo arquivamento; ou II) pela decisão de pronúncia, que, para
ser tomada, necessita de um mínimo de dois terços da Câmara e maioria simples no Senado.
493) Quem terá competência para julgar crimes de responsabilidade de Ministros de
Estado não conexos com os do Presidente da República?
R.: De acordo com a CF, art. 102, I, b, caberá ao STF processar e julgar, originariamente,
os Ministros de Estado acusados de crimes de responsabilidade não conexos com os crimes
de responsabilidade do Presidente da República.
pág. 109
494) Em que consiste a fase de julgamento?
R.: A fase de julgamento, que ocorre no Senado Federal, se inicia após a decisão de
pronúncia, sendo presidida pelo Presidente do STF, nos termos da CF, art. 52, parágrafo
único; o julgamento terminará com a protalação de sentença. Para que ocorra condenação,
no mínimo dois terços dos Senadores deverão decidir nesse sentido; não atingido esse
quorum, será o acusado absolvido.
VII.3 A ADMINISTRAÇÃO CIVIL
495) Em que consiste a administração civil?
R.: Administração civil é o setor do Poder Executivo que prepara textos normativos,
acompanha a execução de leis ou tem a seu encargo a execução de leis e outras resoluções
políticas preparadas por outros órgãos.
496) Quais as características da administração civil?
R.: A administração civil apresenta as seguintes características: a) é subordinada
ao governo, isto é, o governo decide, no plano político, cabendo à administração executar
os trabalhos segundo os fins e os meios preestabelecidos; b) é hierarquizada, isto
é, é organizada segundo uma estrutura em forma de pirâmide, situando-se o Ministro
em seu topo; e c) é não militarizada, isto é, embora sujeita a rigorosa disciplina,
e estruturada em carreiras, não pode ser comparada ao setor militar.
497) Em que consiste o "spoil's system"?
R.: Spoil's system é a denominação que se dá ao sistema pelo qual, com a subida ao
poder de um grupo antagônico ao anterior, ocorre a substituição dos servidores por
pessoas protegidas do novo governo.
498) Quais os inconvenientes do "spoil's system"?
R.: O spoil's system apresenta diversos inconvenientes ao bom desempenho dos trabalhos
da Administração, pois a freqüente troca de funcionários provoca instabilidade nos
quadros, perda de qualidade, e descontinuidade nos serviços, razão pela qual vem sendo
abandonado; procura-se utilizar critérios objetivos para ingresso e promoção de
pessoal, baseados no nível de qualificação dos profissionais.
pág. 110
499) Como é legalmente estabelecido o regime jurídico dos servidores públicos civis?
R.: A CF (arts. 39, caput) dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão instituir, no âmbito de sua competência, regime jurídico único
e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, das autarquias
e das fundações públicas. Assim, cada pessoa jurídica de Direito Público político
interno deverá estabelecer um Estatuto dos Servidores Públicos específico.
500) Quais as formas de garantias do cargo, asseguradas aos servidores públicos civis?
R.: A CF assegura duas garantias básicas aos servidores públicos civis, admitidos
por concurso: a) estabilidade, após 2 anos de efetivo exercício, que consiste em não
poder ser demitido o servidor público, exceto em virtude de condenação judicial
transitada em julgado, ou mediante processo administrativo, durante o qual lhe foi
garantido o direito à ampla defesa (art. 41); e b) vitaliciedade, garantia assegurada
somente aos magistrados (art. 95, II), aos membros dos Tribunais de Contas (art. 73,
§ 3.º) e aos membros do Ministério Público (art. 128, § 5.º, I, a).
501) Qual a diferença entre estabilidade e vitaliciedade?
R.: Ambas as garantias asseguram a permanência no cargo, contra decisão imotivada
de demissão. O servidor que goza de estabilidade, no entanto, poderá perder o cargo
em virtude de condenação em processo administrativo, no qual se lhe assegurou ampla
defesa, decisão que poderá ser revertida pelo Poder Judiciário, que poderá reintegrá-lo
no cargo; durante o processo judicial, o servidor demitido não receberá proventos.
Já o servidor que goza de vitaliciedade, somente poderá ser demitido por motivo de
condenação definitiva em processo criminal. Logo, a diferença reside no órgão que
aprecia a falta cometida: Administração, no primeiro caso; Poder Judiciário, no segundo.
502) Em que consiste a isonomia de vencimentos?
R.: Isonomia de vencimentos é a garantia assegurada aos servidores públicos, de que
ocupantes de cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre
servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, auferirão os mesmos
proventos, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho (art. 39, § 1.º).
pág. 111
503) Que outras garantias sociais são asseguradas aos servidores públicos civis?
R.: Aos servidores públicos civis são asseguradas muitas das garantias concedidas
aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 39, § 2.º), visando à melhoria de sua condição
social, constantes do art. 7.º, da CF, e que são, por exemplo: a) salário mínimo fixado
em lei (inciso IV do referido art. 7.º); b) irredutibilidade de salário (inciso VI);
c) décimo terceiro salário (inciso VIII); d) repouso semanal remunerado (inciso XV);
e e) licença-paternidade (inciso XIX).
504) De que forma é a responsabilidade do Estado por danos causados por servidor público
ao patrimônio do particular?
R.: O Estado é responsabilizado de forma objetiva pelo dano causado por servidor público
ao patrimônio de terceiros, no exercício de sua atividade, isto é, deverá o Estado
indenizar aquele que teve dano, sem indagar sobre culpa ou dolo do agente. Se o servidor
público agiu com dolo ou culpa, terá o Estado direito de regresso contra ele.
505) Quais os princípios fundamentais da Administração Pública?
R.: Os princípios fundamentais da Administração Pública, campo de estudo específico
do Direito Administrativo, são: a) da legalidade; b) da impessoalidade; c) da moralidade
administrativa; e d) da publicidade dos atos.
VII.4. AS FORÇAS ARMADAS
506) O que são as Forças Armadas?
R.: De acordo com a CF, art. 142, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes
e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, que atuam sob a
autoridade suprema do Presidente da República.
pág. 112
507) Qual o papel reservado às Forças Armadas?
R.: O papel reservado às Forças Armadas é o de entrar em ação quando se tratar da
defesa da pátria, por meios militares (defesa externa), da garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer dos Poderes, da lei e da ordem internas
(defesa interna).
508) As Forças Armadas são os únicos órgãos do Estado cujos componentes estão autorizados
a portar armas?
R.: Não. Embora existam armas de uso exclusivo das Forças Armadas, as polícias também
estão autorizadas a portá-las.
509) Qual a divisão das Forças Armadas?
R.: As Forças Armadas dividem-se em Exército (tropas que atuam em terra), Marinha
(atuação preponderante no mar), e Aeronáutica (atuação no ar).
510) Qual a hierarquia das Forças Armadas?
R.: No topo da rígida hierarquia militar, cuja estrutura é uma pirâmide, situa-se
o Presidente da República, que é seu Comandante-em-Chefe, ao qual se subordina o supremo
comandante militar; os demais militares ocupam os postos subalternos.
511) Em que consiste o "princípio da nação em armas"?
R.: O princípio da nação em armas é a possibilidade de que todo nacional possa ser
chamado para ser incorporado às Forças Armadas, em tempo de paz, para receber treinamento
básico, passando, a seguir, para a reserva; em tempo de guerra, podem os reservistas
ser convocados.
512) É obrigatório o serviço militar, no Brasil?
R.: Sim. Segundo o art. 143, § 2.º, será obrigatório o serviço militar, com exceção
das mulheres e dos eclesiásticos, em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos
que a lei lhes atribuir.
513) Que garantias são asseguradas aos militares?
R.: Aos militares são asseguradas garantias similares às dos servidores civis; aos
oficiais, concede-se estabilidade, somente podendo perder o posto em virtude de sentença
penal transitada em julgado, em que sejam condenados à pena restritiva de liberdade
superior a dois anos, ou por decisão da Justiça Militar que os considere indignos
ou incompatíveis com o cargo que ocupam.
pág. 113
514) Quem é considerado servidor público militar federal?
R.: A CF (art. 42, caput) considera servidor público militar federal o integrante
das Forças Armadas e servidor militar dos Estados e Distrito Federal, o integrante
de suas Polícias Militares e de seus Corpos de Bombeiros militares.
515) Por quem são concedidas as patentes aos oficiais?
R.: Aos oficiais das Forças Armadas, pelo Presidente da República; aos dos oficiais
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, pelos Governadores dos
respectivos Estados (CF, art. 42, § 2.º).
516) Qual a conseqüência da aceitação de cargo público civil permanente, pelo militar
da ativa?
R.: Aceitando cargo público civil permanente, será o militar da ativa imediatamente
transferido para a reserva (art. 42, § 3.º).
517) Qual a conseqüência da aceitação de cargo, emprego ou função pública temporária,
não eletiva, ainda que da administração indireta, pelo militar da ativa?
R.: Aceitando cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, ainda que
da administração indireta, ficará o militar da ativa agregado ao respectivo quadro
e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade,
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para
a reserva; depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido para
a inatividade (art. 42, § 4.º).
518) De que forma poderá o oficial das Forças Armadas perder o posto e a patente?
R.: O oficial condenado na Justiça Militar ou Comum à pena privativa de liberdade
superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento
por Tribunal Militar permanente, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em tempo
de guerra; nesse novo processo, haverá apreciação de sua dignidade e, caso julgado
indigno do oficialato, ou com ele incompatível, perderá o militar o posto e a patente
(art. 42, §§ 7.º e 8.º).
pág. 114
519) Quais as restrições especificamente impostas aos militares, relativamente à
cidadania?
R.: Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve e, àquele em efetivo serviço,
é vedada a filiação a partidos políticos (art. 42, §§ 5.º e 6.º).
520) Os Estados da Federação podem ter Exército, Marinha ou Aeronáutica próprios?
R.: Não. As Forças Armadas são instituições de caráter nacional, da União, o que impede
que Estados da Federação mantenham Exército, Marinha ou Aeronáutica estaduais (art.
142); poderão, no entanto, manter polícias militarizadas para a manutenção da segurança
e da ordem em seus territórios (art. 144, § 5.º), que são consideradas reserva das
Forças Armadas, sujeitas à mobilização, em casos de guerra externa ou civil.
VII.5. A SEGURANÇA PÚBLICA
521) Quais os órgãos da segurança pública?
R.: A segurança pública é garantida pelos seguintes órgãos (CF, art. 144): a) polícia
federal; b) polícia rodoviária federal; c) polícia ferroviária federal; d) polícias
civis; e) polícias militares; e f) corpos de bombeiros militares.
522) Quais as atribuições desses órgãos, relativamente à segurança pública em geral?
R.: Os órgãos do Estado responsáveis pela segurança pública têm por atribuições,
preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.
523) Quais as atribuições específicas da Polícia Federal?
R.: A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira,
tem por atribuições específicas: a) apurar infrações contra a ordem política e social
ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas
e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em
lei; b) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos
nas respectivas áreas de competência; c) exercer as funções de polícia marítima, aérea
e de fronteiras; e d) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária
da União (art. 144, § 1.º).
pág. 115
524) Quais as atribuições específicas da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia
Ferroviária Federal?
R.: A Polícia Rodoviária Federal e a Policia Ferroviária Federal têm por atribuições
específicas o patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias federais, e das
ferrovias federais, na forma da lei (art. 144, §§ 2.º e 3.º); ambas são órgãos permanentes,
estruturados em carreira.
525) Quais as atribuições específicas das polícias civis?
R.: As polícias civis, dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, atuam como
polícia judiciária, e na apuração de infrações penais, exceto as militares, ressalvados
os casos de competência da União (art. 144, § 4.º).
526) Quais as atribuições específicas das polícias militares?
R.: As polícias militares têm por atribuição específica o policiamento ostensivo e
a preservação da ordem pública (art. 144, § 5.º).
527) Quais as atribuições específicas dos corpos de bombeiros militares?
R.: Os corpos de bombeiros militares são responsáveis pela execução de atividades
de defesa civil, além de outras atribuições, definidas em lei local (art. 144, § 6.º).
528) Que espécie de órgãos de segurança podem ser constituídos pelos Municípios?
R.: Aos Municípios atribui a CF (art. 144, § 8.º) competência para criar,
facultativamente, guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços
e instalações, conforme dispuser a lei.
CAPÍTULO VIII - O PODER JUDICIÁRIO - O MINISTÉRIO PÚBLICO
VIII.1. O PODER JUDICIÁRIO E SUAS GARANTIAS
529) Qual a função do Poder Judiciário?
R.: De acordo com o clássico princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Judiciário,
primordialmente, o desempenho da função jurisdicional, isto é, a aplicação da lei
a casos concretos e particulares, sempre que houver pretensões resistidas, a ele
submetidas, dentro de um sistema preestabelecido de composição de conflitos de
interesses, a que se denomina, genericamente, "processo judicial". Também atua nos
chamados "Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária", disciplinados pelo CPC,
no Título II do Livro IV.
530) Além da função jurisdicional, sua função precípua, como desempenha o Poder
Judiciário funções administrativas e legislativas?
R.: O Poder Judiciário exerce funções administrativas sempre que pratica qualquer
ato referente ao autogovemo da Magistratura; exerce funções legislativas quando, por
exemplo, os Tribunais elaboram seus regimentos internos.
531) Como se distingue a função jurisdicional da função administrativa do Estado?
R.: Embora tanto o Judiciário quanto o Executivo apliquem a lei, o que distingue as
funções de um e de outro poder é seu modo de aplicação: o Poder Judiciário aplica
a lei contenciosamente, e por provocação, enquanto o Poder Executivo aplica a lei
de ofício, colocando em prática decisões anteriores, de caráter geral, considerando
a moderna doutrina que o Judiciário exerce "atividade de substituição".
pág. 118
532) Como se distingue a função legislativa da função jurisdicional do Estado?
R.: A função legislativa consiste em elaborar normas jurídicas de caráter abstrato
e impessoal, vale dizer, que conferem a todos, indistintamente, um Direito Subjetivo
público ao objeto da tutela; a função jurisdicional dirige-se a pessoa determinada,
ao ser proferido comando específico e concreto sobre certo bem, válido para uma situação
fática, à qual juiz aplica a norma adequada.
533) Que diploma legal deverá regular a Magistratura?
R.: O Estatuto da Magistratura deverá ser promulgado por meio de lei complementar,
de iniciativa do STF (art. 93 da CF). Enquanto isso não ocorre, continua em vigor
a atual Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMN, de 14.03.1979, naquilo que não
contrariar a atual CF.
534) Citar 5 princípios que devem ser observados pelo Estatuto da Magistratura.
R.: Devem ser observados os seguintes princípios: a) o ingresso na carreira será feito
por concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas
fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; b) promoção de entrância
para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento; c) acesso aos tribunais
de segundo grau por critérios de antigüidade e merecimento; d) previsão de cursos
oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso
e promoção na carreira; e e) o juiz titular residirá na comarca (art. 93, incisos,
I, II, III, IV e VII, respectivamente).
535) O que é entrância?
R.: Entrância é a unidade administrativa, na organização judiciária estadual, que
designa as comarcas e os graus de carreira dos juízes e membros do MP na primeira
instância - ou primeiro grau de jurisdição - e a classificação escalonada das comarcas,
e que indica a importância da Comarca.
536) Como se classificam as Comarcas, nos Estados?
R.: As Comarcas são classificadas, segundo a população local e a intensidade dos serviços
forenses, em Comarcas de primeira, de segunda e de terceira entrâncias, e também,
no caso de algumas Capitais de Estado, em Comarcas de entrância especial.
pág. 119
537) Que normas devem ser obedecidas para a promoção de entrântia para entrância?
R.: Além dos critérios de antigúidade e merecimento, as seguintes normas devem ser
atendidas: a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas
ou 5 alternadas em lista de merecimento; b) a promoção por merecimento pressupõe 2
anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a quinta parte da lista
de antigüidades desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar
vago; c) a aferição do merecimento pelos critérios de presteza e segurança no exercício
da jurisdição e pela freqüência de aproveitamento em cursos reconhecidos de
aperfeiçoamento; e d) na apuração da antigüidade, o Tribunal somente poderá recusar
o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento
próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.
538) O que é instância?
R.: Instância designa grau de jurisdição dos órgãos da Magistratura, tanto na Justiça
Federal quanto nas Justiças Estaduais; a Magistratura Estadual organiza-se em
carreiras, integradas por cargos de primeira instância (onde estão os juízes substitutos
e os titulares) e segunda instância (onde estão os desembargadores dos Tribunais de
Justiça e os juízes dos Tribunais de Alçada).
539) Desembargador é cargo hierarquicamente superior ao de juiz titular?
R.: Não. O desembargador ocupa posto mais graduado na carreira da Magistratura do
que o juiz titular, mas não existe, entre eles, hierarquia funcional, nos moldes das
Forças Armadas, ou do Poder Executivo, por exemplo.
540) De que forma devem ser fixados os vencimentos dos magistrados?
R.: Os vencimentos dos magistrados devem ser fixados com diferença não superior a
dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título
nenhum, exceder os dos Ministros do STF (art. 93, V).
541) De que formas podem aposentar-se os magistrados?
R.: Os magistrados podem aposentar-se: a) compulsoriamente, por invalidez ou ao
atingirem 70 anos de idade; ou b) facultativamente, após 30 anos de serviço, dos quais,
no mínimo 5, no exercício efetivo da judicatura (art. 93, VI).
pág. 120
542) Quais as garantias funcionais asseguradas aos juízes?
R.: Os juízes gozam das seguintes garantias funcionais: a) vitaliciedade, que, no
primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício; b) inamovibilidade, salvo
por motivo de interesse público; e c) irredutibilidade de vencimentos.
543) Adquirirá o magistrado vitaliciedade a partir de sua nomeação?
R.: Sim, exceto no primeiro grau de jurisdição, que somente será adquirida após 2
anos de exercício.
544) De que forma poderá o juiz de primeiro grau perder o cargo?
R.: A perda do cargo de juiz de primeiro grau dependerá de deliberação do tribunal
a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada
em julgado (art. 95, I).
545) De que forma poderá o juiz ser removido?
R.: O juiz somente poderá ser removido (ou aposentado, ou, ainda, colocado em
disponibilidade) por motivo de interesse público, em decisão tomada por dois terços
dos membros do Tribunal a que estiver vinculado, após processo em que lhe será assegurada
ampla defesa (arts. 93, VIII e 95, II).
546) Em que consiste a colocação em disponibilidade dos magistrados?
R: Colocação em disponibilidade é uma das formas de inatividade do magistrado (a outra
é a aposentadoria), penalidade de cunho administrativo, imposta pelo Tribunal a que
estiver vinculado, por motivo de interesse público, devendo a decisão ser tomada por
dois terços, no mínimo, de seus membros.
547) Qual a diferença entre as acepções da palavra "disponibilidade" em Direito Público,
e em relação à Magistratura?
R.: Em Direito Público, disponibilidade é o status do funcionário público cujo cargo
foi extinto, embora continue a receber vencimentos; com relação à Magistratura,
disponibilidade consiste em punição, imposta ao juiz, por interesse público.
pág. 121
548) Quais as conseqüências da colocação em disponibilidade?
R.: O juiz colocado em disponibilidade não mais atuará na Magistratura; continuará,
no entanto, a receber proventos integrais, inclusive o padrão e as vantagens que tinha
quando em atividade.
549) Qual a diferença entre "juiz substituto" e "substituto de juiz"?
R.: Juiz substituto é aquele que está se iniciando na Magistratura, e que não goza,
ainda, da garantia da vitaliciedade (art. 95, I), isto é, poderá perder o cargo por
decisão do Tribunal ao qual estiver vinculado; substituto de juiz é juiz titular,
que substitui outro juiz, na mesma ou em outra Comarca, ao qual é assegurada a garantia
da vitaliciedade, isto é, somente perderá o cargo após sentença judicial condenatória
transitada em julgado.
550) Quando poderá ser criado Órgão Especial em qualquer tribunal?
R.: A CF dispõe que, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, será permitida
(e não obrigatória) a criação de Órgão Especial, com o mínimo de 11 e o máximo de
25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da
competência do tribunal pleno.
551) Quais as vedações impostas aos juízes, como forma de garantir a imparcialidade
dos órgãos judiciários?
R.: As vedações impostas aos juízes são: a) o exercício, ainda que em disponibilidade,
de outro cargo ou função, salvo uma de magistério; b) o recebimento, a qualquer título
ou pretexto, de custas ou participação em processo; e c) a dedicação à atividade
político-partidária (art. 95, parágrafo único).
552) Quais as garantias institucionais asseguradas ao Poder Judiciário?
R.: As garantias institucionais asseguradas ao Poder Judiciário são de 2 tipos: a)
autonomia orgânico-administrativa (por exemplo, os tribunais podem eleger seus órgãos
diretivos e elaborar seus regimentos internos, art. 96, I, a); e b) autonomia financeira
(os tribunais podem elaborar propostas para seu próprio orçamento, art. 99, § 1.º).
pág. 122
VIII.2. ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA BRASILEIRA
553) Quais são os órgãos do Poder Judiciário encarregados de exercer a função
jurisdicional?
R.: Compõem a ordem judiciária do Brasil, segundo o art. 92 da CF, os seguintes órgãos
do Poder Judiciário, encarregados de exercer a função jurisdicional: a) Supremo Tribunal
Federal - STF; b) Superior Tribunal de Justiça - STJ; c) Tribunais Regionais Federais
- TRF's e Juízes Federais; d) Tribunais e Juízes do Trabalho; e) Tribunais e Juízes
Eleitorais; f) Tribunais e Juízes Militares; e g) Tribunais de Justiça - TJ's e Juízes
dos Estados e do Distrito Federal (Justiça Comum).
554) Quais as atribuições do STF?
R.: Ao STF cabe, precipuamente, a guarda da Constituição, isto é, de manter o respeito
à Carta Magna e sua unidade substancial em todo o país, além de encabeçar o Poder
Judiciário, inclusive em causas sem conotação constitucional; o art. 102 da CF estipula
sua competência para: a) processar e julgar originariamente (isto é, como foro único
e definitivo) as questões relacionadas no inciso I, letras a até q; b) julgar, em
recurso ordinário constitucional, em única ou última instância, as causas relacionadas
no inciso II, letras a e b; e c) julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas
em única ou última instância, nas hipóteses relacionadas no inciso III, a, b e c.
555) Qual a estrutura funcional do STF?
R.: Os órgãos do STF são o Plenário, as Turmas, e o Presidente; a competência de seus
órgãos, o ano judiciário, o regulamento dos processos, o julgamento dos feitos que
lhe são atribuídos pela CF e a disciplina de seus serviços, estabelecidos pelo Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF que contém 369 artigos, e entrou em vigor
em 01.12.1980.
556) Qual a composição do STF?
R.: De acordo com a CF, art. 101 e seu parágrafo único, compõe-se o STF de 11 Ministros,
escolhidos dentre os cidadãos brasileiros natos (art. 12, § 3.º, IV) com mais de 35
e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada; as Turmas
são compostas por 5 Ministros, e o Ministro mais antigo, integrante da Turma, é seu
Presidente (art. 4.º, caput e § 1.º do RISTF). São nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
pág. 123
557) O STF é o único órgão competente para apreciar matéria constitucional?
R.: Não. O sistema de controle da constitucionalidade no Brasil é difuso, isto é,
pode ser exercido por via direta, junto ao STF, ou por via indireta, mediante exceção,
perante qualquer juiz competente, desde que o julgamento da causa dependa de norma
que contrarie a Constituição.
558) Todas as atribuições do STF envolvem matéria de jurisdição constitucional?
Não. Dentre as competências outorgadas ao STF, nas seguintes situações (art. 102,
I, h e n), não ocorre matéria envolvendo jurisdição constitucional: a) homologação
de sentenças estrangeiras; b) concessão de exequatur às cartas rogatórias; e c) ação
em que todos os membros da Magistratura sejam diretamente interessados, e aquela em
que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta
ou indiretamente interessados, quando não suscitar problemas constitucionais (quando
isso ocorrer, exercerá o STF jurisdição constitucional).
559) Por que não é correto denominar o STF de Corte Constitucional?
R.: Porque: a) o nome "Corte Constitucional", como na França, é o órgão único, encarregado
de exercer exclusivamente jurisdição constitucional, o que não é o caso, obviamente,
do STF, dado que nosso sistema de controle de constitucionalidade não é concentrado,
e sim, difuso; b) o STF aprecia, de forma técnico-jurídica, recurso extraordinário,
nos casos do art. 102, III, isto é, sua decisão se orienta no sentido de resolver
a lide, e, somente de modo secundário, pronunciar-se a respeito de
inconstitucionalidade, o que não implica, obrigatoriamente, exercício de jurisdição
constitucional. No Brasil, o STF é a corte constitucional por excelência, mas não
deixa de ser autêntico órgão judiciário.
pág. 124
560) Quais as atribuições do STJ?
R.: Ao STJ cabe, conforme estipula o art. 105, da CF: a) processar e julgar originariamente
(isto é, como foro único e definitivo) as questões relacionadas no inciso I, letras
a até h; b) julgar, em recurso ordinário as causas relacionadas no inciso II, letras
a, b, e c; e c) julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do
Distrito Federal, quando a decisão recorrida se enquadrar nos casos relacionados no
inciso III, a, b e c. Dentre suas atribuições, a que lhe confere feição mais marcante
é a do controle da efetividade da lei federal, e da uniformidade de sua interpretação,
na qualidade de mais alta instância no plano processual.
561) Qual o critério fundamental para a distinção entre a competência do STF e a do
STJ?
R.: O critério fundamental para distinguir entre as competências de um e de outro,
reside na atribuição do STF para resolver questões exclusivamente constitucionais
(relativas à CF) e, ao STJ, para resolver questões federais infraconstitucionais.
562) Qual a composição do STJ?
R.: De acordo com o art. 104 e seu parágrafo único, compõe-se o STF de, no mínimo,
33 Ministros, escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade,
de notável saber jurídico e reputação ilibada. São nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal; dentre os Ministros do STJ, um terço
serão escolhidos dentre juízes dos TRF's e um terço entre desembargadores dos Tribunais
de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal, e o terço
restante, entre advogados e membros do MP Federal, Estadual e do Distrito Federal,
alternadamente indicados na forma do art. 94.
563) Qual a estrutura funcional do STJ?
R.: O Regimento Interno do STJ-RISTJ, contendo 344 artigos, foi promulgado em 22.06.1989,
entrando em vigor 15 dias após sua publicação, e estipula que o Tribunal funciona
em Plenário e pelo seu órgão especial (conforme a CF, art. 93, XI), denominado Corte
Especial, em Seções Especializadas e em Turmas Especializadas; o Plenário, constituído
da totalidade dos Ministros, é presidido pelo Presidente do STJ; a Corte Especial
é constituída de 25 Ministros e é, também, presidida pelo Presidente do STJ; as Seções
Especializadas (Direito Público, Direito Privado, Direito Penal) compreendem seis
Turmas, e cada Turma é composta por cinco Ministros (art. 2.º do RISTJ).
pág. 125
564) Quais as garantias de que gozam, e os impedimentos a que estão sujeitos os Ministros
do STF e do STJ?
R.: Os Ministros de ambos gozam de todas as garantias e estão sujeitos a todos os
impedimentos dirigidos aos juízes togados, e que constam da CF, art. 95; os Ministros
do STF são processados e julgados pelo próprio STF no caso de crimes comuns (CF, art.
102, I, b) e pelo Senado Federal, no caso de crimes de responsabilidade (art. CF,
art. 52, II); os Ministros do STJ são processados e julgados, tanto nos crimes comuns,
quanto nos crimes de responsabilidade, pelo STF (art. 102, I, c).
565) O que é o Conselho da Justiça Federal?
R.: O Conselho da Justiça Federal é um órgão criado pela atual CF, que funciona junto
ao STJ, e ao qual cabe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus (CF, art. 105, parágrafo único, e RISTJ,
art. 6.º).
566) Qual a composição do Conselho da Justiça Federal?
R.: O Conselho da Justiça Federal, presidido pelo Presidente do STJ, é composto, também,
pelo Vice-Presidente, por 3 membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos
pelo Tribunal (RISTJ, art. 7.º e Lei n.º 7.746/89, que regula seu funcionamento).
567) Qual a divisão da Justiça Federal?
R.: A Justiça Federal compreende: a) Justiça Federal Comum; b) Justiça Militar Federal;
c) Justiça Eleitoral; e d) Justiça do Trabalho, todas mantidas pela União.
568) Quais os órgãos da Justiça Federal Comum?
R.: De acordo com o art. 106, são órgãos da Justiça Federal Comum: a) os Tribunais
Regionais Federais - TRF's; e b) os Juízes Federais.
pág. 126
569) O que ocorreu com o Tribunal Federal de Recursos?
R.: O Tribunal Federal de Recursos (do Distrito Federal), o único dos três previstos
que chegou a ser criado pela Constituição Federal de 1946 (previa-se a criação de
mais dois, em São Paulo e Recife), foi suprimido pela CF de 1988; parte de sua competência
passou para os Tribunais Regionais Federais, e parte, para o Superior Tribunal de
Justiça.
570) Qual a composição dos TRF's?
R.: De acordo com o art. 107, os TRF's compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados,
quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre
brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo: a) um quinto dentre advogados
com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP Federal com
mais de 10 anos de carreira; e b) quatro quintos, mediante promoção de juízes federais
com mais de 5 anos de exercício, por antigüidade e merecimento, alternadamente.
571) Quais as atribuições dos TRF's?
R.: Segundo o art. 108, I, da CF, compete aos TRF's processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e
da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do MP
da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) as revisões criminais
e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região; c) os mandados
de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal; d)
os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; e e) os conflitos
de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal. Segundo o inciso II do
mesmo artigo, compete, também, aos TRF's, julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal
da área de sua jurisdição.
572) Quais as atribuições dos juízes federais?
R.: As atribuições dos juízes federais (singulares ou monocráticos) são enumeradas
na CF, art. 109, I a XII, consistindo, de modo geral, em decisão, em primeira instância,
das causas de competência da Justiça Federal (representada pelos juízos federais,
um em cada Estado e no Distrito Federal, correspondendo a seções judiciárias, agrupadas
em 5 regiões), enquanto que, aos TRF's, cabe o julgamento dos recursos, exceto quando
sua competência é originária.
pág. 127
573) Qual a competência da Justiça do Trabalho?
R.: A Justiça do Trabalho, instituída pela CF de 1934, foi criada em 1942, porém como
órgão subordinado ao Ministério do Trabalho; somente em 1946, por força de dispositivo
constitucional, foi incorporada ao Poder Judiciário, sendo dotada de função
jurisdicional, com competência para (CF, art. 114) conciliar e julgar os dissídios
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de
Direito Público externos (isto é, as relações de trabalho entre os empregados brasileiros
e as representações diplomáticas estrangeiras) e da Administração Pública direta e
indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma
da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios
que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas.
574) Quais os órgãos da Justiça do Trabalho?
R.: Segundo a CF, art. 111, são órgãos da Justiça do Trabalho: a) Tribunal Superior
do Trabalho - TST, órgão de cúpula; b) Tribunais Regionais do Trabalho - TRT's; c)
Juntas de Conciliação e Julgamento - JCJ.
575) Qual a composição do TST?
R.: O TST é composto por 27 Ministros, dos quais 17 togados e vitalícios (dos quais,
11 escolhidos dentre juízes de carreira da Magistratura trabalhista, 3 dentre advogados
e 3 dentre os membros do MP do Trabalho), e 10 classistas e temporários (CF, art.
111, § 1.º), todos nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado
Federal. O TST funciona em Plenário (CLT, art. 699) ou em Turmas, em número de 5,
compostas por 5 Ministros cada uma.
576) Em que casos será possível recorrer das decisões do TST?
R.: Como órgão máximo da Justiça do Trabalho, são as decisões do TST, em princípio,
irrecorríveis; no entanto, nos casos de decisões contrárias à Constituição Federal
ou denegatórias de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, ou ainda,
que declararem a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal caberá, conforme
o caso, recurso ordinário constitucional ou recurso extraordinário, que deverão ser
dirigidos ao STF, que tem competência para processá-los e julgá-los; para o STJ, não
caberá recurso para a reapreciação de qualquer questão decidida pelo TST.
pág. 128
577) Qual a composição dos TRT's?
R.: De acordo com o disposto na CF, art. 112, deverá haver pelo menos 1 (um) TRT em
cada Estado e no Distrito Federal, sendo compostos por juízes nomeados pelo Presidente
da República, sendo dois terços de juízes togados vitalícios (mantida a proporção
do art. 111, § 1.º, isto é, 17 juízes de carreira, 3 advogados e 3 do MP do Trabalho)
e um terço de juízes classistas temporários.
578) Como podem os juízes do trabalho, os advogados e os membros do MP do Trabalho
ascender ao TRT?
R.: Para ascender ao TRT, devem os juízes do trabalho ser promovidos segundo critérios
alternativos de antigüidade e merecimento; os advogados devem constar em lista sêxtupla
organizada pela OAB (Conselho Estadual ou do Distrito Federal) que serve de base para
lista tripla organizada pelo Tribunal, e os membros do MP devem constar de lista sêxtupla
organizada pela Associação do Ministério Público do Trabalho.
579) Qual a composição das Juntas de Conciliação e Julgamento?
R.: De acordo com o art. 116, da CF, as JCJ, instituídas por lei, compõem-se de 1
(um) juiz do trabalho, que será seu Presidente, e de 2 juízes classistas temporários,
que terão suplentes (mandato de 3 anos - CF, art. 117), um dos classistas representando
os empregados e o outro, os empregadores; os classistas são nomeadas pelo Presidente
do TRT, na forma da lei, permitida uma recondução.
580) Quem terá jurisdição em comarcas onde não houver Juntas de Conciliação e Julgamento?
R.: A lei que instituir as JCJ poderá, nas comarcas onde não existirem as Juntas,
atribuir sua jurisdição aos juízes de direito da Justiça Estadual.
pág. 129
581) Qual a finalidade da Justiça Eleitoral?
R.: A Justiça Eleitoral é uma peculiaridade do sistema constitucional brasileiro,
pois, em lugar de fiscalização e controle do sistema político por meio de órgãos
legislativos (situação vigente até 1932, quando foi promulgado o Código Eleitoral),
criou-se um órgão do Poder Judiciário, destinado à jurisdição contenciosa eleitoral.
582) Qual a organização e a competência da Justiça Eleitoral?
R.: A atual CF remete a organização e a competência dos Tribunais, dos juízes de direito
e das juntas eleitorais à lei complementar (art. 121), dispondo, no entanto, sobre
sua estrutura básica.
583) Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral?
R.: De acordo com a CF, art. 118, são órgãos da Justiça Eleitoral: a) o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE; b) os Tribunais Regionais Eleitorais - TRE's; c) os Juízes Eleitorais;
e d) as Juntas Eleitorais.
584) Qual a composição do Tribunal Superior Eleitoral?
R.: Segundo a CF, art. 119, o TSE compõe-se de, no mínimo, 7 membros, escolhidos:
a) mediante eleição, pelo voto secreto, 3 juízes dentre os Ministros do STF e 2 dentre
os Ministros do STJ: b) por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF; o Presidente
e o Vice-Presidente do TSE serão eleitos dentre os Ministros do STF e o Corregedor
eleitoral, dentre os Ministros do STJ.
585) Qual a composição dos TRE's?
R.: Os TRE's, dos quais haverá um em cada Capital e um no Distrito Federal, compor-se-ão
de 7 juízes, escolhidos (CF, art. 120): a) mediante eleição, pelo voto secreto, 2
juízes, dentre os desembargadores do TJ, e 2 juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal
de Justiça; b) 1 juiz do TRF com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal,
ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo TRF respectivo;
c) 2 juízes, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre 6 advogados
de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TJ. O Presidente e o
Vice-Presidente dos TRE's serão eleitos dentre os desembargadores.
pág. 130
586) Quais as garantias concedidas aos membros dos tribunais, aos juízes de direito
e aos integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções?
R.: A eles são concedidas todas as garantias dadas aos funcionários públicos, além
da inamovibilidade (art. 121, § 1.º).
587) Quem são os juízes eleitorais?
R.: Os juízes eleitorais são juízes de direito pertencentes à Magistratura de cada
Estado ou do Distrito Federal, e presidem as juntas eleitorais.
588) Qual o período de tempo em que servirão os juízes eleitorais?
R.: Os juízes eleitorais deverão servir por 2 anos, no mínimo, salvo motivo justificado,
e por, no máximo, 2 biênios consecutivos; seus substitutos serão escolhidos na mesma
ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria (art. 121, § 2.º).
589) Quais as hipóteses de cabimento de recurso contra decisão dos TRE's?
R.: Somente se admitem recursos contra decisões dos TRE's (CF, art. 121, § 4.º) quando:
a) forem proferidas contra disposição expressa da CF ou de lei; b) ocorrer divergência
na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; c) versarem sobre
a inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; d)
anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
e e) denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.
590) Quais as hipóteses de cabimento de recurso contra decisão do TSE?
R.: De modo geral, as decisões do TSE são irrecorríveis; serão admitidos recursos
somente quando a decisão contrariar a CF, ou for denegatória de habeas corpus ou de
mandado de segurança (art. 121, § 3.º), ou ainda, de habeas data e de mandado de injunção.
591) Quais os recursos admitidos contra as decisões do TSE, quando cabíveis?
R.: Quando satisfeitas as condições objetivas de admissibilidade, poderá o interessado
interpor recurso ordinário constitucional ou recurso extraordinário, conforme o caso,
sempre para o STF; a CF não prevê hipótese de recurso dirigido a STJ.
pág. 131
592) Quais os órgãos da Justiça Militar?
R.: Os órgãos da Justiça Militar são (art. 122): a) o Superior Tribunal Militar -
STM; e b) os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
593) Quais as funções da Justiça Militar?
R.: Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em
lei (art. 124, caput).
594) O que são Auditorias Militares?
R.: Auditorias Militares são órgãos da Justiça Militar (Tribunais e Juízes Militares)
criados por lei (Decreto-Lei n.º 1.003/69, a Lei de Organização Judiciária Militar),
existentes nas circunscrições judiciárias do país.
595) Qual a composição do Superior Tribunal Militar?
R.: O Superior Tribunal Militar compõe-se de quinze Ministros vitalícios, nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal,
sendo: a) 3 dentre oficiais-generais da Marinha; b) 4 dentre oficiais-generais do
Exército; c) 3 dentre oficiais-generais da Aeronáutica; e d) 5 civis.
596) Como deverão ser escolhidos os militares e os civis?
R.: Todos os militares deverão ser da ativa e do posto mais elevado da carreira; os
civis deverão ser brasileiros maiores de 35 anos, sendo: a) 3 dentre advogados de
notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade
profissional; e b) 2, por escolha partidária, dentre juízes auditores e membros do
MP da Justiça Militar.
597) Como é a organização da Justiça Estadual?
R.: A Justiça Estadual deve ser organizada segundo as regras constitucionais (arts.
93 a 100 e 125), a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (e, quando promulgado, o
Estatuto da Magistratura) e as Constituições Estaduais; no Estado de São Paulo, por
exemplo, vigora, ainda, o Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei
Complementar Estadual n.º 3, de 27.08.1969), nas Resoluções n.ºs 1 e 2 do Tribunal
de Justiça e na Lei Complementar n.º 225, de 13.11.1979, no que não foram, ainda,
revogados, além do Regimento de Custas do Estado de São Paulo, Lei n.º 4.476, de
20.12.1984.
pág. 132
598) Quais os Tribunais da Justiça Estadual de São Paulo?
R.: A Justiça de São Paulo conta com os seguintes Tribunais: a) de Justiça; b) de
Alçada Criminal; c) de Alçada Civil (2 Tribunais, o primeiro e o segundo); e d) de
Justiça Militar Estadual.
599) Quais as competências de cada um?
R.: Os Tribunais da Justiça Estadual de São Paulo são os juízos de segundo grau de
jurisdição no Estado; os Tribunais de Alçada, instituídos por Constituições anteriores,
têm sua competência fixada pela natureza dos crimes ou das causas cíveis e não pelo
valor da causa; o Tribunal de Justiça tem competência residual, isto é, aprecia todas
as causas, cíveis e criminais, que a lei não remete aos Tribunais de Alçada; o Tribunal
de Justiça Militar do Estado de São Paulo é competente para apreciar os crimes militares
de que sejam acusados os integrantes da Polícia Militar, inclusive bombeiros.
600) Qual a estrutura orgânica dos Tribunais, no Estado de São Paulo?
R.: Inexiste hierarquia entre os Tribunais de Alçada e o de Justiça, mas a administração
da Justiça no Estado compete ao Tribunal de Justiça, especialmente por meio do Conselho
Superior da Magistratura, órgão disciplinar do Tribunal; cada Tribunal é dividido
em Câmaras, cada uma composta por 5 juízes (Alçada) ou desembargadores (Justiça);
a reunião de todas as Câmaras constitui o Tribunal Pleno; uma vez que o TJ de São
Paulo tem mais de 25 desembargadores, existe o órgão especial, composto pelos 25 membros
mais antigos.
601) Qual a estrutura do TJ de São Paulo e as competências de cada Câmara?
R.: Há 3 Seções no TJ: a) de Direito Privado, com 12 Câmaras; b) de Direito Público,
com 7 Câmaras; e c) de Direito Criminal, com 6 Câmaras; cada Câmara é composta por
5 desembargadores e a competência de cada uma é estabelecida por lei estadual, observada
a lei que rege a Magistratura nacional; compõem o TJ, sem compor as Câmaras comuns,
ainda: Presidente, Corregedor-Geral, 4 Vice-Presidentes e o "decano" (desembargador
mais antigo, excluídos os 6 anteriores).
pág. 133
602) Qual o cargo inicial da carreira da Magistratura?
R.: O cargo inicial da carreira da Magistratura é o de juiz substituto.
603) Como é o ingresso na carreira da Magistratura, na Justiça Comum?
R.: O sistema de ingresso é o heterogêneo: para o primeiro grau, no cargo de juiz
substituto, é sempre por meio de concurso público de provas e títulos; para o segundo
e último grau, o processo é a nomeação de advogados ou membros do MP, ou de promoção
de juízes de carreira, por critérios de antigüidade e merecimento.
604) O que é promoção?
R.: Promoção é a passagem do agente público de uma classe (ou grau) inferior para
outra superior, posto mais graduado, ao qual corresponde maior responsabilidade e
maior padrão de vencimentos.
605) Como são feitas as promoções na Justiça Comum do Estado de Paulo?
R.: Após 2 anos como juiz substituto, deverá o juiz requerer inscrição no concurso
de provas e títulos, apreciado pelo Tribunal de Justiça ou por seu órgão especial;
aprovado, será nomeado em caráter vitalício; reprovado, cessa a investidura. Após
a aprovação, poderá o juiz ser promovido, de entrância a entrância, e da entrância
mais elevada aos Tribunais de Alçada, e destes, ao Tribunal de Justiça, sempre segundo
critérios alternados de antigüidade e merecimento.
606) Quais são os órgãos da Justiça Militar do Estado de São Paulo?
R.: São órgãos da Justiça Militar do Estado de São Paulo: a) Conselhos de Justiça
(primeiro grau de jurisdição); e b) Tribunal de Justiça Militar. Nos Estados onde
o efetivo da Polícia Militar for inferior a 20.000 homens, não existe Tribunal de
Justiça Militar, competindo ao Tribunal de Justiça do Estado os julgamentos em segundo
grau de jurisdição.
607) O que são os Juizados Especiais?
R.: Os Juizados Especiais são órgãos do Poder Judiciário, criados pela CF de 1988
(art. 98, I), providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para
conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.
pág. 134
608) Qual o diploma legal que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais?
R.: O diploma legal que os criou é a Lei n.º 9.099, de 26.09.1995, que revogou a Lei
n.º 7.244, de 07.11.1984.
609) O que é a Justiça de paz?
R.: Justiça de paz é o ramo do Poder Judiciário, não dotado de atribuições jurisdicionais,
composto por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de
4 anos, remunerados e competentes para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar,
de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer
atribuições conciliatórias, além de outras previstas na legislação (art. 98, II).
VIII.3. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
610) O que se entende por funções essenciais à justiça?
R.: Entende-se por funções essenciais à Justiça o conjunto de atividades profissionais
jurídicas (exceto a Magistratura), públicas ou privadas, encarregadas de promover
o funcionamento da máquina do Poder Judiciário.
611) Quais as atividades previstas pela CF para o exercício de funções essenciais
à Justiça?
R.: A CF prevê as seguintes atividades: Ministério Público (arts. 127 a 130),
Advocacia-Geral da União (arts. 131 e 132), Advocacia e Defensoria Pública (arts.
133 a 135).
612) Qual a função do Ministério Público?
R.: Ao MP, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado (art.
127, caput), incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais, individuais e coletivos indisponíveis.
613) Por que o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário, se é órgão público
e a lei diz que é "essencial à função jurisdicional"?
R.: No Brasil, não pertence o MP ao Poder Judiciário, por determinação de nossa
Constituição, que não o vincula a qualquer dos poderes; poderia ser vinculado ao
Judiciário, o que ocorre em outros países, como a Itália, onde as funções do MP (que
não existe como instituição) são desempenhadas pelo Poder Judiciário; lá, os juízes
ora desempenham a função de julgadores (magistratura judicante) ora as funções do
MP (magistratura requerente).
pág. 135
614) Qual o diploma legal ao qual está sujeito o Ministério Público?
R.: O Ministério Público sujeita-se à Lei n.º 8.625, de 12.02.1993, denominada Lei
Orgânica do Ministério Público.
615) Quais os princípios institucionais do MP?
R.: Os princípios institucionais do MP são (arts. 127 e 128): a) unidade; b)
indivisibilidade; c) independência funcional; e d) autonomia funcional e
administrativa.
616) Em que consiste o princípio da unidade do MP?
R.: O princípio da unidade do MP consiste em considerar o Ministério Público como
uma só corporação, em todo o país, sendo aplicáveis os correspondentes dispositivos
legais a todos os Ministérios Públicos (órgãos) abrangidos pelo MP; evidencia-se,
por exemplo, na possibilidade de o chefe da Instituição substituir membros do MP em
suas funções, ou de delegar funções.
617) Em que consiste o princípio da indivisibilidade do MP?
R.: O princípio da indivisibilidade consiste em considerar o MP como corpo único,
hierarquizado; isso, no entanto, não pode ocorrer num sistema federativo, não
hierarquizado, onde existem relações funcionais de coordenação e de igualdade entre
os diversos parquets; o princípio deve ser entendido como aplicável, isoladamente,
ao MP Federal, aos MP's em cada Estado, e aos MP's que funcionam em jurisdições especiais,
mas sempre relativamente a cada parquet, onde existe hierarquia funcional em cada
instituição.
618) Em que consiste o princípio da independência funcional do MP?
R.: O princípio da independência funcional do MP consiste em que, cada membro do MP
age segundo sua própria consciência jurídica, sem aceitar interferência de outros
órgãos do próprio MP, de juízes ou do Poder Executivo, além da proibição de prestar
serviços a entidades públicas (CF, art. 129, IX).
pág. 136
619) Em que consiste o princípio da autonomia funcional e administrativa do MP?
R.: O princípio da autonomia funcional e administrativa do MP consiste em sua competência
para propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e títulos (art. 127, § 2.º)
e para elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei
de Diretrizes Orçamentárias (art. 127, § 3.º).
620) A que regras estão submetidos os integrantes do MP, com relação às promoções
na carreira e à aposentadoria?
R.: Aos representantes do MP aplicam-se os mesmos dispositivos constitucionais
referentes às promoções na carreira e à aposentadoria dos magistrados, isto é, as
constantes do art. 93, II e VI.
621) Como é feito o ingresso no Ministério Público?
R.: O ingresso no MP é feito mediante concurso de provas e títulos, observada, na
nomeação, a ordem de classificação.
622) Como se dá a promoção dos membros do MP?
R.: A promoção dos membros do MP segue os critérios de antigüidade e merecimento,
alternadamente, de uma entrância ou categoria para outra, e da entrância mais elevada
para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se, por analogia, o disposto na CF,
art. 93, incisos III e VI (que se refere ao Poder Judiciário).
623) Quais as garantias concedidas aos membros do MP?
R.: Aos membros do MP, assegura a CF (art. 128, I, II e III), garantias equivalentes
às dos magistrados: a) vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder
o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) inamovibilidade, salvo
por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do
MP, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; e c)
irredutibilidade de seus vencimentos.
pág. 137
624) Quais as vedações constitucionais impostas aos membros do MP?
R.: Aos membros do MP, impõe a CF (art. 128, § 5.º, II) as seguintes vedações: a)
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais; b) exercer a advocacia; c) participar de sociedade comercial, na forma
da lei; d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo
uma de magistério; e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas
na lei; e f) representação judicial e consultoria jurídica às entidades públicas (art.
129, IX).
625) Citar 5 funções institucionais do MP, determinadas pela atual CF?
R.: Conforme dispõe a CF (art. 129), são funções institucionais do MP (incisos I,
II, III, IV e V): a) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
b) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados na CF, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
c) promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; d)
promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção
da União e dos Estados nos casos previstos na CF; e e) defender judicialmente os direitos
e interesses das populações indígenas.
626) Quais os órgãos do MP?
R.: Segundo os arts. 128 e 130, são órgãos do MP: a) na esfera da União, o MP Federal,
o MP do Trabalho, o MP Militar e o MP do Distrito Federal; b) nos Estados, os MP's
Estaduais; c) na esfera do Poder Legislativo, MP's junto aos Tribunais de Contas.
627) Quem é a autoridade máxima do MP na esfera da União?
R.: A autoridade máxima do MP da União (que integra todos os MP's federais) é o
Procurador-Geral da República.
628) Como é escolhido o Procurador-Geral da República?
R.: O Procurador Geral da República é nomeado pelo Presidente da República dentre
integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação pela maioria absoluta
dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução (art.
128, II, § 1.º).
pág. 138
629) Como poderá ser destituído o Procurador-Geral da República?
R.: O Procurador-Geral da República poderá ser destituído mediante ato complexo, que
se integra pela iniciativa do Presidente da República, precedida de autorização da
maioria absoluta do Senado Federal (art. 128, II, § 2.º).
630) Como são escolhidos os Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal?
R.: Os Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal serão nomeados pelo Chefe
do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, escolhidos de
uma lista tríplice formada por integrantes da carreira, e elaborada pelos Ministérios
Públicos dos Estados e do Distrito Federal, na forma da lei respectiva (art. 128,
II, § 3.º).
631) É correta a denominação "mandato", relativamente à nomeação dos
Procuradores-Gerais?
R.: Não, pois não se trata de representação, nem mesmo nos casos de eleição dos
Procuradores-Gerais pelos procuradores dos Estados e do Distrito Federal; a denominação
apropriada é investidura (os Procuradores-Gerais são "investidos" no cargo) por tempo
determinado.
632) Como poderão ser destituídos os Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito
Federal?
R.: Poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo,
na forma da lei complementar respectiva (art. 128, II, § 4.º).
633) Quais os órgãos do Ministério Público do Estado de São Paulo?
R.: Segundo a Lei Complementar n.º 734, de 26.11.1993 (Lei Orgânica do MP no Estado
de São Paulo), são órgãos do MP paulista: a) de administração superior:
Procuradoria-Geral da Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e
Corregedoria-Geral; b) de administração: Procuradorias de Justiça e Promotorias de
Justiça; c) de execução: Procurador-Geral, Colégio de Procuradores da Justiça; e d)
auxiliares: Comissão de Concurso, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional,
órgãos de apoio técnico-administrativo, centros de apoio operacional, estagiários
(acadêmicos do 4.º e 5.º anos das Faculdades de Direito).
pág. 139
634) Em que consiste a Advocacia-Geral da União?
R.: A Advocacia-Geral da União é instituição criada pela atual CF (arts. 131 e 132),
e instituída pela Lei Complementar n.º 73, de 10.02.1993, e que tem por finalidade
representar a União em juízo e extrajudicialmente, diretamente ou por meio de órgão
vinculado, atividade anteriormente exercida pelo Ministério Público, por meio de
procuradores, além de prestar atividades de consultoria e assessoramento jurídico
do Poder Executivo.
635) Quem é o chefe da Advocacia-Geral da União, e como é nomeado?
R.: O chefe da Advocacia-Geral da União é o Advogado-Geral da União, nomeado livremente
pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada (art. 131, § 1.º) que não goza, no entanto, das mesmas
garantias de que dispõe o Procurador-Geral da República.
636) Como se ingressa na carreira da Advocacia-Geral da União?
R.: O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição é feito mediante
concurso público de provas e títulos (art. 131, § 2.º).
637) Deverá a Advocacia-Geral da União representar a União na execução da dívida ativa
de natureza tributária?
R.: Não. Embora a União seja titular do direito ao crédito tributário, na esfera federal,
dispõe o art. 131, § 3.º, expressamente, que a titularidade da representação da União
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
638) Quem deverá representar judicialmente e prestar consultoria jurídica às unidades
federadas?
R.: Segundo o art. 132, cabem a representação judicial e a consultoria jurídica às
unidades federadas, aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos.
pág. 140
639) Em que consiste a Defensoria Pública?
R.: A Defensoria Pública, criada pela CF de 1988, é instituição considerada essencial
à função jurisdicional do Estado (art. 134), e se destina à orientação jurídica e
à defesa judicial, de forma integral e gratuita, em todos os graus, dos economicamente
necessitados, permitindo colocar em prática a garantia individual assegurada pelo
art. 5.º, LXXIV, da CF.
640) De que modo deverá funcionar a Defensoria Pública?
R.: Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal,
prescrevendo normas gerais para sua organização e funcionamento nos Estados; o ingresso
na classe inicial da carreira, deverá ser feito mediante concurso de provas e títulos;
aos integrantes da carreira será assegurada a garantia da inamovibilidade e vedado
o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais (art. 134, parágrafo
único).
CAPÍTULO IX - OS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE DIREITO
IX.1. GENERALIDADES
641) O que significa Estado de Direito?
R.: Estado de Direito ou Estado Liberal de Direito (que se contrapõe ao Polizeistaat)
é aquele em que a Administração está subordinada à lei, que ela própria editou, ou
seja, é um Estado em que vigora o princípio da legalidade ("suporta a lei que fizeste");
a expressão foi cunhada pelo liberalismo, no século XIX, e reflete, no plano jurídico,
a concepção de democracia liberal.
642) Quais as características do Estado Liberal de Direito?
R.: O Estado Liberal de Direito apresenta as seguintes características: a) submissão
absoluta à lei formal, elaborada pelo Poder Legislativo; b) separação ou divisão de
Poderes; e c) garantia aos direitos individuais assegurados em lei.
643) Qual o significado moderno do vocábulo "democracia"?
R.: Atualmente, entende-se por democracia o sistema jurídico social em que as leis
são legítimas e respeitadas, e em que são preservados os valores e direitos fundamentais
da pessoa humana, tais como o da igualdade, o da liberdade e o da dignidade, respeitadas
as minorias, e em que as instituições são sólidas, garantindo a existência e o
funcionamento do sistema.
644) Democracia e Estado de Direito são expressões equivalentes?
R.: Não. A doutrina considera que democracia é vocábulo mais abrangente do que a expressão
"Estado de Direito".
pág. 142
645) Quais os princípios sobre os quais se baseia a democracia, segundo a doutrina
clássica?
R.: A doutrina clássica indica que a democracia se baseia nos seguintes princípios:
a) o da maioria; b) o da igualdade; e c) o da liberdade.
646) Por que o princípio da maioria não é mais considerado princípio da democracia?
R.: A doutrina moderna considera que maioria não é princípio, e sim, mera técnica
para a efetivação da democracia, adotada na realização de votações; como técnica,
pode ser substituída por outra, como por exemplo, a representação proporcional.
647) Quais os princípios sobre os quais se baseia a democracia, segundo a doutrina
moderna?
R.: A doutrina moderna indica que a democracia se baseia nos seguintes princípios:
a) o da soberania popular; e b) o da participação popular.
648) Em que consiste o princípio da soberania popular?
R.: O princípio da soberania popular consiste em considerar o povo como a fonte única
de poder ("todo poder emana do povo e em seu nome é exercido", de acordo com a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão).
649) Em que consiste o princípio da participação popular?
R.: O princípio da participação popular consiste no fato de que a vontade do povo
deverá ser efetivamente expressa, direta ou indiretamente, em todos os setores da
sociedade, desde a elaboração normativa até sua aplicação e reformulação.
650) Por que se considera que ficou superada a expressão "Estado Liberal de Direito"?
R.: Porque o conceito foi sendo deformado, pelo mau uso da expressão, que apresenta
ambigüidades, com o Estado sendo muitas vezes transformado em totalitário, ou então
limitado a um Estado de Legalidade, formal, e o Direito entendido como uma Justiça
arbitrária e ditatorial.
651) Como evoluiu o conceito de Estado Liberal de Direito?
R.: Os movimentos sociais do século XIX, reação às injustiças praticadas por detentores
de maior poder econômico contra parcelas menos favorecidas da população, mostraram
a insuficiência do Estado neutro, que se havia transformado em mero Estado material
de Direito, e que não regulava adequadamente as relações entre o Poder e a sociedade,
gerando bem-estar social (welfare state); esses movimentos deram origem ao Estado.
pág. 143
652) Por que se considera que ficou superada a expressão "Estado Social de Direito"?
R.: À semelhança do que ocorreu com a expressão "Estado de Direito", a ambigüidade
da palavra "Social" permitiu que regimes ditatoriais passassem a adotá-la (Alemanha
nazista, Espanha franquista), encobrindo, na verdade, formas de ditadura que
propiciavam benefícios sociais, mas não acolhiam princípios democráticos. Por isso,
a expressão, carregada de suspeitas, foi substituída por "Estado Social e Democrático
de Direito", ou "Estado Democrático de Direito".
653) Em que consiste o Estado Democrático de Direito?
R.: Estado Democrático de Direito é o que realiza a convivência humana em uma sociedade
livre e solidária, regulada por leis justas, em que o povo é adequadamente representado,
participando ativamente da organização social e política, permitida a convivência
de idéias opostas, expressas publicamente.
654) Qual a principal atribuição do Estado Democrático de Direito?
R.: A principal atribuição do Estado Democrático de Direito é o estabecimento de
políticas visando a eliminação das desigualdades sociais e desequilíbrios econômicos
regionais, e perseguir um ideal de justiça social, dentro de um sistema democrático
de exercício de poder.
655) Quais os princípios sobre os quais se baseia o Estado de Direito?
R.: O Estado Democrático de Direito baseia-se nos seguintes princípios: a) da
constitucionalidade; b) da democracia; c) da garantia aos direitos fundamentais; d)
da justiça social; e) da igualdade; f) da independência do juiz; g) da legalidade;
h) da separação dos poderes; e i) da segurança jurídica.
656) Como deve ser interpretado o princípio da igualdade?
R.: Pode-se falar em duas espécies de igualdades: a) a de direitos, (ou igualdade
civil), pela qual todos podem gozar de direitos, forma constitucionalmente consagrada
nas democracias ocidentais, e que somente permite diferenciações baseadas em
características pessoais, e não privilégios baseados em raça ou religião; e b) a de
fato (ou igualdade real), pela qual todos podem exercer seus direitos de forma
absolutamente igual, fórmula tentada pelas antigas "democracias socialistas"; o
princípio da igualdade, expresso em nossa CF (art. 5.º, caput), deve ser interpretado
como limitação ao legislador, no sentido de não promulgar normas que estabeleçam
privilégios a grupos ou classes, e também como orientador de interpretação pelo juiz,
que deve levar em conta as carências relativas de cada demandante.
pág. 144
657) O princípio da igualdade deve ser interpretado de modo absoluto?
R.: Não. O princípio da igualdade veda que sejam feitas diferenciações arbitrárias,
isto é, não previstas em lei; a própria Constituição institui desigualdades, como,
por exemplo, a de que somente brasileiros natos, maiores de 35 anos, possam ser eleitos
para a Presidência da República (diferenciação por nacionalidade e por idade).
658) A intervenção do Estado no domínio econômico pode ferir o princípio da igualdade?
R.: Em nome do atendimento aos interesses sociais, a atuação do Estado, no campo
econômico-tributário, pode ferir o princípio da igualdade, seja concedendo privilégios
aos menos aquinhoados, social e economicamente, seja impondo maiores tributos aos
que têm mais posses.
659) Em que consiste a isonomia formal?
R.: Por isonomia formal entende-se a igualdade perante a lei.
660) Em que consiste a isonomia material?
R.: Por isonomia material entende-se a igualdade efetiva, que resulta da concessão
de direitos sociais aos menos favorecidos, para que se equiparem aos mais favorecidos.
661) Citar casos de isonomia material encontrados na atual CF.
R.: Encontram-se casos de isonomia material em nossa CF, por exemplo, nos seguintes
dispositivos: a) proibição de diferenciar salários, do exercício de funções e de
critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7.º, XXX);
b) proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão
do trabalhador portador de deficiência (art. 7.º, XXXI); e c) gradação dos impostos
segundo a capacidade econômica do contribuinte, sempre que possível (art. 145, § 1.º).
pág. 145
662) Qual a conseqüência jurídica da promulgação de lei, ou ato administrativo, que
faça discriminação relativamente a matéria à qual a CF não previu discriminação?
R.: A lei ou o ato administrativo serão nulos de pleno direito, se contiverem
inconstitucionalidade: onde a Constituição não previu desigualdade, de forma explícita
ou implícita, não poderá qualquer lei ou ato admiti-la.
663) De que modos pode ocorrer a inconstitucionalidade, relativamente ao princípio
da igualdade?
R.: A inconstitucionalidade pode ocorrer mediante: a) concessão de benefício legítimo
(ex.: isenções, abatimento ou perdão de dívida) a pessoas ou grupos determinados,
não incluindo outros, em igual situação, que passam a ser desfavorecidos, por não
gozarem dos benefícios; ou b) imposição de qualquer obrigação (ex.: imposto, ônus,
sanção, proibição) a pessoas ou grupos determinados, não incluindo outros, em igual
situação, que passam a ser favorecidos pela ausência da obrigação.
664) Quais os instrumentos jurídicos adequados para coibir a inconstitucionalidade,
relativamente ao princípio da igualdade?
R.: Os instrumentos jurídicos adequados para coibir a inconstitucionalidade são: a)
no caso de concessão de benefício legítimo a pessoas ou grupos determinados, não
incluindo outros, em igual situação, os prejudicados deverão ajuizar ação visando
ao reconhecimento do direito aos discriminados; e b) no caso de imposição de obrigação
a pessoas ou grupos determinados, há dois caminhos: ação conjunta (eventualmente,
coletiva) daqueles que sofreram a imposição da obrigação, pedindo sua exclusão, fundada
em inconstitucionalidade, ou então, ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada
pelas pessoas autorizadas pelo art. 103.
665) Em que consiste o princípio da legalidade?
R.: Pelo princípio da legalidade, expresso em nossa CF (art. 5.º, II), ninguém pode
ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, o que
exprime um ideal de democracia, já que todos se sujeitam à norma editada por vontade
do Parlamento, que representa o povo.
pág. 146
IX.2. DOUTRINA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA EVOLUÇÃO
666) De que fontes foram extraídas as idéias inspiradoras das primeiras declarações
de direitos?
R.: As idéias inspiradoras das primeiras declarações de direitos foram extraídas do
Direito Natural e do pensamento filosófico judaico-cristão, os quais atenderam às
reivindicações das classes comercial e industrial emergentes do século XVIII, que
não mais suportava a opressão absolutista de um regime monárquico feudal e estagnado,
e se baseavam, inicialmente, na doutrina das liberdades públicas.
667) Vistos de uma perspectiva atual, que direitos ficaram excluídos das primeiras
declarações de direitos?
R.: Ficaram excluídos os chamados direitos sociais, expressão de significado
abrangente, que inclui os direitos econômicos e sócio-culturais; ao conjunto das
liberdades públicas e dos direitos sociais, dá-se o nome de direitos fundamentais.
668) Quais as modernas fontes inspiradoras dos direitos fundamentais?
R.: A partir do século XIX, o desenvolvimento industrial e o surgimento de uma classe
proletária organizada, permanentemente em confronto com a burguesia capitalista,
produziu novas idéias sobre a sociedade e sobre a tutela jurídica de seus interesses,
que se refletiram, principalmente, nos seguintes documentos e correntes: a) Manifesto
Comunista (e doutrinas subseqüentes, de inspiração marxista), apregoando liberdade
e igualdade materiais, a serem realizadas em regime socialista de governo; b) doutrina
social da Igreja Católica, expressa em diversas Encíclicas e Concílios; e c) doutrina
do intervencionismo do Estado na ordem econômica e social.
pág. 147
669) Que fatores influenciaram a transformação do Estado-polícia (na concepção liberal)
em Estado-providência?
R.: As massas populares passaram a exercer pressão, no sentido de buscar auxilio e
proteção do Estado em questões relativas à saúde, às condições de trabalho, à
aposentadoria e educação, enquanto as classes dominantes buscavam, ao contrário, fugir
ao controle do Estado; a dinâmica sócio-econômica do século XIX levou, no plano político,
ao sufrágio universal, na França, o que forçou a mudança da atuação do Estado, passando
o Parlamento a promulgar Constituição e leis garantindo direitos econômicos e sociais.
670) O que se entende por direitos individuais?
R.: Direitos individuais é expressão que designa o conjunto dos direitos fundamentais
do homem em relação à sociedade, aí incluídos os direitos à vida, à liberdade, à segurança,
à igualdade e à propriedade.
671) O que se entende por Direitos Públicos Subjetivos?
R.: Direitos Públicos Subjetivos é expressão que designa o conjunto de direitos do
homem em relação ao Estado, como, por exemplo, o direito de ação, que é o direito
a deduzir pretensões em juízo e o de receber a prestação jurisdicional adequada do
órgão público competente.
672) Qual a evolução histórica da inserção dos direitos fundamentais do homem nos
ordenamentos jurídicos?
R.: Inicialmente, no século XVIII, os direitos fundamentais eram proclamados em
documentos solenes (ex.: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão); a seguir,
no século XIX, passaram a integrar os preâmbulos das Constituições e dos tratados
internacionais (nestes últimos, ainda aparecem dessa forma); a partir do século XX,
ganharam lugar no próprio corpo das Constituições, positivando-se como normas jurídicas
constitucionais.
673) Quais as características gerais das primeiras declarações de direitos?
R.: As primeiras declarações de direitos, na Idade Média, continham enumerações de
direitos do homem, em abstrato, a eles destinados como cidadãos (os forais), ou a
determinados grupos de indivíduos, pertencentes a corporações ou a cidades (caso das
cartas de franquia); as declarações, a partir do século XVIII, expressam os direitos
do homem como uma delimitação ao poder do Estado.
pág. 148
674) Em que consistiam os primeiros direitos sociais e econômicos, que passaram a
ser objeto de tutela do Estado-previdência?
R.: O Estado-previdência, além das delimitações constitucionalmente previstas, passou
a ser titular de novas atribuições constitucionais, para criar serviços públicos
destinados a cumprir suas obrigações de cunho social, econômico e previdenciário;
o Estado passou, também, a garantir ao indivíduo o direito de reunião e de associação.
675) Qual o alcance jurídico dos direitos fundamentais do homem?
R.: Os direitos fundamentais do homem ganharam amplitude e importância tanto no
ordenamento jurídico interno dos países, pois adquiriram o peso de normas
constitucionais positivas, quanto no plano internacional, por constituírem objeto
de inúmeros tratados e convenções.
676) Quais as principais características dos direitos fundamentais do homem?
R.: As principais características dos direitos fundamentais do homem são: a) a
inalienabilidade; b) a imprescritibilidade; e c) a irrenunciabilidade.
677) Em que consiste a inalienabilidade dos direitos fundamentais do homem?
R.: A inalienabilidade consiste na impossibilidade jurídica de transferir esses
direitos (à vida, à liberdade), a qualquer título, por não terem conteúdo patrimonial.
678) Em que consiste a imprescritibilidade dos direitos fundamentais do homem?
R.: A imprescritibilidade consiste na possibilidade jurídica de pleitear sua tutela
sem qualquer limite de tempo, ainda que jamais exercidos, ou exercidos por algum tempo,
somente, pois consistem em direitos de cunho personalíssimo, não sendo jamais atingidos
pela prescrição.
pág. 149
679) Em que consiste a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais do homem?
R.: A irrenunciabilidade consiste na impossibilidade jurídica de o indivíduo abrir
mão desses direitos, expressa ou tacitamente, não deixando de gozar de sua tutela
jurídica, pelo seu não-exercício, ou por deixar de exercê-los.
680) Em que Constituições passaram a constar os direitos fundamentais do homem, em
sua perspectiva moderna?
R.: Os direitos fundamentais do homem passaram a constar da Constituição mexicana,
de 1917, com pequena repercussão, e das Constituições republicanas de Weimar (1919)
e da Espanha (1931); na Declaração russa de 1918 e nas Constituições soviéticas, não
havia delimitação ao poder do Estado frente ao indivíduo, sendo os direitos fundamentais
do homem reconhecidos dentro de uma visão coletivizada e uniforme da sociedade.
681) Em que consistem as garantias constitucionais?
R.: Garantias constitucionais são normas que delimitam a atuação do Estado, no sentido
de vedar a prática de atos que configurariam violação a direito reconhecido.
682) Qual a diferença entre garantias constitucionais e remédios constitucionais?
R.: Garantias constitucionais são normas que visam à prevenção da ocorrência de violações
a direitos reconhecidos; remédios constitucionais são medidas ou processos especiais,
previstos na Constituição (e geralmente regulamentados por diplomas legais
infra-constitucionais), cuja finalidade é a defesa de direitos já violados ou
iminentemente ameaçados, isto é, a modificação de uma situação jurídica, prévia e
ilegalmente alterada pela atuação do Estado.
683) O que se entende por "terceira geração de direitos"?
R.: Após as fases dos direitos individuais e dos direitos sociais, passa uma nova
espécie de direitos a ser considerada fundamental à própria existência do homem,
denominada pela doutrina, de terceira geração de direitos. Trata-se de direitos de
solidariedade entre todos os membros da espécie humana, tais como o direito ambiental,
o respeito ao patrimônio histórico, artístico e cultural da Humanidade, e o direito
à paz.
pág. 150
684) Qual a fonte normativa da terceira geração de direitos?
R.: As principais fontes normativas da terceira geração de direitos são os tratados
e convenções internacionais.
685) A CF brasileira de 1988 consagra a terceira geração de direitos?
R.: Nossa CF, considerada bastante avançada quanto à proteção a essa nova geração
de direitos, consagrou o Capítulo VI (Do Meio Ambiente) do Título VIII (da Ordem Social)
à proteção ao meio ambiente: o art. 225, com 6 parágrafos, incumbe o Poder Público
de assegurar a efetividade desses direitos e condiciona a exploração de recursos naturais
à observação a severas restrições legais.
IX.3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
686) Em que Constituição brasileira passaram a constar, em sua concepção social, os
direitos fundamentais do homem?
R.: Enquanto a Constituição do Império, de 1824, e a primeira da República, de 1891
refletiam o entendimento individualista dos direitos fundamentais, a de 1934 foi nossa
primeira Constituição a incorporar a concepção social dos direitos fundamentais do
homem.
687) Qual a classificação dos direitos fundamentais do homem, baseada na CF atual?
R.: A CF de 1988 consagra inúmeros direitos fundamentais do homem, que podem ser
classificados, segundo a ordem do atual texto constitucional, em direitos: a)
individuais (art. 5.º); b) coletivos (art. 5.º); c) sociais (arts. 6.º e 193 a 232);
d) à nacionalidade (art. 12); e) políticos (arts. 14, 15, 16 e 17); e f) econômicos
(arts. 170 a 192).
688) Em que aspectos, relativamente às garantias fundamentais, inovou a atual CF
brasileira em relação às anteriores?
R.: A atual CF desmembrou os direitos sociais da estrutura anterior (Ordem econômica
e social), conferindo-lhes maior importância; além de ser mais abrangente e extensa
do que as Constituições anteriores, incluiu, ao lado das garantias constitucionais
clássicas, o direito à informação, a proteção a direitos difusos (ao consumidor, ao
meio ambiente) e coletivos (ampliação da atuação dos Sindicatos).
pág. 151
689) Em que consiste a inviolabilidade do direito à vida?
R.: A inviolabilidade do direito à vida, assegurado pela CF, art. 5.º, caput, consiste
na proteção ao ser humano tanto no plano material (constituído por elementos
biofísico-psíquicos) quanto no plano imaterial (formado por elementos espirituais).
690) Que práticas são vedadas, com respeito à inviolabilidade do cito à vida?
R.: São vedadas quaisquer práticas que coloquem em risco a vida, desde a formação
do feto; assim, são vedados: o aborto (exceto nos casos de perigo à vida da gestante,
do feto ou de concepção resultante de estupro), a eutanásia (não há vedação
constitucional expressa), a pena de morte (art. 5.º, XLVII, exceto nos casos de guerra
declarada), as ofensas à integridade física (que constam do Código Penal, e são, na
CF, especialmente garantidos esses direitos aos presos - art. 5.º, XLIX) e à integridade
moral (como tortura ou tratamento desumano e degradante - art. 5.º, III); como corolário,
admite-se que alguém tire a vida de outrem nos casos de estado de necessidade, de
legítima defesa, de estrito cumprimento do dever legal e de exercício regular de direito
(art. 23 do CP).
691) Em que consiste o direito à privacidade?
R.: Direito à privacidade é espécie de direito individual, conexo ao direito à vida,
que consiste em resguardar informações sobre o indivíduo, que sobre elas mantém controle,
e não deseja revelá-las, a ninguém, ou somente a pessoas de sua escolha, incluindo
sua vida familiar, profissional e social.
692) Quais os direitos assegurados pela atual CF, cujo objeto imediato é a liberdade?
R.: Os direitos constitucionalmente assegurados, cujo objeto imediato é a liberdade,
são: a) o de locomoção; b) o de pensamento; c) o de reunião; d) o de associação; e)
o de profissão; f) o de ação; g) o de liberdade sindical; e h) o de greve.
pág. 152
693) Em que consiste o direito à liberdade de locomoção?
R.: O direito à liberdade de locomoção, isto é, o direito de, em tempo de paz, ir,
vir, e ficar, consta do art. 5.º, XV, da CF, e consiste em assegurar ao indivíduo
a movimentação e a permanência em qualquer ponto do país, nele podendo entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens, resguardados os direitos de terceiros e da sociedade em
geral.
694) Em que consiste o direito à liberdade de pensamento?
R.: O direito à liberdade de pensamento, isto é, o direito às próprias convicções
e à sua ampla expressão, consta dos arts. 5.º, incisos IV, V, VI, VIII, IX e XII,
e 220, caput e §§ 1.º, 2.º, e 6.º, da CF, consiste em assegurar ao indivíduo a possibilidade
de manifestar o pensamento, exprimir a atividade intelectual, artística, científica
e a de comunicação, praticar qualquer religião, filiar-se a partido ou associação
de qualquer tendência política ou filosófica, sem sofrer censura, sem necessitar de
licença prévia, e sem restrições a outros direitos, em virtude do exercício desses.
695) Quais os limites impostos à liberdade de pensamento?
R.: Quanto à liberdade de manifestação do pensamento, deverá o autor identificar-se
(art. 5.º, IV), pois, ao permanecer no anonimato, poderia atacar alguém, sem lhe dar
oportunidade de defesa; quanto à crença religiosa e a convicções filosóficas e políticas,
é vedado invocá-las para fugir ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (art. 5.º, VIII), como,
por exemplo, o serviço militar obrigatório; de modo geral, o exercício de quaisquer
direitos está subordinado ao respeito à ordem pública e aos bons costumes; quando
esses pensamentos são dirigidos a terceiros, por qualquer forma sigilosa
(correspondência fechada), esse sigilo há de ser respeitado, exceto o das comunicações
telefônicas que, por ordem judicial, podem ser violadas.
696) A regulamentação das diversões e espetáculos, por parte do Poder Público, contraria
a norma constitucional (CF, art. 220, § 2.º) que proíbe a censura?
R.: Não. A regulamentação das diversões e espetáculos públicos, classificando-os
segundo a idade dos espectadores, e determinando horários e locais adequados para
apresentações, para que não violem os valores éticos e sociais da pessoa e da família,
é objeto de lei federal ordinária (art. 220, § 3.º), serve de proteção à sociedade,
não se confundindo com a censura arbitrária.
pág. 153
697) Quais as conseqüências jurídicas da garantia constitucional de inviolabilidade
da correspondência?
R.: Além de sujeitar o infrator às penas da lei criminal, quaisquer provas obtidas
por meio de violação não autorizada serão consideradas ilícitas, e não poderão ser
aceitas em juízo (art. 5.º, LVI).
698) Em que consiste o direito à liberdade de reunião?
R.: O direito à liberdade de reunião, que consta do art. 5.º, XVI, consiste na autorização
constitucional para que as pessoas possam encontrar-se, de forma ocasional ou periódica,
mas descontínua, pacífica e em locais abertos ao público, independentemente de
autorização da autoridade competente, com a finalidade de discutir idéias ou assumir
posições em conjunto.
699) Que restrições sofre o direito à liberdade de reunião?
R.: A reunião deverá ser pacífica, e as pessoas reunidas, desarmadas, devendo avisar
previamente a autoridade competente; tampouco poderão frustrar reunião anteriormente
convocada para o mesmo local público e horário.
700) Em que consiste o direito à liberdade de associação?
R.: O direito à liberdade de associação, que consta do art. 5.º, incisos XVII a XXI,
consiste na autorização constitucional para que associações de pessoas possam ser
constituídas, e funcionem, de forma organizada, contínua e lícita, somente podendo
ser dissolvidas em virtude de decisão judicial transitada em julgado; a criação de
associações e de cooperativas, na forma da lei, independe de autorização do Poder
Público.
701) Que restrições sofre o direito à liberdade de associação?
R.: A associação não pode ter fins ilícitos, isto é, proibidos pela lei penal; além
disso, não são permitidas associações de caráter paramilitar; ninguém pode ser obrigado
a associar-se, ou permanecer associado.
pág. 154
702) Qual a diferença entre reunião e associação?
R.: Reunião designa agrupamento de pessoas que se encontram de maneira descontínua;
associação indica continuidade organizativa, inclusive com a constituição de pessoas
jurídicas.
703) Em que consiste o direito à liberdade de profissão?
R.: O direito à liberdade de profissão, que consta da CF, art. 5.º, XIII, consiste
na autorização constitucional a que as pessoas possam desenvolver quaisquer trabalhos,
ofícios ou profissões.
704) Em que consistem as restrições à liberdade de profissão?
R.: A liberdade para o exercício de grande parte das atividades profissionais é
condicionada às qualificações técnicas da pessoa, estabelecidas em lei.
705) Em que consiste o direito à liberdade de ação?
R.: O direito à liberdade de ação, que consta da CF, art. 5.º, II, consiste na autorização
constitucional para que as pessoas somente possam ser obrigadas a fazer algo, ou deixar
de fazê-lo, em virtude de lei ("princípio da legalidade").
706) Em que consiste o direito à liberdade de associação sindical?
R.: O direito à liberdade de associação sindical, que consta da CF, art. 8.º, consiste
na autorização constitucional a que profissionais ou trabalhadores possam filiar-se
a um sindicato, se o desejarem, não sendo exigida autorização do Estado para sua fundação,
exceto o registro no órgão competente; veda-se a dispensa de empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e,
se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer
falta grave.
707) Em que consistem as restrições à liberdade de associação sindical?
R.: Nenhum profissional ou trabalhador poderá ser obrigado a filiar-se ou manter-se
filiado a sindicato (art. 8.º, V) ; é vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica,
na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um Município (art.
8.º, II).
pág. 155
708) Em que consiste o direito de greve?
R.: O direito de greve, assegurado pela CF, art. 9.º, caput, permite aos trabalhadores
paralisarem suas atividades, como forma de pressão sobre os empregadores, sem sofrer
descontos relativos ao período de inação.
709) Quais os limites ao direito de greve?
R.: A Lei n.º 7.783, de 28.06.1989, que regulamenta a greve e define os serviços
essenciais, dispõe sobre as necessidades inadiáveis da comunidade, a serem atendidas
durante o período de paralisação; os abusos cometidos pelos grevistas sujeitam-nos
às penas da lei.
710) Quais os direitos assegurados pela atual CF, cujo objeto imediato é a segurança
do indivíduo, garantindo-lhe seus direitos subjetivos em geral?
R.: Os direitos constitucionalmente assegurados, e cujo objeto imediato é a segurança
do indivíduo, relativamente a seus direitos subjetivos em geral, além do direito à
legalidade (art. 5.º, II), consistem na vedação constitucional a que a lei não prejudique
(art. 5.º, XXXVI): a) o direito adquirido; b) o ato jurídico perfeito; e c) a coisa
julgada.
711) Quais as restrições à vedação constitucional de que não seja prejudicado direito
adquirido?
R.: A lei não poderá retroagir no tempo, exceto para beneficiar os titulares de algum
direito; lei nova poderá, no entanto, restringir ou suprimir direitos, no futuro.
712) Em que consiste o ato jurídico perfeito?
R.: Ato jurídico perfeito, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil - LICC (art.
6.º, § 1.º) é o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
713) Em que consiste a coisa julgada?
R.: Coisa julgada é a decisão judicial de que já não mais cabe recurso.
714) Qual a importância da vedação constitucional a que a lei prejudique o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada?
R.: A importância dessa vedação constitucional reside na garantia de estabilidade
das relações jurídicas, fator determinante na organização da sociedade e na manutenção
da paz social.
pág. 156
715) Quais os direitos assegurados pela atual CF, cujo objeto imediato é a segurança
pessoal do indivíduo?
R.: Os direitos constitucionalmente assegurados, e cujo objeto imediato é a segurança
pessoal do indivíduo, consistem: a) na inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas (art. 5.º, X); b) da inviolabilidade do domicílio
(art. 5.º, XI); e c) na vedação (art. 5.º, LXI) a que qualquer pessoa seja presa senão
em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente; proíbe-se, com esse dispositivo, a prisão arbitrária.
716) Quais as conseqüências da violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à
imagem das pessoas?
R.: Violada a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem, terá o ofendido o direito
subjetivo público de pleitear reparação dos danos materiais e/ou morais.
717) Em que consiste a proteção à intimidade e à vida privada?
R.: A proteção à intimidade e à vida privada consiste em assegurar às pessoas que
as informações de que dispõem com exclusividade, somente poderão ser reveladas a quem
desejarem, incluindo as relativas à vida familiar, social e profissional do indivíduo,
a entrada ilegal em seu domicílio, a violação de correspondência e o segredo
profissional.
718) Em que se distingue a privacidade da intimidade?
R.: Por privacidade, termo equivalente ao inglês privacy, entende-se um amplo espectro
da vida, envolvendo locais, informações privilegiadas, modo de vida, relações
familiares e afetivas, hábitos sociais e de consumo, bem como segredos e planos; por
intimidade, entende-se o conjunto de informações sobre a própria pessoa, envolvendo
seu universo interior, e que ela não deseja compartilhar, ou só se dispõe a fazê-lo
com pessoas determinadas, de sua própria escolha.
719) Em que consiste a inviolabilidade à honra das pessoas?
R.: A inviolabilidade à honra é a vedação a que sejam reveladas quaisquer informações,
falsas ou verdadeiras, ou características, sobre a pessoa, subjetivamente percebidas,
e cuja divulgação está ligada à própria percepção de sua dignidade como pessoa humana.
pág. 157
720) Em que consiste a inviolabilidade à imagem da pessoa?
R.: A inviolabilidade à imagem é a vedação a que sejam reveladas quaisquer informações,
falsas ou verdadeiras, ou características, sobre a pessoa, objetivamente percebidas,
e cuja divulgação está ligada à percepção do que as demais pessoas dela têm.
721) Quaís as exceções ao direito à inviolabilidade do domicílio do indivíduo?
R.: O domicílio somente poderá ser adentrado com consentimento do morador,
excepcionando-se as seguintes situações: a) de flagrante delito; b) de desastre; c)
ou para prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.
722) Quais as exceções constitucionais ao direito à segurança do indivíduo?
R.: A Constituição especifica, no próprio art. 5.º, LXI, os casos em que esse direito
não é assegurado: a) a transgressão militar; e b) o crime propriamente militar, ambos
definidos em lei.
723) Citar cinco dos principais direitos assegurados pela CF ao indivíduo, em matéria
penal.
R.: A CF assegura ao indivíduo, em matéria penal, dentre outros, os seguintes direitos,
constantes do art. 5.º da CF: a) vedação à existência de tribunais de exceção (inciso
XXXVII); b) instituição do júri (XXXVIII); c) da reserva legal (XXXIX); d) da
anterioridade da lei penal (XL); e) vedação à prática do racismo (XLII); e f) proibição
de penas que ultrapassem a pessoa do delinqüente (XLV).
724) Em que consiste o direito de propriedade?
R.: O direito de propriedade consiste na faculdade do indivíduo de poder dispor de
seu patrimônio, não podendo ser dele despojado, a não ser pelo Estado, mediante
desapropriação.
725) O direito de propriedade restringe-se a bens imóveis?
R.: Não. A concepção civilística, de que o proprietário pode usar, gozar e dispor
de coisa, é insuficiente para a proteção adequada à propriedade, que não se restringe
a objetos materiais; a propriedade refere-se a quaisquer bens, materiais ou imateriais,
desde que tenham conteúdo patrimonial, isto é, seu valor possa ser expresso em termos
monetários.
pág. 158
726) A garantia constitucional ao direito de propriedade privada é irrestrita ?
R.: Não. O direito de propriedade é garantido pela CF (art. 5.º, XXII), mas deverá
a propriedade atender a sua função social (inciso XXIII), podendo ser desapropriada
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social (XXIV), ou utilizada
pela autoridade competente em caso de iminente perigo (XXV).
727) Qual a conseqüência da transferência coercitiva da propriedade privada ao Poder
Público, ou do dano a ela causado pelos agentes do Estado?
R.: Transferida coercitivamente a propriedade privada ao Estado, ou danificada por
seus agentes, terá o proprietário direito à justa indenização, isto é, o recebimento
de valor monetário equivalente à diminuição de seu patrimônio.
728) De que modo pode a propriedade privada ser transferida para o patrimônio do Estado,
contra a vontade do proprietário?
R.: O mecanismo de transferência coercitiva da propriedade privada para o patrimônio
do Estado é denominado desapropriação (ou expropriação), ato de iniciativa do Poder
Público, que se obriga a compensar o particular por meio de indenização.
729) Qual a diferença entre desapropriação e confisco?
R.: À desapropriação corresponde sempre a devida indenização; no caso do confisco,
a transferência da propriedade privada do particular para o Estado, de forma coercitiva,
é efetuada sem pagamento de indenização.
730) Quais as diferenças entre desapropriação e requisição?
R.: Na desapropriação, ocorre transferência da propriedade privada para o patrimônio
do Estado, mediante pagamento de indenização prévia; na requisição, nem sempre ocorre
transferência de propriedade para o Estado (pode haver utilização temporária do bem),
e o pagamento da indenização é posterior.
731) Quais as diferenças entre requisição e confisco?
R.: Na requisição, nem sempre ocorre transferência de propriedade para o Estado (pode
haver utilização temporária do bem), e a indenização é paga posteriormente; no confisco,
ocorre transferência coercitiva da propriedade privada para o patrimônio do Estado,
mas não há falar em indenização.
pág. 159
732) Qual a proteção constitucional assegurada aos proprietários de pequenas
propriedades rurais?
R.: Pelo art. 5.º, XXVI, a pequena propriedade rural (cuja definição consta de lei),
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, desde que nela trabalhe a família do proprietário.
733) Quais os direitos à propriedade imaterial assegurados na Constituição Federal?
R.: A CF assegura proteção aos direitos à propriedade intelectual, que são o direito
de autor (incisos XXVII e XXVIII) e o direito de propriedade industrial (inciso XXIX).
734) As garantias à propriedade imaterial perduram por tempo ilimitado?
R.: Não. No caso de direito de autor, a proteção à própria obra é concedida por tempo
indeterminado, podendo ser alterada somente com seu consentimento; já os direitos
de conteúdo econômico (de publicação ou de reprodução, por exemplo) incorporam-se
ao patrimônio do autor, até sua morte, sendo transmitidos aos herdeiros, mas não
indefinidamente, e sim, por prazo estabelecido em lei; quanto aos direitos de propriedade
industrial (invenções, marcas e patentes, desenhos industriais ...), o interesse da
sociedade impõe que garantias sejam dadas aos inventores, mas por tempo mais curto,
segundo estabelecido em lei ordinária.
735) Qual a limitação temporal das garantias à propriedade privada?
R.: A propriedade privada é garantida, com as restrições legais, até a morte do titular;
com seu falecimento, transmitem-se todos os direitos de cunho patrimonial a seus
sucessores, na forma da lei civil, sendo constitucionalmente garantido o direito à
herança (art. 5.º, XXX).
CAPÍTULO X - OS REMÉDIOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL
X.1. GENERALIDADES
736) Em que consistem os remédios de Direito Constitucional?
R.: Remédios de Direito Constitucional (ou remédios constitucionais) são mecanismos,
expressamente previstos na Constituição Federal, que se destinam a reclamar o
restabelecimento de categoria especial de direitos públicos subjetivos violados, que
são os direitos fundamentais do homem.
737) Todos os remédios constitucionais são ações judiciais?
R.: Não. Dentre eles, por exemplo, está o direito de petição, que não é ação.
738) Como se denominam os remédios constitucionais que têm a forma de ação judiciária?
R.: Os remédios constitucionais que têm a forma da ação judiciária são denominados
ações constitucionais.
739) Constituem os remédios constitucionais, também, garantias constitucionais?
R.: Sim. Os remédios constitucionais são, também, garantias constitucionais, na medida
em que são instrumentos adequados para assegurar o exercício de direitos violados
ou em vias de sê-lo.
740) Quais os remédios constitucionais previstos na atual Constituição Federal?
R.: Os remédios constitucionais atualmente previstos na CF são: a) habeas corpus;
b) mandado de segurança; c) mandado de injunção; d) habeas data; e) ação popular;
f) ação civil pública; g) direito de petição; e h) direito a certidões.
pág. 162
X.2. HABEAS CORPUS
741) Qual a origem histórica do habeas corpus?
R.: O habeas corpus surgiu na Inglaterra, antes da Carta Magna de 1215, que foi o
primeiro diploma legal escrito, contendo o instituto.
742) O que significa a expressão habeas corpus?
R.: Habeas corpus significa, literalmente, "tenhas o corpo", e era parte da formulação
escrita do writ of habeas corpus, que dispunha: "Tome o corpo do delito e venha submeter
ao Tribunal o homem e o caso".
743) Era o habeas corpus inicialmente utilizado nos casos de violação do direito de
locomoção?
R.: Não. No início, sua utilização, inclusive em matéria de Direito Civil, estava
ligada à noção do devido processo legal (due process of law).
744) Quem concedia, inicialmente, o habeas corpus?
R.: A concessão do habeas corpus era privativa do Court of King's Bench, ou seja,
o Tribunal do Rei.
745) Como evoluiu, a seguir, o instituto?
R.: O habeas corpus passou a ser usado nos mais variados ramos do Direito, sendo
considerado meio para conduzir pessoas perante Tribunais; a Petição de Direitos
(Petition of Rights), de 1628, demandava seu estabelecimento como garantia ao direito
de locomoção, mas, nos casos de ordem de prisão dada pelo rei, recusavam-se os Tribunais
a concedê-lo; somente em 1679, com a promulgação da legislação que o emendou (Habeas
Corpus Amendment Act), ficou o instituto caracterizado como meio de assegurar, de
modo amplo, a liberdade de locomoção dos súditos ingleses, inclusive os enviados às
colônias inglesas de além-mar; em 1816 foi o instituto ampliado, cabendo em todos
os casos de constrangimento ilegal.
746) Como ingressou o instituto do habeas corpus no Direito brasileiro?
R.: O primeiro diploma legal a acolher formalmente o instituto foi o Código de Processo
Criminal, de 1832 (art. 340), embora o Código Criminal de 1830 já delineasse,
tentativamente, o habeas corpus; a Lei n.º 2.033, de 1871 estendeu o habeas corpus
aos estrangeiros.
pág. 163
747) Acolheu formalmente, a Constituição do Império, de 1824, o habeas corpus?
R.: Não. Nossa primeira Constituição não acolheu formalmente o instituto, mas como
tampouco o extinguiu, entende-se que o instituto continuou a vigorar, até ser
expressamente incluído no texto da Constituição de 1891 (art. 72, § 22).
748) Qual a amplitude do instituto, na CF de 1891?
R.: Segundo o art. 72, § 22, da CF de 1891, deveria ser concedido habeas corpus, sempre
que alguém estivesse sofrendo, ou em iminente perigo de sofrer, violência ou coação,
por ilegalidade ou abuso de poder, o que, sem dúvida, ampliava os casos de cabimento
do instituto, relativamente à legislação de 1832, incluindo, por exemplo, garantias
a violações de direitos civis.
749) Como passou a ser empregado o habeas corpus?
R.: O habeas corpus, na época de Rui Barbosa, passou a ser utilizado não apenas nos
casos de violação ao direito de locomoção, mas também quando qualquer direito se
encontrasse ameaçado, ou seu exercício impossibilitado pela intervenção de um abuso
de poder ou de uma ilegalidade; generalizou-se a tal ponto seu uso, que o STF, em
1909, passou a conceder habeas corpus também para garantir a liberdade de movimentos
necessária ao exercício de qualquer direito, desde que certo e incontestável.
750) Como foi, a seguir, reformulado o instituto, no Direito brasileiro?
R.: A Emenda Constitucional de 1926 limitou a aplicação do instituto à garantia do
direito de locomoção, sendo seu texto (art. 142, § 2.º) bastante semelhante ao texto
da atual Constituição.
751) A partir de que momento passou o instituto a ser efetivamente utilizado de modo
mais restrito, para garantir somente o direito de locomoção?
R.: Somente a partir da promulgação da Constituição de 1934, com a criação do mandado
de segurança, passou o habeas corpus a ser utilizado somente para garantir a liberdade
de locomoção.
752) Em que dispositivo constitucional se encontra, atualmente?
R.: Atualmente, encontra-se no art. 5.º, LXVIII, da CF de 1988: "conceder-se-á habeas
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".
pág. 164
753) Quem tem legitimidade para impetrar habeas corpus?
R.: Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, inclusive diretamente, sem advogado.
754) Quem pode beneficiar-se do habeas corpus?
R.: Qualquer pessoa cuja liberdade de locomoção se encontre tolhida ou ameaçada, por
ato ilegal ou que caracterize abuso de poder, seja ela nacional ou estrangeira, maior
ou menor de idade, poderá socorrer-se de habeas corpus.
755) Contra quem se dirige o habeas corpus?
R.: O habeas corpus é ação, cujo pedido é ordem judicial, dirigida contra quem estiver
ilegalmente restringindo a locomoção de outrem.
756) A ordem judicial é sempre dirigida contra agente do Poder Público?
R.: Geralmente, a ordem judicial é dirigida contra autoridade pública, como Delegado
ou Juiz de Direito; a jurisprudência tem admitido, no entanto, habeas corpus contra
particular, como, por exemplo, o diretor de hospital, que não permite saída de paciente
sem que tenha pago a conta de internação.
757) Estará a ordem judicial, dirigida contra autoridade pública, pertencente ao Poder
Executivo, violando o princípio da separação dos poderes?
R.: Não. A ordem judicial tem o sentido de indicar como deve a lei ser aplicada ao
caso concreto, havendo descumprimento, por parte da autoridade coatora.
758) Que limitações sofre a aplicação do habeas corpus?
R.: De acordo com a CF, art. 142, § 2.º, não caberá habeas corpus no caso de cerceamento
ao direito de locomoção com relação a punições disciplinares, previstas na legislação
militar.
759) Quais os pressupostos da punição militar?
R.: Para que seja aplicada punição militar, são necessários os seguintes pressupostos:
a) hierarquia - o infrator deverá estar subordinado a quem o punir; b) poder disciplinar
- ao superior hierárquico deverá ser concedido o poder de punir; c) o fundamento da
punição deve estar ligado à função do infrator; e d) para a infração, deve haver pena,
prevista em lei.
pág. 165
760) Como será considerada a punição militar, à qual falta um dos pressupostos legais?
R.: Caso falte qualquer dos pressupostos legais, a punição militar será ilegal, podendo,
nesse caso, ser utilizado o habeas corpus.
V. MANDADO DE SEGURANÇA
761) O que é o mandado de segurança?
R.: Mandado de segurança é espécie de remédio constitucional, considerado pela maioria
dos doutrinadores como ação civil documental, de rito especial, destinado a socorrer
titular de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou por omissão
de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público. Pontes de Miranda classifica-o como ação mandamental.
762) Com que institutos do direito estrangeiro costuma ser comparado o mandado de
segurança?
R.: O mandado de segurança costuma ser comparado ao writ of injunction, do direito
norte-americano, e ao juicio de amparo, do direito mexicano.
763) Situa-se a origem histórica do mandado de segurança no direito estrangeiro?
R.: Não. O mandado de segurança é criação original do direito brasileiro, tendo suas
raízes no instituto do habeas corpus, cuja aplicação foi limitada, pela reforma
constitucional de 1926, à garantia do direito de locomoção, não mais podendo amparar
outros direitos fundamentais; a polêmica entre os mais renomados juristas da época,
sobre a criação de novo instituto, que deveria tutelar esses direitos, somente findou
com a promulgação da CF de 1934, que criou o mandado de segurança (art. 113).
pág. 166
764) As Constituições posteriores mantiveram o mandado de segurança?
R.: A CF de 1937 não dispunha sobre o instituto, que, no entanto, não deixou de ser
utilizado, só retornando ao texto constitucional com a promulgação da CF de 1946,
e sendo mantido pelas Constituições posteriores.
765) Qual a importante inovação da CF de 1988, relativamente ao mandado de segurança?
R.: A CF de 1988 introduziu nova espécie de mandado de segurança; ao lado do mandado
de segurança individual, criou o mandado de segurança coletivo.
766) Em que dispositivo constitucional atual se encontra o mandado de segurança?
R.: O mandado de segurança consta do art. 5.º, LXIX da CF de 1988, que dispõe:
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público".
767) O que significa a expressão "direito líquido e certo"?
R.: Significa que há certeza quanto aos fatos e que o direito pertence ao impetrante.
O direito deverá ser comprovado de plano, juntamente com a petição inicial, pois não
existe a fase de instrução, nem qualquer outra posterior oportunidade processual para
oferecer prova.
768) O mandado de segurança ampara somente os direitos constitucionalmente assegurados?
R.: Não. O mandado de segurança pode ser utilizado para amparar o exercício de qualquer
direito líquido e certo, e não apenas os constitucionalmente assegurados.
769) Quem tem legitimidade para impetrar mandado de segurança individual?
R.: Qualquer pessoa, natural ou jurídica, que possua capacidade de direito, tem
legitimidade para impetrar mandado de segurança. Admite-se também que entidades sem
personalidade jurídica, mas dotadas de capacidade processual (espólio, massa falida,
consórcio, condomínio de edifícios, herança jacente ou vacante), e entidades públicas
possam utilizar-se do mandado de segurança.
pág. 167
770) A autoridade coatora é citada?
R.: Não. É notificada para, em 10 dias prestar informações, se o desejar. A falta
de informações não acarreta revelia nem confissão.
771) O Ministério Público intervém?
R.: Após a prestação de informações, por parte da autoridade coatora, ou do decurso
do prazo de 10 dias, deixado passar in albis, o MP recebe os autos, devendo-se sobre
eles manifestar dentro de 5 dias. Sem a manifestação do MP, que se justifica por sua
atuação como defensor do interesse público, o processo ficará eivado de nulidade
insanável.
772) O que se entende por autoridade pública?
R.: Entende-se por autoridade pública toda pessoa física que exerce função pública,
tal como os agentes administrativos, os agentes delegados e os agentes políticos.
773) Quem se considera agente delegado?
R.: Agente delegado é aquele que exerce função pública por delegação, como concessionário
ou permissionário de obras ou serviços, os funcionários dos registros públicos, os
serventuários da Justiça, e todos aqueles cuja atividade está sujeita à autorização
do Poder Público.
774) Qual diploma legal regula o mandado de segurança?
R.: O diploma legal que regula o mandado de segurança é a Lei n.º 1.533, de 31.12.1951.
775) Contra quem deverá ser impetrado mandado de segurança, no caso de violação de
direito líquido e certo por ato emanado de órgão colegiado?
R.: O mandado de segurança deverá ser impetrado contra o presidente do órgão colegiado.
776) Contra quem deverá ser impetrado mandado de segurança, no caso de violação de
direito líquido e certo por ato complexo, isto é, em cuja formação interferem vontades
de vários órgãos?
R.: O mandado de segurança deverá ser impetrado contra a última autoridade que, com
sua vontade, integrou o ato.
pág. 168
777) Violado direito líquido e certo, pelo Poder Público, como se determinará qual
o remédio constitucional adequado à tutela, habeas corpus, habeas data ou mandado
de segurança?
R.: A determinação de qual remédio constitucional deverá ser utilizado é feita
examinando-se a natureza do direito violado, por exclusão: se de locomoção, deverá
ser utilizado habeas corpus; se relativo à informações sobre a pessoa do impetrante,
ou retificação de dados, habeas data; se não for nenhum desses casos, conclui-se que
deverá ser utilizado mandado de segurança.
778) Qual o prazo para impetração do mandado de segurança?
R.: O prazo, de decadência, é de 120 dias, após a ciência, pelo interessado, da ocorrência
da lesão ou ameaça de lesão.
779) Perdido o prazo para a impetração de mandado de segurança, ficará o titular do
direito líquido e certo desamparado?
R.: Não. Poderá ajuizar a ação civil correspondente à tutela do direito que pretende
ter assegurado, que é, no entanto, procedimento muito mais moroso e complicado.
780) Em que dispositivo constitucional se encontra o mandado de segurança coletivo?
R.: O mandado de segurança coletivo encontra-se na atual CF, no art. 5.º, LXX: "O
mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com
representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa
dos interesses de seus membros ou associados".
781) Que espécies de interesses podem ser tutelados pelo mandado de segurança coletivo?
R.: O mandado de segurança coletivo serve para tutelar direitos subjetivos individuais
dos membros das instituições legitimadas, e também para a defesa de direitos difusos
e coletivos.
pág. 169
X.4. MANDADO DE INJUNÇÃO
782) Quando é prevista a concessão de mandado de injunção?
R.: Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania (CF, art. 5.º, LXXI).
783) Qual a principal finalidade do mandado de injunção?
R.: A principal finalidade do mandado de injunção é impor imediata aplicabilidade
à norma constitucional que contém os direitos e prerrogativas previstos no art. 5.º,
LXXI, à qual falta disciplinação legal.
784) Quais os pontos comuns e as diferenças entre o mandado de injunção e a ação direta
de constitucionalidade por omissão (Adin)?
R.: Ponto comum: o alcance de ambos é o mesmo, isto é, têm por fundamento uma
inconstitucionalidade por omissão. Diferenças: a) o mandado de injunção só cabe quando
faltar norma relativa aos exercícios dos direitos e liberdades constitucionais e o
exercício da cidadania, nacionalidade e soberania; a Adin tem maior alcance, pois
é cabível para promover a efetivação de qualquer norma constitucional; b) a competência
para julgar, no mandado de injunção, pode ser do STF ou do STJ; na Adin, a competência
é diversa, a depender da autoridade que se omitiu na produção da norma; c) tem legitimidade
para o mandado de injunção qualquer titular de direitos que não possam ser exercidos
por falta de norma infraconstitucional regulamentadora; para promover a Adin, somente
estão legitimadas as pessoas indicadas pelo art. 103 da CF; e d) no mandado de injunção,
várias autoridades podem ser responsabilizadas pela ausência de norma, enquanto que
na Adin, a omissão somente pode ser dos Poderes Executivo e Legislativo.
X.5.HABEAS DATA
785) Quando se concederá habeas data?
R.: Será concedido habeas data (art. 5.º, LXXII): a) para assegurar o conhecimento
de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos
de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e b) para a retificação
de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo.
pág. 170
786) Que espécie de proteção é assegurada pelo habeas data?
R.: O habeas data, inovação da CF de 1988, confere proteção aos indivíduos do uso
indevido, errôneo ou abusivo de dados pessoais, de interesse particular, obtidos pelo
Estado, durante o regime autoritário, muitas vezes por meios ardilosos ou indiretos.
787) Quem é legitimado ativa e passivamente no habeas data?
R.: Legitimado ativo: qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, dotada de capacidade
postulatória, desde que a informação governamental se refira a ela própria e seja
de seu interesse particular; legitimado passivo: é a entidade governamental ou de
caráter público que mantenha sob sua guarda e responsabilidade conjunto de dados sobre
a pessoa.
X.6. AÇÃO POPULAR
788) O que é ação popular?
R.: Ação popular é a ação civil por meio da qual qualquer cidadão pode pedir a anulação
de ato lesivo ao patrimônio público, ao erário, ou à entidade de que o Estado participe,
ou ainda à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural (CF, art. 5.º, LXXIII). A ação popular foi regulamentada pela Lei n.º 4.717,
de 19.06.1965, recepcionada pela CF de 1988.
789) Qual a origem histórica da ação popular?
R.: A doutrina identifica a origem da ação popular já no Direito Romano, da qual
subsistiram alguns resquícios, no direito dos países europeus, até o século XIX. A
Constituição Espanhola de 1931 previa essa ação, especialmente no campo do Direito
Penal; a CF de 1934 foi nossa primeira Carta a estabelecê-la, mas a CF de 1937 não
a contemplou; desde a CF de 1946, consta de nossas Constituições.
790) Quem tem legitimidade ativa e passiva para propor ação popular?
R.: Legitimidade ativa: qualquer cidadão, isto é, qualquer pessoa em pleno gozo de
seus direitos políticos; legitimidade passiva: pessoas jurídicas, públicas e privadas,
de quem emanou o ato; autoridades, funcionários ou administradores que houverem
aprovado, ratificado ou praticado o ato lesivo, ou que, por omissões, tiverem dado
oportunidade a que tenha ocorrido lesão; beneficiários diretos do ato lesivo.
pág. 171
791) Qual a natureza jurídica da ação popular?
R.: A ação popular é ação cognitiva, de natureza dúplice, constitutiva e condenatória.
792) Qual a atuação do Ministério Público na ação popular?
R.: Na fase de conhecimento, o MP exerce função auxiliar, não lhe sendo permitido
defender o ato impugnado. Na execução, o MP é dotado de legitimidade extraordinária
subsidiária, devendo promovê-la após o prazo de 60 dias da sentença condenatória
transitada em julgado, caso dentro desse prazo, o autor da ação ou terceiro não tenha
iniciado a execução.
X.7. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
793) O que é a ação civil pública?
R.: Ação civil pública é forma processual de tutela de direitos fundamentais expressos
na Constituição, especialmente os referentes ao patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
794) A ação civil pública está prevista no Título II ("Dos Direitos e Garantias
Fundamentais") da CF de 1988, junto com os demais remédios constitucionais?
R.: Não. Embora se constitua em inequívoco remédio constitucional, aparece a ação
civil pública somente no art. 129, III, dentre as atribuições do Ministério Público;
além disso, sobre ela dispõe a Lei n.º 7.347, de 24.07.1985.
795) Qual a atuação do MP na ação civil pública?
R.: Embora o MP seja competente para propô-la, a competência não é privativa, pois
outros órgãos e entidades podem atuar no pólo ativo; pode, portanto, o MP: a) ser
autor da ação; b) atuar como fiscal da lei; c) promover a execução, se não realizada
dentro de 60 dias, pelo autor; e d) realizar o inquérito civil exigido pela lei. O
MP pode agir de ofício ou por provocação feita por qualquer legitimado.
pág. 172
796) Qual o objeto da ação civil pública?
R.: O objeto da ação civil pública é o da condenação do réu em perdas e danos, sendo
o valor da condenação destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados; pode
também ser pedido o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, sob pena de
execução específica ou cominação de multa diária.
X.8. DIREITO DE PETIÇÃO
797) Em que consiste o direito de petição?
R.: Direito de petição consiste na garantia constitucional que tem qualquer indivíduo,
de apresentar, em forma escrita, defesa, perante a autoridade pública, de direito
seu ou de outrem, ou formular denúncia contra ilegalidade ou abuso de poder.
798) Em que dispositivo constitucional consta o direito de petição?
R.: O direito de petição consta do art. 5.º, XXXIV, a, da CF.
799) A quem cabe o direito de petição?
R.: O direito de petição cabe a qualquer pessoa, física ou jurídica, brasileira ou
estrangeira. Aos militares, o direito de petição exige, para ser individualmente
exercido, que sejam observadas regras de hierarquia e disciplina.
800) A quem deve ser dirigida a petição?
R.: A petição deve ser dirigida a qualquer autoridade do Poder Executivo, do Poder
Judiciário ou do Poder Legislativo.
801) Como deverá a autoridade proceder, ao receber a petição?
R.: Ao receber a petição, deverá a autoridade pronunciar-se sobre ela, motivando-lhe
a resposta.
802) Qual a conseqüência da falta de pronunciamento, por parte da autoridade que recebeu
a petição?
R.: A falta de pronunciamento pode implicar: a) impetração de mandado de segurança
contra a autoridade, para que se manifeste, em casos de defesa de direitos; ou b)
responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal, quando a petição for
relativa a correção de abuso de autoridade, conforme a Lei n.º 4.898/65.
pág. 173
803) Qual a relação entre o direito de representação e o direito de petição?
R.: O direito de representação consiste em manifestação de opinião, na forma de
informação escrita, contendo aspiração individual ou coletiva, apresentada à
autoridade, sendo, anteriormente, separado do direito de petição. O que a CF atual
denomina direito de petição, engloba ambos, podendo a representação ser formulada
por meio de petição.
X.9. DIREITO A CERTIDÕES
804) Em que consiste o direito a certidões?
R.: Direito a certidões consiste na garantia constitucional a que qualquer pessoa
possa obter, da repartição pública competente, certidões que lhe permitam defender
seus direitos e esclarecer situações de interesse pessoal, independentemente do
pagamento de taxas (art. 5.º, XXXIV, b).
805) A entrega de certidões exige disciplina legal específica?
R.: Não. Desde a CF de 1946, pode o direito a certidões ser exercido independentemente
da existência de lei específica, entendendo-se que o texto constitucional é
imediatamente aplicável.
806) Qual o remédio constitucional aplicável, no caso de recusa da repartição pública,
de entregar certidão àquele que legitimamente a solicitou?
R.: O interessado deverá impetrar mandado de segurança contra o funcionário mais graduado
da repartição pública.
CAPÍTULO XI - OS SISTEMAS DE EMERGÊNCIA
XI.1. PRINCIPAIS SISTEMAS
807) Quais os principais sistemas utilizados para enfrentar os períodos de crise
política, em que há ameaça à ordem constitucional, ou perigo de instabilidade
institucional?
R.: Os principais sistemas de defesa da ordem constitucional e das instituições, em
períodos de crise política, são: a) suspensão da Constituição; b) lei marcial; c)
estado de defesa; d) estado de sítio; e) suspensão do habeas corpus; e f) ditadura
constitucional.
808) Em que consiste a suspensão da Constituição?
R.: Suspensão da Constituição é medida prevista na própria Constituição, para casos
de guerra, e que tem por finalidade concentrar todo o poder nas mãos do Chefe de Estado,
reduzindo a influência do Poder Legislativo.
809) Qual a origem da medida de suspensão da Constituição?
R.: A suspensão da Constituição é medida prevista, pela primeira vez, na História,
na Constituição francesa de 1799, promulgada por Napoleão Bonaparte; aproxima-se da
ditadura romana, utilizada em situações de grave perigo, durante as quais o poder
era exercido, na época clássica, por um único magistrado, e, na República, por um
ditador, nomeado pelos cônsules, por determinação do Senado Romano.
810) Em que período da História do Brasil houve previsão constitucional para a suspensão
da Constituição?
R.: Durante a vigência da CF de 1937, e até a CF seguinte, de 1946, previa o texto
constitucional o estado de emergência, em caso de guerra.
811) O que é lei marcial?
R.: Lei marcial é o estado de fato, em que a autoridade pública pode praticar todos
os atos que for capaz de provar necessários, perante um Tribunal regular, para manter
ou restabelecer a ordem, ameaçada por circunstância de especial gravidade.
pág. 176
812) O que se considera circunstância de especial gravidade?
R.: Os Tribunais, rigorosos quanto à análise dos procedimentos excepcionais, consideram
circunstância de especial gravidade aquela capaz de interromper o funcionamento normal
do Estado ou a execução da Justiça.
813) Qual a origem histórica da lei marcial?
R.: O sistema da lei marcial tem origem nos países do Common Law, sendo prevista em
lei ordinária, concedendo-se à Coroa e seus agentes o poder de repelir invasões,
insurreições, tumultos ou qualquer resistência violenta à lei, mediante o emprego
de força.
814) Qual o efeito jurídico da proclamação da lei marcial?
R.: A proclamação da lei marcial é mera advertência à população em geral, de que a
força militar poderá ser empregada para manter ou restabelecer a ordem, caso ameaçada,
não tendo qualquer efeito jurídico.
815) Produz a lei marcial alteração no ordenamento jurídico do país?
R.: Não. A adoção da lei marcial não produz alteração no ordenamento jurídico do país;
alteram-se somente os mecanismos de manutenção da ordem social e jurídica vigentes,
pelo emprego da força militar.
816) Será permitida a prática de quaisquer atos ofensivos aos direitos fundamentais,
pelas forças militares, durante a lei marcial?
R.: Não. Somente os atos justificáveis perante Tribunal regular serão admissíveis;
quaisquer atos injustificados, praticados pelas forças militares, lesivos aos direitos
fundamentais, sujeitam os autores a severas penas.
817) O que é estado de defesa?
R.: Estado de defesa é a situação jurídica excepcional e emergencial, decretada quando
a ordem pública ou a paz social se encontram ameaçadas por grave e iminente instabilidade
institucional, ou atingidas por calamidade natural de grandes proporções. Conjunto
de medidas coercitivas, tomadas pelo Poder Público.
pág. 177
818) Quem poderá decretar o estado de defesa, no Brasil?
R.: De acordo com a CF, art. 136, caput, somente o Presidente da República, ouvidos
o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar o estado
de defesa.
819) O que deverá conter o decreto que instituir o estado de defesa?
R.: O decreto deverá conter: a) o tempo de sua duração; b) as áreas a serem abrangidas;
e c) as medidas coercitivas a vigorarem, nos termos e limites da lei (art. 136, §
1.º).
820) O que deverá fazer o Presidente da República, após decretar o estado de defesa,
ou sua prorrogação?
R.: O Presidente da República deverá submeter o ato, dentro de 24 horas, com a respectiva
justificação, ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta; se o Congresso
estiver em recesso, será convocado extraordinariamente, no prazo de 5 dias; a apreciação,
por parte do Congresso, deverá ocorrer em 10 dias contados do recebimento do decreto,
devendo permanecer em funcionamento; rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado
de defesa (art. 136, §§ 4.º, 5.º, 6.º e 7.º).
821) Quais as medidas coercitivas que podem vigorar no estado de defesa?
R.: Podem vigorar, dentre outras, as seguintes medidas coercitivas: a) restrições
aos direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de comunicação telegráfica
e telefônica; b) ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, nas hipóteses
de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes (art.
136, § 1.º, I e II).
822) Qual o tempo máximo de duração do estado de defesa?
R.: O estado de defesa pode perdurar por, no máximo, 30 dias, sendo prorrogável uma
única vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação
(art. 136, § 2.º).
823) O que é estado de sítio?
R.: Estado de sítio é a situação jurídica excepcional e emergencial, durante a qual
determinadas garantias constitucionais aos direitos fundamentais ficam suspensas,
de forma temporária e localizada, quando a ordem pública se vê ameaçada por situação
de especial gravidade.
pág. 178
824) Qual a origem do estado de sítio?
R.: O estado de sítio tem origem nos países de direito positivo, em especial na França,
em 1791, quando um Decreto previu a possibilidade de sua decretação, mas somente para
casos de cerco por exércitos inimigos.
825) De que forma dispunham as Constituições do Brasil sobre o estado de sítio?
R.: A CF de 1824 já previa o estado de sítio, sem, no entanto, utilizar a expressão;
a CF de 1891 o previa, com emprego explícito da expressão; a CF de 1934 regulou
detalhadamente o instituto para o caso de guerra; a CF de 1937 o manteve, incluindo
as hipóteses de crises internas; a CF de 1946 restabeleceu o sistema de 1934; a CF
de 1967 apresentou poucas modificações a esse respeito; a CF de 1988 eliminou as
expressões estado de emergência e medidas de emergência.
826) Qual a diferença entre a lei marcial e o estado de sítio?
R.: A lei marcial não é estado de direito, e sim, mero estado de fato; o estado de
sítio depende de declaração formal do Poder Público, sendo, portanto, um estado de
direito.
827) Qual a diferença entre suspensão da Constituição e estado de sítio?
R.: Durante a suspensão da Constituição, nenhum de seus dispositivos tem eficácia
jurídica; durante o estado de sítio, somente alguns dos dispositivos constitucionais
perdem, temporariamente, a eficácia, em especial os relativos às garantias dos direitos
fundamentais.
828) Quem poderá decretar o estado de sítio, no Brasil?
R.: De acordo com a CF, art. 137, caput, somente o Presidente da República poderá
decretar o estado de sítio, por solicitação ao Congresso Nacional, ouvidos o Conselho
da República e o Conselho da Defesa Nacional.
829) Em que casos poderá ser decretado o estado de sítio, no Brasil?
R.: Segundo a CF, art. 137, I e II, poderá o Congresso Nacional autorizar a decretação
do estado de sítio nos casos de: a) comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência
de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; ou
b) declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
pág. 179
830) Qual o quorum necessário para a decretação do estado de sítio, pelo Congresso
Nacional?
R.: A decisão do Congresso Nacional, ao apreciar o pedido fundamentado do Presidente
da República, aprovando a decretação ou prorrogação do estado de sítio, deverá ser
tomada por quorum qualificado de maioria absoluta (art. 137, parágrafo único).
831) O que deverá indicar o decreto do estado de sítio?
R.: O decreto do estado de sítio deverá indicar: a) o tempo de duração; b) as normas
necessárias à execução; e c) as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Depois
de publicado, deverá o Presidente da República designar o executor das medidas
específicas e as áreas abrangidas (art. 138, caput).
832) Qual o prazo de decretação do estado de sítio, em casos de comoção grave de repercussão
nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante
o estado e defesa (art. 137, I)?
R.: Nesses casos, a decretação do estado de sítio não poderá ser superior a 30 dias,
nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior (art. 138, § 1.º, primeira parte).
833) Qual o prazo de decretação do estado de sítio, em casos de declaração de estado
de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira?
R.: Nesses casos, poderá ser decretado o estado de sítio por todo o tempo que perdurar
a guerra ou a agressão armada estrangeira (art. 138, § 1.º, segunda parte).
834) Qual o fundamento jurídico que justifica a limitação, no tempo, da duração do
estado de sítio?
R.: A limitação temporal encontra justificativa no fato de que, se perdurasse
indefinidamente o estado de sítio, haveria efetiva supressão das garantias
fundamentais, e não mera suspensão.
pág. 180
835) O que ocorrerá se a solicitação do Presidente da República ao Congresso Nacional,
para a decretação do estado de sítio, ocorrer durante o recesso parlamentar?
R.: Nesse caso, deverá o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocar
extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de
apreciar o ato (art. 138, § 2.º).
836) O estado de sítio somente poderá ser decretado em partes do território nacional,
ou poderá, também, ser decretado para todo o território?
R.: Embora haja discussões a respeito, na doutrina, a melhor posição é a que admite
a possibilidade de decretação do estado de sítio em todo o território nacional, pois
podem ocorrer eventos que justifiquem a medida, simultaneamente, em todo o País.
837) Paralisará o Congresso Nacional suas atividades, se o estado de sítio for decretado
5 dias antes do recesso parlamentar?
R.: Não. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término da vigência
do estado de sítio.
838) Que medidas poderão ser tomadas contra as pessoas, na vigência do estado de sítio,
quando decretado nos casos do art. 137, I?
R.: De acordo com a CF, art. 139, nesses casos, as seguintes medidas poderão ser tomadas:
a) obrigação de permanência em localidade determinada; b) detenção em edifício não
destinado a acusados ou condenados por crime comum; c) restrições relativas à
inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de
informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;
d) suspensão da liberdade de reunião; e) busca e apreensão em domicílio; f) intervenção
nas empresas de serviços públicos; e g) requisição de bens.
839) Estão, também, os pronunciamentos dos parlamentares sujeitos às restrições
relativas à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão?
R.: Não, desde que os pronunciamentos sejam liberados pela Mesa da respectiva Casa
Legislativa (art. 139, parágrafo único).
pág. 181
840) De que forma acompanha e fiscaliza o Congresso Nacional a execução das medidas
referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio?
R.: O acompanhamento e a fiscalização da execução das medidas referentes ao estado
de defesa e ao estado de sítio são efetuados por uma Comissão composta de 5 parlamentares,
designada pelo Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários (art. 140).
841) Qual a extensão da responsabilidade do Presidente da República, dos agentes e
dos executores do estado de sítio, durante o período de suspensão das garantias
fundamentais?
R.: O Presidente da República, os agentes e os executores do estado de sítio respondem
civil e criminalmente pelos ilícitos cometidos durante o período de suspensão das
garantias fundamentais (art. 141, caput).
842) Qual deverá ser o procedimento do Presidente da República, ao cessar o estado
de defesa ou o estado de sítio?
R.: Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos;
as medidas adotadas em sua vigência deverão ser relatadas pelo Presidente da República,
em mensagem ao Congresso Nacional, especificando e justificando as providências
adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas (art.
141, caput e parágrafo único).
843) O estado de sítio está sujeito a exame do Poder Judiciário?
R.: O Poder Judiciário pode apreciar questões relativas à lesão de direitos individuais
durante o período do estado de sítio, e também sobre a constitucionalidade da declaração,
quanto a seus aspectos jurídicos; como, no entanto, a avaliação da necessidade de
ser decretado o estado de sítio é eminentemente política, não pode o Judiciário
pronunciar-se sobre a conveniência de sua decretação.
844) Poderão ser suspensas as imunidades parlamentares, durante o estado de sítio?
R.: As imunidades parlamentares somente poderão ser suspensas, durante o estado de
sítio, mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, em caso de prática
de atos fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a medida (art. 53,
§ 7.º).
pág. 182
845) Qual o alcance da suspensão do habeas corpus?
R.: A suspensão do habeas corpus é considerada medida intermediária entre a lei marcial
e o estado de sítio; quando isso ocorre, as autoridades podem manter suspeitos
aprisionados, até o esclarecimento de suas ações, o que é considerada medida que facilita
a manutenção da ordem pública.
846) Qual a diferença entre a lei marcial e a suspensão do habeas corpus?
R.: Para a promulgação da lei marcial, não se exige qualquer ato formal do Poder Público;
para a suspensão do habeas corpus, exige-se ato formal do poder competente.
CAPÍTULO XII - A ESTRUTURA ECONÔMICO-SOCIAL - BASES E VALORES DA ORDEM ECONÔMICA -
ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
XII.1. DO ORDENAMENTO ECONÔMICO
847) Sob que aspectos é estudado o ordenamento econômico na Constituição Federal?
R.: O ordenamento econômico na CF é estudado sob dois aspectos: a) bases e valores
do ordenamento econômico; e b) atuação e influência do Estado no campo econômico.
848) Regulavam as primitivas Constituições o ordenamento econômico?
R.: Não. As primeiras Constituições enfatizavam a regulação dos aspectos políticos
do Estado e da sociedade, não delimitando claramente a atuação do Estado no campo
econômico, exceto em dispositivos esparsos, cujo conteúdo tinha reflexo indireto na
Economia.
849) A partir de que momento passam as Constituições a conter normas regulamentadoras
da atividade econômica, sistematicamente organizadas?
R.: A doutrina aponta a Constituição mexicana de 1917 e, principalmente, a Constituição
de Weimar, de 1919, que exerceu imediata influência sobre as Constituições européias
e latino-americanas posteriores, como as pioneiras na regulamentação sistemática das
atividades econômica e social do Estado.
850) O que se entende pela expressão "Constituição econômica"?
R.: Entende-se por Constituição econômica a Constituição que define e interpreta a
Economia em termos jurídicos, contendo e delimitando os direitos e as responsabilidades
dos agentes econômicos.
pág. 184
851) O que é Constituição econômica formal?
R.: Constituição econômica formal é o conjunto de normas escritas, pertencentes à
Constituição de determinado país, que disciplinam sua Economia, por meio do controle
do poder econômico e da prevenção de abusos.
852) O que é Constituição econômica material?
R.: Constituição econômica material é o conjunto de normas observadas sob seu conteúdo
econômico, que integram ou não a Constituição de determinado país, e que visam a
disciplina jurídica da Economia; é, portanto, um conjunto normativo mais abrangente
do que Constituição econômica formal.
853) Quais os elementos essenciais da Constituição econômica material?
R.: Os elementos essenciais da Constituição econômica material, isto é, o conteúdo
das normas, são: a) tipo de organização econômica pretendido; b) finalidade da atividade
econômica; c) delimitação das atividades privadas e públicas, e seu
inter-relacionamento; e a) estrutura jurídica dos fatores de produção, capital e
trabalho.
854) Por que deve o Estado exercer atividade disciplinadora da Economia?
R.: O Estado deve disciplinar a Economia para evitar o abuso do poder econômico, isto
é, o controle dos mercados por grupos, cuja tendência é eliminar a concorrência,
causando, com isso, desequilíbrios no fluxo da oferta e da procura de bens e serviços,
o que prejudica o consumidor e o próprio país.
855) Quais os tipos de organização econômica?
R.: A organização econômica pode ser centralizada, descentralizada ou mista.
856) Quais as características da economia centralizada?
R.: A economia centralizada apresenta as seguintes características: a) funciona com
base em prescrições imperativas, impostas pelo Estado, que estabelece os objetivos
da economia, determina os meios para atingi-los e impõe prazos; b) a economia é voltada
para a produção, não para o consumo; isto significa ênfase nos volumes de produção,
que devem atingir as metas pré-fixadas; c) a unidade de produção é de propriedade
do Estado, e inexiste competição por mercados; e d) o custo econômico de produção
tem importância reduzida; o objetivo é alocar todos os meios disponíveis para atingir
as metas de produção.
pág. 185
857) Quais as características da economia descentralizada?
R.: A economia descentralizada apresenta as seguintes características: a) o
funcionamento é ditado pelas demandas do mercado consumidor; b) a unidade de produção
é a empresa, voltada para o mercado e competindo com outras empresas concorrentes;
c) o custo econômico da produção tem importância preponderante no funcionamento da
empresa, e o sistema de preços reflete a escassez da oferta de todos os insumos; e
d) a atuação do Estado é orientativa, e não de direto intervencionismo.
858) Quais as características da economia mista?
R.: Atualmente, poucos países exibem economia puramente centralizada ou puramente
descentralizada; na maioria dos Estados modernos, atualmente, busca-se um modelo
econômico descentralizado, isto é, voltado para o mercado, mas regulado, de forma
mais ou menos intensa, pelo Estado, o que configura a chamada economia mista, em que
coexistem características tanto da economia centralizada quanto da descentralizada;
a preponderância de características de um ou do outro modelo, dará a medida do grau
de descentralização do modelo econômico adotado.
859) Como funciona a economia mista?
R.: Em geral, o Estado atua como órgão de planejamento da atividade macroeconômica,
estabelecendo incentivos e tarifas que estimulam determinados setores da economia
e desencorajam outros; o Estado fiscaliza a atividade das empresas privadas, mas estas
podem fixar preços e volumes de produção com relativa liberdade. O Estado funciona
como protetor do mercado, impedindo práticas comerciais abusivas, por exemplo. A
coexistência entre o setor privado e público somente funciona eficazmente quando há
normas claras, que delimitam precisamente a atuação de cada setor.
860) Quais as finalidades dos modelos econômicos existentes?
R.: Os modelos econômicos existentes, embora sejam formal e genericamente destinados
à satisfação do bem-estar dos povos, pretendem atingir seus objetivos de forma diversa,
o que caracteriza a existência de três modelos, segundo sua finalidade: a) privilégio
do lucro individual; b) desestímulo ao lucro individual; e c) estímulo ao lucro
individual, compensado por redistribuição da renda, com inspiração das doutrinas da
justiça social.
pág. 186
861) O que se entende por regime jurídico dos fatores de produção?
R.: Modernamente, considera-se que os fatores de produção são capital, trabalho e
tecnologia; a forma como ordenamento jurídico disciplina esses fatores estabelece
o chamado regime jurídico dos fatores de produção. Assim, ao disciplinar o capital,
deverá ser estabelecido o regime jurídico da propriedade e dos contratos; o mesmo
ocorre com o trabalho, cuja forma de contrato define o modelo econômico; também quanto
à tecnologia, deve haver normas claras quanto ao desenvolvimento de novos processos,
utilização e transferência.
862) Como atua o Estado no campo econômico, nas economias de orientação neoliberal?
R.: Mesmo nos países onde prepondera a concepção neoliberal, admite-se formas de
intervenção do Estado na economia, no sentido de impedir as distorções de mercado
causadas por abusos do poder econômico; a legislação antitruste dos Estados Unidos
é pioneira nesse sentido, com a promulgação do Sherman Act, de 1890.
863) Como atua o Estado no campo econômico, nas economias de orientação social-democrata?
R.: Nos países de orientação social-democrata, como a Suécia, a Alemanha e a França,
admite-se maior intervenção do Estado na economia, desde o planejamento da vida econômica
até a repressão às práticas de concorrência desleal, dumping, etc. Em algumas dessas
economias de orientação social-democrata, admite-se que o Estado detenha o monopólio
de exploração de determinadas atividades econômicas, como as de geração, transmissão
e distribuição de energia, de exploração e refino de petróleo, e de telecomunicações.
864) Como atua o Estado no campo econômico, nas economias de orientação marxista?
R.: Nos países marxistas, agora cada vez menos numerosos, pratica o Estado a forma
extrema de intervenção no domínio econômico, restringindo o direito à propriedade
privada e centralizando completamente a condução da economia desses países, mediante
a subordinação dos meios de produção ao comando do Partido, que é único.
pág. 187
865) Em que consiste a concepção estatista do Estado?
R.: A concepção estatista (ou autárquíca) é corrente do pensamento econômico que
considera o Estado o melhor promotor e gestor dos recursos econômicos de uma nação;
floresceu na década de 1930, como reação à depressão dos mercados que se seguiu ao
crash da Bolsa americana, e foi acolhida por muitos países da América Latina, entre
as décadas de 40 e 70, mas vem perdendo prestígio, mais acentuadamente a partir dos
anos 1980, em função dos péssimos resultados obtidos, em geral, pelos setores de mercado
dominados pelo Estado.
866) Quais os instrumentos de participação do Estado na economia, como explorador
de atividade econômica ou de serviços públicos?
R.: O Estado participa da economia, como explorador de atividade econômica ou como
prestador indireto de serviços públicos, por meio de empresa pública, de sociedade
de economia mista, de entidades estatais e de entidades paraestatais e suas subsidiárias.
867) Como se classificam as empresas estatais?
R.: As empresas estatais podem ser classificadas, conforme sua função, em prestadoras
(ou exploradoras) de serviços públicos (ex.: Companhia do Metropolitano de São Paulo
- METRÔ) e as exploradoras de atividade econômica (ex.: Petrobrás).
868) A quem cabe a prestação dos serviços públicos?
R.: A CF estabelece que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos (art. 175, caput).
869) O que deverá conter a lei que disciplina a prestação de serviços públicos pelo
Poder Público?
R.: De acordo com a CF, art. 175, parágrafo único, deverá a lei dispor sobre: a) o
regime das empresas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; b) os direitos dos usuários; c)
a política tarifária; e d) a obrigação de manter serviço adequado.
pág. 188
870) Qual o regime jurídico das empresas estatais prestadoras de serviços?
R.: As pessoas jurídicas estatais podem ser de direito público e de direito privado.
As primeiras, por prestarem serviços públicos, são sujeitas a regime jurídico de direito
público, exorbitante e derrogatório do direito comum, o mesmo ocorrendo com as pessoas
jurídicas de direito privado quando prestam serviços públicos. As pessoas jurídicas
de direito público estatal, como as empresas públicas e as sociedades de economia
mista, por prestarem serviços privados, estão submetidas a regime juridíco de direito
privado, com alguns desvios, pois prestam serviços comerciais e industriais que não
são serviços públicos, mas privados, ficando, então, sujeitas aos dispositivos do
Direito Civil e do Direito Comercial. Portanto, o tipo de serviço prestado é que determina
o regime jurídico.
871) Qual o regime jurídico das empresas estatais exploradoras de atividade econômica?
R.: As empresas estatais exploradoras de atividade econômica, comerciais ou
industriais, devem ser criadas por lei específica, dependendo a criação de suas
subsidiárias, de autorização do Poder Legislativo; sujeitam-se ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tributárias e
trabalhistas; não gozam de quaisquer privilégios fiscais não concedidos, também, às
empresas privadas.
872) Quais os princípios constitucionais da ordem econômica brasileira?
R.: Os princípios constitucionais da ordem econômica brasileira (art. 170) são: a)
soberania nacional; b) propriedade privada; c) função social da propriedade; d) livre
concorrência; e) defesa do consumidor; f) defesa do meio ambiente; g) redução das
desigualdades regionais e sociais; h) busca do pleno emprego; e i) tratamento favorecido
para empresas brasileiras de pequeno porte.
873) Que influências recebeu a atual Constituição?
R.: A CF de 1988 recebeu influências da doutrina social da Igreja Católica,
particularmente da encíclica Mater et Magistra, além de atentar para o desenvolvimento
sócio-econômico do país.
pág. 189
874) De que forma a doutrina social da Igreja Católica influenciou a Constituição?
R.: A doutrina social da Igreja Católica prega que a justiça social ordena os atos
humanos para a consecução do bem comum; assim, a ordem econômica deve receber disciplina
jurídica tal, que venha a beneficiar a sociedade como um todo, e não apenas parcelas
desta.
875) Em que consiste a liberdade de iniciativa econômica?
R.: Liberdade de iniciativa econômica é o direito que têm as pessoas de desenvolver
quaisquer atividades econômicas lícitas, podendo contratar irrestritamente com relação
a essas atividades, sujeitando-se somente às normas de ordem pública e, quando cabível,
às normas específicas que as regulam.
876) A CF brasileira encoraja a livre iniciativa, no campo econômico?
R.: Sim. O art. 170, parágrafo único, assegura a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei.
877) Em que dispositivos disciplina a CF a atuação do Estado no domínio econômico?
R.: Os dispositivos constitucionais que disciplinam a atuação do Estado no domínio
econômico são: a) arts. 173 e 177, em que o Estado intervém como administrador; e
b) art. 174, em que o Estado intervém como produtor de normas regulamentadoras da
atividade econômica, e como agente planejador, incentivador e fiscalizador dessa
atividade.
878) De que modo pode o Estado incentivar a atividade econômica?
R.: Além de mecanismos tributários, mediante isenções concedidas a determinadas
atividades consideradas prioritárias, também a criação de cooperativas e associações,
bem como tratamento jurídico diferenciado à criação e à gestão de microempresas
constituem modos de incentivar a atividade econômica, previstos na CF.
879) Apresenta a CF brasileira dispositivos estatizantes e centralizadores da economia?
R.: Sim. O art. 174, caput, por exemplo, confere ao Estado a condição de agente normativo
e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento da economia.
pág. 190
880) Como deve ser interpretada a CF brasileira: prepondera orientação liberal ou
orientação estatizante, centralizadora da economia?
R.: Embora existam dispositivos que reforcem a posição do Estado, quanto à intervenção
na economia, inegável é a preponderância da orientação liberal da CF de 1988; o próprio
art. 174, caput, in fine, diz que o planejamento "será determinante para o setor público
e indicativo para o setor privado"; além disso, o art. 173 restringe a exploração
da atividade econômica pelo Estado, reservando-a para casos excepcionais.
881) Em que casos será permitida a exploração direta de atividade econômica pelo Estado?
R.: Segundo o art. 173, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente
será permitida quando necessária à segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei. É mais uma demonstração de que a tendência da CF é privilegiar
a livre iniciativa, e restringir a atividade econômica estatal.
882) Significa o princípio constitucional da soberania nacional, na ordem econômica,
um rompimento com as economias dos demais países?
R.: Não. A soberania nacional, no campo econômico, significa que o Brasil considera-se
independente de pressões políticas externas, ao determinar sua política econômica,
sem deixar de estar integrado à Economia do resto do mundo, atuando de forma a atender
seus próprios interesses e objetivos; em outras palavras, é autônomo, mas não isolado
da economia mundial.
883) Ao consagrar o respeito à propriedade privada, está a Constituição brasileira
de 1988 promovendo o retorno à concepção de propriedade individual, típica do Estado
liberal?
R.: Não. Ao adotar um sistema econômico fundado na iniciativa privada, cuja base é
o respeito à propriedade, delimitou o constituinte a amplitude do princípio, ao adotar,
concomitantemente outro princípio, o da função social da propriedade, pelo qual o
proprietário somente pode utilizar-se de seu bem de forma a respeitar o interesse
da sociedade.
pág. 191
884) Em que consiste o princípio da livre concorrência?
R.: A garantia ao princípio da livre concorrência caracteriza a manutenção da liberdade
de iniciativa, pelo qual ninguém pode sofrer abusos do poder econômico ao desenvolver
a atividade de sua livre escolha.
885) Qual a relação existente entre a liberdade de iniciativa econômica e a livre
concorrência?
R.: A livre concorrência é um dos aspectos da liberdade de iniciativa econômica, que
se manifesta pela existência de diversos fornecedores de bens e serviços, inexistindo
oligopólios (domínio do mercado por pequeno número de vendedores) ou oligopsônios
(domínio do mercado por pequeno número de compradores).
886) Em que casos deverá o Estado intervir, em defesa da livre concorrência?
R.: A CF autoriza (art. 173, § 4.º) intervenção para reprimir abuso do poder econômico
que vise: a) à dominação dos mercados; b) à eliminação da concorrência; e c) ao aumento
arbitrário dos lucros.
887) Em que consiste a defesa do consumidor?
R.: A defesa do consumidor consiste na intervenção estatal no domínio econômico para
assegurar direitos dos adquirentes de boa-fé, de produtos e serviços, contra ações
de grupos econômicos poderosos, que visam a dominar mercados, a eliminar a concorrência
e a aumentar arbitrariamente os lucros.
888) Em que consiste a defesa do meio ambiente?
R.: A defesa do meio ambiente consiste na intervenção estatal no domínio econômico,
no sentido de disciplinar a exploração econômica, com vistas aos princípios da Ecologia,
em que se baseia a legislação de proteção ambiental.
889) Em que consiste a redução das desigualdades regionais e sociais?
R.: A redução das desigualdades regionais e sociais, um dos objetivos fundamentais
do Brasil (art. 3.º, III), consiste no estabelecimento de políticas econômicas e
tributárias, que propiciem maior participação da população na economia nacional, com
melhor distribuição de renda.
pág. 192
890) Em que consiste a busca do pleno emprego?
R.: A busca do pleno emprego é princípio econômico orientador das políticas
governamentais, no sentido de assegurar a toda a força de trabalho do país uma atividade
produtiva, quando em condições de exercê-la, para que o trabalho proporcione a todos
a necessária renda.
891) Quais os principais direitos do trabalhador, consagrados em nossa Constituição?
R.: Os principais direitos do trabalhador, assegurados pela CF de 1988 são: a) salário
mínimo; b) irredutibilidade do salário; c) proteção contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, mediante indenização compensatória; d) aviso-prévio para a despedida;
e) limitação da duração semanal do trabalho a 44 horas; f) férias anuais remuneradas,
com pagamento de pelo menos um terço a mais do que o salário normal; g) participação
nos lucros ou resultados das empresas; h) adicionais de periculosidade, penosidade
e insalubridade; e i) aposentadoria.
892) O que denomina a doutrina "princípios de integração"?
R.: A doutrina denomina princípios de integração ao conjunto dos princípios econômicos
constitucionais de defesa do consumidor, do meio ambiente, a redução das desigualdades
regionais e sociais e a busca do pleno emprego, no sentido de que formam um conjunto
de diretrizes fundamentais da política econômica do governo, destinada a aumentar
a renda e melhorar sua distribuição no País.
893) Qual o tratamento dispensado pela CF às empresas brasileiras de pequeno porte?
R.: A CF (art. 170) impõe tratamento favorecido para as empresas brasileiras de pequeno
porte (EC n.º 6, de 15.08.1995), aí incluídas as chamadas microempresas; não há qualquer
distinção entre empresas em função da origem do capital, do domicílio de seus sócios,
ou da nacionalidade de seus controladores.
pág. 193
894) O controle exercido sobre o capital estrangeiro denota algum tipo de discriminação
a empresas de outros países, ou restrição à liberdade econômica?
R.: Não. Praticamente todos os países exercem algum tipo de controle sobre o capital
estrangeiro, disciplinando, por exemplo, a forma dos investimentos permitidos e as
remessas de lucros. A CF permite a participação do capital estrangeiro, por exemplo,
em instituições financeiras (art. 192, III), tendo em vista os interesses nacionais
e os acordos internacionais de que o Brasil é signatário. Esse controle é mero exercício
do princípio econômico da soberania nacional (art. 170, I), e não deve ser encarado
como restrição à liberdade econômica, mesmo porque, também o capital brasileiro é
sujeito a controle.
895) Permite a CF de 1988 o monopólio estatal?
R.: Sim, mas somente para atividades específicas. O art. 177 enumera as atividades
econômicas monopolizadas pela União, todas ligadas à exploração, refinação e transporte
marítimo de petróleo e de minérios e minerais nucleares; a EC n.º 9, de 09.11.1995
permitiu a contratação de empresas estatais ou privadas para a realização das atividades
ligadas à exploração de petróleo, na forma da lei, a ser promulgada.
896) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, quando necessária aos
imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (prevista no art.
173) refere-se às mesmas atividades que constituem o monopólio da União (objeto do
art. 177, I a V)?
R.: Não. O monopólio refere-se a atividades restritas, especificadas na CF, e agora
dotados de forma mais flexível, após a EC n.º 9/95; as atividades referidas no art.
173 não implicam em monopólio, e cabe à lei ordinária dispor sobre sua eventual exploração
pelo Estado.
CAPÍTULO XIII - DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
XIII.1. SISTEMAS FINANCEIROS
897) Que espécies de sistemas financeiros regula a Constituição?
R.: A CF regula os sistemas financeiros: a) público; e b) nacional (ou parapúblico).
898) Em que consiste o sistema financeiro público?
R.: O sistema financeiro público, sobre o qual dispõe a CF nos arts. 163 a 169, consiste
na disciplina normativa das finanças públicas e dos orçamentos públicos.
899) Em que consiste o sistema financeiro nacional?
R.: O sistema financeiro nacional, sobre o qual dispõe a CF no art. 192, envolve a
disciplina jurídica das instituições financeiras, das instituições bancárias oficiais
e privadas, estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, sujeitas ao
controle do Poder Público.
900) Qual o objetivo do sistema financeiro nacional?
R.: De acordo com o art. 192, caput, o sistema financeiro nacional deverá ser estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses
da coletividade, isto é, a apoiar o progresso econômico do Brasil, com vistas a cumprir
funções sociais.
901) Foi o sistema financeiro nacional instituído pela CF de 1988?
R.: Não. O sistema financeiro nacional foi instituído pela Lei n.º 4.595/64, recepcionado
pela atual CF.
902) Qual o papel do Banco Central no sistema financeiro?
R.: O Banco Central, cuja natureza jurídica é de instituição financeira, é considerado
elo de ligação entre os sistemas financeiro público e nacional; tem, dentre outras
atribuições, a exclusividade na emissão de moeda e a concessão de empréstimos a
instituições financeiras (art. 162, §§ 1.º e 2.º); sua organização, funcionamento
e demais atribuições são objeto de lei complementar, bem como os requisitos para a
designação de membros da Diretoria (art. 192, IV e V).
pág. 196
903) Que espécie de lei deverá regular as matérias relativas aos sistemas financeiros
público e nacional?
R.: Os sistemas financeiros público e nacional deverão ser regulados por meio de lei
complementar (arts. 163, caput e 192, caput).
904) Qual a finalidade dos dispositivos que promovem a regionalização financeira?
R.: A regionalização financeira, isto é, a restrição à transferência de poupança captada
nas regiões pobres do país para outras, mais ricas, e a obrigatoriedade da condução
de programas e projetos regionais, cujos recursos provêm da União, por meio de
instituições regionais de crédito, destina-se a apoiar os esforços governamentais
no sentido de reduzir as desigualdades sociais e regionais, conforme consta do art.
3.º, III, da CF.
905) Que dispositivos constitucionais visam à promoção da regionalização financeira?
R.: Dois dispositivos da CF visam à promoção da regionalização financeira: a) art.
192, VII, que depende de lei complementar, que disporá sobre os critérios restritivos
da transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacional, para
outras de maior desenvolvimento; e b) art. 192, § 2.º, que independe de lei complementar,
e dispõe que os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter
regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.
906) Quais as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições
regulamentadas pelo sistema financeiro nacional?
R.: As regras para a participação do capital estrangeiro nessas instituições, deverão
ser estipuladas em lei complementar, que visará, especialmente, os interesses nacionais
e os acordos internacionais (art. 192, III).
CAPÍTULO XIV - A ORDEM SOCIAL: BASES E VALORES
XIV.1. GENERALIDADES
907) Qual a base da ordem social brasileira?
R.: A ordem social brasileira fundamenta-se nos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa (art. 1.º, IV), de forma a proporcionar o bem-estar e a justiça social
à sociedade.
908) Quais são os direitos sociais assegurados pela CF de 1988?
R.: A CF (art. 6.º) assegura direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, e à assistência
aos desamparados; além disso, a ordem social assegura proteção à cultura, ao desporto,
às ciências e tecnologia, à comunicação social, ao meio ambiente, aos índios, à família,
à criança, ao adolescente e ao idoso.
XIV.2. SEGURIDADE SOCIAL
909) O que compreende a seguridade social?
R.: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social (art. 194, caput).
910) Com base em que princípios deve basear-se o Poder Público para organizar a seguridade
social?
R.: A seguridade social deve basear-se nos seguintes princípios: a) da universalidade
da cobertura e do atendimento; b) da uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais; c) da seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios e serviços; d) da irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade na forma de participação no custeio; f) diversidade da base de financiamento;
e g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa (art. 194, parágrafo
único, I a VII).
pág. 198
911) Quais as fontes de financiamento da seguridade social?
R.: A seguridade social é financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta,
recebendo recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e Municípios, além de contribuições sociais dos empregadores, dos trabalhadores
e de todas as espécies dos chamados "concursos de prognósticos" (loterias autorizadas
pelo Poder Público).
912) Em que consiste o Sistema único de Saúde - SUS?
R.: O Sistema único de Saúde - SUS integra uma rede regionalizada e hierarquizada
de ações e serviços públicos, organizada segundo as seguintes diretrizes: a)
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; b) atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
e c) participação na comunidade.
913) Que espécies de prestações são oferecidas pelo sistema da previdência social?
R.: O sistema da previdência social consiste em duas espécies de prestações: a)
benefícios previdenciários; e b) serviços previdenciários.
914) O que são benefícios previdenciários?
R.: Benefícios previdenciários são pagamentos efetuados aos contribuintes e
participantes dos planos previdenciários, pelo sistema de previdência social.
915) Que benefícios previdenciários deverão ser objeto de planos de previdência social?
R.: Os planos de previdência social, mediante contribuição, deverão atender: a) a
cobertura de doenças, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes do
trabalho, velhice e reclusão; b) ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados
de baixa renda; c) proteção à maternidade, especialmente à gestante; d) proteção ao
trabalhador em situação de desemprego voluntário; e e) pensão por morte do segurado,
homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
pág. 199
916) O que são serviços previdenciários?
R.: Serviços previdenciários são prestações assistenciais de natureza não pecuniária,
nas áreas de atendimento médico, odontológico, hospitalar e social, além de serviços
de apoio para a reeducação e a readaptação profissionais.
917) Por que a assistência social não tem natureza de seguro social?
R.: Segundo o art. 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social; uma vez que a prestação não
está vinculada à condição de contribuinte, não fica caracterizada adesão do beneficiário
a plano de previdência, razão pela qual não há falar em seguro social.
918) Quais os objetivos da assistência social?
R.: A assistência social será prestada com os seguintes objetivos: a) proteção à família,
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) amparo às crianças e
adolescentes carentes; c) promoção da integração ao mercado de trabalho; d) habilitação
e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração
à vida comunitária; e e) garantia de um salário mínimo de benefício mensal a portadores
de deficiência e ao idoso que não possam prover sua própria subsistência, ou de tê-la
provida por sua família.
919) Com que recursos deverão ser realizadas as ações governamentais na área da
assistência social e como devem ser organizadas?
R.: As ações governamentais na área da assistência social deverão ser realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social, e organizadas com base nas seguintes
diretrizes: a) descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a
execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social; e b) participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações
em todos os níveis (art. 204).
pág. 200
XIV.3. EDUCAÇÃO
920) Em que consiste o direito à educação?
R.: Direito à educação é o direito subjetivo público de receber do Estado e da família
(CF, art. 205) ensino fundamental (gratuito e obrigatório nos estabelecimentos
oficiais), até o nível médio.
921) Qual a finalidade de assegurar direito à educação?
R.: A garantia à educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
922) Quais os princípios que devem servir de base ao ensino?
R.: Os seguintes princípios devem servir de base ao ensino: a) igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar,
e divulgar o pensamento, a arte e o saber; c) pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; d) gratuidade
do ensino público em estabelecimentos oficiais; e) valorização dos profissionais do
ensino; f) gestão democrática do ensino público; e g) garantia de padrão de qualidade.
923) Quais as garantias constitucionais à universidade?
R.: À universidade garante-se (art. 207) autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, devendo obedecer ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a Emenda Constitucional n.º
11, de 30.04.1996 facultou às universidades (e também às instituições de pesquisa
científica e tecnológica) a admissão de professores, técnicos e cientistas
estrangeiros.
924) Como se efetivará o dever do Estado com a educação?
R.: O dever do Estado com a educação será efetivo (art. 208, I a VII) mediante a garantia
de: a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria; b) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
ao ensino médio (redação dada pela EC n.º 14, de 12.09.1996); c) atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiências, especialmente na rede regular de ensino;
d) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; e)
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um; f) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições
do educando; e g) atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência
à saúde. Além disso, deverão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino.
pág. 201
925) Qual a conseqüência jurídica do não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público ou sua oferta irregular?
R.: A conseqüência jurídica será a responsabilização da autoridade competente.
926) Quais as condições de participação da iniciativa privada na atividade de ensino?
R.: O ensino é livre à iniciativa privada (art. 209), devendo ser atendidas as seguintes
condições: a) cumprimento das normas gerais da educação nacional; e b) autorização
e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
927) Quais as fontes de recursos da educação oficial, utilizados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino?
R.: A educação oficial recebe recursos das seguintes fontes (art. 212, alterado pela
EC n.º 14/96): a) da União, que deverá aplicar 18%, no mínimo, da receita resultante
de impostos federais; b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que deverão
aplicar 25%, no mínimo, da receita resultante dos impostos de sua competência; c)
transferências da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios; d) transferências
dos Estados aos respectivos Municípios; e e) contribuição social do salário-educação,
recolhido pelas empresas.
928) Quais as finalidades do plano nacional de educação?
R.: O plano nacional de educação visa (art. 214) à articulação e ao desenvolvimento
do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam
à: a) erradicação do analfabetismo; b) universalização do atendimento escolar; c)
melhoria da qualidade do ensino; d) formação para o trabalho; e e) promoção humanística,
científica e tecnológica do país.
pág. 202
XIV.4. CULTURA
929) Qual a extensão da garantia constitucional à cultura?
R.: A garantia constitucional à cultura consiste no reconhecimento dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, mediante apoio e incentivo à
valorização e à difusão das manifestações culturais (art. 215, caput); abrange, também,
a proteção ao patrimônio cultural brasileiro.
930) De que se constitui o patrimônio cultural brasileiro?
R.: O patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira
(art. 216).
931) Quais os bens expressamente incluídos no texto constitucional, que compõem o
patrimônio cultural brasileiro?
R.: O texto constitucional menciona, expressamente, os seguintes bens culturais: a)
as formas de expressão; b) os modos de criar, fazer e viver; c) as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; d) as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e e) os conjuntos urbanos
e sítios de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.
932) Quais as formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro?
R.: A responsabilidade pela promoção e guarda do patrimônio cultural brasileiro compete
ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, devendo utilizar-se de formas
preventivas e continuadas de proteção e manutenção dos bens culturais, incluídos
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação (art. 216, § 1.º).
XIV.5. DESPORTO
933) Qual o papel do Estado na garantia à prática de esportes?
R.: O Estado tem o poder-dever de fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
observadas as disposições constitucionais; além disso, deverá o Poder Público
incentivar o lazer, como forma de promoção social.
pág. 203
934) Quais as disposições constitucionais a serem observadas na formulação de políticas
de fomento ao esporte?
R.: Devem ser observadas as seguintes disposições constitucionais (art. 217, I a IV):
a) autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento; b) destinação de recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de
alto rendimento; c) tratamento diferenciado para o desporto profissional e o
não-profissional; e d) proteção e incentivo a manifestações desportivas de criação
nacional.
935) Qual o papel da Justiça Desportiva?
R.: A Justiça Desportiva, regulada em lei, é competente para apreciar ações relativas
à disciplina e às competições esportivas, devendo decidir as questões controversas,
a ela submetidas, no prazo de 60 dias, a contar da data da instauração do processo.
936) Qual o papel do Poder Judiciário na apreciação de questões relativas à disciplina
e às competições desportivas?
R.: O Poder Judiciário somente admitirá essas ações após esgotadas as instâncias da
Justiça Desportiva (art. 217, § 1.º), ou se decorrido o prazo de 60 dias para a decisão
dessa Justiça, sem que tenha havido essa decisão.
XIV.6. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
937) Qual o papel atribuído ao Estado em relação à Ciência e à Tecnologia?
R.: A CF atribuiu ao Estado (art. 218) a tarefa de promover e incentivar o desenvolvimento
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
938) De que modo dispõe a CF sobre a finalidade da pesquisa científica básica?
R.: A pesquisa científica básica (ou fundamental) destina-se à descoberta das leis
naturais; a CF dispõe (art. 218, § 1.º) que deve ser realizada tendo em vista o bem
público (a sociedade brasileira, dimensão regional) e o progresso das ciências (dimensão
universal).
pág. 204
939) De que modo dispõe a CF sobre a finalidade da pesquisa científica tecnológica?
R.: A pesquisa científica tecnológica (ou aplicada) destina-se a solucionar problemas
produtivos industriais; a CF dispõe (art. 218, § 2.º) que deve voltar-se
preponderantemente para a solução de problemas brasileiros e para o desenvolvimento
do sistema produtivo nacional e regional.
940) De que forma deverá o Estado apoiar a Ciência e a Tecnologia?
R.: O Estado apoiará a Ciência e a Tecnologia mediante incentivos: a) à formação de
recursos humanos para essas áreas, concedendo benefícios aos que delas se ocupem,
tais como meios e condições especiais de trabalho; e b) às empresas que investirem
em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País e formação de recursos humanos
(art. 218, §§ 3.º e 4.º).
941) Podem os Estados e o Distrito Federal destinar parte de seu orçamento a atividades
ligadas à Ciência e à Tecnologia?
R.: Sim. A CF faculta aos Estados e ao Distrito Federal a vinculação de parcela de
sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica (art. 218, § 5.º).
XIV.7. COMUNICAÇÃO SOCIAL
942) Como se posiciona a CF, em relação à comunicação social?
R.: A comunicação social, considerada fundamental para a vida democrática da sociedade,
pois permite que o cidadão seja informado sobre assuntos de interesse público, além
de contribuir para a educação do povo e a formação da opinião pública, é objeto do
art. 220 da CF, que reitera a garantia constitucional de liberdade de pensamento,
expressa no art. 5.º, incisos IV, V, VI, VIII, IX e XII, aí incluído o repúdio à censura.
943) Como deverão ser, reguladas as diversões e os espetáculos públicos?
R.: Deverão ser regulados por lei federal, cabendo ao Poder Público posição orientadora,
devendo informar sobre a natureza das diversões e dos espetáculos públicos, as faixas
etárias a que não se recomendem, e locais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada (art. 220, § 3.º, I).
pág. 205
944) A quais princípios deverão atender a produção e a programação das emissoras de
rádio e televisão?
R.: Deverão atender aos seguintes princípios: a) preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas; b) promoção da cultura nacional e regional e
estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; c) regionalização da
produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em
lei; e d) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221).
945) De que forma poderá defender-se a sociedade brasileira de programas de rádio
ou de televisão, que atentem contra o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa
e da família?
R.: A CF dispõe que deverão ser estabelecidos, por meio de lei federal, os meios legais
que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defender dessa espécie de
programas (art. 220, § 3.º).
946) A que espécies de restrições estará sujeita a propaganda de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias?
R.: A propaganda desses produtos estará sujeita a restrições legais, constantes de
lei federal, devendo conter, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso (art. 220, § 4.º).
947) De que modo sujeitam-se as empresas de comunicação à intervenção do Estado, no
domínio econômico?
R.: A CF veda o controle, direto ou indireto, dos meios de comunicação social, por
monopólio ou oligopólio (art. 220, § 5.º).
948) Que restrições impõe a CF ao controle acionário de empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, por parte de estrangeiros?
R.: A CF impõe que a propriedade dessas empresas será privativa de brasileiros natos
ou naturalizados há mais de 10 anos (art. 222).
949) De que modo pode a pessoa jurídica participar no capital social de empresa
jornalística ou de radiodifusão?
R.: A CF veda a participação acionária de pessoas jurídicas no capital social de empresas
jornalísticas ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo
capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros natos ou naturalizados; além
disso, essa participação acionária somente poderá efetuar-se mediante capital sem
direito a voto, em valor não superior a 30% do capital social (art. 222, §§ 1.º e
2.º).
pág. 206
950) Qual o papel do Poder Público em relação ao serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens?
R.: Ao Poder Público compete outorgar e renovar concessão, permissão e autorização
para o funcionamento das entidades que se dedicam a esses serviços.
951) Que princípio deve ser observado para o exercício dessas funções, pelo Poder
Público?
R.: A atuação do Poder Público, ao outorgar ou renovar concessão, permissão ou
autorização para o funcionamento das empresas deverá observar o principio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
XIV.8. MEIO AMBIENTE
952) Qual o tratamento dado pela CF de 1988 ao meio ambiente?
R.: A CF de 1988 consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225,
caput).
953) O que é Ecologia?
R.: Ecologia é o ramo da Biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o
meio ou ambiente em que vivem, bem como suas recíprocas influências.
954) Por que é incorreta a expressão "preservar a Ecologia"?
R.: Porque Ecologia é uma ciência, e não se pode "preservar" uma ciência (pode-se
estudá-la, aplicá-la, incentivá-la ou promovê-la, mas não "preservá-la"); utiliza-se
essa expressão incorreta em lugar de "preservar o meio ambiente" ou "preservar a
natureza".
955) O que é "equilíbrio ecológico"?
R.: Equilíbrio ecológico é o estado dinâmico de relacionamento dos seres vivos entre
si e com o meio ambiente, em que a proporção entre as populações de seres vivos, as
propriedades físico-químicas do ar e da água se mantêm relativamente constantes, ao
longo do tempo.
pág. 207
956) De que modo deve ser defendido e preservado o meio ambiente?
R.: A defesa e a preservação do meio ambiente são tarefas do Poder Público e da
coletividade, que tem essa responsabilidade perante as gerações presentes e futuras.
957) Que espécies de medidas devem ser tomadas para a preservação e a defesa do meio
ambiente?
R.: Devem ser tomadas medidas preventivas, repressivas e corretivas.
958) De que espécie é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado?
R.: É uma espécie chamada de direito de terceira geração, que se desenvolveu
particularmente a partir dos anos 70.
959) De que formas deve atuar o Poder Público para assegurar a efetividade desse direito?
R.: Cabe ao Poder Público: a) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; b) preservar a diversidade
e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas
à pesquisa e manipulação de material genético; c) definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
d) exigir estudo prévio de impacto ambiental, antes de instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente; e) controlar
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; f) promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente; e g) proteger a fauna e a flora, vedadas as formas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam
os animais à crueldade (art. 225, § 1.º).
960) De que forma deve agir o indivíduo ou a empresa que desejam explorar recursos
minerais, relativamente ao meio ambiente?
R.: Se a exploração resultar em degradação ao meio ambiente, aquele que explora recursos
minerais fica obrigado a executar trabalhos de recuperação, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei (art. 225, § 2.º).
pág. 208
961) Quais as espécies de sanções a que estarão sujeitos aqueles cuja conduta ou atividade
for considerada lesiva ao meio ambiente?
R.: Os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estarão sujeitos a sanções penais
e administrativas, além da obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente (art.
225, § 3.º).
962) Que regiões de matas e florestas nativas foram declaradas patrimônio nacional
pela CF?
R.: A CF declarou patrimônio nacional a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira (art. 225, § 4.º).
963) Poderão essas regiões de matas e florestas nativas, declaradas patrimônio nacional
pela CF, ser comercialmente exploradas?
R.: Sim, desde que de acordo com a lei, que indicará as condições necessárias para
assegurar a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais.
XIV.9. FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
964) Qual o tratamento dado pela CF à família?
R.: A CF considera a família como a base da sociedade, razão pela qual lhe confere
proteção especial (art. 226, caput); além disso, deverá o Estado assegurar assistência
à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8.º).
965) De que modos pode ser constituída a família, para fins de proteção legal?
R.: A família constitui-se pelo casamento, podendo também ser formada por qualquer
dos pais e seus descendentes, ou, ainda, pela união estável entre homem e mulher.
966) Adota a CF posição formalista em relação ao casamento?
R.: Não. A CF adota uma posição bastante flexível em relação à formação e à preservação
da entidade familiar, assegurando (art. 226, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º): a) gratuidade
na celebração do casamento civil; b) validade do casamento religioso, dando-lhe efeitos
civis, na forma da lei; e c) ampliação do conceito tradicional de família para efeitos
de proteção legal.
pág. 209
967) A quem incumbem os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, segundo
a CF?
R.: A CF, reafirmando o direito já consagrado no art. 5.º, I ("Todos são iguais perante
a lei..."), incumbe igualmente ao homem e à mulher pelo exercício dos direitos e deveres
da sociedade conjugal (art. 226, § 5.º).
968) De que modo pode ocorrer a dissolução da sociedade conjugal formal?
R.: A sociedade conjugal formal pode ser dissolvida pelo divórcio, após prévia separação
por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por
mais de dois anos (art. 226, § 6.º).
969) Qual a proteção assegurada ao casal, relativamente ao planejamento familiar?
R.: A CF dispõe que o Estado deverá propiciar recursos educacionais e científicos
para o exercício do direito do casal ao planejamento familiar, proibindo qualquer
forma de coerção por parte de instituições oficiais ou privadas (art. 226, § 7.º).
970) Em que princípios deve-se basear o planejamento familiar?
R.: O planejamento familiar, que deve ser de livre decisão do casal, deve basear-se
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.
971) Que direitos devem ser assegurados pela família, pela sociedade e pelo Estado
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade?
R.: Devem ser assegurados os seguintes direitos: a) à vida; b) à saúde; c) à alimentação;
d) à educação; e) ao lazer; f) à profissionalização; g) à cultura; h) à dignidade;
i) ao respeito; j) à liberdade; e k) à convivência familiar e comunitária. Além disso,
cabem à família, à sociedade e ao Estado colocar crianças e adolescentes a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
(art. 227).
pág. 210
972) Qual o papel do Estado na assistência à criança e ao adolescente?
R.: Ao Estado cabe promover a criação de programas de assistência integral à criança
e ao adolescente, sendo permitida a participação de entidades não governamentais nesses
programas (art. 227, § 1.º).
973) A que preceitos devem obedecer esses programas de assistência à criança e ao
adolescente?
R.: Esses programas devem obedecer aos seguintes preceitos: a) aplicação de percentual
dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; e b) criação
e programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência
física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação
do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos
arquitetônicos.
974) Qual a proteção legal conferida à pessoa portadora de deficiência?
R.: Leis ordinárias devem dispor sobre normas de construção de logradouros e edifícios
de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (art. 227, § 2.º).
975) Quais os aspectos abrangidos pelo direito a proteção especial concedida às crianças
e aos adolescentes?
R.: Os aspectos abrangidos são: a) respeito à idade mínima de 14 anos para admissão
ao trabalho, vedado o trabalho noturno aos menores de 18 anos (art. 7.º, XXXIII);
b) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; c) garantia de acesso do
trabalhador adolescente à escola; d) garantia de pleno e formal conhecimento da
atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por
profissional habilitado, segundo a legislação específica; e) obediência aos princípios
da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; f)
estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado; e g) programas de prevenção e atendimento especializado
à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins (art. 227, §
3.º).
pág. 211
976) Qual a medida da severidade da lei na repressão ao abuso, à violência e à exploração
sexual da criança e do adolescente?
R.: A prática de qualquer ato criminoso, tipificado no Código Penal, contra criança
e adolescente, receberá severa punição, considerando-se a circunstância das vítimas
serem crianças ou adolescentes como agravante.
977) De que forma interfere o Estado na adoção de crianças e adolescentes?
R.: O Estado acompanha, por meio do Ministério Público, todo o processo de adoção,
que fiscaliza os procedimentos, de acordo com o que determina a lei (art. 227, § 4.º).
978) Estrangeiros podem adotar crianças ou adolescentes brasileiros?
R.: Sim, desde que o procedimento siga as determinações da lei, que estabelece os
casos e as condições de efetivação por parte de estrangeiros, sempre acompanhado pelo
Ministério Público (art. 227, § 5.º).
979) De que forma equiparou a CF os filhos havidos fora da relação de casamento aos
filhos legítimos?
R.: A CF concedeu aos filhos havidos fora da relação de casamento, inclusive os adotivos,
os mesmos direitos dos filhos legítimos, proibindo, ainda, quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação (art. 227, § 6.º), tais como filhos ilegítimos,
adulterinos, espúrios, incestuosos, naturais, etc.
980) Quais os deveres dos pais em relação aos filhos menores, e dos filhos maiores
em relação aos pais?
R.: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores; os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art.
229).
pág. 212
981) Quem é considerado idoso, para fins de proteção legal?
R.: É considerado idoso, segundo a Lei n.º 8.842, de 04.01.1994, o maior de 60 anos
de idade.
982) Qual a importância dessa lei?
R.: A Lei n.º 8.842/94 criou o Conselho Nacional do Idoso e dispôs sobre a política
nacional do idoso, a ser implementada pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social.
983) Em que consiste a política nacional do idoso?
R.: A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar seus direitos sociais,
criando condições para promover sua autonomia, integração e efetiva participação na
sociedade.
984) Qual a solução jurídica possível, caso os pais estejam desamparados na velhice,
e os filhos maiores se recusem a ajudá-los?
R.: Caso os filhos maiores se recusem a ajudar os pais desamparados, cabe-lhes ajuizar
ação ordinária de alimentos contra um ou mais filhos maiores.
985) Quais as garantias dadas aos idosos pela CF?
R.: Além de garantias específicas quanto aos direitos previdenciários e assistenciais
(arts. 201, I e 203, I e V), têm também os idosos o direito de ser amparados pela
família, pela sociedade e pelo Estado, que devem assegurar sua participação na
comunidade, defender sua dignidade e bem-estar e garantir-lhes o direito à vida (art.
230).
986) Onde devem ser executados, preferencialmente, os programas de amparo aos idosos?
R.: Os programas de amparo aos idosos devem ser executados, preferencialmente, em
seus lares (art 230, § 1.º); nada impede, porém, desde que as condições o permitam,
que sejam realizados em centros comunitários, escolas, prédios públicos ou privados.
987) Qual o direito assegurado especificamente aos maiores de 65 anos?
R.: Aos maiores de 65 anos assegura-se o direito à gratuidade nos transportes coletivos
urbanos, independente de sua condição sócio-econômica.
pág. 213
XIV.10. ÍNDIOS
988) Quais os direitos reconhecidos aos índios, pela CF?
R.: A CF reconhece aos índios (art. 231, caput): a) sua organização social; b) costumes;
c) línguas; d) crenças; e) tradições; e f) direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam.
989) Qual a importância do reconhecimento dos direitos dos índios?
R.: É fundamental esse reconhecimento, pois os índios, primeiros habitantes do Brasil,
sofreram contínuo processo de aculturação e dizimação, que os transformou, ao longo
dos anos, em parcela minoritária da população, desamparada pela sociedade brasileira;
a CF de 1988 reconhecendo a importância dos índios, procurou proteger essa minoria,
material e culturalmente.
990) Quem deverá demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios?
R.: Cabe à União a demarcação e a proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios, bem como o dever de fazer respeitar todos os seus bens.
991) Quais as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, para efeitos de proteção
legal?
R.: São consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios: a) as por eles
habitadas em caráter permanente; b) as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar; e c) as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (art. 231, § 1.º).
992) Concede-se aos índios a propriedade das terras por eles tradicionalmente ocupadas?
R.: Concede-se aos índios a posse permanente das terras por eles tradicionalmente
ocupadas, e também o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes, mas não se concede a propriedade (art. 231, § 2.º).
993) Qual a fonte dos direitos dos índios sobre as terras que ocupam?
R.: Os direitos dos índios sobre as terras que ocupam têm como fonte o instituto do
indigenato.
pág. 214
994) O que é indigenato?
R.: Indigenato, fonte primária da posse territorial dos índios, é instituto não regido
pelas normas tradicionais do Direito Civil e tem origem no Alvará de 01.04.1680, que
consagrou o princípio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria sempre
reservado o direito dos índios a elas, como senhores primários e naturais.
995) Qual a diferença entre indigenato e ocupação?
R.: O indigenato dispensa a legitimação e o registro, e contém dois elementos, o ius
possesionis e o ius possidendi; a ocupação, que resulta da apreensão da terra de ninguém
ou da terra abandonada pelo proprietário, somente leva à posse da terra, mediante
legitimação, pelo registro.
996) A CF veda o aproveitamento econômico das riquezas naturais das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios?
R.: Não, mas impõe que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem
ser efetuadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas,
ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei (art.
231, § 3.º).
997) A quem pertencem as terras indígenas?
R.: Segundo a CF, art. 20, XI, as terras indígenas pertencem formalmente à União,
mas aos índios é assegurado o respectivo uso.
998) Quais as restrições impostas às terras indígenas?
R.: Sendo de propriedade da União, as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis,
e os direitos sobre elas, imprescritíveis (art. 231, § 4.º).
999) Sob que condições podem ser removidos os grupos indígenas de suas terras?
R.: Em princípio, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Poderá ser
autorizada a remoção, no entanto, pelo Congresso Nacional, em casos de catástrofe
ou epidemia, que ponham em risco a saúde ou a integridade física dessa população,
ou no interesse da soberania do País (art. 231, § 5.º).
pág. 215
1.000) Como podem ser defendidos os direitos dos índios em juízo?
R.: Os direitos dos índios são considerados coletivos, pois atingem toda a comunidade
indígena. A CF confere legitimidade processual aos índios, suas comunidades e
organizações, para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, devendo
intervir o Ministério Público em todos os atos do processo.
BIBLIOGRAFIA
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional, 5.ª., ed., 2.ª revisão, Coimbra,
Liv. Almedina, 1995.
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido R.
Teoria Geral do Processo, 4.ª ed., São Paulo, Malheiros Ed., 1997.
CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro, 2.ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva,
1991.
CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Rio de Janeiro,
Ed. Forense Universitária, 1989-1993, vols. I a IX.
-. Constituição Brasileira de 1988, Rio de Janeiro, Ed. Forense Universitária, 1995
(Índice).
-. Curso de Direito Administrativo, 14.ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1997.
-. Elementos de Direito Constitucional, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais 2.ª ed.,
1998.
-. Do Impeachment no Direito Brasileiro, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1992.
FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 24.ª ed., São Paulo,
Ed. Saraiva, 1997.
GRAU, EROS ROBERTO. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 - interpretação e crítica,
2.ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1991.
ROMANO, Santi. Princípios de Direito Constitucional Geral, trad. de Maria Helena Diniz,
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1977.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 14.ª ed., São Paulo,
Malheiros Ed., 1997.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, 3.ª ed., 2.ª tiragem,
Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1997.