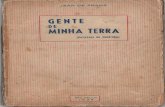. bq'j:•· - | Acervo | ISA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of . bq'j:•· - | Acervo | ISA
~ ' 1 ,-..
r:
r
,.-.. (
,,.......
r: i
··.-
Processo n°: i '<-: if'_<sii~ Folha nº: · } 2 ~r_ > .. -~ê····. Rubrica• -~~ ' . . .- ··. -.... .
' . . . -·. . ..
- . ,; FJ!ndttção NilcionaldoJ,i~i~ - . .Dit~to'riti.,de Assüittos i:uildiârios·: · .
Coordenaçãq-Ce,:'.ai_tl~Jt!_entificação e Delimitação ( .•.... ~:'-.":':'~":"''""_.' .~:-."". - ....• - . . - .
. bq'j:•· Vb'-1~
<'
··:.
RELATÓRIO.DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO , ~ DA TERRA INDIGENA ARARA DO RIO AMONIA
GT Portaria nº l.054/PRES/2001
Brasília, maio de.2003
r
e:
SUMÁRIO
Processo nº: 2-1-'° G / a.=
Folha nº: 3 2 5" Rubrica:~' =
/ I. DADOS GERAIS : 03
a) Introdução 03 "- ~ B" · - · Hi , · - 09 .1:, osqueJO stonco . e) Reconhecimento Pioneiro 16 d) Os Arara no Alto Juruá 25 e) Os Índios do Amônia ; 38 f) Conjuntura Atual. · . 49
II. HABITAÇÃO PERMANENTE 60 g) Localização 60 h) População : 68
III. ATIVIDADES PRODUTIV AS 79 i) Agricultura 80 j) Coleta 82 k) Caça 84 1) Pesca 86 m) Criação e Comércio 87 n) Uso do Território : · 88
\
IV. MEIO AMBIENTE - : : 91 o) Ecologia Regional -. , 91 p) Recursos Naturais e Preservação 96
V. REPRODUÇÃO FÍSICA E CUL TURAL. 100 q) Identidades Pano 100 r) Significado do Etnônimo :···········································-105 s) Aspectos Sócio-Culturais 109
VI. LEVANTAMENTO FUNDIÁRI0 112 t) Unidades Federais 112 u) Ocupantes Locais 115 v) Invasões Fronteiriças 117
r r: r: r ('·,
r ,.-. VIII. NOTAS 136 ~ •.
VII. CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃ0 119 w) Área Requerida - 119 x) Área Delimitada 123 y) Visada Étnica 128 z) Justificação e Propositura 133
IX. BIBLIOGRAFIA 150
X.ANEXOS
r: r: r:
Anexo 1-_ Portarias do Grupo Técnico Anexo 2- Mapas e Memorial Descritivo de Delimitação , Anexo 3 - Levantamento Demográfico :,:Anexo 4 - Relatório Ambiental Anexo 5 - Levantamento Fundiário
- • Anexo _6-:-: Relatório de Viagem - I.E. nº 67 /DAF /2001 Anexo 7 - Localização dos Grupos Indígenas no Alto Juruá
~. Anexo 8 - Carta Geográfica - Santa Rosa (Equador} Anexo 9- Territórios Políticos na TI Kampa do Rio Amônea
- • Anexo 10 - Localização de Residências no Médio Amônia Anexo 11- Encarte Fotográfico Anexo 12 - Resumo do Relatório
-.
,,.....____
ProcessO n°: "2 "::1-og/ci-::J
Folha rf: 3? (; Rubrica:~.--
,...... /
Processo n°: 2 ~D~!~ Folha nº: 3 l.:)
Rubrica:~ ~ .
I. DADOS GERAIS
a) Introdução
C'
Entre os grupos indígenas que têm ocupado a bacia do alto rio J uruá em território brasileiro destacam-se no período mais recente os Arara, os Jamináwa, os
Kaxinawá, os Nukiní, os Poyanáwa, e os Kampa. Os Poyanáwa e os Nukiní habitam as
terras indígenas homônimas, situadas respectivamente no médio e alto rio Môa, no
território do município de Mâncio Lima. Os Jam.i.náwa se fazem presentes nos municípios
de Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, onde ocupam a TI Jamináwa do Igarapé
Preto, na região central entre os rios Paraná dos Mouras e Juruá-Mirim, e a TI
Jamináwa/ Arara do Rio Bagé, no curso superior desse afluente do rio Tejo (vivendo nesta
última associados aos Arara). Os Kaxinawá, de sua parte, se fazem presentes na· TI
Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu, no município de Marechal Thaumaturgo, cuja área
partilham com os Kampa. Estes últimos habitam igualmente, no mesmo município, a TI
Kampa do Rio Amônea. Por fim, os Arara (também denominados Xawanáwa ou
Shauiandáumi, alfm de habitarem a já mencionada área do Bagé com os Jamináwa, são
encontrados também no município de Porto Walter, onde ocupam a TI Arara do Igarapé
Humaitá. Além das sociedades indígenas acima indicadas', cabe ainda incluir aqui os
chamados Náwa, que passaram a reivindicar a demarcação de uma terra própria no
município de Mâncio Lima a partir do final da década de 1990, e os Arara dó rio Amônia,
que constituem o objeto específico deste relatório de identificação e delimitação.
Na verdade, as famílias indígenas que, nos últimos anos, passaram
a se reconhecer como Arara ou Apolima-Arara no rio Amônia possuem uma composição
étnica múltipla, destacando-se os grupos de origem Arara propriamente falando ( ou
Jamináwa-Arara, de acordo com uma classificação gentílica usual na região), assim como 1
· os de origem Amawáka, Koníbo, Santa Rosa, Kampa e Kaxinawá. Várias farru1ias, além
'disso, possuem influência marcante dos laços de parentesco estabelecidos ao longo do
tempo com a população regional não indígena. A- população Arara do Amônia alcança
presentemente cerca de 236 pessoas, encontrando-se as fê~rrúlias indígenas espalhadas por
ambas as margens do rio Amônia desde o limite da terra indígena Kampa ali demarcada
3
. .r ~ I
,-
,,,a-.
,..._ 1
Processo n°: 2-=/-c i /(;),Z>
Folha rf: 3 2 )? Rubrica: ~ - /
até quase o perímetro urbano da cidade de Marechal Thaumaturgo. Fora do Amônia,
_\.existem somente duas famílias que se-instalaram na margem direita do rio Juruá, numa
localidade conhecida como Pedreira, situada aproximadamente uma hora e meia de
motor 'rabeta' abaixo de Marechal Thaumaturgo. Os poucos falantes de idiomas nativos
ainda existentes entre essa população Arara demonstram proficiência na comunicação por
meio de línguas 'pertencentes à família Pano, havendo também vários indivíduos que
falam ou compreendem em grau variável a língua Karnpa, da família Aruák',
Tendo em vista o processo histórico de ocupação do rio Amônia
pela sociedade nacional, a área cuja demarcação é solicitada pelos Arara encontra-se hoje
inserida nos limites, por um lado, do Projeto de Assentamento Amônia, sob a jurisdição
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e por outro, da Reserva
Extrativista do Alto Juruá, sob a jurisdição do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis {IBAMA). De fato, quase toda a população Arara vive
presentemente na condição objetiva seja de 'assentados' ou 'parceleiros' do INCRA, para
os que residem na margem esqu~rda do Amônia, seja na condição de 'moradores' ou
'comunitários' da reserva do IBAMA, para os que-residem na margem direita do mesmo
rio. O.acesso a essa região desde Brasília é feito por vias aéreas regulares até Cruzeiro do
Sul, de onde se prossegue até Marechal Thaumaturgo em vôo de aproximadamente 50
minutos feito em aeronave fretada -ou por meio de deslocamento fluvial em motor de
centro ('batelão') que dura cerca de três dias. O ingresso na área aqui tratada desde a
cidade de Marechal Thaumaturgo é feito exclusivamente por via.fluvial, utilizando-se em
geral canoas equipadas com motores 'rabeta' ('pe.que-peque'), com as quais se gasta cerca
de duas horas e meia para alcançar a localidade conhecida como Assembléia e outras duas
horas desse ponto até o limite da TI Kampa do Rio Arnônea. O emprego de canoas de
alumínio ('voadeira') providas de motores de popa de maior potência poderia reduzir até
dois terços do tempo necessário a esses deslocamentos, mas seu uso é pouco comum na
região devido às dificuldades de navegação características dos altos rios da bacia do Juruá
durante o período de seca anual.
Os trabalhos que deram origem ao presente relatório foram
iniciados em decorrência da Instrução Executiva nº 67 /DAF, de 04.06.2001 (prorrogada
posteriormente pela l.E. nº 75/DAF, de 26.06.2001), mediante a qual se determinou a
realização de levantamento preliminar sobre diversas terras indígenas ainda não
identificadas no Estado do Acre, incluindo entre elas a área denominada 'Arara do Alto , Juruá'. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de percorrer os rios Amônia e alto Juruá
4
Processo n°: 2 ::/-o g~.
Folha rf: -, 2 ~
Rubrica: 2±: >
.-
em visita às fanu1ias indígenas que reivindicavam a d_emarcação da área no período de 14
a 18.06.2001. Desde o dia 12, no entanto, já havíamos encontrado na cidade de Cruzeiro do
Sul um integrante da comunidade Arara do rio Amônia que havia baixado desde- o~ ã'!t.õ7 ;,,,_ 1
J uruá acompanhando um índio baleado na semana anterior em razão de um conflito
interno ocorrido na TI Jamináwa/ Arara do Rio Bagé. No dia 14, após pegarmos um velho
índio na localidade conhecida como Pedreira, no rio Juruá, rumamos para o médio
Amônia, onde entabulamos nossos primeiros contatos com as lideranças da comunidade e
p~rticipamos, à noite, de uma festa preparada para a ocasião.
No dia seguinte, 15, após realizarmos uma reunião com as fanu1ias
ali presentes procurando esclarecer os fundamentos legais e comentar as etapas do
procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, dirigimo-nos para as
proximidades do limite da TI Kampa do Rio Amônea, à montante, dando princípio ao
levantamento populacional das famílias que se identificavam como indígenas e se
encontravam fora da área já demarcada. Prosseguimos essa mesma atividade durante
todo o dia 16, observando quando possível outros aspectos de interesse para a
identificação e. delimitação da área e pernoitando pouco abaixo da foz do igarapé
Timoteu. No dia 17, concluímos o levantamento demográfico das famílias que se
encontravam ao longo do baixo Amônia, inclusive na chamada ~área do 61° Batalhão de
Infantaria da Selva (BIS)', e também à margem do alto Juruá, na localidade Pedreira,
retornando depois disso à Marechal Thaumaturgo. Havendo dormido aí na casa de uma
das farm1ias Arara procedentes do Amônia, deixamos a cidade no início da tarde do dia
seguinte, 18, rumando para Cruzeiro do Sul. em aeronave fretada pela Prefeitura
Municipal.
Posteriormente, tendo apresentado em novembro daquele ano o
relatório decorrente da viagem determinada pela I.E. nº 67 /DAF /2001 (v. Anexo 6),
houve por bem a Presidência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) constituir através
da Portaria nº 1.054/PRES, de 21.12.2001 (publicada no Diário Oficial da União - DOU nº
3, Seção 2, p. 13, -de 04.01.2002), grupo técnico para realizar estudos e levantamentos de
identificação e delimitação da terra indígena 'Arara do Alto Juruá'. Embora tivéssemos
agendado com antecedência o correspondente deslocamento para o dia 08.01.2002, não foi
possível iniciar os trabalhos àquela ocasião devido aos problemas administrativos de
cunho orçamentário-financeiro passados então pela FUNAI/PPTAL. O atraso no início da
viagem acabou por provocar modificações na composição original do Grupo Técnico l'
(GT), realizando-se a substituição do engenheiro agrônomo da FUNAI responsável pelo
5
Processo - ~: ~-:,og ~ Folha nº: ~) o Rubrica: ~ L--
/
.-
- levantamento fundiário sucessivamente através das Portarias nº 51/PRES, de 29.01.2002
' .. -
(publicada no DOU nº 22, Seção 2, p. 16, de 31.01.2002) e nº 254/PRES, de 21.03.2002. Com
essa mesma data, foi expedida a Portaria nº 255/PRES/2(1132, ·qüe procedeu à substituição ·-
do engenheiro agrimensor responsável pelo levantamento cartográfico. Por fim, através
da Portaria nº 256/PRES, de 22.03.2002 (publicada em conjunto com as Portarias nº
254!PRES/2002- e nº 255/PRES/2002 no DOU nº 57, Seção 2, p. 17, de 25.03.2002), foi
prorrogado o prazo para os trabalhos de campo da engenheira agrônoma responsável
pelo levantamento ambiental (cuja qualificação foi devidamente retificada no DOU nº 94,
Seção 2, p. 21, de 17.05.2002).
Deste modo, saímos de Brasília para Rio Branco no dia 07.04.2002 -
acompanhados do engenheiro agrônomo Luiz Antônio de Araújo e do engenheiro
agrimensor Jairo Barroso Vertelo. No dia seguinte, reunimo-nos com o então·
Administrador Regional da FUNAI, Antonio Pereira Neto, e com os componentes do GT
na sede da AER Rio Branco. Essa reunião preparatória contou ainda com a participação
do técnico agrícola do INCRA, Leonardo Pacheco, enquanto a engenheira agrônoma
Elione Angelin Benjó viria se apresentar aos demais no final da tarde do mesmo dia.
Saímos de Rio Branco no dia 9, realizando as compras necessárias em Cruzeiro do Sul e
prosseguindo ainda no mesmo dia para Marechal Thaumaturgo. No dia 10, embarcados
em duas canoas cedidas pelos Arara, seguimos para a localidade Assembléia, onde
realizamos nova reunião com a comunidade indígena para apresentação dos integrantes
do GT e dos trabalhos que deveriam ser realizados. No mesmo dia demos início aos
levantamentos antropológico e cartográfico, prosseguindo no dia 11 para as proximidades
do limite da TI Kampa do Rio Amônea, principiando aí o levantamento fundiário. Esse
levantamento prosseguiu com menor efetividade no correr do dia 12 e nos seguintes em
razão da oposição ativa que passou a se manifestar de parte dos moradores da Reserva
Extrativista (RESEX) do Alto Juruá e dos agricultores parceleiros do Projeto de
Assentamento (P.A.) Amônia.
No dia 13, acompanhados pelo engenheiro agrimensor e por um
integrante da comunidade indígena conhecedor da região, realizamos na parte da manhã
iuma incursão pelas terras interiores da margem direita do Amônia, reconhecendo trilhas
de caça utilizadas pelos índios no alto curso do igarapé Teteuzinho, afluente do Tetéu, e
nas cabeceiras dos igarapés Teimoso e Taboca, afluentes do baixo rio Arara, Enquanto
isso, a engenheira agrônoma prosseguiu em conjunto com os Arara o levantamento de
informações relevantes sobre os recursos ambientais existentes no curso superior da área
6
--
~· n": z.::,-03 (o-o Folha n°: 3 3 I Rubrica: ~z
em estudo. Pela tarde, dirigimo-nos para a aldeia Apiwtxa, na TI Kampa do Rio Amônea,
onde conversamos sobre os incidentes que, cerca de dez anos antes, tinham levado à
retirada dos Arara da, área: r.!~inarcada. Procuramos igualmente nos informar sobre a
posição dos Kampa em relação ao pedido para a demarcação de mais uma terra indígena
no rio Amônia. Depois de termos pernoitado na aldeia Kampa, rumamos na manhã do
dia :14 para a Assembléia, prosseguindo os levantamentos antropológico e cartográfico. À
noite, fizemos nova reunião com a comunidade indígena, comentando os trabalhos
~esenvolvidos e apresentando a proposta de delimitação para a terra indígena Arara do
Rio Amônia. No dia 15, enquanto prosseguimos nosso levantamento visitando um roçado
Arara, os técnicos responsáveis pelo levantamento fundiário continuaram seu trabalho na
parte baixa da área em estudo. Ainda no mesmo dia, tendo concluído os levantamentos
possíveis de serem realizados na conjuntura que se apresentava em campo, prosseguimos
todos os técnicos do GT para a cidade de Marechal Thaurnaturgo, tomando no meio da
tarde a aeronave que nos conduziria de retorno à Cruzeiro do Sul.
Além dos índios que, no timão e na proa, guiaram nossas canoas na
volta à cidade de Thawnaturgo, fomos acompanhados pelo líder político dos Arara do
Amônia, Francisco Siqueira ('Chiquinho'), que se dirigia à cidade de Rio Branco para
participar do Ili Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas. No mesmo
dia, outros dez representantes das famílias Arara baixaram o [uruá em duas canoas,
alcançando no final da manhã do dia 16 o porto de Cruzeiro do Sul. Essa comissão de
fanúlias Arara do Amônia participou durante o dia 17 do seminário indígena promovido
pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) !1-0 Teatro dos Nauas e, no dia 18, da
~:J assembléia da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ), realizada no centro
de treinamento da Diocese de Cruzeiro do Sul. De nossa parte, depois de tomarmos
providências administrativas relacionadas ao trabalho do GT no dia 16, acompanhamos a
apresentação e os debates ocorridos durante o seminário indígena, fazendo uma pequena
exposição durante a assembléia da OPIRJ sobre algumas das questões jurídicas
relacionadas ao reconhecimento e demarcação das áreas reclamadas pelos Arara no rio
Amônia e pelos Náwa no rio Môa. Tendo em vista a volta da técnica ambientalista para
Rio Branco no dia 17, e a deliberação particular do técnico do INCRA em permanecer na
cidade de Cruzeiro do Sul mais alguns dias, embarcamos os demais no dia 18 para a
capital do Estado, reunindo-nos no final da tarde com o Administrador Regional da
FUNAI em Rio Branco. À noite, enquanto o agrimensor embarcava para participar na ~
continuidade dos trabalhos de identificação e delimitação da TI Trombetas/Mapuera,
7
tomamos o agrônomo e o coordenador do GT vôos de retorno à Brasília, onde chegamos
no amanhecer do dia 19.
Portanto, é preciso ter em mente na leitura deste relatório que o
trabalho de campo no qual ele se baseia é bastante limitado e fragmentário do ponto de
vista da metodologia acadêmica. As duas etapas de permanência no interior do rio
Amônia, que juntas somam pouco mais de dez dias, estão mais próximas a um survey
propriamente dito do que de um trabalho dê 'campo 'clássico' em conformidade com a 1
~
{'J_,+·<L :, t~adíção etnográfica dominante na antropologia anglo:>axã3• Ademais, o levantamento·=-=::-.::-::-
também se ressentiu da ausência de monografias ou estudos etnográficos detalhados
sobre os Arara (Pano), havendo apenas algumas dissertações de mestrado em lingüística e
documentos administrativos da própria FUNAI (alguns assinados por antropólogos) que
contêm informações úteis para o conhecimento etnológico dessa sociedade indígena. Em
compensação, há um acervo de informações documentais que, embora restrito, compõe
um quadro razoavelmente preciso sobre a localização histórica e movimentação
geográfica das diversas sociedades indígenas do alto Juruá durante a primeira metade do
século XX. Além disso, o curto período de campo foi contrabalançado pela disposição
favorável e colaboração ativa demonstrada por todas as fanu1ias indígenas que haviam
solicitado a identificação da área, que se desdobraram para nos auxiliar na obtenção das
informações necessárias e nas questões logísticas de transporte, alimentação e
ho_spedagem. Considerando todos esses fatores, centramos nossos esforços no
esclarecimento de aspectos da organização social dos que hoje se denominam Arara no rio
Amônia, buscando compreender a especificidadedesse grupo frente aos demais Arara do
;}. alto Juruá e no contexto das relações interétnicas locais. Quanto aos demais temas aqui
tratados, procuramos expor primordialmente as informações necessárias ao atendimento l. ~°\ °'"
da Portaria nº 14/MJ, de 09.01.1996, sendo necessário avaliar sua suficiência para, como se 01"-" h-;--·,4..:J- ,-....o-x:, 'C4.l..,.f :...: ~
menciona no preâmbulo da prefalada portaria ministerial, "propiciar um regular processo1e., 1 "&;-~""°- '.
demarcatório". Obviamente, a estrutura em si do relatório decorre da definição
constitucional sobre o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e da
normatização estabelecida pela mencionada Portaria nº 14/MJ /96, figurando em seu
núcleo os dados sobre habitação permanente (Parte II), atividades produtivas (Parte III),
recursos ambientais (Parte IV), e reprodução física e cultural (Parte V).
8
Processo nº: ? "9-03 /o---0 .. Folha nº: .3 3 3 Rubrica:-=;~~...::--~ -:
b) Bosquejo Histórico
De um ponto de vista propriamente geográfico, podemos considerar
a região do alto rio Juruá como aquela compreendida acima da confluência do rio
Tarauacá, sendo a zona à jusante deste grande afluente entendida então como baixo Juruá.
Podemos também compreender como constituindo o alto Juruá a região que corre desde
él-:5 suas nascentes até a embocadura do lpixuna, caso em que devemos considerar como
médio Juruá o trecho entre o lpixuna e o Xeruã, e como baixo Juruá o trecho do Xeruã à
foz no Solimões. Se quisermos, por outro lado, entender a expressão 'alto Juruá' numa
perspectiva etnológica abrangente, ela deverá incluir toda a bacia deste rio acima do
lpixuna, assim como as terras que margeiam o curso superior dos rios Liberdade,
Gregório e Tarauacá, abarcando neste último o Envira e seus outros grandes afluentes.
Essa região etno-geográfica é ocupada no presente por sociedades indígenas falantes de
línguas das familias Pano e Aruák (ou 'Arawak').
A família lingüística Pano constitui um bloco homogêneo e quase
contínuo que, tomando o rio Ucayali como eixo e o Amazonas como limite setentrional, se
expande por todo o alto Juruá e nascentes do Purus, alcançando já de modo rarefeito as
bacias dos rios Madre de Dios e Madeira. Ao que tudo indica, os povos Pano atuais
descendem dos antigos portadores da tradição cerâmica denominada Pacacocha, que
dominou o Ucayali central por cerca de mil anos (300-1.300 d.C.). Essa tradição cerâmica
desenvolveu-se através de quatro diferentes "complexos", denominados por sua vez
;} Pacacocha (propriamente dito), Cashíbocaüo, Nueva Esperanza e Cumancaya. De acordo
com Lathrap (1975:152-154), os Pano estariam especialmente relacionados. ao complexo
Cumancaya, cujo aparecimento no Ucayali data por volta do ano 800 d.C. e que foi assim
chamado em homenagem ao lago-testemunho localizado na bacia centro-oriental daquele
rio onde se encontrou o seu sítio mais importante. Para outros autores, enquanto há
bastante segurança na identificação do complexo Cumancaya com os Pano centrados no
. vale do Ucayali, a indústria cerâmica de alguns grupos Pano localizados nas zonas
próximas do Juruá e do Purus pode derivar de outros complexos da mesma tradição (cf.
Myers, 1976). A invasão do Ucayali pelos povos Pacacocha forçou o deslocamento para
montante dos grupos portadores da tradição cerâmica Hupa-iqa. Estes últimos seriam os
antepassados dos povos de língua Aruák, que se introduziram no Ucayali desde 200 a.C. e
foram encontrados na época histórica ao longo de seu alto curso e nos rios Urubamba,
9
- Processo· nD: 2---:/-"S/~
~:
Folha nº: 3 3 'f
Rubrica:~ -;E = Tambo, Ene e Perené. O aparecimento da cerâmica Cumancaya parece coincidir, há cerca
de onze ou treze séculos atrás, com o início de uma certa diferenciação lingüística entre os
povos Pano ribeirinhos do Ucayali e aqueles que vieram se instalar nas terras altas que
rnargeiam o curso superior do Juruá e os formadores do Purus (cf. D'Ans, 1974). "Parece
provável", dizem Rivet & Tastevin, "que foi do Ucayali que os Pano invadiram secundariamente
o alto. Juntá" (1921:477-478). No século XIV, parte dos grupos que compunham a fronteira
setentrional do território Pano na calha do Ucayali sofreu um processo de refração para o
u:iterior de seus afluentes devido à invasão do baixo curso desse rio pelos povos de língua
Tupi, antecessores dos atuais Kokáma e Oro.água. Conforme adiante se verá, os primeiros
falantes de língua Aruák vieram se estabelecer de modo duradouro no alto curso do Juruá
apenas no início do século XX.
Pouco se sabe sobre a história indígena do alto J uruá nos primeiros
três séculos e meio da conquista colonial, chegando a ser efetivamente visitada essa região
por não índios apenas na segunda metade do século XIX. No entanto, tendo em vista a
proximidade geográfica do curso superior do Juruá com as cabeceiras de diversos
afluentes orientais do alto Ucayali e do baixo Urubamba, a história -da entrada e das
fundações coloniais nesses dois grandes rios pode sugerir parte dos efeitos decorrentes
sentidos igualmente pelos índios que então habitavam as áreas interiores vizinhas. De
resto, alguns dos grupos citados pelas antigas crônicas missionárias e relatos de viagem
como habitantes das cabeceiras dos afluentes orientais do Ucayali, passam a ser
mencionados na ·bacia do alto Juruá no início do século XX, verificando-se posteriormente
serem ocupantes tradicionais da região de terras altas entre esses mesmos rios.
As primeiras notícias sobre os índios.do Ucayali foram dadas pela
expedição de Juan Salinas de Loyola em 1557, o qual menciona três 'províncias' na subida
daquele rio, que se pode identificar como os Kokáma, os Koníbo (Pariache) e os Piro. Já em
1572, dominicanos espanhóis erigiram a capela de Santa Ana no território dos índios Antis
acima do rio Yanatile, afluente do Urubamba. Em 1635, o irmão franciscano Cerónimo
Jiménez funda a .redução de Quimirí (atualmente La Merced) nas proximidades do rio
Chanchamayo, explorando dois anos depois o rio Perené, já no território Kampa. Em 1641,
o Pe. Matias Illescas e três irmãos leigos embarcaram no rio Perené e, saindo no Ucayali,
alcançaram o Aguaitia, onde teriam sido mortos pelos Xipíbo. Entre 1657 e 1663, os
franciscanos realizaram três entradas aos Xetebo e Xipíbo (Calliseca) do rio Ucayali (Paru),
fundando com eles duas missões. Uma revolta iniciada entre os Calliseca em 1661
propagou-se até 1667 ao território dos Xetebo e Kokáma, fato que provocou três anos
10
.~
depois a .retirada dos religiosos para a missão de Santiago de la Laguna, no rio Huallaga,
com cerca de cem índios Xetebo. Em 1673, o frei franciscano Manuel Biedma funda
novamente Quimirí e a redução de Santa Cruz de Sonomoro, explorando nos anos que sé
seguiram os rios Mantaro, Apurímac, Tambo e Ucayali, Esse mesmo missionário daria
início à redução de San Luís de Perené em 1685 nas proximidades da confluência com o
rio ~ne; no mesmo ano, três espanhóis que acompanhavam o Pe. Biedma em suas
conversões descem os rios Tambo e Ucayali, chegando até a foz do Pachitea, onde
e~tabelecem os fundamentos da missão de San Miguel de los Conibos. Em 1686, vindo de
Laguna, passou a missionar nessa redução o padre jesuíta Henrique Richter, sendo a
mesma habitada então por mais de dois mil Koníbo sob a liderança de três curacas. Em
razão disso, os franciscanos sobem o Ucayali e fundam a meio caminho entre a foz do
Pachitea e a junção dos rios Tarnbo e Urubamba a missão de San José de los Conibos. De
sua parte, os jesuítas fundariam outras nove reduções, que foram contudo abandonadas a
partir de 1695 em conseqüência de uma revolta protagonizada pelos Koníbo, os quais,
confederados com os Piro, também rechaçaram urna expedição punitiva enviada em 1698
para castigar sua galhardia (cf. Steward & Métraux, 1948; Myers, 1974; Erikson, 1992;
Calixto Méndez, 1977).
No início do século XVIII, os franciscanos sob a direção do frei
Francisco de San Joseph conseguem consolidar sua presença na região próxima ao Cerro .
de la Sal, na fronteira entre os territórios Kampa e Amuéxa ao norte do rio Perené,
fundando os povoados missionários de Nuestra Sefiora del Patrocínio de Quimirí (1709),
Cristo Crucificado del Cerro de la Sal (1709), San Antonio de Erremo (1710), San Joaquim
de Nijardaris (1715) e Purísima Concepción de Metraro (1715). Pouco depois, em 1726/33,
os religiosos descobrem e exploram o território Kampa do Gran Pajonal, cujo centro está'
no alto Unini, no triângulo formado pelos rios Ucayali, Pachitea e Tambo/Perené. A
rebelião de Juan Santos Atahualpa (1742-1752), porém, frustra essas tentativas de
conversão, isolando a zona central da selva peruana até a segunda metade do século
seguinte (cf. Varese, 1973; Santos Granero, 1993).
Os franciscanos voltariam a fundar novas reduções no rio Ucayali
somente em 1757, quando o Pe. Manuel Salcedo dá início à missão de San Francisco de
Manoa e outros quatro povoados entre os Xetebo. Embora fosse estabelecida a redução de
Santo Domingo de Pizqui em 1765 entre os Xipíbo, os índios se sublevariam novamente
dois anos depois, massacrando cerca de quinze religiosos nas reduções de Sto. Domingo, l' Lapati (Santa Cruz del Aguaytia?), Santa Barbara de Achani e na missão restaurada de
--
...• l l
•
,r-, - --~-····"' mi~· Z.f~:!·~ ac,.,1-i;JC~ ~-.x..:-" ~s .. <:'_~,. • __ ~
F~lí~ r{1: __ -2.t-·--== Rubnca:~--/-,___..---==~
San Miguel de los Conibos. Retomando ao Ucayali em 1791, os franciscanos fundariam a
missão de Sarayacu entre os Xetebo. No período que se seguiu, os missionários deram
princípio às seguintes reduções: Santo Antonio de Chanchahuaya (1792t com.osKoníbo;
Nuestra Sefiora del Pilar de Bepuano (1799), com os Piro que haviam descido desde seu
território tradicional, rio acima; San Luís de Charasmaná (1809), com os Xipíbo do Pisqui;
Con~amana e Chunuya (ambas em 1811), respectivamente com os Koníbo e Sensi; e, por
fim, Santa Rosa de los Piros (1815), com os índios de mesmo nome, nas proximidades da
confluência dos rios Tambo e Urubamba. Por volta de 1829, o Pe. Manuel Plaza fundaria . .
outros cinco povoados com índios de língua Pano. Contamana foi abandonada em 1821,
sendo reocupada em 1858 pelos Xipíbo. Acompanhado pelos Korubo, o Pe. Vicente Calvo
exploraria o rio Tamaya durante três ou quatro dias em 1857, fundando dois anos depois,
com os índios Remo, o povoado de Callaria na foz do curso d'água de mesmo nome (cf.
Amich, 1975). Em 1866, realizou-se a primeira viagem de um vapor pelo Ucayali,
intensificando-se a partir de 1880 a exploração do caucho neste rio.
Em comparação com a antigüidade da ocupação colonial no rio
Ucayali, as incursões luso-brasileiras no rio [uruá tiveram início relativamente tardio. O
Roteiro escrito pelo Pe. Noronha em 1768 informa que o interior do Juruá continuava
pouco penetrado pelos extratores de drogas, sabendo-se em todo caso ser rio de curso
dilatado e abundante de salsaparrilha:
. ~
'"Dele se tem extrahido muitos indios para os lugares de Alvellos, e Nogueira, pelos quaes, e pelos que o tem navegado se sabe haverem nelle muitas nações de índios, das quaes as mais conhecidas são: . Cauaxí, Uacarauá, Marauá, -antropofagos, Catuquina, Urubú, Gemiá, Dachiuará, Maliá,: Chibará, Bauari, Arauarí, Maturuá, Marunacú, Curiuaá, Paraú, Paipumá, Baibirí, Buibaguá, Toquedá, Puplepá, Pumacaá, Guibaná, Bugé, Apenarí, Sutaã, Canamarí, Arun~á Yochinauá, Chiriiba, Cauána, Saindayuuí, Ugina [ ... ]. Na parte mais ·superior deste rio ff mão constantemente os índios haver uma populosa aldêa Umauas, ou Cambebas" (No a, 1862:49).
.,<
A descrição do Juruá obtida por Henrique João Wilkens em 1785
dava conta deste como um rio de água branca, possuindo sete dias acima de sua barra
vários lagos, onde se explorava salsaparrilha e peixe (cf. Reis, 1959:74). A partir do final
do século XVIII e início do século XIX, além da extração de drogas do sertão, institucionaliza-se a prática das chamadas agarrações de índios no interior do rio Juruá, os quais eram descidos para povoações localizadas à margem do Solimões como Fonte Boa,
Nogueira, Caiçara, Ega (Tefé) e outras. Segundo as Noticias Geographicas do cônego
12
Processo nº: 2-1 otf~· Folha nº: __ 3 ~ 1-
Rubric3:_,:zf::!- _ Fernandes ·de Souza, o "grande rio [uruâ" possuía um curso "dilatado", e o seu interior
ainda era pouco penetrado pelos "indios crioullos": , ..•..
"Sendo abundante de salsa e manteiga de tartaruga, alguns têm navegado por elle acima um mez de viagem, afim de as colher e facturar. Suas aguas são brancas como as do Solimões [ ... ]. Tem muitos rios, riachos, lagos e igarapés de agua preta, que n'elle desaguam e são seus adjacentes. Sabe-se de alguns indios gentios, que de lá têm vindo, haverem n'elles muitas nações gentilicas, de diversas línguas, das quaes as mais conhecidas são: Cauãxi, Caiauxi, Uacarãú, Marauã (são estes anthropophagos), Catuquina, Urubú, Gemiua', Baxinara', Metiua', Chibara', Bauari, Arauãri, Maturua', Marunacú, Curinãa', Paraú, Palpãma', Baibiri, Baibucua', Yoqueda', Publepa', Pumaca', Quíbaúa', Bugé, Apenari, Sotaa'n, Canari, Arnua', Yoxinaua', Kiriiba', Canana, Saindaiui e Ugina. Affirmam os mesmos indios gentios que têm descido d'este rio haver em suas cabeceiras aldêas mui populosas( ... ]. Apezar de serem os gentios do Juruá fortes e bellicosos, são mui amigos dos homens brancos e de tudo o que lhes diz respeito{ ... ). De todos os rios e matos extrahe-se salsa, cravo e mais preciosidades d'entre os gentios, sem ser molestado ou incommodado, o que prova haver paz geral entre elles para comnosco, sem embargo de haver sempre perfidia de nossa parte para com elles pelas instituições odiosas das agarrações de gentios, que ficou desde o tempo do ex-governador [Manoel da] Gama" (Souza, 1848:441-442)4.
Percorrendo o Solimões em 1847,. o viajante francês Francis
Castelnau ~orma que, seis anos antes, "alguns habitantes de· Ega cometeram assassinatos na ribeira do [uruâ, tornando-se depois disso, algumas iribus que estavam bem dispostas com os
cristãos, seus inimigos irreconciliáveis" (cf. Castelo Branco, 191,7:164). O mesmo viajante
encontrou um morador de Ega, Flores Nicolao José de Oliveira, que lhe contou ter subido
o Juruá durante três meses e meio, deparando-se com índios Cataochi no furo do Andirá,
com índios Arawa no pequeno lago de Jahiruan, e com índios Culino no rio Chiruan, os
quais tinham comtuúcação com o Tarauacá. Nas margens desse último rio viviam
J.0 "selvagens hostis", enquanto no braço principal do Juruá diziam os índios "que os brancos"
possuíam "uma aldeia para as suas nascentes" (Ibidem).
O povoamento não indígena da calha do Juruá ocorreu efetivamente
na segunda metade do século XIX, sendo precedido por duas ou três expedições semi
oficiais de exploração. Encarregado dos índios desse rio desde 1848, Romão José de
Oliveira fez uma rápida exposição ao coronel Albino dos Santos Pereira em 1851 dando
notícia das "tribos" ali encontradas e da possibilidade de aldeá-las. Cumprindo ordens
datadas de março daquele ano, subiu o Juruá até Mineroá, prestando informações ao
Presidente da Província em 1852 "sobre a extensão, navegabilidade e população indígena do rio
[uruá" (Ibid.). O conhecimento efetivo do curso superior do Juruá t~ve seguimento com a
viagem realizada em 1857 /58 por João da Cunha Corrêa, morador de Ega (Tefé) que tinha •• sido encarregado dos índios daquele rio desde 1854. "Apresentando, em ofício de 20 de agosto
de 1856, esclarecimentos minuciosos, capeando uma relação das tribus aldeadas até Kué", teve,
13
"em 1857, aprooada a proposta que fizera para uma incursil.o rio-acima" (Ibid.:165). -Sajndo de
Tefé no dia 13.10.1857, acompanhado por dez guardas nacionais, esse explorador chegaria
à confluência -C-6~ cfri~ Juruá-Mirim, retomando pelos rios Tarauacá e Envira, de onde
varou para o Purus, conseguindo regressar à Tefé no dia 30.04.1858. No correr dessa
viagem, Cunha Corrêa encontrou malocas dos índios Maraua (Meneroá, Bereo e Bacaxi),
Cataf'-i:xi (Andirá, Arapari e Tucuna), Canamari (Pupunha), Arauá {Parauá e Xué) e Naua. Estes últimos tinham sua maloca no chamado Estirão dos Nauas, pouco acima da atual
c_idade de Cruzeiro do Sul. Aproveitando-se da momentânea ausência dos Naua que
tinham se retirado para a margem oposta do Juruá, procurou o explorador estabelecer
contato deixando machados, terçados, facas, panos e miçangas no terreiro dessa maloca,
bens que, no entanto, foram jogados no rio quando do retorno de seus moradores. Mesmo
assim, Cunha Corrêa conseguiu capturar três índias Naua, as quais trouxe consigo em seu
retomo à Ega (cf. Idem, 1958:74-75).
Explorando o Juruá em 1867, o geógrafo inglês William Chandless
atestaria que os produtos naturais mais abundantes e procurados ainda eram o cacau, o
óleo de copaíba e a salsaparrilha, havendo principiado poucos anos antes o interesse pela
borracha. De acordo com as informações por ele obtidas, o Juruá era habitado pelos
seguintes grupos: Marauâ, quase todos batizados e falantes da língua geral, com malocas
nos paranás Mineroá, Bereo, Tucumã e no igarapé Caápiranga; poucos remanescentes dos
industriosos Catauixi no igarapé Jaraquí, que trabalhavam na extração de borracha; Araua,
que moravam em urna maloca no igarapé Chiué, acompanhando-o alguns até a foz do .
Xeruã; Culino, numergso grupo que vivia nas terras interiores da margem direita entre o
,J;;) Xeruã e o Tarauacá; Ómibo, no igarapé Acará, aparentados.possivelmente aos Manetenery
do rio Purus, com quem mantinham comércio regular; Canamary e Pirá-tapuya (í.e., Fish
Indians), na praia do Acará (Acory?), sendo os últimos recém-chegados do Cuniuá e com a
---.
língua semelhante à dos Arauâ; acima do rio Gregório, encontrou índios com
ornamentação facial variada viajando em canoas de paxiúba, e embora não conseguisse
averiguar ao certo sua identidade, falavam palavras que poderiam relacioná-los aos
Maxuruna; por fim, os terrúdos Naua, índios que portavam lanças e escudos de couro de
anta, possuindo vastos e bem cuidados roçados, e em cuja maloca, formada por duas
grandes casas comunais, foi achada certa quantidade de breu. Embarcados em longas e
estreitas canoas, os Naua atacaram a expedição pouco acima da foz do rio Mu (Liberdade),
fazendo-a retomar por conta disso (cf. Chandless, 1869:298-307).
-14
r: ,,,.....
,....... 1
r: r: r:
,r-
0 ~ r r: ,,..... 1
r:
r:
r:
r r:
r:
r:
r:
processo nº: Z-::J-03 /o:J.. Folha nº: .3 ~ 7 Ruprica: -/-:_(__ - - ~ ..
A despeito do incidente com a expedição de Chandless, a
exploração do alto Juruá teve prosseguimento, sendo alcançado novamente o rio
Liberdade três anos depois por Francisco F. de Carvalho. Em 1883, o pernambucano
Antônio Marques de Menezes fundaria um seringai na foz do mesmo rio, prosseguindo
no ano seguinte até o chamado estirão dos Nauas, pouco acima da foz do rio Môa, de
onde. retomou por ter sido detido pelos índios, que lhe deram uma surra. Ainda nesse
mesmo ano (1884), alguns cearenses e italianos exploraram o trecho do mencionado
estirão dos Nauas até a foz do rio Juruá-Mirim:
"Encontraram elles pelas cercanias do rio Môa extensos bananaes e grande numero de índios, que os iam seguindo com o maior interesse, por terra. No meio do estirão dos Nauas [ ... ] foram os viajores á terra, deparando com uma enorme maloca dos selvicolas chamados 'Nauas', os quaes deram o nome ao dicto estirão, e após uma certa demora, necessaria, apenas, para offerecerern aos aborígenes alguns brinquedos e outros objectos que lhes despertassem a curiosidade', continuaram sua róta, parando novamente na extremidade Sul do referido estirão, na terra firme [ ... ] e ahi encontraram novamente muitos índios, tendo lhes feito offerecimentos identicos. Foram, porém, obrigados a fazer fogo para o ar, afim de os atemorizar, uma vez que eles tentaram lançar mão de suas armas, instrumentos esses que os indígenas prestavam muita atenção e pelos quaes se mostravam assás interessados desde o primeiro encontro na parte central desse esticão" (Castelo Branco, 1930:593-594). ··
Esses precursores seriam logo seguidos por muitos outros,
seringueiros e caucheiros que compunham a grande frente extrativista da borracha
iniciada dez anos antes. De fato, o auge do boom da borracha nessa parte da Amazônia
ocorreu no período entre 1890 e 1912, adquirindo a sua maior intensidade exatamente na
passagem do século, quando a região é tomada por inteiro pelos barracões e lambas das . empresas seringalista e caucheira", A rapidez e a violência com que se processou a invasão
do alto Juruá por seringueiros brasileiros e caucheiros peruanos repre~entou uma
transformação sem precedentes na história das relações interétnicas com as sociedades
indígenas que habitavam secularmente essa região. Em 1889 /90, o cearense Francisco
Xavier Palhano e outros companheiros exploraram o alto Juruá até a foz do Breu,
travando uma grande luta com os índios Capanaua pouco abaixo do igarapé Triunfo.
Outros doze brasileiros visitaram pouco depois o curso superior do rio, navegando quase
cem praias acima da foz do rio Huacapistea e alcançando o rio Piqueyacu. O povoamento
do trecho entre o Ipixuna e o Breu se daria rapidamente a partir daí, fixando-se os
seringueiros em 1891 nos rios Grajaú, Tejo e Amônia e nos igarapés Triunfo, Oriente, São
João e Caipora. entre outros (d. Castelo Branco; 1958:594 e 1947). De acordo com um
observador contemporâneo, os índios eram
15
"impiedosamente perseguidos pelos caucheiros, a quem constantemente assaltam em seus tapiris {tambos] para roubar-lhes suas armas, seus instrumentos e sua farinha, sem o que não é possível que ninguém subsista no centro da floresta. Para afugentá-los, periodicamente se organizam correrias nas quais a pior parte cabe ao índio, pois se o prendem com vida é levado para longe e submetido ao trabalho como um verdadeiro escravo e freqüentemente vendido como tal, e se opõe resistência e defende sua palhoça e a seus filhos menores, objeto da rapacidade dos assaltantes, então acha a morte sem misericórdia. Para falar a verdade, o objetivo principal dessas indignas correrias é o de colher mulheres e crianças para, em seguida, vendê-los a bom preço. Um menino de dez a doze anos vale, em geral, (S. 500) quinhentos soles, e se é campa, muito mais. y.ma menina da mesma idade custa trezentos ou quatrocentos soles, e algo menos a mulher maior de vinte anos [ ... ]. A perseguição de que são objeto mantém os índios em constante movimento. Já não têm casas fixas para viver e nem roças para se alimentar. Vivem errantes em uma condição deplorável. Por esse motivo seu número vai decrescendo sensivelmente" (Villanueva, 1902:427-428).
e) Reconhecimento Pioneiro
No final do século XIX, a região do alto curso dos rios Juruá e Purus
era, como todo o atual Estado do Acre, território disputado entre o Brasil, a Bolívia e ~
Peru. Desde 1867, o Brasil havia firmado com a Bolívia, em Ayacucho, um tratado de
limites que estabelecia a fronteira entre os dois países por uma linha que, partindo da
confluência entre os rios Beni e Guaporé, fosse encontrar as nascentes do rio [avari", Em
1895, formalizou-se no Rio de Janeiro um protocolo entre o Ministro das Relações
Exteriores brasileiro e o Plenipotenciário da Bolívia para nomeação das respectivas
comissões delimitadoras. Reunidas ambas no ano de 1896, chegaram a: fixar alguns
marcos às margens do rio Acre mas, devido a divergências não sanadas, suspenderam os
trabalhos iniciados. Em fins de 1898, o governo brasileiro permitiu o estabelecimento de
um porto aduaneiro boliviano no rio Acre, cuja instalação no ano seguinte dá inicio a uma
série de insurreições regionais fomentadas por seringalistas da praça de Manaus que
haviam sido atingidos em seus interesses. Convenientemente apoiados pelo governador
José Cardoso Ramalho Junior, e corno estratégia para forçar uma definição por parte do
Brasil, os empresários de Manaus financiam o espanhol Luis Gálvez, que proclama em
julho de 1899 a independência do Acre. Este é deposto em fins de dezembro do mesmo
ano pelo Cel. Antônio de Souza Braga, proprietário de seringa! que não concordava com a " suspensão da exportação de borracha decretada pelo governo separatista. Após uma
breve reintegração de Gálvez no inicio de 1900, a rebelião foi reprimida por uma flotilha
16.
,.,...
Processo n°: .Z. :;-.a R J.-v ... Folha nº: 3 'f I Rubrica: -;g;_ : ·
/ brasileira, sendo o cabeça do movimento preso e deportado para a Espanha. Pensando
assegurar a posse sobre a área disputada, o governo boliviano concede em junho de 1901
a administração e exploração do território acreano a uma 'companhia de carta' norte
americana, o Bolioian Syndicate, tendo sido porém o respectivo contrato anulado dois anos
depois por gestões brasileiras em troca de 110 mil libras esterlinas. Em 1902, José Plácido
de Castro dá início a nova revolta, travando combates com os bolivianos nas regiões de
Santa Rosa e Puerto Afonso (Porto Acre), entre outras, nos rios Purus e Acre. As
n~gociações diplomáticas se iniciam e a Bolívia aceita no final de 1903, através de um
tratado formalizado em Petrópolis, conceder o Acre ao Brasil em troca de uma
indenização no valor de dois milhões de libras, da construção de uma estrada de ferro
entre os dois países e do acesso a um porto no rio Madeira (cf. Tocantins, 1979, vol. 1;
Gonçalves, 1991:13-38; Costa, 1998).
No alto [uruá, por outro lado, caucheiros peruanos aviados por
Efraim Ruiz instalaram-se precariamente em 1892 na foz do rio Breu, iniciando aí a
povoação de Nuevo Iquitos, que desapareceu em fins do mesmo ano com a retirada de
seus ocupantes. Em 1896, vindos do Ucayali. "começaram.a aparecer negociantes e industriais
peruanos, acompanhados de trabalhadores índios, em algunsafluenies do [uruâ, apresentando-se
como amigos e obtendo dos proprietários brasileiros por compra, arrendamento ou simples tolerância, alguns terrenos em que abundava a árvore do caucho" (Rio Branco, 1947:96-97). As
escaramuças ocorridas no ano seguinte entre seringueiros brasileiros e caucheiros
peruanos nos rios [uruá-Mirim e Breu acabaram por provocar, em 1899, a subida do aviso
de guerra Juruema à foz deste derradeiro curso d~água sob o comando do capitão-tenente
~J .Pinheiro Hess. Pouco- antes, Justo Balarezo havia se instalado no rio Amônia na qualidade
de governador-comissário por nomeação do Comisionado Especial do Departamento de
Loreto. Da parte brasileira, por decreto de 15.02.1902, o Governador do Amazonas
deternúnou a criação de urna coletoria de rendas estaduais na Boca do Breu, que por
conveniência, no entanto, foi instalada abaixe, entre a foz dos rios Amônia e Arara. Essa
localização correspondia à do seringal Minas Geraes, da casa Mello & Cia., que possuía
sede em Manaus e Belém'. Em 21.10.1902, tendo percorrido o varadouro das cabeceiras do
Tamaya às águas do Amônia e descido este último rio, apresentou-se de forma hostil
frente ao barracão do seringai Minas Geraes um destacamento peruano composto pelo
comissário Carlos Vásques Cuadra, vinte praças e cerca de cinqüenta caucheiros armados
de rifles. Num primeiro momento, sob a influência do primeiro suplente da Prefeitura do
Alto Juruá, Carlos Eugênio Chauvin, foram os peruanos rechaçados por seringueiros
- - 17
,.--.
Processo nº: 2. =J- otf' /a;:> Folha nº: 3 lf 2.
Rubrica:-d::, Z. /
brasileiros "para o varadouro entre o Amonea e o Cayanía, acampando em Saboeiro, e depois em
San Lorenzo, à espera de reforços" (Rio Branco, op. cit.:97). No entanto, dada a cautela
demonstrada pelo proprietário do seringai, Luiz Francisco de Mello, que acreditava ser
mais conveniente deixar aos dois governos a resolução do caso, os peruanos promoveram
em novembro de 1902 a instalação de um posto fiscal e militar na foz do Amônia, dando
ao lugar a mesma denominação de Nuevo Iquitos anteriormente aplicada ao povoado de
,...... r
efêmera existência na foz do Breu. ~·
O governo brasileiro, porém, não reconheceu o posto, reclamando
ao Peru a sua retirada e concentrando tropas no Amazonas com disposiçãopara desalojá
lo se necessário. Por ordem do Ministério da Guerra, foi enviado um destacamento do 1 ° Distrito Militar em Manaus que seguiu no dia 02.05.1904 para o Juruá com 225 homens do
15° Batalhão de Infantaria e dois navios artilhados. A possibilidade de um conflito de
maiores proporções deu lugar à formalização de um acordo em 12.07.1904 estabelecendo
um modus vívendi entre os dois países no alto curso dos rios [uruá e Purus enquanto se
processava a discussão diplomática sobre os limites entre ambos, solucionada
definitivamente apenas em 1909. O referido acordo de 1904 previu, no alto Juruá, a
neutralização do território compreendido ao sul do rio Breu, permanecendo sob a
jurisdição brasileira a zona localizada ao norte, devendo portanto se retirarem os soldados
peruanos do posto instalado à boca do Amônia. Organizado administrativamente o
Território do Acre em abril de 1904, o recém-empossado Prefeito do Departamento do
Alto-Juruá, coronel Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, intimou em setembro o major
Manuel Ramírez Hurtado, comissário do posto militar e aduaneiro do Peru na boca do
~:) Amônia, para que evacuasse a praça. Esquivando-se contudo os peruanos à desocupação
e procurando reiniciar a cobrança de impostos, foi despachado ao Amônia em fins de
outubro de 1904 o vapor Môa, levando a bordo cinqüenta soldados sob o comando do
capitão Francisco d'Avila e Silva. Rompendo as hostilidades no dia 1º de novembro, foi
detido um oficial peruano pelo tenente Fernando Guapindaia de Souza Brejense, delegado
auxiliar da Prefeitura do Departamento que viajava no vapor Contreiras, o qual teve que
seguir até a boca do rio Tejo para escapar do fogo contrário. No dia 3, partiu o tenente do
rio Tejo buscando o seringai Mississipe Novo, acima da foz do Amônia, onde encontrou o
capitão Ávila. Este aguardava com praças do exército brasileiro e dezenas de seringueiros
enviados pelos patrões Pedro e Alfredo Telles de Meneses, Oséias Cardoso e Luiz
Francisco de Mello, contingente que, por sua ordem, havia aberto picadas até as ~~
18
pro,:esso ne: zq__(;jfi ~ Folha n~: __ 3- <( 3 L Rubrica:_-fo-
localidades .de Florianópolis e Vila Martins (cf. Mendonça, 1989:208; Branco, 1930:639-
644):
"Logo qu~ as condições desses caminhos na floresta permitiram o deslocamento da tropa, o Capitão Avila mandou seguir 20 praças, sob o comando do furriel José Rodrigues da Fonseca e 30 civis dirigidos pelo ex-aluno da Escola Militar Oséias Cardoso, a fim de tomarem posição à esquerda e à retaguarda do posto peruano, enquanto outras 6 praças e 8
: civis iam ocupar uma trincheira em Vila Martins (margem direita do Juruá, defronte o sítio dos peruanos). Mais 16 praças e 10 civis deslocaram-se para o "igarapé Minas Gerais, no seringai de mesmo nome. A disposição do terreno do acampamento peruano era boa para uma defesa militar. Estendia-se numa área de dois quilômetros de extensão por dois de largo, no ângulo formado pelo encontro do Amônea com o Juruá. Uma rua, com várias casas de madeira entre as quais se destacava o quartel, seguia, a uma distância de 50 metros, as margens do rio captador, onde foram abertas inúmeras trincheiras para a defesa do porto. À beira do Amônea, em terreno elevado, existiam outras trincheiras em forma de quadrilátero, sítio excelente para repelir ataques. Pela madrugada do dia 4, o Capitão Ávila e Silva partiu pelo varadouro, de Mississipe Novo em demanda do Amônea. Pouco depois, pelo rio, baixaram o Tenente Guapindaia e seus prisioneiros, sendo, no caminho, chamados à fala por um piquete peruano que só os deixou ilesos por interferência do alferes Ramirez, usado como refém. Pôde, assim, o grupo desembarcar no seringai Minas Gerais (margem direita do Amônea e esquerda do Juruá). A essa hora, o cerco do acampamento peruano estava completo[ ... ]. 'Rompeu a fuzilaria de todas as linhas', e durante 'todo o dia 4 travou-se um tiroteio cerrado'. No decorrer da noite, os brasileiros consolidaram suas posições e abriram
. novas trincheiras. O cerco da praça tomava-se mais estreito. Um piquete de 15 civis deslocou-se para Nova Mina, no rio Amônea, com o objetivo de impedir a vinda de recursos peruanos (o piquete prendeu vários homens que procuravam alcançar Nuevo .Iquitos)" (Tocantins, op. cit., vol. 2:403-404).
Após a capitulação das forças peruanas, ocorrida na madrugada do
dia 5, e de sua retirada em ubás no dia 7, foi imediatamente instalado no local um posto
fiscal brasileiro que daria origem à vila Thaumaturgo, mantendo-se também a partir daí
um guarda na localidade de Saboeiro. Tendo em vista esses acontecimentos, bem corno o
disposto pelo acordo de julho de 1904 no tocante ao reconhecimento dos rios [uruá e
Purus no território neutralizado, reuniram-se no Rio de Janeiro o Ministro das Relações
Exteriores do Brasil, José Maria da Silva Paranhos do Rio Branco, e o Plenipotenciário do
Peru, Guillermo A. Seoane, expedindo em 04.02.1905 as instruções necessárias para a
constituição das Comissões encarregadas deste mister. O comando da Commiseão Mixta
Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Rio [uruá foi confiado ao general de brigada
Bellarrnino Augusto Mendonça Lobo, pela parte do Brasil, e ao capitão de navios F. E.
Espinar, da parte do Peru, sendo este porém logo substituído pelo capitão de corveta
Numa Pompillio Leon. Em uma viagem pioneira realizada de abril de 1905 a janeiro de
1906, a Comissão Mista percorreu todo o curso do rio Juruá até as suas mais altas
cabeceiras, realizando um simples reconhecimento hidrográfico até a foz do rio Breu e, daí
para cima, o levantamento expedito das coordenadas geográficas de todos os seus
19
1
principais afluentes e a exploração dos varadouros mais importantes para a bacia do
Ucayali, Além de sua inegável importância em termos de conhecimento geográfico, a
viagem realizada pela Comissão Mista de 1905 proporcionou as primeiras informações
diretas sobre os índios do alto Juruá e suas relações com a frente extrativa da borracha,
constituindo a sua memória e o relatório do comissário brasileiro documentos de grande
interesse para a história indígena desse rio.
De acordo com a Memória da Comissão, existiam 172 barracões
seringalistas à margem do Juruá no trecho entre o Tarauacá e o Breu. O Relatório do Gal.
Belarmino Mendonça registra por ocasião da passagem da Comissão Mista por Cruzeiro
do Sul, no final de maio de 1905, que essa localidade possuía apenas o barracão da
Prefeitura do Departamento, um sobrado coberto de telhas, quatorze casas e quatro
galpões cobertos de palha. Villa Thaumaiurgo, na foz do rio Amônia, era somente um
"povoado que recentemente havia sido creado pela Prefeitura do Alto fumá, sobre a margem
esquerda deste rio e a jusante daquelle. Á montante e na mesma margem do [uruâ se acha o antigo
barracão Minas Geraes com muitas casas", havendo "na margem opposta outro barracão e mais
oito casas, a que chamam Villa Martins" (Mendonça, op. cit.:112). No interior do rio Arnônia.:
. assinalou a Comissão a localidade de Nova Minas, composta por trêsbarracos na margem
esquerda, lugar antes chamado 'Chico Coelho' e pertencente então ao brasileiro Manuel
Tito de Oliveira. Acima desse ponto existia unicamente a localidade de Saboeiro, onde se
achou seis ranchos de palha vazios e dois ocupados por peruanos. Havia também
varadouro ligando a casa de um seringueiro na margem direita do rio Amônia ao rio
Arara, encontrando os comissionários que o exploraram "em dous pontos do monte iapiris de
J.;) abrigo dos viajeiros e tres tambiios na margem esquerda do Arara" (Ibid.:159-160).
A partir do Breu, nas proximidades de cuja foz estavam
estacionados os comissariados policiais e fiscais do Brasil e do Peru em razão do acordo
de 1904, a Comissão Mista passou a receber informações sobre a presença de índios
Amahuaca espalhados pelo interior das matas. À medida que prosseguia a viagem rumo às
nascentes do [uruá, foram aumentando os sinais da presença indígena, culminando o
périplo em um encontro dos expedicionários com os índios da maloca refugiada próxima
1 ao cerro das Mercês, origem da mais alta cabeceira do rio, batizada de Paxiúba. Os \
~ Amahuaca eram cultivadores de extensas roças, onde plantavam com abundância ' macaxeira, banana, milho, batata doce, mamão e feijão. __ Nenhuma informação traz a
Memória da Comissão sobre as casas de habitação permanente dos Amahuaca, havendo de
todo modo no Relatório do Comissário Brasileiro indicações sobre prováveis abrigos
. .- 20
Processo n°: Z ":fo 9 ~ Folha nº: 3)"'J- Rubrica: ·-~----
temporários constituídos por "ranchinhos de indios" e "tapiris cobertos de talos de jarina". Em
um desses ranchinhos, acharam uma "panella grande de barro sobre tições apagados, indicando
sua presença no lagar poucos dias antes", voltando a encontrar em outro abrigo indígena
"panellas grosseiras de barro cosido e artefactos indígenas de uso domestico", entre os quais
incluíam-se "bilros de fiar e grosseiros teares". Para se locomoverem pelos afluentes do alto
[uruá, faziam os 'índios toscas igaras (ou terapotos, segundo o linguajar peruano regional) do bojo da paxiúba barriguda encontrada em térra firme (Ibid.:125-129 e 180-189).
O Relatório do Comissário Brasileiro é bastante preciso na
caracterização do estado beligerante das relações entre os Amahuaca e os integrantes da
frente caucheira que haviam tomado de assalto o _alto Juruá. A verdade é que mesmo se
retraindo para as regiões mais remotas dos afluentes superiores do Juruá já não
conseguiam os índios se ver a salvo das extratores de caucho, passando a oscilar sua
atitude entre os saques e ataques realizados em represália e as relações eventuais com
esses agentes de contato (alguns dos quais, provavelmente, mestiços e índios subjugados
anteriormente). Assim, entre os Amahuaca havia indivíduos que entendiam algo de
português e espanhol, sendo encontrados em um dos abrigos provisórios "um saco
encauchado, um machado de aço, uma colher e uma pedra de amolar que constituíam provas
flagrantes de furtos feitos aos caucheiros ou seringueiros". Os caucheiros, de sua parte,
associavam-se aos índios freqüentemente para se abastecerem em suas roças ou dos
produtos ainda encontrados em antigas capoeiras (purmas). O mesmo fizeram os membros
da Comissão Mista no último trecho da subida às nascentes do Juruá, devendo-se
certamente a isso o fato de encontrarem uma roça. de musas e manioas da qual "os selvagens
t..~ haviam pouco antes arrancado a estas as apreciadas mandiocas ou yucas e despojado aquellas dos
apetecidos cachos de bananas ou platanos, naturalmente para evitar a associação dos
expedicionarios", A possível identificação com os trabalhadores do caucho foi propiciada
pelas próprias circunstâncias, visto por exemplo o barco da Comissão Mista transportar o
comissário aduaneiro peruano, Juan Barreto, até a foz do rio Piqueyacu, onde o deixaram
"com a preocupação de reunir pessoal para ir as malocas dos selvagens, e ao mesmo tempo
investigar cauchaes". Do mesmo modo, encontraram na volta junto à foz do Peligro um
grupo de caucheiros com mulheres e crianças "para ahi enviados em seguida ao nosso
avançamento pelos patrões Docet & Lonza, a incitamento do commissario fiscal do Perú"
(Ibid.:123, 129, 134 e 141).
Os índios se faziam sentir especialmente na zona entre o rio /·
Huacapístea e as cabeceiras dos rios Piqueyacu e Torolluc, formadores do [uruá. No
21
... - .... -·······--------~----~---- -o. ~-=,.o&/~
processo " · "h , o. JY, = Fo\ha n. 7(:
Rubf\ca:_~ -~-r--- -·· Huacapistea, o italiano Thomaz Franchini tinha descoberto o varadouro para o Cohenhua,
sendo "depois morto pelos indios amahuacas, em uma de suas passagens por essa travessia". Em
1899, o caucheiro Antonio Lusardi, também italiano, estabeleceu-se na foz daquele rio,
entrando em contato com os Amahuaca que ali habitavam:
"Com esta tribu esteve Lusardi em corrununicação, visitando o grande toldo que tinha á margem direita do Huacapistea com boas casas e vastas plantações, próximo á barra do seu afluente Inuya. O nome desse rio como os outros nomes indígenas da região, hoje conhecidos, foram dados pela mesma tribu. Teve Lusardi em sua companhia o curaca geral de nome Marcos e outros indios. Em sua ausencia, porém, o colombiano Gonzales Castellon e onze caucheiros peruanos, aviados de Efraim Ruiz, levaram o curaca, a mulher e seis filhos menores á bocca de um igarapé, duas voltas abaixo, e mataram o pai e os filhos. A mulher conseguiu escapar e voltar á barraca de Lusardi, que a protegeu e fez conduzir ao Ucayale, devendo achar-se na companhia da familia de Franchini" (Mendonça, idem:205).
.,... ·,
Por ocasião da subida do Juruá pela Comissão Mista, em agosto de
1905, desciam do Torolluc e do Lijia (afluente do Piqueyacu) diversos caucheiros que
vinham "resguardar seus trens no arranchamenio commum, por se terem tornado frequentes e
simultaneos os assaltos dos selvagens aos tambitos em que se abrigavam junto aos locaes de
extracção do caucho". No regresso da viagem ao alto rio, os integrantes da Comissão Mista
exploraram o rio Piqueyacu, onde os caucheiros asseguravam a presença "nas duas
margens, do Lijía para montante, de seguidos toldos de selvagens em progressivo augmenio para as cabeceiras", encontrando indícios deles e um bananal próximo à foz do Achupal. No
igarapé Lijia, tinha sido "attingido por frecha o caucheiro Salomon Duenama, tratado pelo medico
da commissãa brazileira", Também no regresso, constatou a Comissão que as palhoças d~s
caucheiros estabelecidos na confluência do Piqueyacu com o Torolluc tinham sido
atacadas pelos índios, sendo flechados o peruano Patricio Urquia "e uma indígena amahuaca .
por elle arrebatada ao curaca de sua maloca e com a qual convive". Acreditavam que se tratava
de uma "premeditada vingança do tuchaua espoliado", pois continuavam os índios a "rondar
por traz dos ranchos, onde a perseguida tornara a uel-os, fugindo-lhes espavorida". Os caucheiros reputavam como de maior risco em relação aos ataques dos Amahuaca a zona marginal
acima dos igarapés Metaleiro e Peligro, últimos afluentes da margem direita do Torolluc
antes da forquilha formada pelo Salambô e pelo Paxiúba (Ibid.:119, 122, 135, 143-145).
Nessa zona final, em que pareceu ao comissário brasileiro estar percorrendo uma "via
dolorosa" no trajeto a pé até as cabeceiras do Juruá, "sobre a pressão da presença e seguimento
dos auiochtones bravios", foram dois integrantes da Comissão Brasileira emboscados pelos
índios enquanto füiziam uma caçada", ocorrendo o primeiro encontro face a face com os
Amahuaca três dias antes de terminarem as operações astronômicas para determinar a
22
·--·-;~·~~ --2~°'? F. !·
Folha nº: J '-f r Rubriea: M z/: L ) ~
--· posição geográfica do cerro das Mercês, concluídas no dia dessa Virgem (24 de outubro).
De acordo com o general Mendonça, a escassez de suprimentos havia determinado a
restrição da alimentação individual dos membros da Comissão:
-. "Para compensar essa forçada reducção recorreu-se ao palmito e a caça. Esta, porém, estava esquiva pela presença dos aborígenes Amahuacas, que ahi têm moradas, com dous dos quaes teve casual encontro, na floresta, pela manhã de 21, o destemido sertanejo cearense João Mendonça, ao nosso serviço. Conseguia este suprehendel-os na passagem e levar um á presença dos expedicionarios da commissão mixta. Pelas insígnias que trazia e pelo que se deprehendeu dos seus gestos e das poucas palavras cornprehendidas devia ser um cacique, cathegoria a que na região nominam tuchaua e curaca. O companheiro fugio apavorado, e como Mendonça fizesse menção de atirar sobre elle com fuzil, o curaca, chamando-o papá e detendo-lhe brandamente o braço, supplicou que o poupasse. Por gestos indicou que tinha o fugitivo muitos filhos, fazendo crer que era sua mulher. Como demonstração patente de nossas intenções pacificas os expedicionarios presentearam o tuchaua com um pedaço de fumo, o fizeram desferir uma frecha para o ar pelo proprio arco que trazia e deram-lhe irnrnediata liberdade. A principio afastou-se lentamente, com as vistas voltadas para traz, desconfiado da desusada generosidade, mas chegado a um sitio favoravel embrenhou-se rapidamente sem mais ser visto" (fbid.:129).
\'
1
1
Novo encontro com os Ama/maca teriam os membros da Comissão
Peruana quando de sua retirada do cerro das Mercês:
"Em caminho os dous peruanos doentes, que vinham retardados, encontraram um grupo de selvagens armados de arcos e flexas, os quaes subiam descuidados pelo leito do Paxiuba, naturalmente convencidos de não restar a montante nenhum expedicionario, pois deviam ter visto horas antes as duas turmas brasileira e peruana descerem em sua retirada. Embargaram o passo aos dous mais avançados, passaram para elles as cargas e os apresentaram a seu chefe Sr. Commandante Leon. No acampamento peruano junto á foz do Salambô lograram os detentos escapar, levando dois facões que lhes haviam sido entregues para ajudar a abrira clareira para as observações a effectuar nesse logar. Tinham sido retidos somente para guiar os expedicionarios ás cabeceiras do 2º formador [i.e., o Salambô] e haviam sido tratados com carinho. Soubemos mais tarde que esse e outros grupos iam se reunir no cerro das Mercês para darem assalto aos expedicíonaríos" (lbid.:131).
Na verdade, a ocupação do Juruá acreano iria se processar com
bastante rapidez a partir dessa época. Após uma primeira vaga de caucheiros peruanos
que, desde 1896, se estabeleceram em acampamentos na foz dos rios Môa, Cruzeiro do
Vale e Breu, a região passou a ser sistematicamente povoada por seringueiros nordestinos.
Dados de um recenseamento feito em 1906 indicam que a sede do Departamento em
Cruzeiro do Sul possuía 546 habitantes. Seguiam-lhe em importância, entre outros, os
seringais Paraná dos Mouras, com 478 habitantes; Minas Geraes, entre a foz dos rios
Amônia e Arara, com 440 habitantes; e os denominados Valparaíso, com 249 habitantes;
Grajaú, com 240 habitantes; Rio Branco, com 239 habitantes; Sobral, com 227 habitantes; e
23
Processo nO: Z=iof(?o_ Folha n•: !J:l_ Rubrica: :
7 Boca do Tejo, com 221 habitantes. Naquele ano, a recém-criada Vila Thaumaturgo possuía
tão somente 46 habitantes (d. Azevedo, 1906:45-49).
A instalação da Prefeitura do Alto Juruá em 1904 propiciou ·oot primeiro ordenamento social e territorial desse Departamento", sendo expedidos em seu
período inicial os Decretos nº 15, de 15.12.1904, que instituiu a 'Lei do Trabalho' para
regular o processo de extração da goma elástica, e o Decreto nº 16, de 24.12.1904, que
dispôs sobre o livre trânsito dos 'regatões' nas' águas de domínio público. Entre os postos
~scais do Departamento criados pelo Decreto nº 5, de 1_6.09.1904, constava o do Amônia,
encarregado de vigiar a zona desde o rio Breu até o igarapé Ouro Preto, compreendendo
os vales dos rios Amônia, Arara e Tejo. Em março de 1906, o registro fiscal de Saboeiro foi
efetivamente instalado no barracão antes ocupado por Barta & Davila pelo escrivão do
posto do Amônia, Manoel do Valle e Silva, o qual dirigiu-se depois ao lugar denominado
San Lorenzo (ou 'Chácara', situado no igarapé Cayania) e intimou o subcomissário
peruano Eduardo Pinillos para que deixasse de exercer sua autoridade nas vertentes do
Juruá. Os caucheiros estavam de partida para os rios Putaya e Ucayali, havendo nessa
localidade cerca de vinte peruanos e restos de três casas comerciais (d. Azevedo, op.
cit.:128-130).
Quanto às populações indígenas, o ato mais significativo da
Prefeitura do Alto Juruá foi a criação da chamada 'Caixa dos Índios' pelo art. 11 do
Decreto nº 36, de 16.06.1906, em razão do qual deveriam os patrões seringalistas depositar
as quantias de 5$000 por cada índio menor de 10 anos, e de 10$000 por aqueles de idade
entre 10 e 21 anos que estivessem a seu serviço. Tais quantias, depositadas a título de
Jt) salário, somente poderiam ser levantadas pelo próprio trabalhador quando se
'emancipasse'. No mesmo ano de sua instituição, a Prefeitura do Departamento conseguiu
arrecadar com a Caixa dos Índios a quantia de 6:075$250 (Ibid.:156). Entre os três
Departamentos em que se dividia o Território do Acre, o Alto Juruá era indubitavelmente,
no dizer de seu primeiro Prefeito, "aquelle em que os aborigenes mais avultam. São numerosas
as tribusque por aqui moram ou passeiam[ ... ]. Quem atravessa por terra do [uruâ para o Tarauacâ
e seus tributarias depara constantemente malocas, assentes especialmente nas collinas de que
brotam os injiniios rios dessas regiões" (Ibid.:67-68)10• Já então, entretanto, era percebida a
situação adversa vivenciada pelas sociedades indígenas da região, sugerindo o comissário
brasileiro de 1905 que, por um "movimento compensador de humanidade e sympathia", se lhes
desse "um cantinho, ao menos, dos seus vastos e seculares domínios, co17.,z discriminadas divisas e ("
direitos senhoriais definidos" (Mendonça, op. cit.:227).
-24
-· d) Os Arara no Alto Juruá
A maioria das sociedades indígenas da família lingüística Pano que
habita a bacia do alto rio Juruá é denominada através de um qualificativo específico que é
seguido pela terminação náwa, devendo os etnônirnos assim formados serem traduzidos ,:·
em geral como 'povo' ou 'gente' de tal ou qual tipo. Encontram-se também denominações
formadas por variantes do termo Huni Kuin, cujo significado básico vem a ser 'gente
nerdadeira'", Um dos poucos epítetos que escapa desse modelo genéri_co regional é
exatamente Arara. Segundo Castelo Branco, "algumas tribos dessa família eram conhecidas por
nomes diversos dos verdadeiros, dissonando da terminação naua, porém, êstes apelidos eram postos
pelos exploradores ou seringueiros, atendendo a algum sinal, marca ou ornato usado pelos seus
componentes" (1950:28-29). No caso particular aqui enfocado, é possível que o nome Arara
seja uma simples tradução vernácula do termo nativo Xawanáwa (ou Shawandáwa), o qual
parece ser por vezes tomado como autodenominação por esse grupo. De acordo com
estudos lingüísticos, o termo compõe-se das partículas shaioã ('arara') e dawa ('nao-índio'),
e o seu emprego é "interpretado como uma extensão semântica criativa dada à palavra 'dauia':",
fazendo-se "a correspondência entre 'datua' e 'natoa', realização encontrada em outras linguas
Pano (Poyanáwa, Shanenátoa, Jamináwa) que 'significa 'gente' ou 'indio'" (Cunha, 1993:4-5).
Tomado isoladamente, o termo dawa ('estrangeiro', 'não índio') opõe-se à palavra dura
(yura em outras línguas Pano), cujo sigrúficado vem a ser 'pessoa', 'corpo' ou 'gente'.
As primeiras referências conhecidas aos Arara (Xawanáwa) do alto .,,,-;. ,,.,.
ttj Juruá foram feitas no início do século XX. É possível que naquele tempo mais de um
~i 0·
grupo fosse chamado do mesmo modo ou de forma semelhante, localizando-se alguns
deles, inclusive, na região do rio Tarauacá. Assim, um relatório da Prefeitura do Alto
Juruá mencionava a existência de numerosas malocas indígenas naquele Departamento,
citando na bacia dos rios Tarauacá e Envira "as tribus dos aninauás, ararapin as, ararauâs,
canamaris, capanauâs, caiuquinas, caxinauâs, contanauás, curinas, curinas espinhos e boccas
pretas, [aminauâs, marinauâs e tuxinauás" (cf. Mendonça, op. cit.:194; grifo nosso). O mesmo
documento assinalava ainda a presença dos índios "mais irriquietos do [uruá nas cercanias
das nascentes do Gregorio e Liberdade", apontando ao contrário "como pacíficos os do rio
Amoacas" (Ibid.). Segundo Rivet & Tastevin (Op. cít.:452), os Ararapina_. estariam
estabelecidos sobre o rio Humaitá (afluente do Muru) e os Ararawa sobre a margem direita
do alto Liberdade e no alto Envira. Aludem os mesmos autores à possível relação desses
25
r
,,..... Processo nº: Z?-oJ' ~ t,,
f:' Folha n°: 3!:J-0
Rubrica: -;/-~ 7
,~
.,.1-'~
~
-
grupos com "os Sawanawá assinalados no alto [uruâ, mas sem localização precisa, por [Luiz]
Sombra. Com efeito, o nome desta tribo significa na língua Pano 'índios-araras' (sauã, arara, naua, índio)" (Ibid.)12. . .. _.,._. ··.,-.
A pacificação dos índios que viviam junto ao rio Liberdade e o
contato regular com aqueles que habitavam o rio Cruzeiro do Vale (afluente da margem
direita do Juruá também conhecido como Humaitá, Amoacas, Paraná do Vale, Rio do Leonel,
ou Riozinho do Cruzeiro) teria princípio em 1~06, quando o patrão seringalista Ângelo
F~rreira da Silva, a pedido do Prefeito do Departamento do Alto Juruá, abre uma picada
ligando o seringal Cocameíra, no médio Tarauacá, à cidade de Cruzeiro do Sul.
Coadjuvado por seu sobrinho, Felizardo Cerqueira, aquele seringalista já havia pacificado
no ano anterior um grupo Catuquina (21 pessoas) e um grupo Capanaua (17 pessoas) .
Partindo no dia 25.05.1906 com uma turma de 63 homens, aportaram com dois dias de
viagem no seringai Sete Estrelas, junto ao rio Gregório, acampando no dia 29 próximo ao
igarapé Marajá, afluente de sua margem esquerda. Depois de transpor o divisor de águas
com o rio Liberdade, chegaram no dia 01.06 à beira de um grande roçado que estava
sendo aberto .nas imediações do igarapé Forquilha por cerca de oitenta índios, vários dos
quais trabalhavam em grupos de até uma dezena de homens em cima de 'jiraus' para
proceder a derrubada das árvores de maior porte. Usando como intérprete Maru, um dos
Katukína atraídos no ano anterior, conseguiram estabelecer contato com cerca de 120
índios no alto Liberdade:
"Nesse local havia 2 tribus: Cobras e Araras. Sendo que os Araras estavam cativos dos cobras (prisioneiros de guerra)[ ... ]. O tucháua desta 2 tribus, que viviam em conjunto, era Tescon o qual era casado com a filha do tucháua de sua tribu co-irmã Chauã-nau[a]. Estas 2 tribus, que atualmente viviam unidas, em tempos idos já haviam lutado em guerras tremendas das quais saíram vitoriosas a tribu das cobras, sendo vencidas as araras. A partir daí as cobras passaram a ter as araras como prisioneiras [ ... ]. Os vencidos passam portanto a serem escravos dos vencedores até que pela continuidade dos tempos as duas tribus venham a ser uma única familia" (Cerqueira, s.d.; grifos nossos).
Esses grupos eram anualmente perseguidos por empregados do
coronel Francisco Freire de Carvalho, quem possuía "de 2,0 a 30 homens trabalhando em
correrias contra os índios que infestavam todo o rio Liberdade" (Ibid.). As malocas de "Nauas e
Esquinauas, entre o Liberdade e o Gregório" teriam sido visitadas pelo engenheiro Nunes de
Oliveira em 1907, encontrando-se ele com Tescon, }hefe dos Cachinauas", perto do igarapé
Forquilha: "Nessa viagem, o referido engenheiro, em cinco malocas, viu quase trezentos índios,
estando a maioria das tabas que visitou abandonadas ou queimadas" (Castelo Branco, 1950:19).
26
-- - - - -
Processo n°: 2::;-08~ •. Fotha nº: 3 S- I Rubrica:_ ;i:~ ••
Em 1911, os agrupamentos indígenas dessa região foram visitados por um auxiliar da
Inspetoria no Amazonas e Território do Acre do recém-criado Serviço de Proteção aos
- -- - :(ooios··{SPI), que numa expedição pioneira às terras interiores do alto Juruá subiria· o- rio
Liberdade, verificando a presença dos Caxinaua e Arara, de uma parte, e dos [aminaua, de
outra. Segundo pode constatar, os Caxinaua do igarapé Forquilha, liderados pelo tuxaua
Tescon, guerreavam com os Jaminaua do igarapé da Besta: e
"Encontrei no alto Forquilha, cabidos de sezôes, além dos Caxinauas, 12 Indios bravios Jaminauas, que haviam sido pegados em correrias pelo Tuchaua Tescon e os índios de sua maloca no Alto Igarapé· da Besta. Nesta ocasião, em que o Tescon fez -prisioneiros 20 [aminauas, houve violento tiroteio contra estes, que se renderam tendo-se batido de flecha contra Tescon, que com sua gente estava com armas de fogo. Dentre os 24 [aminauas que vieram debaixo de ordem, num quadrado para a maloca Tescon a 3 dias das cabeceiras do Igarapé da Besta (maloca dos Jaminauas), fugiram 12, depois de alguns dias, apezar de serem muito vigiados" (Unhares, 1913).
Partindo da maloca de Tescon no igarapé Forquilha, Maximo
Linhares visitaria um grupo formado por cerca de quarenta Caxinaua num afluente do alto
rio Gregório, seguindo depois através de um varadouro até as malocas indígenas
localizadas no rio Amoacas (Cruzeiro do Vale}, sendo acompanhado na viagem por três
Jamináwa que para lá se dirigiam. Após uma difícil travessia, marcada pela malária e pela
fome, encontraria uma maloca abandonada à margem direita do igarapé Nilo, afluente do
alto Amoacas. Segundo ele, "os Indios do rio Amoacas e immediações formam tres malocas, onde
moram cerca de 200 pessoas. Têm os mesmos costumes dos que já falei. A língua é a mesma que_ a
dos Caxinauas e [aminauas, com pequenas variantes.". Pertenciam os índios desse rio a três
t::) grupos distintos, denominados pelo auxiliar da Inspetoria do SPI como Amoaca, [aminaua
e Chipinaua. Ainda conforme a mesma fonte, no rio Valparaíso viviam os Sanynaua e
[aminaua, achando-se os Chipinaua também no igarapé Grajaú (Ibíd.). Entre outros grupos,
são igualmente mencionados pelo auxiliar do SPI os Arara e Ararapina do rio Humaitá
(afluente do Muru) e os Araraua do alto Envira. Para Rivet & Tastevin (Op. cit.:471-472t
enquanto os Saninatoa estavam localizados sobre o Valparaíso, confundindo-se em parte o
seu habitat com o dos Araratoa, os Sipinawa eram encontrados entre o alto Liberdade e o
alto Valparaíso, assim como sobre oAmoacas e o Grajaú.
Devido a seu precário estado de saúde, seguiu logo o auxiliar
Linhares para Cruzeiro do Sul levando consigo dois índios Caxinaua e um Arara. Naquela
cidade, os índios foram batizados, tornando-se o amq,liar do SPI padrinho do Arara que ~
passou a ser chamado Napoleão Pyranáua. Este índio desempenharia junto a Antonio
-· 27
Proces2-0 n"': 2:::,qf' /~
Folha nº: 3 5 ~
R~.~ZZ~--~ Bastos, encarregado do 'Entreposto da Proteção aos Índi~s do Alto Juruá', papel relevante
na pacificação dos Poyanáwa que, desde o i.rúcio do século XX, vinham perturbando os
trabalhos no seringai d9 Cel. Mâncio Lima localizado no rio Môa13•
Os índios do rio Amoacas seriam novamente visitados no ano
seguinte pelo ajudante do SPI Dagoberto de Castro Silva. Em relatório dirigido à
Inspetoria do órgão com data de 26.12.1912, Castro Silva relata a escravização de índios
oriundos do rio Amoacas por um peruano residente no rio juruá-Mirim, fato que havia
s~do denunciado pelo sertanista Antonio Bastos. Conseguida a libertação de parte dos
índios que se encontravam no juruá-Mirim, Castro Silva se dirige juntamente com eles às
suas malocas de origem no rio Amoacas. Subindo esse rio até a foz do igarapé Nilo,
seguiram por este afluente até o igarapé Salgado, de onde, após meio dia de caminhada
por varadouro, encontram a maloca Cova da Onça, situada próxima ao curso do igarapé
Rio de Janeiro:
"Chegamos na referida maloca ás 12h 30m. da tarde. Compõe-se ella de indios Jaminauás e Amoacas, que vivem em perfeita harmonia. Tem 42 pessoas, sendo 17 homens, 11 mulheres, todas casadas, e 14 meninos de ambos os sexos. O tuchaua chama-se Cunha, recebeu-nos com satisfação, mostrando-se franco e bondoso: tem cerca de 45 annos de idade, fala pouco o portuguez. Todos esses índios andam completamente nús, as mulheres usam apenas uma tanga. O nariz e as orelhas são furadas, para botarem voltas de contas brancas e muito pequenas, o enfeite que elles mais apreciam, ou dentes de animaes, com preferencia os do macaco; usam os cabellos cortados. Distinguem-se os Amoacas dos Jaminauás, porque estes pintam-se em volta dos labios, com tinta preta, extrahida do genipapo. Moram num grande barracão de 80 x 20 metros, mais ou menos aberto por todos os lados, não tendo compartimento algum. Têm grandes roçados de milho, mandioca, batatas, mamão, bananas, abacaxis e canna de assucar. Todos têm maqueiras, que são collocadas em volta do barracão. Dormem com fogo ao lado. Essas maqueiras são fabricadas por elles, com o fio do algodão, que plantam em grande quantidade. Fiz distribuição de roupas, terçados, canivetes, tezouras e brinquedos para as creanças'' (Silva, 1912).
--.
Além desses moradores, havia também uma dezena de índios
Jamináwa nas cabeceiras do rio Amoacas pertencentes à mesma maloca. Seguindo viagem
Castro Silva visitou a maloca Mororó, situada próxima ao igarapé homônimo, a qual era
composta por quatorze índios Amoaca e seis [aminaua, sendo liderados por um membro
desse último grupo chamado João: "Todos elles falam regularmente o portuguez. Occupam-se
na extracção da gomma elastica, cujo producto trocam por mercadorias nos barracões do seringa!
Humautâ. Têm lambem grandes roçados. Fiz distribuir alguns objectos que levava e em seguida
voltamos para a barraca Mororô", Nas cabeceiras do igarapé da Paz, afluente do Amoacas pela
direita, encontrou a maloca de mesmo nome, chefiada pelo índio Agostinho e composta
por 41 pessoas pertencentes aos grupos Anzoaca e [aminaua: "Moram em dois grandes
- · 28
barracões, feitos com a paxiúba, semelhantes as barracas dos seringueiros". Localizaram por fim a
maloca Pinheiro, povoada por 31 índios Amoaca: "Falam mal o portuguez, inclusive o iuchaua
de nome Raymundo, que tem cerca de 35 annos de idade. Alguns delles occupam-se da extracção da seringa, que fazem com irregularidade. Os homens andam vestidos e as mulheres apenas usam
tanga. Têm grandes roçados, muito longe da malôca, porém bem plantados" (Silva, idem).
Castro Silva planejava fundar uma povoação indígena nas terras
entre o rio Amoacas e o igarapé Nilo, próximo ao sítio da maloca Cova da Onça, local
onde, devido à ausência de seringueiras, não seriam perseguidos pelos extratores da
goma elástica. Trazia este ajudante do SPI .um ofício nomeando o Cel. Absolon de Souza
Moreira - proprietário do seringai Humaitá, situado ao longo da margem direita do
Amoacas - delegado dos índios neste rio: "observamos que os índios [aminauâs e Amoacas,
uivem na melhor harmonia possível. São trabalhadores e muito trataveis, precisando porém de um
chefe que os dirija. Será facil reunil-os, desde que a nossa lnspectoria os auxiiie'",
Na verdade, os anos que se seguiram à breve passagem dos agentes
da Inspetoria do SPI pelos rios Liberdade e Cruzeiro do Vale seriam de grande
movimentação para os índios da região. Fato marcante constituiu o assassinato do tuxaua
Tescon perpetrado pelos índios Arara em um lago nas proximidades da foz do igarapé
Forquilha, no alto Liberdade. De acordo com Tastevin, depois deste fato e de haverem
repelido os oponentes para a região do rio Gregório, os Arara do alto Liberdade fugiram
para a região dos rios Amoacas e Tejo:
"O grande chefe Tescon, cuja cabana se encontrava entre o Marajá e o Forquilha, entretinha uma guerra terrível com os Arara do Tauari e do Forquilha. Estes o convidaram um dia para uma pescaria e o mataram à traição num pequeno lago que se encontra a montante da boca do Forquilha. Em seguida a este crime eles se refugiaram perto dos civilizados do Igarapé da Divisão, afluente do Tejo através do Bajé, na direção das nascentes do Liberdade. Os índios de Tescon, conhecidos pelos civilizados pelo nome de Catuquina, mas se autodenominavam Iskunaua (japíns, pássaros), Rununaua (jibóias) e Cachinaua (vampiros), resolveram vingar o seu cacique. Eles se aliaram com os Amahuaca ou Chipinaua (sagüis) do Rio Branco, ramo esquerdo do alto Amahuaca cujo formador da direita se chama Nilo'; e pelo intermédio destes, convidaram os Araras ou Tachinaua para uma grande pescaria. No que lhes diz respeito, eles se emboscaram a meio caminho do local do encontro, bem armados de fuzis de repetição modernos, comprados ou emprestados de civilizados sob um falso pretexto. Quando os Araras apareceram, aqueles abriram fogo a queima-roupa. Estes responderam galhardamente, permaneceram mestres do campo de batalha, e perseguiram os fujões que se voltaram completamente debandados ao Gregório" (Tastevin, 1928; grifos nossos).
É possível que este fato tenha se dado em 1914, quando os Araraua
que residiam no alto Liberdade passaram ao rio Humaitâ (Cruzeiro do Vale), em número
de aproximadamente setenta, e acossados pelos Katukína que viviam nos rios Gregório e
29
Liberdade (seringa! Bom Futuro), foram para o seringai Restauração, no rio Tejo (cf,
Castelo Branco, 1930:595-596)15• Segundo Tastevin, enquanto alguns poucos indivíduos
Araraua aprisionados no alto Liberdade tinham sido mandados "à colônia dos Cuyanauas do
Môa", os "missionários positivistas" do governo brasileiro haviam conseguido agrupar "sobre
a margem esquerda do Amoacas, os sobreviventes dos Capanauas, dos Chipinauas, e dos
Amo_acas" (Tastevin, 1920a:133; grifos nossos)". No entanto, o mesmo autor observa que
uma epidemia de gripe teria, em 1918, extérminado pouco a pouco os Chipinaua do
i9arapé Rio Branco e dos rios Amoacas e Grajaú: "os nove sobreviventes, um homem, uma
mulher e sete crianças se refugiaram com os Yaminaua do alto Valparaíso e do Besta" (Tastevin,
1928). Na década seguinte, "alguns índios das tribus Amahuacas e Araras, já civilizados"
(grifos nossos) eram encontrados no seringai Cruzeiro do Vale, o qual, separado apenas
pelo rio Amoacas, se lirrútava ao norte com o seringai Humaitá. No centro deste último
seringai, que confrontava com os denominados Russas e Porto Peters, havia segundo
Castelo Branco, "uma pequena iribu de indios [aminauas, tendo havido outras de Amahuacas e
Araras". De acordo com este mesmo autor, encontrava-se no seringai Valparaíso (situado
na margem direita do rio homônimo) uma outra "tribo" de índios Jamináwa, os quais
haviam se retirado em 1919 do seringai Russas, situado imediatamente ao Sul, "fixando
residencia na terra firme do Mandi, â margem direita do Valparaíso, distante da sede do seringai
cinco dias de viagem em canõa, composta de uns 80 caboclos, mui ordeiros e quasi civilizados. Os
productos de sua lavoura ainda não dão para o consumo do seringai" (Castelo Branco, 1930:613,
617 e 638).
As migrações e os conflitos intertribais mais significativos desse
\..J período foram preservados na memória oral dos Arara que habitam até o presente no rio
Cruzeiro do Vale. Conforme o depoimento prestado pelo índio Chico Nogueira ao
antropólogo Cloude de Souza Correia durante os novos trabalhos de identificação e
delimitação da TI Arara do Igarapé Humaitá, realizados no ano 2000, um grupo de índios
Arara, composto entre outros pelo velho Napoleão Pereira de Lima (identificado por
vezes como índio Duuiandâuxà, pelo avô do informante, Joaquim Nogueira, e por seu
bisavô, Capitão Nogueira, "subiram o Juntá aqui arriba, entraram no Bagé, viraram no Cheru. Aí passaram pela cabeceira do Liberdade, aí voltaram para buscar a família":
"Pois bem, e foi indo, os índios foram morar no Bagé. Os Kaxinawá e os Yawandáwa também, no rio Gregório, começaram a perseguir os Arara. Os Arara eram uns índios muito importantes e inveja toda vida cobriu todo o começo dos índios. Aí se viu as índias Arara muito importantes e começaram a perseguir os Arara, carregar mulher um do outro. Aí começaram a perseguir, perseguir, até que esse Tuiú (Andehú], era o pajé, disse para o meu
30
Processo nº: 2. "=J- o F /6--0 FoJha nº: 3' j- S" - t R&âmt_ .• ;zf
- ..
bisavô, que era irmão dele: 'Nós vamos esperar, se eles não vierem nós vamos inventar um mariri muito grande para nós discutir sobre isso, ou eles acabam com nós ou nós acabamos com eles'. Aí eles mataram, Kaxinawá do Gregório, Yawandáwa do Jordão. E nessas alturas veio o meu avô por parte da mamãe, José Siqueira de Lima (avô), Yawandáwa do-Jordão. Nesse meio meu bisavô, pai do pai da mamãe, que ele era branco. Era casado ·êo·m cinco índias Yawandáwa ( ... ]. Vieram, eram todos aliados, aí fizeram fogo aí. Viraram, mexeram até que meu avô, pai da mamãe foi embora para o Jordão, o velho Felizardo Siqueira de Lima (bisavô), ele era branco, mas era junto com cinco índias, considerado como índio também, andava nú que nem os índios. Aí o velho se foi, e o meu bisavô, avô do papai, ficou
· muito apavorado, com desgosto da vida passou seis dias na mata só tomando ayahuasca e cantando. Cantando e fazendo aqueles trabalhos dele para acabar com os outros povos que fizeram mal a ele. Nesse ponto tinha o Pãnaramantuhu, que era irmão do meu pai, mais velho, Manoel Nogueira da Silva, o nome dele era Pãnaramantuhu. Tinha outro irmão dele Txairaetuhu, Arara também. Pois bem, e tinha outro Txamahundê, que eram irmão do meu avô, pai da mamãe. E tinha outro Nawahiandê, porque nesse tempo foi que carregaram, que minha mãe estava contando que levaram o Arara. Aí rapaz foram separando, meu avô pai do papai foi para o Bagé, meu avô pajé pai da mamãe foi para o Jordão, o velho Felizardo foi para o Jordão, tudo morava no Bagé, tudo misturado com Arara. E meu avô veio aqui para o Cruzeiro do Vale, o Joaquim Nogueira. E meu avô Capitão também veio junto com ele" (Chico Nogueira apud Correia, 2001:27-28; grifos nossos)",
Essa dispersão, portanto, seria o resultado do conflito decorrente da
morte do tuxaua Tescon. Esse índio havia se destacado na luta contra caucheiros peruanos
que exploravam a área dos rios Gregório e Liberdade (levados aí, provavelmente, por
Carlos Scharf e Efraim Ruiz), gabando-se "de que somente ele matara trinta e quatro inimigos"
(Castelo Branco, 1950:14). De acordo com o testemunho prestado pelo Arara João Martins;
o episódio de seu assassinato teria se dado pelo fato de Tescon (identificado como índio
Yawanáwa) açoitar sua esposa Arara e desafiar os cunhados:
"Um dia, veio o finado Joaquim, que era primo do papai sabe. Veio passando na casa do finado Tescon. Porque o finado Tescon era casado com a finada Maria, irmã do finado Joaquim. Aí veio. Assim que ele vinha chegando o cunhado Tescon foi e açoitou a irmã dele a finada Maria. Aí ele chegou em casa e disse mais rapaz, porque você está açoitando minha· irmã. Aí ele foi e disse, assim como eu açoitei ela eu açoito você também. Aí foi empurrando ele [ ... ]. Aí pronto, passou-se, passou-se ele quase todo dia jurava de matar eles. Vamos acabar uma família de Arara, e ficar com as mulheres todinhas. Até que um dia o finado irmão do Joaquim que era o mais velho perguntou para o papai. Cunhado, o que nós vamos fazer com o nosso cunhado Tescon. Porque ele é valente, tem vontade de nos matar[ ... ] para tomar nossa mulher. Aí o Tescon foi mariscar no lago, desceu para o lago e foi mariscar aqui no Liberdade. Bora visitar ele no marisco, tu astreve (se atreve) a visitar mais eu, nosso cunhado, o Tescon. Aí o papai foi e disse me astrevo. Então vamos embora. E saíram tudo armado. Quando chegaram lá ele já tinha botado tingüi no lago. Ele tinha pegado muito peixe, as mulheres estavam fazendo moquérn, os outros pegando peixe ] ... ]. Quando chegou na ponta do lago escutaram o tiro. Paaaaaaa [ ... ] os outros, meu avô e meus tios já estavam matando o Tescon [ ... ]. Matou, acabaram de matar os outros e foram e trouxeram as mulher tudinho para dentro da maloca[ ... ] Fizeram isso vieram aqui para Porto Walter, que era do finado Absolon" (joão Martins apud Correia, op. cit.:30-31).
31
[' 1
1
1
Processo n": 2 "::f og /ó--0 FoJha nº: 3 .r Ío Rut,nca: zf ~ ·
2 ·--
Depois de haverem residido algum tempo no rio Cruzeiro do Vale,
os Arara retomaram ao rio Liberdade ('Riozinho'): --.., • • ~r .- L ••• .-
r:
"Voltaram, foram morar na colocação Maloca dentro do Riozinho, lá para cima. Aí de lá os Yawandáwa souberam que os Arara tinham voltado. Aí eles falaram, vão pagar, do jeito que fizeram conosco vamos fazer com eles também. Aí os Yawandáwa vieram lá do Gregório. Aí vieram na cabeceira do Riozinho na colocação por nome Cachoeira. De lá vieram e mandaram chamar eles. Mas não foi eles, eles ficaram lá e mandaram chamar outros caboclos. Mandou Jamináwa chamar eles. V:ocês vão chamar eles e diga prá eles para nós mariscar, comer peixe que nós achamos um lago que tem muito peixe. Aí o cabo veio, ô primo, eu vim aqui chamar vocês para nós mariscar ] ... .]. Cunhado nós não vamos não. Você sabe o que nós fizemos. Do mesmo jeito que nós fizemos eles querem fazer com a gente. [ ... Porém.] foi meu tio, dois meu tio, esse finado Joaquim e o finado tuxaua Kurumim, que é meu tio também, papai, e outro meu tio também. Um porção deles meus parentes. Aí foram. Quando chegaram pertinho da maloca tava um caboclo com o rifle já assim na trevessa [ ... ]. Aí eles correram, meu tio, papai e eles atirando atrás dele até que matou esse meu tio, o finado tuxaua Kurumim [ ... ]. Aí pronto a briga terminou, eles foram e pegaram uma cabocla . A avó da Joana. A finadaBanda, chama finada Bandeira" (J. Martins - Ibid.:32-33; grifos nossos).
o . r
,.-.
Observa-se ne_ste depoimento uma significativa diferença em
relação à narrativa do mesmo episódio feita por Tastevin (1928), anteriormente transcrita.
Trata-se da identidade étnica dos grupos envolvidos: enquanto os partidários de Tescon
são apontados pelo etnólogo-missionário como Katukína, no depoimento acima são visto~
como Yawanáwa; além disso, enquanto Tastevin diz que foram os Amawáka (ou
Chipinauai os intermediários do convite aos Arara, aqui eles são identificados como
Jamináwa. Embora a identidade do tuxaua Tescon e dos índios por ele liderados seja
sujeita a certa controvérsia, é bastante provável que se tratasse dos antepassados dos
grupos Pano que têm habitado a região dos rios Liberdade e Gregório no período mais
recente, a saber, os Katukína e Yawanáwa. De acordo com Tastevin (1924), os Katukína do
Gregório seriam um grupo composto, na verdade, por remanescentes de grupos
Wanináwa, Yawanáwa, Kamanáwa, Naináwa, Warináwa (que viveriam antes nas
nascentes do igarapé São João), Numanáwa e Satanáwa, bem como pelo restante dos
Kaxinawá do rio de Lorena (Epeya) e dos Mamapo do Gregório, abatidos por epidemias:
"São sobreviventes de tribos hoje extintas, algumas massacradas pelos brancos, outras quase
aniquiladas pela varíola, a doença dos brancos!" (Tastevin, op. cit.). Em uma obra pouco
posterior, os Katukína são considerados pelo mesmo autor como "um aglomerado de
diversos clãs", entre os quais se menciona os Yawanáwa, os Iskunáwa, os Rununáwa, os
Eskináwa, os Vamunáwa, e os Xanenáwa (Idem, 1926), referindo-se ainda eventualmente
aos Shawanáwa como componentes do mesmo grupo (Idem, 1925)18•
r
- 32
De fato, em trabalhos etnográficos recentes, registra-se uma certa
continuidade histórica nas relações sociais entre os .Arara do Bagé e os Yawanáwa do
Gregório em razão_-<l~ _existência de antigas alianças matrimoniais, por casamento ou
rapto, ocorridas entre membros dos dois grupos_ De acordo com Carid Naveira (1999:36, \
50 e 96), uma irmã do antigo líder Yawanáwa Antônio Luiz, dada inicialmente em
casamento a um dos Rununáwa ('gente da cobra') liderados por Tescon (Tesku), seria depois capturada e incorporada pelos Xawanáwa ('gente da arara') na esteira do
a_ssassinato daquele tuxaua no alto Liberdade. Posteriormente, na década de 1950, vários
dos filhos e filhas desta mulher "abandonaram os Shawanawa para conhecer o Gregório
'porque diziam que tinham parentes lá'. Parece que fugindo entre outras coisas das epidemias
de sarampo que assolavam os Shawanawa, este grupo de irmãos e irmãs se instalaram entre os
Yawanawa casando com as filhas de Antônio Luiz que era realmente seu tio (kuka)" (Ibid.). Com
efeito, três dessas irmãs "de procedência Arara, mas que eram filhas de uma irmã de seu pai que tinha mudado para o Bagé" (Ibid.:71), viriam se casar com Raimundo Luiz, que substituiria
posteriormente Antônio na liderança da comurúdade Yawanáwa. De igual forma, os
Yawanáwa afirmavam que Maria Ferreira. Yaminawa, viúva do tuxaua Crispim
(identificado como índio Saináwa, morador do rio Bagé), era "filha de uma mulher Yatoanatoa do rio Gregório" (lbid.:77). É provável que os mencionados Saináwa,
estabelecidos segundo os testemunhos Yawanáwa no igarapé da Besta, constituíssem um
dos subgrupos Jamináwa de então, com os quais guerreavam os índios situados no
divisor de águas entre o Gregório e o Liberdade antes mesmo da morte do tuxaua
Tescon".
.-
Como quer que seja, aproximadamente sessenta Katukína ainda
habitavam, em 1922, uma maloca nas terras do seringal Bom Futuro, no rio Liberdade. Os
Jarnináwa, por sua vez, eram encontrados nessa época nos rios Liberdade, Valparaíso,
Amoacas, Grajaú, Tejo e São João (cf. Rivet & Tastevin, op. cit.:474-475). Embora os
estabelecidos nos fundos do seringal Grajaú houvessem ficado "muito dizimados com o
apparecimenio da grippe em 1919" (Castelo Branco, 1930:616), os demais grupos locais
Jamináwa somavam, por volta de 1930, cerca de 40 pessoas na área do seringal Bagé, no
rio Tejo; aproximadamente uma dezena entre os rios Amoacas e Grajaú; e cerca de 80 na
terra firme do Mandy, no rio Valparaíso. Desses últimos se dizia serem "mui ordeiros e
ciuilizados, vivendo em perfeita harmonia" cq~ a população não índia regional (Ibid.:596). Tal
situação contrastava com aquela dos Jamináwa que, pouco antes, se dizia dorrúnarem o .. ~
alto Breu "como senhores da floresta, mostrando-se intratâueis aos civilizados, com quem se
... 33
P,ocesso nº: 2-:::J- og ~ Folha nº: 3 f '6 Rubrica: --zt:Z
7
~' c.. .• :3
mantêm em· contínuo estado de guerra" (Tastevin, 1920a:133). Além deles, encontravam-se
também dezenas de índios Amahuaca. (Chipinaua) nos igarapés São João e Caipora e nas
nascentes dos rios Amônia e Breu. Afirmava-se igualmente a presença de 55 Amawáka
no seringai Boa Vista, localizado na margem esquerda do rio Tejo e, anteriormente,
também no seringai Pirapóra (cf. Castelo Branco, op. cit.:596 e 609). Essa localização
confrontava parcialmente com aquela dos chamados Capanaua, que no estertor do século XIX eram mencionados como ocupantes do rio Breu e dos seringais Triunfo e Cachoeira,
na margem esquerda do Juruá, sendo referidos no início do século XX como habitantes da
faixa de terras entre os igarapés Caipora e São José (sic! São João) (cf. Unhares, 1913). De
fato, uma conferência feita em 1902 frente a Sociedad Geográfica de Lima destacava, entre os índios livres do alto Juruá e de seus afluentes, os Amawáka, os Kapanáwa, os Yúra e os
Jamináwa:
"As principais tribos que se conhecem são: a dos Capanahuas, os Yumí-nahuas, os Arnahuacas e os Yuras. Os primeiros habitam as cabeceiras do Breu. Estes índios trazem o crânio completamente desprovido de cabelo, pois o arrancam eles mesmos, praticando essa curiosa depilação com suma habilidade. No Píque-Yacu, no Torolluc e demais afluentes dessa parte do Alto [uruá, campeiam os Yuras, que, desde pequenos, fazem uma série de perfurações ou pequenos furos na cara que servem para adornar o rosto com plumas de diversas cores, introduzindo-as nos ditos furos. No Riozinho, no Tejo, no igarapé San Juan e nas matas vizinhas de Tarahuacá, existem em grande número os Yuminahuas e Amahuacas, Os primeiros costumam adornar-se a cara como os Yuras e os segundos usam trazer desenhos caprichosos com tintas indeléveis, que extraem de plantas por eles conhecidas" (Villanueva, op. cít.:426-427}2''.
Ademais, menciona-se ainda os índios lauaoõ, que eram tidos no
momento da instalação da Inspetoria do SPI no .Acre como ocupantes do igarapé Acuriá,
afluente da margem direita do alto Juruá (d. Linhares, op. cit.). Por volta de 1913, seria
noticiado um ataque dos índios Yaavô "ao barracão 'Transval', às margens do Breu, com
flechadas e tiros de rifle, resultando na morte do gerente do seringa!", designando-se em
conseqüência Antônio Bastos para "acomodá-los". Comentando o episódio, o Prefeito
Barros "frisa que só mui raramente os incolas atacam sem uma prévia provocação dos civilizados,
agredindo, geralmente, em represália às correrias" (Barros, op. cit.:124; v. também Castelo
Branco, 1950:20). Pouco depois, os Yauavo seriam dizimados pelos Arara que haviam
migrado para o rio Bagé devido ao já mencionado conflito no alto Liberdade. Após aquele
incidente,
"os Araras que se tornaram mansos, quer dizer, domesticados, meteram na cabeça em 1916 reduzir igualmente os Yauavo (índios queixada) que moravam entre a margem esquerda do
34
Tejo e do Caipora. Talvez aqueles quisessem tornar-se aliados destes em caso de nova guerra com os Iskunaua. Infelizmente os Yauavo não quiseram se submeter e a expedição não teve outro resultado que a matança de um grande número de índios desta tribo. Desde então os Araras se estabeleceram sobre a margem esquerda do Tejo, em Restauração" (Tastevin, 1928).
Parte dos Yauavo sobreviventes teria se refugiado nas terras do seringai Iracema, no rio Tejo, onde são citados 26 integrantes desse grupo por volta de
1930 (Castelo Branco, op. cit.:596). A presença dos Yawaho no rio Tejo nesse mesmo
p~ríodo foi-nos confirmada por uma velha Jamináwa-Arara originária do igarapé
Dourado, que ainda se recordava de episódios ali ocorridos envolvendo aqueles índios.
Na segunda metade do século XX, remanescentes do mesmo grupo são mencionados em
contato permanente com a sociedade regional no rio Amônia (cf. Malcher, 1964:68).
Quanto aos Arara propriamente falando, sua presença na região do t:. alto Juruá irá se consolidar a partir do segundo terço do século XX em duas áreas
distintas: de um lado, nos rios Cruzeiro do Vale e Valparaíso, e de outro, nos rios Tejo e
Bagé. Porém, as vicissitudes históricas fariam com que esses dois 'grupos locais' viessem a
adquirir um caráter distinto ao longo do tempo, desempenhando -um papel relevante
nisso as relações mantidas pelos Arara com seu território e com os demais grupos da área,
particularmente com os Jamináwa. De fato, enquanto no rio Bagé os Arara estreitariam
suas relações sociais e de parentesco com os Jamináwa - chegando hoje a serem
conhecidos os índios desse subgrupo sob o etnônimo compósito [amináwa-Arara -, no rio
Cruzeiro do Vale a evolução dos acontecimentos viria culminar com a retirada completa
dos Jamináwa e, durante certo período, também de parte dos Arara. A ocorrência de uma
epidemia de sarampo e as rusgas com os patrões não índios da região talvez possam
explicar esse parcial abandono do rio Cruzeiro do Vale. Assim, Freitas {1995:28) menciona
a morte de 45 índios Arara na área dos rios Valparaíso e Cruzeiro do Vale em uma
epidemia sobrevinda em 1967, fato também relembrado em um dos testemunhos
prestados por ocasião dos novos trabalhos de identificação da terra indígena ali
localizada:
"O Valparaíso era dos Kaxináwa, os Kaxínáwa começava desde a boca aí. Nessa história que morreu trinta e tantas pessoas, com sarampo, papai que sabia bem. Só sei que papai disse que duas voltas do igarapé Santo Antônio tudo era cheio de cruz, morreu com sarampo, foi Saíndáwa. Yawandáwa era a tribo da mamãe. E esse pessoal aqui da tia Ceei e do Napoleão todos são Shawandáwa. A tribo que morava aqui na boca do Santo Antônio era Saindáwa, não tinha Arara, era do Crispim. E que morava lá dentro da Estação, para aquele Jado lá, era Jamínáwa da tribo aqui do igarapé Preto, Marculino, Maná, gente assim. Marculino, antigo mesmo, o Joaquim Maná, o cara que matava muitos outros de veneno, matava os parentes
35
mesmo. E tinha o Marculino e o Chico Vaqueiro velho, antigo também. Pois bem, mas era Jaminawá, e da boca do Santo Antônio era Saindáwa. O povo mistura, era Jaminawá, Kaxinawá. não sabe explicar como é que é. Pois bem, e a tribo da mamãe morava lá dentro do Riozinho, que era Yawandáwa, por parte do vovô, do José Siqueira de Lima e do velho Felizardo que era pai dele" (Chico Nogueira apud Correia, op. cit.:40; grifos nossos).
De acordo com Montagner Melatti & Figueiredo (1977:64), os
jamináwa que habitavam a colocação Estação, pertencente ao seringal Russas, no interior
do rio Valparaíso, deslocaram-se em 1958 para' a colocação do igarapé Limeira, na atual TI
J~mináwa do Igarapé Preto, onde começaram a cortar seringa e fazer roçado. Segundo
Levinho (1984:84), essa transferência foi a solução para a situação constrangedora criada
em razão do confisco pelo gerente do seringai de uma espingarda que havia sido obtida
por um [amináwa em troca de sua produção de borracha. Ao serem obrigados a deixar
essa região, os Jamináwa perderam os seus roçados, mudando-se algumas famílias para a
área do rio Bagé. Parte daqueles que haviam se deslocado para a colocação Limeira
transferiram-se após a morte de seu líder, na segunda metade da década de 1970, para a
colocação Timbaúba do seringai Santa Cruz, à margem esquerda do Juruá (13 pessoas);
para o igarapé Tamboriaco, afluente do rio Juruá-Mirim (8 pessoas); e para o igarapé São
Francisco, afluente do rio Valparaíso (4 pessoas). Outros pequenos agrupamentos também
eram encontrados na mesma época no igarapé Rio Branco, afluente do rio Cruzeiro do
Vaie (9 pessoas); na colocação Bananal, no rio Bagé (18 pessoas); e na colocação Divisão,
no rio Tejo (16 pessoas). Das 68 pessoas elencadas, 43 eram considerados como filhos de
pai e mãe Janúnáwa; 15 eram 'mestiços' Arara e Jamináwa; 4 eram Arara; 2 'mestiços' de
Jamináwa e não índios; e 4 eram não índios (cf. Montagner Melatti & Figueiredo, op.
t .. ..') cit.:66-69). Além desses locais, os Jamináwa dessa região do Juruá seriam também
mencionados poucos anos depois nos seringais Santa Cruz e Três de Maio, e na cidade de
Cruzeiro do Sul (Levinho, op. cit.).
Por sua vez, os índios Arara e [amináwa que continuaram nos rios
Tejo e Bagé levaram a cabo um acentuado processo de intercasamentos entre os
integrantes de ambos os grupos. Conforme o depoimento de Raimundo Crispim, que
durante muito tempo liderou as famílias indígenas ocupantes desses rios, seriam os
Jamináwa quem teriam aportado numa região dominada pelos Arara:
"Há indicações de que o grupo Jamináua subiu o Riozinho da Liberdade e chegou a região do Bagé e cabeceiras do Tejo. Crispim sustenta que a região sempre foi dos índios Arara, os quais t~veram muitas malocas lá. Ele diz que durante muito tempo os grupos indígenas brigaram entre si, e que sobreviveram apenas duas malocas. Numa epidemia de sarampo uma das malocas foi quase exterminada. Os remanescentes foram para o rio juruá-Mirim.
36
Processo nº: 2=:,og/0-0 Foiha nº: 3,G f
Rubrica:~ 71':Z Da outra maloca, também Arara, os que sobreviveram ficaram na região. Em 1966 as famílias que hoje se acham no Tejo e Riozinho Humaitá (Cruzeiro do Vale) estavam todas morando juntas na Colocação Monte Alegre. ·Depois desta data começaram a se espalhar. Os índios que restaram estão lá porque Crispim se recusa deixar a região"(Seeger & Vogel, 1979:17). :-
A própria identidade de Crispim é, no entanto, sujeita a variações:
enquanto no depoimento do Arara Chico Nogueira, acima transcrito, ele é identificado
corno Saindáwa, na parca bibliografia existente ele é considerado ora Kaxinawá (Seeger & e
Vogel, 1978) ora Jarnináwa (Freitas, 1995). Após a sua morte, os índios foram deixando as
colocações que ocupavam no alto rio Bagé, acima do igarapé Pavilhão, dirigindo-se
predominantemente para os rios Cruzeiro do Vale e Liberdade, bem corno para o igarapé
Natal e a cidade de Cruzeiro do Sul. Em 1978, os Arara e Jamináwa ocupavam as
~~) colocações Bananal e Viravolta, no rio Bagé (23 habitantes); as colocações Viena, Estado, '21
Califórnia e Beira Alto, do seringai Restauração, nos igarapés Dourado e Moreira,
tributários da bacia do Tejo (39 habitantes); os seringais Rio Branco, Nilo e Cruzeiro do
Vale, no rio Cruzeiro do Vale (cerca de 90 pessoas ao todo); bem como os igarapés Água
de Côco e Limeira, no rio Liberdade e na margem esquerda do rio Preto (afluente do rio
Paraná dos Mouras) (Seeger & Vogel, idenz:22a-22n). Para estes autores, os Jamináwa e
Arara do Bagé "tinham como opositores os Kaxinauiá que habitavam antes a foz do igarapé
Moreira, no alto igarapé Dourado" (lbid.). De acordo com Espírito Santo (1985b:2 e 4), no
interior do Tejo os índios estavam estabelecidos nas colocações Bananal, à margem do rio
Bagé; Califórnia, no alto igarapé Dourado; e Viena, junto à foz do igarapé Moreira,
afluente do Dourado. O igarapé Moreira era habitado pelos Arara, enquanto o alto
Dourado era ocupado por famílias descendentes dos grupos Kaxinawá e Arara.
De todo modo, os depoimentos colhidos por Correia (2001), Freitas
(1995) e Cunha (1993) indicam que durante boa parte do século XX houve um trânsito
intermitente, mas ponderável, de famílias Arara que se deslocavam entre os rios
Tejo/Bagé, Cruzeiro do Vale e Valparaíso. O recrudescimento da incidência de malária e -,
outras doenças n,o Bagé parece estar associado a uma das últimas grandes. migrações
Arara daquele rio em direção à área do Cruzeiro do Vale e Valparaíso, possivelmente no
início da década de 1970. É preciso ainda registrar que algumas farru1ias Arara
permaneceram na região do rio Liberdade até 1987, e alguns indivíduos até o início da
década de 1990, quando os conflitos com supostos proprietários do seringai que
habitavam fizeram que se deslocassem novamente para o rio Valparaíso (d. Correia, op.
cit.).
37
.-
Processo nº: 2 t-o.! ~ Folha nº: 3 {, Z Rubl'ica:
7ef:l e) Os Índios do Amônia
.-H ._ ••. .:. = ,.••-:..~••
Como já mencionado, "os exploradores do [uruá chegaram à foz do
Amõnea em 1890, chefiados pelo cearense Francisco Xavier Palhano. Nessa época só havia índios
na região" (Tocantins, op. cii., vol. 2:348). Para os integrantes da Comissão Mista de
Reconhecimento do Rio Juruá (1905), o rio Árnônia era incontestavelmente dominado
pelos Amahuaca, que predominavam não somente nesse afluente da margem esquerda do
Juruá mas em toda a zona situada à montante. O relatório do comissário brasileiro
informa que esses índios possuíam "seus toldos nas cabeceiras do Amonea, do Huacapisiea,
Guineal, Peligro, Paxiuba, Achupal, Piquevaco, Breu e Tejo", e levavam "suas excursões aos
valles do Embira e do Ucayale" (Mendonça, op. cit.:80). Podemos de todo modo assumir
como relacionados aos atuais Amawáka certos grupos indicados historicamente na zona
próxima à calha do rio Ucayali. Assim, no século XVII os Amaguaca eram localizados pelos
padres franciscanos no rio Sampoya, havendo menção também aos Amuehuaque, no rio
Canihuati, afluente da margem direita do Ucayali (d. Arnich, op. cit.; Varese, op. cit.:140-
144)2'. Um documento do frei Pablo Alonso Carballo, datado de 1818, menciona os
Andahuaca entre as nações indígenas espalhadas pelas terras interiores na margem oriental
do Ucayali: "Os Andahuacas ocupam todo o país entre os grandes rios Ciya e Ucayali e os dois
colaterais Tanuuja e Sipahua. Os Piras e Cunibos cativam muitos desses, e pelas noticias que nos
dão e pelo que se observa em alguns deles, inferimos que são dóceis, alegres, de fácil redução"
(Schuller, 1908:182)22• Na segunda metade do século XIX, reporta-se o comércio de gêneros
t.:.') como tartarugas, óleo de peixe-boi, salsaparrilha e amendoim feito pelos Amawáka com .
.-
~--
.-
as missões fanciscanas da planície do Sacramento, mencionando-se em 1859 a presença de
alguns desses índios em Sarayacu. O seu caráter pacífico, no entanto, era dado como
motivo para as constantes razzias feitas pelos Piro, Koníbo e Xetebo das margens do
Ucayali com o objetivo de lhes arrebatar mulheres e crianças, forçando-os a se internarem
cada vez mais (d. Raimondi, 1863:421-422; Marcoy, 1869, vol. II:177; Wilkens de Mattos,
1874:5).
Menção particular deve ser feita à tentativa franciscana de missionar
os Amawáka estabelecidos no interior do rio Tamaya, afluente da margem direita do alto
Ucayali. Em suas andanças apostólicas pelo grande formador do Amazonas peruano, o -.
Pe. Ignacio Sans teria navegado nas águas do Tarnaya durante oito dias prqcurando travar e-
amizade com os Amawáka. Posteriormente, tendo sido o Pe. T. Hermoso nomeado
- 38
--- •••• ~A,
-J3 --
Prefeito das Missões em 1876, dirigiu sua atenção ao afluente do Tamaya aonde moravam
os Amahuaca, sulcando por seis dias aquele rio até um lugar chamado Pacahusumaná que
elegeu para a fundação: "A acolhida das (ndiós foi hostil; mas logo que lhes presentearam
ferramentas amansaram-se um pouco" (Ortiz, 1984:209). Os escolhidos para dita fundação
foram os padres Ortiz e Tapia, que no mês de abril de 1878 já se encontravam no Tarnaya
no posto de San Pedro. Porém, "não ficaram satisfeitos os missionários com a indolência. dos
Amahuacas, já que haviam descuidado das promêssas feitas ao padre maioral" (Ibid.). Em sua
ii:tfeliz retirada deste posto, os citados missionários alagariam sua balsa nas águas do
Tamaya, falecendo o Pe. Tapia por não saber .nadar. Depois deste episódio, os
franciscanos abandonaram as tentativas de catequização naquele rio, realizando apenas o
Pe. Agustín Alemany, durante a breve restauração da missão de Santa Rosa de los Piros
(1879 /81), algumas visitas ocasionais aos Amawáka que habitavam o rio Inuya, afluente
da margem direita do baixo Urubamba (Idem:211).
As referências aos Amawáka no início do século XX, por sua vez,
irão indicar a presença do grupo em duas regiões distintas: uma parte viveria entre os rios
Purus e Cururnahá, a outra em afluentes do alto Juruá e no trecho contíguo entre os rios
Tamaya e Mishagua, afluentes respectivamente do alto Ucayali .e baixo Urubamba.
Enquanto o primeiro grupo é geralmente identificado aos chamados Espino (considerados
como um subgrupo Amawáka por German Stiglich [19011), o segundo deve ser
correlacionado aos lmpeiineri, termo genérico usado pelos Piro para os povos que
habitavam a área interfluvial vizinha ao Urubamba. De acordo com Rivet & Tastevin
(para quem o termo Amatuâka significaria 'rio das ca pi varas' - ame, capivara; waka, água), o
t::.:) segundo grupo seria encontrado igualmente sobre afluentes do J uruá acreano como os rios Amônia, Tejo, e Amoaca (Cruzeiro do Vale), bem corno no igarapé São João e nas
matas contíguas até o Tarauacá (1920a:450-453). Pode-se observar que essa localização
coincide em parte com a fornecida pelo Mapa Etna-Histórico de Curt Nimuendaju, no qual os
Arnawáka são indicados i) nas cabeceiras do rio Blanco (afluente do alto rio Tapiche, no
Peru); ii) entre os rios Amônia e Tamaya, no lado peruano da fronteira; iii) nas terras
entre o Amônia, a margem esquerda do alto Juruá e o rio Mishagua, afluente do
Urubamba; e iv) entre a margem direita do Juruá e esquerda do alto Purus, passando pelo
alto curso dos rios Tarauacá e Envira (cf. Nimuendaju, 1987).
Nas primeiras décadas do século XX, <, a população Amawáka era
estimada em aproximadamente três mil pessoas, achando-se parte de seus integrantes $-'
39
Processo nº: 2:::;og ~o '
Folha nº: 3 e Y Rubrica:=-;·--'--JL-· :
engajados no trabalho extrativo da borracha e outros ainda sem contato regular com a
sociedade envolvente:
"Alguns mantêm sua independência, mas são hostis. Estes são os do Vacapista, um formador do Juruá, e os Espino no território brasileiro, urna sub-tribo, junto com alguns sobre o Chesea, um afluente da margem direita do Ucayali. Aqueles sobre o Amoenya são amigáveis mas independentes. Geograficamente, os Amahuaka no território peruano são
· divididos em (a) um grupo entre o Curumahá e o Purus; (b) o conjunto principal no divisor entre os rios Juruá, Purus, Tacuatimanu e lfcàyali, e em afluentes da margem direita deste último rio entre o Tamaya e o Mishagua [ ... J. Também são encontrados no território brasileiro[ ... ] com poucos sobreviventes em civilização entre o Tejo e o Grajaú, e sobre o rio Amoacas" (Grubb, 1927:84 e 100; grifo nosso)".
Praticamente na mesma época, os Amawáka também são
:;; mencionados em zonas consideravelmente deslocadas na direção Nor-Noroeste, próximas
aos rios Môa e Paraná dos Mouras, afluentes do Juruá, e aos rios Utoquinea e Abujao,
afluentes do Ucayalí". Eles são igualmente indicados no alto Tamaya, cujas cabeceiras
confrontam com a dos afluentes da margem esquerda do Amônia:
"[Os 'Amahuaco',] outrora numerosos nas cabeceiras do juruá-Mirim, Paraná dos Mouras e na região do divisor de águas, mais ao sul, são actualrnente quasi extinctos no Brasil. Apenas conhecem-se algumas mulheres dos seringueiros, pertencentes a esta tribu. Consta, no emtanto, que varias familias de 'Amahuacos' são conhecidas na margem direita do alto rio Tamayo e na serra de Utuquinia, nas cabeceiras do rio do. mesmo nome do Perú. Assim tambem nas cabeceiras do rio Abujao um grupo de 'Amahuacos' atacavam os caçadores e exploradores de borracha ainda em 1934 passado. A rapida extincção dos aborígenes em contacto com a civilisação é caracteristica particularmente em relação a esta tribu. Assim, consta que apenas fazem 20 ou 30 annos, tanto o rio Môa como o Paraná dos Mouras eram habitados pelos 'Amauachos' e muitos destes foram 'amansados' pelo matteiro Barros; no emtanto já se extinguiram neste curto-lapso de tempo, encontrando-se hoje apenas restos de olaria e utencilios de pedra nas antigas capoeiras habitadas por esta tribu" (Oppenheim, 1936:150; grifo nosso).
De modo geral, as referências feitas aos Amawáka estabelecidos no
vale do Juruá acreano na primeira metade do século XX irão localizá-los em dois núcleos
principais: i) aqueles que ocupavam (ou transitavam entre) os rios Amônia, Breu, Tejo e
igarapés São João e Caipora; e ii) aqueles situados nos rios Cruzeiro do Vale e Valparaíso.
Na segunda metade do século XX, os Amawáka eram tidos como um grupo Pano em
contato permanente estabelecido nas cabeceiras do rio Juruá, entre este rio e o Liberdade,
nas cabeceiras do rio Amônia, e entre o Curumahá e o Purus: "em maior número são
encontrados em território peruano, fronteira com o Brasil" (Malcher, op. cit.:67).
Mas é preciso observar que, paralelamente à indiscutível primazia
dos Amawáka em quase toda a extensão do alto Juruá a partir do rio Amônia, já o
40
Processo nº: Z+oS /0-0 Folha nº: ;3iJ-
Rubrica: .:1:Z' relatório do comissário brasileiro registrava também a presença ocasional de integrantes
de outras etnias nessa zona no princípio do século XX: "accidenialmenie transitam pela
região os Campas, Shamas, Piras, Shipivos, Cunibos e [aminauas" (Mendonça, op. cit.:80-83)25.
Excetuado este último grupo, os demais eram habitantes tradicionais dos rios Ucayali e
Urubamba trazidos à bacia do J uruá em razão da mobilidade característica na exploração
do c~ucho amazônico. Acompanhando as turmas de caucheiros, tinham esses índios como
principais incumbências, em geral, a obtenção 'de provisões através da caça e da pesca e a
r~alização das famigeradas correrias contra outros grupos indígenas que pudessem opor
alguma dificuldade à atividade extrativa. Alcançado através de importantes varadouros,
entre os quais se destacava os que provinham dos altos afluentes do rio Tamaya, o
Amônia logo se tomou uma das passagens quase obrigatórias para os caucheiros que
vinham do Ucayali em demanda dos afluentes do alto Juruá.
Deste modo, em fins de 1897 já se assinalava no Amônia o
surgimento de um grupo de caucheiros peruanos vindos das cabeceiras do rio Tamaya,
próximas às quais os brasileiros aviados por Luiz Francisco de Mello haviam aberto
estradas de seringa no igarapé Coconaia (d. Azevedo, op. cit.:199). A conjunção entre as
torrentes de seringueiros brasileiros e caucheiros peruanos no rio Amônia viria provocar
em janeiro de 1906 mais um incidente fronteiriço e diplomático. Ao se dirigir para o alto
Amônia com a finalidade de colocar alguns seringueiros em suas colocações, Vicente
Paxiúba, um dos mateiros do seringai Minas Gerais, havia entrado em conflito com os
caucheiros peruanos estacionados na localidade de Saboeiro ('Jabonero'). Comentando _a
denúncia feita pelo major peruano Lizardo Luque sobre o episódio, objeto de reclamação
tz.} formalizada pelo Cônsul do Peru, o encarregado do Posto Fiscal do Amônia, Antonio de
Almeida Pimentel, dirigiu ofício datado de 01.07.1906 ao Prefeito do Alto Juruá no qual
.-..:.~. 0
,-
sustentava em tom leviano:
"Quanto ao facto allegado de que foram violadas mulheres e amarrada uma criança, dizem as pessoas informantes que merece contestação, visto que na época em que se deu o caso em questão existiam morando alli apenas duas caboclas, amantes de dous caucheiros, as quaes nada soffreram que lhes offendesse o pudor. Sobre a criança, todas ellas são unanimes em declarar que nada sofreu [ ... ]. Certamente o Sr. major Luque deixou-se levar sómente pelas informações prestadas pelas duas mulheres que appareceram em Porto Pardo" (apud Azevedo, op. cit.:126-127).
De qualquer maneira, é evidente que a chegada dos trabalhadores
do caucho e dos índios por eles trazidos do Ucayali, Ur!o,l.bamba e outras regiões viria
constranger ou por em fuga a população indígena tradicional do alto [uruá, especialmente
41
_,>·~. :-:, - .;,e ,./
os Amawáka, que preponderavam na região. Assim, registrava-se por exemplo em
afluentes do rio Huacapistea, como nos igarapés Honcayacu (nome "dado pelos índios
Amahuacas") e Aucayacu, a presença de caucheiros recém-chegados através do varadouro
doSheshea:
"Sobre a margem esquerda do Aucayacu [ ... ] teem os caucheiros ou seus patrões um rancho · para depositar as mercadorias vindas do valle do Ucayale pelo varadouro do Sheshea, no qual havia bastante carga recentemente tr.izida. Na matta ao derredor viam-se muitas dezenas de volumes de caucho a serem conduzidos para Iquitos pelo mesmo varadouro [ ... ]. O inferior e tres praças ficaram guardando esse posto, onde ha vestígios de habitação prolongada dos Amahuacas, afugentados pelos caucheiros e indios por eles trazidos do Ucayale" (Mendonça, op. cit.:151; grifo nosso)".
Os Kampa (cuja autodenominação, dependendo da região de
origem, vem a ser Axâninka ou Axéninka) foram, como se sabe, um dos grupos mais
freqüentemente utilizados por caucheiros e seringueiros para a realização de correrias
contra outros grupos indígenas na região do rio Juruá. Explica-se essa preferência devido
tanto a sua propalada índole guerreira quanto pelo fato de pertencerem à fanu1ia
lingüística distinta daquela da grande maioria dos demais grupos indígenas do Juruá, que
representaram historicamente seus tradicionais .inirnigos. As referências inicialmente
feitas aos Kampa nas proximidades da fronteira brasileira - consistindo certamente uma
das primeiras a menção aos "índios Pampas" feita por Unhares (1913) - situam-nos no sopé
das colinas de <;ontamana, no alto jur'uá-Mirirn, em território também habitado pelos
Remo (d. Tastevin, 1920a:133f. No primeiro terço do século XX, foram os Karnpa
efetivamente localizados nas cabeceiras do rio Cashiboya, junto à serra de Contamana:
"Encontrámos uma pequena tribu desses índios nas cabeceiras do rio Cashiboya. Esses índios têm o
seus principaes aldeiamentos na região do 'Gran Pajonai', no valle dos rios Alto Ucayali, Perene,
Tambo e LIrubamba. Foram lambem assignalados no alto [uruâ, na região fronteira Brasil-Perú"
(Oppenheim, op. cit.:155). Com efeito, reporta-se a presença dos Karnpa na bacia do Juruá
brasileiro desde o princípio do século XX:
"A presença Kampa em território acreano, conforme fontes confiáveis, data do início deste século, quando foram trazidos por caucheiros peruanos da região do Alto Ucayali e do Gran Pajonal [ ... } para as cabeceiras do juruá, e alguns de seus afluentes, como os rios Amônia, Breu, Jordão, Tarauacá e Envira [ ... ]. Informações repassadas pelo velho curaca Kitola, que viveu muitos anos no rio Breu até o seu falecimento no final da década de 70, confirmaram que os Kampa já perambulavam pelos rios [uruá-Mirirn, Breu, Amônia e cabeceiras do Juruá desde o irúcio deste século. Kitola e seus parentes Ashaninka foram muito utilizados pelos
l proprietários e patrões de seringais nas 'correrias' organizadas contra os índios 'brabos" (Aquino, 1996:5-6 e 9).
42
::.
Processo n°: 2:+a:8 ( o-e> {:-
Folha nº: p e 71 é 1 Rubrica: --~ ~
"'
~?: . ~·;}
As informações disponíveis indicam que as primeiras famílias desse
grupo a se estabelecerem permanentemente no rio Amônia chegaram pouco antes de
1940, vindas do rio Tambo e igarapés afluentes do alto Ucayali (cf. Mendes, 1991:61;
Pimenta, 2002:100-107). Os dados genealógicos sobre os Karnpa do Amônia também
sugerem uma procedência significativa de seus ascendentes (como Samuel Pianko, por
exemplo) do rio Sheshea, afluente oriental do alto Ucayali, mantendo os mesmos relações
eventuais com aqueles instalados próximos a 'foz do rio Huacapistea, afluente do alto
J1:1ruá peruano (cf. Mendes, op. cit.; Espírito Santo, 1985a). De fato, os depoimentos
colhidos por antropólogos que estiveram no rio Amônia desde a segunda metade da
década de 1970 demonstram que a chegada dos Kampa à região está relacionada ao
interesse da população regional em afastar os Amawáka que aí habitavam, os quais
resistiam à ocupação não indígena de seu território. Também passa a ser registrada a
presença de outros grupos indígenas em conjunto com os Arnawáka ocupando as terras
do Amônia:
"Em que pese a escassez de dados a respeito do povoamento indígena da região, existe um consenso dos informantes regionais a respeito da presença de grupos Xama, Amahuaca, e Santa Rosa (de língua Quéchua) na área ao longo do século. Na época da formação da Vila de Thaumaturgo diz-se que os índios Amahuaca estavam nos arredores do povoamento no rio Amônea. A presença dos Kampa foi referida em conexão corri. as freqüentes incursões dos Amahuaca aos assentamentos dos regionais, afirmando-se que, graças a proficiência dos Kampa, fora possível afastar da região os outros índios hostis" {Seeger & Voguel, 1978:46; grifo nosso).
Portanto, no primeiro qu~rtel do século XX:, além dos Kampa,
~:} passaµ1 a ser citados na região do Amônia e de outros afluentes do alto Juruá brasileiro
índios pertencentes à grupos denominados como 'Xama' (ou Chama, também conhecidos
como Xipíbo-Koníbo) e 'Santa Rosa':
"Dos Amahuacas que habitam o Caipora, alguns já estão civilizados e trabalham na extracção do caucho e seringa, e os que vivem nas cabeceiras do Amonea e Breu transitam de um para outro desses rios, roubando, matando, incendiando e cornmetendo toda sorte de desatinos, em comrnurn com uma tribo peruana Conibus. Ambas faliam o castelhano e têm seus aldeiamentos entre as cabeceiras dos rios Amonea e Tamaio, affluente da margem direita do rio Ucayale. Além dos Arnahuacas, acha-se no rio Breu a tribu equatoriana dos Santarozínos, trabalhando na extracção do caucho'' (Castelo Branco, 1930:596; grifos nossos).
A associação dos Amawáka com os Koníbo não deixa de ser curiosa,
visto o longo histórico de relações guerreiras entre os dois grupos. Deveras, os Amawáka
constituíram sempre, ao lado dos Remo, um alvo preferencial das correrias praticadas
43
Processo n": 2- +08/~ Fo)ha nº: 3 6 .? Rubrica:_ ~[
/ pelos Koníbo contra outras sociedades indígenas a leste do Ucayali. Dados compilados
sumariamente por DeBoer (1986) registram ataques dos Koníbo aos Amawáka realizados
nos anos de 1690, 1790, 1834, 1842, 1846, 1851, 1860, 1868, 1870, 1874, 1876, 1883-84, 1886.;···.- · -· -
88 e 1904. Composta por mais de cinqüenta canoas, a expedição Koníbo que assaltou os
Amawáka em 1883-84 resultou na incorporação de mulheres e crianças desse grupo; do
mesmo modo, Ó ataque de 1904, feito com rifles de repetição, redundou na obtenção de
mulheres e 'escravos' (cf. DeBoer, idem:234-235). Outra pequena 'tribo' de fala Pano
acossada e dizimada pelos Koníbo nos afluentes da margem direita do Ucayali teria sido a
dos chamados Nocomân. Uma obra publicada em 1930 informa que esses índios,
anteriormente assentados nas nascentes do rio Inuya, afluente do baixo Urubamba,
"devido à opressão sofrida por parte dos Chama, trasladaram-se ao Cumaria, logo ao Amueya e
posteriormente ao Tamaya. No último rio foram aniquilados quase por completo por uma
expedição militar dos Chama" (Tessmann, 1999:99; grifo nosso). Efetivamente, estando
ocupado em sua foz e no curso inferior pelos Koníbo, e nos afluentes de seu alto curso
pelos Amawáka, o rio Tamaya parece ter sido sempre uma via preferencial para a
pilhagem dos primeiros contra os segundos. Assim, é possível inferir que os Chama que
passam a ser citados no rio Amônia tivessem sua origem no baixo e médio curso do
Tarnaya, encontrando-se durante uma viagem realizada nesse rio em 1952 cerca de vinte
famílias Chama na localidade conhecida como Cashinintia e quarenta famílias Koníbo na
foz do Imiria, junto ao lago de mesmo nome (d. Ortiz, op. cit.:185)28. Por outro lado, tudo leva a crer que os chamados Santa Rosa ou
Santarosinos constituíssem um subgrupo dos índios Quijo (também denominados Quixo,
,t:) Napo Runa ou Qu1jos Quichua), numeroso povo de fala Quíchua encontrado no alto curso
do rio Napo, em território equatoriano", De acordo com o Pe. A vencio Villarejo, como
todos os Quijos encontrados na selva peruana eram originários das faldas orientais dos
Andes equatorianos, "a denominação primitiva dependia do lugar de origem (sabelos, chiripunos,
archidonas, santarosinos, arajunos, napos, tihuacunos. eic.)" (Villarejo, 1979:188; grifo nosso).
Peter Gow também registra o costume no baixo Urubamba de se denominar os mestiços
('moza gente') de acordo com sua origem particular, a exemplo dos shantacos (Quechua de
Santa Rosa, no rio Napo), dos lamistas (Quechua de Lamas), dos [eberos (a jusante de
Jeberos) etc. (d. Gow, 1991:87). Conforme se observa no mapa publicado por Whitten
(1985:29 - reproduzido no Anexo 8), a localidade de Santa Rosa está situada no curso
superior do Napo, pouco à jusante da cidade de Ahuano. Em meados do século XIX, ,e
devido à instituição dos repartas, os Quijo de Santa Rosa viam-se obrigados à produção
44
·- -~ --- -·~ ~- :proces=:-=-so---:rf::--. -:;z.,:--;9-:;-o~~z.-:--1cí!9~'-
Fo1ha nº: 3 t;, 7 Ru~-= ;;-t = .- de ouro em pó e os de Archidona à extração de agave (pita) para efetuar o comércio por
tucuyo (tecido grosseiro de algodão) com os governadores do oriente equatoriano. Em
função disso, urna das estratégias de defesa da população :ndigena era abandonar uma
localidade logo após a decisão das autoridades de ali se estabelecerem: "Isso também
explica as freqüentes mudanças de residência dos governadores entre Santa Rosa, Archidona e
Tena, mencionadas nas fontes históricas" (Muratorio, 1991:72-73).
Dado o seu conhecimento da navegação do rio Napo e sua destreza
na extração da goma elástica, os Quijos de Santa Rosa passaram a ser encontrados em
outras regiões da Amazônia equatoriana e peruana durante o período do boom da
borracha:
"Quijos. Os indígenas desta tribo não têm nenhum nome geral. Eles chamam-se segundo a respectiva aldeia na qual possuem seu domicílio. Como a gente de Santa Rosa no Napo é a melhor conhecedora da navegação, e por isso se espalha mais longe, até o Peru, os indígenas do Napo superior são conhecidos com o nome de Santa-Rosinos [ ... ]. O território dos Quijos situa-se no Napo superior, principalmente na região de seus afluentes esquerdo: Tena, Suno, Payomino, e no Napo entre esses afluentes[ ... ]. Hoje em dia, os Quijos se espalham seguindo aos espanhóis e seus descendentes, os equatorianos e os peruanos, por todo o Napo, e vivem em quase todos seus assentamentos como 'peões', até praticamente chegar rio abaixo na desembocadura[ ... ]. Segundo os colonos, os Quijos são excelentes co~o coletores de caucho e balata fora de seu território [ ... ]. Eu tive um informante de Santa Rosa em Iquitos, logo visitei os (por desgraça secundários) assentamentos dos Quijos no Napo médio e inferior, e tive a oportunidade de falar em Puca-Barranca com dois velhos Quijos que, não obstante, eram muito fechados, apesar de seu 'patrão' haver feito todo o possível para animá-los" (Tessmann, op. cit.:136-142).
Tendo em vista que a borracha encontrada no território equatoriano
era de qualidade inferior e em menor quantidade que a disponível em outras regiões
próximas, provocando contínuas disputas entre os patrões regionais, a mão-de-obra
indígena local passou a ser levada para a atividade extrativa desenvolvida nos rios
Maranón, Ucayali, Madre de Dios e outros. Além disso, dado o rápido esgotamento do
caucho (e de outras espécies gomíferas, como a balata ou gutaperduü pela feroz exploração
realizada, vários patrões foram obrigados 'trocar' seus trabalhadores com os comerciantes
e companhias baseadas em Iquitos, no Amazonas peruano, para saldar os débitos
referentes aos adiantamentos assumidos (cf. Muratorio, op. cit.:109-110). "Em menor ou
maior grau, quase todos os comerciantes de borracha estavam envolvidos no contrabando de
trabalhadores índios equatorianos para o Peru e o Brasil, e no rapto e venda de índios em lquitos"
(Ibidem:110). Os contínuos deslocamentos e migrações transformaram de algunr modo a
população indígena dessa região em toandering masses, cujo retorno ao local de origem
considerava-se bastante incerto (Ibídem:105).
45
~:..
~;.j
Deveras, na época do caucho a Peruvian Amazon Rubber Company
teria proporcionado o deslocamento de aproximadamente mil homens Quijos da zona de
Loreto-Avila para o rio San Miguel, dos quais somente quarenta regressaram aos seus
locais de procedência. Nos primeiros anos de 1900, a mesma companhia enviou uma
expedição à área de Tena-Archidona para engajar compulsoriamente outros Quijos na
atividade extrativa, não logrando contudo os peruanos alcançar aquele território: "Os
relatos dos índios indicam também que, embora os 'da área de Tena tenham viajado até o rio Madre
de Dios, durante o auge do caucho, eles nunca foram cativos ou escravos dos patrões, e que simplesmente lhes acompanhavam" (Macdonald, 1984:159). Na verdade, os Quijos Quichua
que emigraram à zona do rio Madre de Dios para extração do caucho foram justamente os
Santarosinos:
"Os Quichuas santarrosinos do Madre de Díos: um deslocamento forçado que se atribui aos caucheiros levou um bom grupo de Quichuas desde o Napo ao Departamento de Madre de Dios. O P. Avencio Villarejo, em 'La Selva y el Hombre', consigna esta importante informação: ... 'No rio Muinapu, afluente do Tahuamanu (Madre de Dios) há um grupo de Quichuas santarrosinos. levados ali pelos caucheiros desde o povoado de Santa Rosa (Equador)'. No presente, ignora-se se ainda sobrevivem" (Costales & Costales, 1983:122).
Podemos supor que parte dos índios Santa Rosa emigrados desde o
Napo equatoriano tenha vindo se instalar no rio Breu (ocorrendo ou não a escala no vale
do Tahuamanu), onde são mencionados em 1930 trabalhando na extração do caucho (cf.
suprn:43). É possível que o trânsito dos Amawáka e Koníbo entre os rios Amônia e Breu
tenha estimulado os Santa Rosa ou Saniarosinos que trabalhavam corno caucheiros neste
último rio a se mudarem para o primeiro, onde seus remanescentes passarão a ser
~} mencionados a partir dessa época.
Assim, a chegada dos Kampa ao rio Amônia ocorreu paralelamente
à confluência de outros contingentes indígenas que ali vieram ter em razão das
circunstâncias históricas produzidas pela ocupação não indígena na região amazônica
circundante ao alto Juruá. De qualquer forma, esse evento implicou um processo
complexo de dizimação, deslocamento e incorporação de partes da população indígena
até então preponderante naquele curso d' água. A maior parte da população originária do
Amônia que sobreviveu e resistiu na região passou a realizar no período que se seguiu
uma série de casamentos com indivíduos desses outros grupos indígenas, fato esse
confirmado pelo depoimento dos próprios Kampa". Segundo o testemunho de Samuel
Pianko, um dos mais antigos Karnpa estabelecidos no Amônia, "a região deste rio era
habitada primeiramente pelos Amouca", os quais, "na defesa do seu território, promoviam
46
1 ~
1
f r
1 1 1 1 1
Prvcesso rf': 2-~5'fgv
folha nº: 31- f Rubrica: -A: t.
7
~ ..
permanentes ataques aos peruanos [ ... ]. Alguns que sobreviveram no Amônia, miscigenaram-se
com os Kampa e outros grupos como Xama e Santa Rosa, compondo a população indígena atual"
(Espírito Santo, 1985a:57).
Do mesmo modo, os estudos antropológicos existentes sobre a
região do Amônia chamam a atenção para os casamentos interétnicos decorrentes da
'rendição' de parte da população Amawáka que até então habitava esse rio às
parcialidades Kampa ali trazidas para possibilitar a ocupação regional não indígena:
"Com a entrada dos Ashaninka no rio Amônia, os Amahuaka afastaram-se e, em alguns caso renderam-se. Ainda hoje existem remanescentes dos Amahuaka encontrados pelos Ashaninka no rio Amônia há cerca de cinqüenta anos atrás; trata-se, em geral, de mulheres capturadas quando crianças e que depois de adultas casaram-se com homens brancos, Ashaninka, Kashinawa, Santa Rosa, Konibo ou Kokama. Segundo regionais, os 'Santa Rosa', falantes de língua Quéchua, precederam os Ashaninka no rio Amônia. Anthony Seeger e Arno Vogel encontraram apenas uma família remanescente dos numerosos Santa Rosa de outrora, dizimados por uma epidemia de sarampo; os sobreviventes haviam partido rumo ao terrítório peruano. Ainda hoje existe uma família Santa Rosa vivendo na parte debaixo da área Ashaninka, nas proximidades das moradas dos posseiros brancos. Em suma, ao que tudo indica, por ocasião da chegada dos atuais Ashaninka no rio Amônia, há cerca de cinqüenta anos, habitavam ainda a área os índios Santa Rosa e Amahuaka" (Mendes, 1991:39-40; grifo nosso).
Por meio desse processo histórico, a população Kampa adventícia
passou a ocupar e a se fixar na região do alto Amônia, transformando-se dessa forma no
grupo indígena mais expressivo a ocupar esse rio na segunda metade do século XX. As
diferenças existentes n': composição social dessas populações, no entanto, não se
apagaram ao longo do tempo, passando a se exp~essar através de uma nítida distribuição
t....;l: espacial: enquanto os 'Karnpa tradicionais' se estabeleceram preferentemente ao longo do li;..,.;!;
alto curso do Amônia e no rio Amoninha, na área contígua à fronteira internacional, os
-~
'outros caboclos' estavam mais próximos da parte baixa, entre a foz do igarapé Taboca e o
chamado Remanso. É isso o que registra o relatório de identificação e delimitação da TI
Kampa do Rio Amônea:
"A população Kampa, contida na área delimitada, é constituída de um grupo diferenciado comandado por Taumaturgo, na parte baixa da área, e os Kampa tradicionais na parte alta. O grupo sob a influência de Taumaturgo, é o resultado da miscegenação de Karnpa, Arnoaca, Santa Rosa, e Xama. Há uma nítida separação entre os dois grupos, cultural e espacial. O modo de vida do grupo de baixo é semelhante à dos brasileiros no que diz respeito ao vestir, construção de casas e a língua fluente é o português. Os Kampa tradicionais fazem restrições aos micegenados e.deculturados. Realmente, há uma situação de cruzamento intertribal tão grande, que os elementos se autodenominam apenas caboclos, chegando a perder o elo de origem" (Espírito Santo, 1985a:27; grifo nosso).
47
1
l· 1: ~ f
1
Processo rf: 2 ":/-D'X'{°:5? Folha n': A Rut,nr;a:-= =
Um relatório assinado pelo antropólogo Terri Valle de Aquino, pelo
sertanista Antonio Luis Batista de Macedo, e pelos administradores da FUNAI, Erasmo
Belucci e Antonio Pereira Neto, datado de 15.12.1985, menciona o mesmo fato:
"A população Kampa do rio Amônia é constituída por 260 índios, no total de 50 famílias, vivendo espalhadas ao longo deste rio e do Amoninha até à fronteira peruana [ ... ]. É uma população formada por dois grupos étnicos distintos. O primeiro deles, localizados na parte baixa da área, é o resultado da miscigenação de vários povos: Kampa, Santa Rosa, Amuaca, Kaxínawá e Xama. São chamados genericamente de 'caboclos', pois muitos deles já perderam muito de suas tradições culturais. Vários deles já esqueceram o seu idioma nativo, fazem suas casas ao estilo regional e usam roupas confeccionadas. O segundo grupo é formado pelos Kampa tradicionais, ocupantes da parte alta da área .indígena, e se autodenominam 'Ashaninka', que significa literalmente 'nossos companheiros'. Mantém as suas tradições culturais e são orgulhosos disto. Falam entre si apenas o seu idioma, uma língua do tronco Aruak, havendo entre eles pessoas que falam o espanhol e o português fluentemente" (Aquino et alli, 1985:5; grifo nosso).
Entre os chamados 'caboclos' residentes no Amônia encontravam-se
igualmente algumas fanu1ias Arara (ou Xawanáwa) emigradas desde a região dos rios Tejo
e Bagé. De acordo com um relatório do técnico em índígenísmo José Carlos dos Reis
Meirelles Junior, datado de 01.03.1987, havia então provavelmente duas farru1ias Arara no
rio Amônia, somando cerca de quinze pessoas, as quais se esperava que retornassem à
área do rio Bagé depois da demarcação e extrusão dos ocupantes não índios da terra
indígena ali situada:
"A história do êxodo dos Shauanaua das margens do Bagé é bem antiga. Inicia-se com as correrias do início do século. Depois pelo preconceito dos patrões materializado na exploração e não aviamento de mercadorias, as doenças, fizeram com que eles se dispersassem pelo Tejo, Dourado, Amônea e até Cruzeiro do Sul [ ... ]. A perspectiva da retomada do território original, fez com que encontrasse no Bagé os índios do Dourado. Outros foram avisar os parentes do Tejo e do Dourado. Existe ainda um plano de chamar os parentes do Riozinho da Liberdade para voltar à área" (Meírelles Junior, 1987:5; grifos nossos).
Como quer que seja, os laços sociais engendrados ao longo do
tempo entre essas farru1ias indígenas de origens étnicas diversas já estavam
suficientemente consolidados nesse período para que elas pudessem ser vistas corno um
grupo orgânico, dotado de tuna certa unidade política. E foi basicamente como uma
unidade social com identidade própria que tais famílias se posicionaram frente aos
acontecimentos que se seguiram à regularização da TI Kampa do Rio Arnônea, cujo
desenrolar levaria à sua retirada dos limites demarcados e fixação no trecho à jusante do
Amônia.
48
f) Conjuntura Atual
I Ao longo da segunda metade do século XX, a atividade extrativa da
borracha no alto Juruá brasileiro perdeu paulatinamente sua proeminência econômica,
vindo a ser substituída pela exploração intensiva dos recursos madeireiros existentes na
região. ,Çomo o restante da população acreani~a bacia do Juruá, os índios do Amônia não
ficaram imunes a esse novo boom extrativista e foram incorporados no trabalho das
turmas madeireiras que aportavam naquele rio. Posteriormente, as famílias indígenas
organizaram sua própria exploração e passaram a ser 'aviadas' por prepostos dos patrões ~-
madeireiros instalados nas cidades de Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul, ou pelos
'marreteiros' (comerciantes ambulantes) que freqüentavam o Amônia. Segundo Espírito
Santo (1985a:35-36), os Kampa "já vieram do Peru aplicados no trabalho da madeira e no
trabalho com patrões", sendo esta a via privilegiada por eles para a aquisição de artigos
como ferramentas, armas de fogo, munição, medicamentos, motores e outros bens
industrializados. Representava este - como sói acontecer - um sistema de trabalho
bastante injusto para os índios, em que os patrões debitavam a preços escorchantes as
mercadorias fornecidas ao passo que faziam a cubagem das toras de madeira de forma
não confiável, pela qual pagavam valores ínfimos.
De acordo com o depoimento dos próprios Kampa, o início da
extração madeireira no Amônia parece datar de 1972. Antes disso, esses índios
trabalhavam com os regionais chamados Thaumaturgo Ferreira e Chico Mariano, para
quem forneciam caucho, carne e peles de animais silvestres (cf. Pimenta, op. cit.:109). Seis
anos depois, quando por lá passou o antropólogo Amo Voguel (que havia sido contratado
juntamente com o antropólogo Anthony Seeger para realizar um levantamento da
situação das comunidades indígenas no alto Juruá), os Kampa tinham como 'patrões' no
Amônia os senhores Getúlio do Vale, Antônio do Vale, José Sara, José Pereira, e Tertuliano
Pereira Lopes, para quem trabalhavam no sistema de 'troco' (cambiando madeira
diretamente por mercadorias). Entre as "sugestões para uma política indigenista" elencadas
no correspondente relatório apresentado à FUNAI constava a seguinte:
"De específico, gostaria de acentuar a necessidade de se demarcar para os Kampa urna área de terras na qual se encontrem estoques de madeira de lei (cedro e aguano), caça abundante e terras de cultivo. As três coisas são fundamentais para a subsistência do grupo que se nutre da caça, vende madeira e consome e vende, oportunamente, produtos agrícolas" (Seeger & Voguei, 1978:51)31.
49
-- Folha nº:_ 3'-l- ~-
Ruooca: --7--rJ-/1.---
No entanto, já no princípio da década de 1980 houve urna
intensificação sem precedentes da extração madeireira promovida naquele rio por
empresas da cidade de Cruzeiro do Sul, que passaram a realizar a atividade com o auxílio
decisivo de maquinário pesado (skúier etc.). Assim, em 1981 a empresa Marmude Cameli
& Cia Ltda, através de Orleir Messias Cameli (que se tomaria depois Governador do e
Estado), promoveu a derrubada de 537 árvores de mogno (aguano), cedro e
c~rejeira/ cumaru nos igarapés Amoninha e Revoltoso. Um relatório do extinto Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) estimou o corte, em 1981, de 820 toras de
mogno e 704 toras de cedro nos afluentes do alto Amônia. Em 1985, outro empresário de
Cruzeiro do Sul, Abrahão Cândido da Silva, derrubou aproximadamente mais 500 árvores
de mogno e cedro no igarapé Revoltoso. Por fim, em 1987, a firma de Marmude Cameli
voltou a retirar 700 árvores de mogno, cedro, cerejeira, açacu, copaíba e ucuúba da área
entre os igarapés Revoltoso e Taboca (cf. Zacharias, 1998). As conseqüências ambientais
da exploração indiscriminada dos recursos madeireiros no alto Amônia, especialmente o
súbito afastamento dos animais de caça, bem corno as interferências dos 'peões' nas festas
indígenas à procura de companheiras sexuais, acabaram por suscitar o protesto dos
Kampa e o acirramento da reivindicação pela demarcação · da área por eles ocupada
naquele rio. Inclusive, foi a denúncia apresentada pelos integrantes do Grupo Técnico
constituído através da Portaria nº 1815/E/85, responsável pela identificação e delimitação
da terra indígena Kampa do Rio Amônea", que levou à intervenção dos agentes do IBDF e
à apreensão de parte da madeira abatida em 1981.e 1985.
/--
( dos demais
· decorrência
Para nós, importa destacar o afastamento entre os Kampa e o grupo
'caboclos', que ocupavam a parte baixa da área identificada em 1985, em
dessa intensificação na exploração madeireira. Ambos os grupos
desenvolviam, até então, urna atividade madeireira em pequena escala, voltada para a
obtenção de produtos industrializados através do sistema de aviamento comum na
Amazônia. Como reconheceu um dos filhos do líder da aldeia Apiwtx:a na visita que ali
fizemos, "nós também fomos madeireiros, mas porque pensávamos que a terra era dos patrões ... ".
Porém, enquanto a escalada da atividade madeireira e suas conseqüências estimulou uma
forte reação contrária da comunidade Kampa, as outras farru1ias indígenas existentes na
., área foram inseridas cada vez mais na rede de apoio necessária ao trabalho das turmas
extrativistas. De acordo com o testemunho dos Karnpa, . t'
50
·,-
Processo nti; ~ ~ :J:>fá-? Folha nº: 3 ~ :f Rubrica: ;4:_ " T ... ~
"quando eles entraram para pegar a madeira com máquina, pegavam os moradores que estavam aqui por perto, inclusive o pessoal que morava aqui neste local [i.e., o Remanso], ali do outro lado era a base de referência deles em pleitear cada tipo de serviço para fazer. Aí colocava o pessoal para trabalhar, as pessoas trabalhavam braçalmente que era difícil preferia já trabalhar na diária junto com eles lá no movimento dele, uns vendendo carne outros vendendo jabuti outros vendendo o que eles encomendavam para manter o pessoal aqui. Então isso aí foi um movimento mais agitado quando eles passaram a trabalhar com máquinas" (apud Zacharias, op. cit.:35-36; grifo nosso).
.-
Paralelamente a esses acontecimentos, a chegada de novos
contingentes Kampa desde o território peruano acerbou as disputas políticas internas . .
desse grupo no Amônia, produzindo de forma secundária uma surda competição pela
hegemonia social nas glebas passíveis de ocupação indígena", É possível que as
perseguições político-ideológicas derivadas da ação de grupos guerrilheiros que
conturbavam a vida das populações indígenas no Peru", bem como as dificuldades para a
extração de madeira no rio Sheshea devido ao arrombamento de uma represa que dava
volume àquele curso d'água (d. Espírito Santo, op. cit.:5), tenham estimulado novas
'arribações' de farru1ias Axéninka para a área do Amônia na década de 1980.
De qualquer forma, essa série de acontecimentos viria se conjugar
com os procedimentos administrativos e legais que redundaram na demarcação da TI
Kampa do Rio Amônea, fato que alterou definitivamente a correlação de forças e o padrão
de relações ínterétnicas até então vigente naquele rio. Após ter sido interditada com a
superfície de 91.200 hectares pela Portaria PP nº 2.749, de 31.07.1987, essa terra indígena
foi objeto do Despacho nº 07, de 29.08.1991, através do qual a Presidência da FUNJ\I
aprovou a resolução da Comissão Especial de ~nálise favorável ao aproveitamento dos
estudos de identificação e delimitação realizados em 1985. Declarada de posse
permanente indígena pelo Ministério da Justiça através da Portaria nº 513, de 10.10.1991, a
demarcação topográfica dessa área foi determinada pela Ordem de Serviço nº 009 /DAF,
de 21.05.1992. Tendo sido os respectivos trabalhos de campo realizados em junho do
mesmo ano, a demarcação da TI Kampa do Rio Amônea foi homologada por Decreto de
23.11.1992 com superfície de 87.205 hectares, providenciando-se a matrícula dessa área no '
r:
r:
r· r: r:
r=,
,... "1 ·",! .,,
Cartório de Reg~stro de Imóveis daquela comarca em 29.12.1992 e o seu cadastro no
Serviço de Patrimônio da União em 1995.
Um fato marcante nesse procedimento demarcatório ocorreu em
/ setembr_o de 1991 (logo após a expedição do Despacho nº 07 /PRES/91), consistindo na 1 indenização e extrusão dos 21 ocupantes não índios cadastrados durante o levantamento
\ fundiário procedido em 1985 (sendo dezenove ocupantes localizados no curso do rio \ ,, e-,;.
Processo n°: :z_:,.03 /ô--0 Folha nº: '?)~b
Ru~: f-C 7 •
,..... / Amônia e dois no curso do rio Arara). _E~tre os 'ocupantes não índios' então indenizados
constavam as quatro famílias incluídas conjuntamente no Laudo de Vistoria e Avaliação
relativo à 'Antônio Gomes de Oliveira Filho e Irmãos', que possuíam à época dezessete
anos de residência na colocação Remanso. Tratava-se, na verdade, da principal parentela
de origem Arara striciu sensu que ocupava e continua ocupando o rio Amônia.
Evidentemente, esse acontecimento constitui o motivo principal da alegação freqüente
entre a população não indígena regional de q~e os Arara, à época da demarcação da TI
1:(ampa do Rio Amônea, 'não quiseram se reconhecer como índios'. Contudo, não foram
incluídas no levantamento fundiário e nem indenizadas a grande maioria das demais
famílias indígenas, de origens étnicas diversas (Amawáka,. Koníbo, Santa Rosa,
Kaxinawá), que também viviam na mesma área com os Kampa. Além disso, é preciso
ressaltar que algumas dessas fanu1ias foram consideradas (legitimamente, podemos
acreditar) como parte da própria comunidade Kampa. Tal é o caso da fanu1.ia de
Taumaturgo de Azevedo, que foi indubitavelmente um dos principais informantes
'Kampa' do sociólogo Marco Antônio do Espírito Santo por ocasião dos estudos de
identificação da área em 198535• ·
O processo de retirada dessas outras fanu1ias do interior dos limites
demarcados foi promovido pelos próprios Kampa, que após a demarcação da área
começaram a deixar a região do alto Amônia e Amoninha para se concentrar justamente
na área próxima ao Remanso, formando definitivamente a aldeia Apiwtxa, segundo
Pimenta (Op. cit.:340), entre 1994 e 1996. Conforme se observa no depoimento transcrito
abaixo, extraído de um dos anexos ao Laudo Pericial apresentado pela engenheira
~} florestal Sílvia Zacharias no curso da Ação Civil Pública nº 96.1206-7, essa atitude
decorreu principalmente da intenção declarada dos Kampa de se contrapor à intensa
exploração dos recursos naturais de caça e madeira existentes na área demarcada que era
promovida por algumas dessas famílias de outras procedências étnicas, instigadas ou não
pelos 'patrões' regionais. Por outro lado, também se menciona subrepticiarnente uma
intenção própria de retirada dessas fanu1.ias ("Para nós era considerado família que iam ter que sair também"), decorrente do crescimento político e organização de sua própria
comunidade, bem como a posterior ocupação de farrúlias Kampa na área até então
habitada pelos Arara ("Agora os parentes que vinham de fora e entravam e ficavam em cima da área"):
"- Olha porque, aqui existia tanto posseiros, como uma turma de índios que não tinha mais a cultura indígena, não usavam mais a língua só viviam assim dentro de uma área indígena,
52
PiOCa?;so nº: 2 ~o<g~---------- } -
Folha nº: 37/-=J Rubf\ca::t? . / ==
só cara mesmo de índios. Mas eles eram tocados pelos patrões, 'vocês façam isso', botavam eles para brigar contra nós, querendo usar os direitos só no caso de está de frente com a justiça, quando saíam aí defendiam o lado dos patrões. Então eram muitas famílias. Então quando a FUNAI fez o levantamento aí, citou o nome só dos brancos que moravam aqui dentro, das famílias dos brancos, esqueceu essas outra turma. Para nós era considerado família que iam ter que sair também. E a FUNAI foi a parte que a FUNAI indenizou, que trabalhou no processo de indenização foi esta. E essa outra parte quem trabalhou no processo foi nós por aqui mesmo. O fortalecimento da organização, foi uma campanha que eles aceitavam, iam ficar tinham que obedecer umas regras, o regulamento dado pela própria organização Ashaninka aqui. Aí quando eles iam cansando, que não eram acostumados a viver como a Ashaninka áesmo, aí eles iam saindo, terminavam saindo todos. Eu acho que não tem mais nenhum aqui dentro. Aí quando nós limpamos lá em cima, aí nós viemos descendo para cá, aqui é onde estava mais concentrado essa parte de familia assim, aí nós viemos para cá ou vai ficar do nosso jeito ou vai sair. Sílvia: - Quantas famílias mais ou menos tinha, quantas pessoas? De não· brancos e nem Ashanincas. - Era muitas famílias, eram dois grupos grandes de pessoas que passavam um tanto aqui e depois mudava para outro lugar, depois vinha com outras propostas, vinha do Peru, para todo o canto, chegavam incentivando a tirar madeira, era um monte de coisa. A parte era com madeira e comércio de carne e não batiam com o nosso, aí que nós queria evitar isso aí eles saíram. Sílvia: - Mas na média ficavam quantos aqui? - Eu acho que ficava era umas cem pessoas. Sílvia: Contando com criança. - Contando com as crianças e tudo, e ficava, moravam e faziam os roçados e ficavam trabalhando. Agora os parentes que vinham de fora e entravam e ficavam em cima da área. Sílvia: - Todo mundo tirava madeira? -Todo mundo tirava madeira. Aí eles começava a sair, aí quando a gente impedia mesmo a retirada de madeira, não podia mais tirar madeira, e nem podiam mais vender carne, nós prendemos carne deles aqui. Tem nego morando aqui no rio, aqui para baixo, receberam lote do INCRA, estão assentados. Tem nego morando em Cruzeiro" (Zacharias, op. cii., Anexo 13:47-48; grifos nossos).
Em conformidade com a mesma linha de raciocínio utilizada acima
(" Aí eles iam cansando, que não eram acostumados a- viver como a Ashaninka mesmo, aí eles iam saindo"), os Karnpa procuraram enfatizar ao máximo durante a visita que realizamos à
aldeia Apiwtxa no dia 13.04.2002 o fato de não haverem 'expulsado' os Arara do interior
da terra demarcada. Deve-se entender essa afirmação no sentido de não ter havido, como
realmente parece ser o caso, nenhum confronto físico violento de maiores proporções
entre os integrantes dessas duas populações indígenas. O fato de não terem ocorrido
agressões físicas diretas nesse processo, no entanto, deve ser visto com cautela, visto a
dura determinação expressa sinteticamente na disjunção mencionada acima ("ou vai ficar
do nosso jeito ou vai sair"). Ambos os grupos também mencionam o fato de um dos irmãos
da farru1ia Arara indenizada, Eduardo Gomes de Oliveira, ter sido 'o último a sair' da área
demarcada", Considerando ínfimo o montante da indenização, Eduardo Gomes recusava
se a sair de sua colocação; somente aceitando fazê-lo sob a promessa (depois cumprida)
53
Folha nº: 3-:J g Rubrica: ,J:Z > •
-. do então Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo de lhe doar urna moto-serra como
compensação.
"Os Ashaninka explicam que o conflito que opôs o grupo familiar de Antônio Pianko, mas também de Kishare, a esses 'índios misturados' justificou-se por concepções políticas divergentes sobre a definição da Terra Indígena e o uso de seus recursos naturais. Essas diferenças profundas eram incompatíveis com urna coexistência pacífica. Segundo meus informantes, enquanto se iniciava com m?itas dificuldades a luta pela demarcação do território e a expulsão dos posseiros, o grupo de Thaumaturgo Kampa aliou-se aos patrões e quis continuar a exploração madeireira e as caçadas predatórias a serviço dos brancos [ ... ]. Pressionados pela grande maioria dos Ashaninka, agrupados em tomo da família Pianko, Thaumaturgo Kampa e seu grupo deixaram progressivamente a Terra Indígena, enquanto alguns de seus integrantes continuaram invadindo periodicamente a reserva à procura de caça" (Pimenta, op. cit.:318-319).
O testemunho dos Arara revela na realidade o encadeamento de
diversas ações levadas a efeito pela comunidade Kampa no sentido de constrangê-los a
aceitar um novo modus uioendi, abrindo mão da atividade extrativa da madeira e da venda
de carne de caça como meios de subsistência, reconhecendo pari passu uma posição
política subordinada. Mencionam-se, nesse sentido, eventuais 'afrontas' pessoais, a
matança de 'criações' (animais domésticos), a proibição de novos cultivos, e a queima de
casas in exiremis. Significativos a esse respeito foram os depoimentos dados ao técnico
indigenista e antropólogo Raimundo Tavares Leão quando de sua passagem pelo rio
Amônia em meados do ano 2000. Assim, o índio Odon Rodrigues Alves respondeu ao ser
perguntado por que havia deixado a TI Karnpa do Rio Amônea: "Nois viemos por que fumos
expulsado dos Ashaninka [ ... }. Por que acha, dizia que nois nõ era Ashaninku, e nõ era prá nos
morar mais junto com ele, aporisso que expulsaram e nois viemos prâ cá[ ... }; quando o pessoá saia
eles tocava fogo na casa do pessoa" (Leão, 2000:7-8). A alteridade étnica também é citada no
depoimento de José Macedo como motivo para a ação dos Kampa, agregando ainda que,
embora não os houvessem 'expulsado' propriamente dito, tinham sido suficientemente
convincentes em suas demonstrações de não os desejarem na mesma área:
"Era no \empo que nois estava lá em cima, junto com eles naquele tempo, né. Entonce, eles não quiseron que nois rnorase mais lá. Entonce nois saimo, porque eles queria por só Kampa [ ... }. Eles non expulsaron, mais non queria que nois morase mais, lá. Mas comersaron a fazer mau pra nossas coisas, matar patos, porco, né. Pra nois ise disgostando, né" (Leão, op. cit.:18; grifos nossos).
Por sua vez, o índio Taumaturgo de Azevedo Dirão, de 71 anos,
afirmou que residiu na TI Kampa do Rio Amônea até que dois sobrinhos e uma filha sua
faleceram com cólera: 11 Morreron e o pessoá me diseram, que saísse. Tem que passá cinco ano e
morasé e depois voltasse [ .. .]. Ai, baixei pra Cruzeiro pra pasâ cinco ano e voltar, né. Prâ ficar cum
tudinho are, né. Mandaram tudo prá baixo" (Jbid.:8). Tendo em vista os episódios anteriores
de epidemias entre a população indígena do Amônia sem que :is;,,o houvesse gerado o
pedido de saída das famílias afetadas, é provável que a razão real para a retirada dos
Arara fosse o apresentado ao final desse depoimento ('para ficar com toda a área'). O claro sentimento de terem sido expulsos do local que habitavam transparece no depoimento de
José Francisco Basílio, de 55 anos: "Nois estani6 aqui por que boiarem todos noís, não boiaron t?dos mias fios fora, esses Kanipa. Tomaron nosa ária, moremô muito tempo. Epulsaron nois'"
(Ibid.:13). Igualmente, o testemunho de Maria Francisca das Chagas Siqueira Negreiro é taxativo: "Por causa que eles mexia muito com nois, mandavam nois sair. Ai dizion que iam matar nois, que iam bota nois pra fora. Muito valente os Kampa. Iam lá, dizé pra nois saí. Ai nois saímo" (Ibid.:19). Por fim, o testemunho de Maria Macêdo da Silva, de 44 anos, foi dado nos
seguintes termos:
"Ontonce, quando a gente morava lá, eles não moravam ai onde agente morava, morava muito mais em cima, mesmo assim esses Kampa que vevem ai não são daí, são do Peru. Ontonce, todos que vem do Peru. Entonce mia vó, meu avo, todo foram criado aqui no rio Amônea, ton ficando veio, meu avo já morreu. Ontonce a gente ficou, né. Ai o tempo que agente vivia. Ontonce eles começaron, negocio de funaia, aí foron, bem dizer expulsando agente, non queria que agente rnorace junto com eles. Sabe o que fizeram, esse Francisco Piancho foi um que foi atrás de meu menino, que ia lá pra casa da sogra dele. la de canoa ele veio de duas espingarda atrás de matar meio fio, meu fio mais velho. Ontonce. ele se obrigou-se foi pro Peru para matar alguma cacinha para dá sustento pra famia dele, pra dá comida a famia dele. Ai quando ele saiu ele vieron, o Francisco Piancho veio com turma dele tocou fogo na casa dele" (lbid.:14).
Tais fatos foram resumidos por Leão ~o comentar na conclusão de
seu relatório que a retirada dos índios Apolima "da Terra Indígena Kampa do Rio Amõnea aconteceu em Junção da incompatibilidade étnica. e a deterioração dos interesses políticos, eccnõmicos e sociais, ao longo dos anos, culminando com pedido de retirada por parte dos Ashaninku" (lbid.:29). Depois de sua retirada dos limites demarcados, a maior parte dessas
fanúlias passou a se estabelecer no trecho à jusante do limite da TI Kampa do Rio
Amônea". Já então, porém, a margem direita do Amônia fora dos limites da terra
indígena havia sido totalmente incluída na área da Reserva Extrativista do Alto [uruá,
criada em 1990 e mantida sob a administração do IBAMA. Certamente em função disso, a
maioria das famílias indígenas egressas da área Kampa instalou-se na margem oposta do
médio Amônia, visto que o estabelecimento nos limites da RESEX estava regulado pela e.:
necessária .aquíescência dada por instâncias de organização próprias dos moradores
'extrativistas'. Contudo, a instalação dessas famílias na margem esquerda do Amônia foi
55
Processo nº: 2~og/o-D
Folha nº: 3 t' .o Rubrica: -j-l
T ~. seguida de perto pela criação do Projeto de Assentamento Amônia por parte do INCRA
nas terras daquela ribeira. Sem outras alternativas viáveis perceptíveis neste novo
contexto sócio-geográfico, um' · w-:mdé número de farru1ias Arara tomou-se
repentinamente 'parceleira' de um projeto de reforma agrária. Deste modo, a partir de
1996 vários desses índios foram assentados em 'lotes familiares, realizando como os
demais agricultores derrubadas na floresta para a formação de pastagens e recebendo os
'créditos' de alimentação e fomento.
Aparentemente, a FUNAI não se deu conta do que tinha ocorrido no
,.
rio Amônia até o ano de 1999. Nessa época, a equipe do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI) de Cruzeiro do Sul, nas pessoas de Lindomar Dias Padilha e Roserúlda Nunes
Padilha, dirigiu ao chefe do Posto Indígena da FUNAI naquela cidade, Hudson de Melo
Barros, um expediente datado de 18.11.1999 afirmando, entre outros assuntos, que
durante uma viagem pelo alto Juruá nos dias 13 e 14 daquele mês haviam constatado a
presença de um agrupamento indígena que denominaram 'Apolima'. As seis famílias
Apolima encontradas teriam afirmado "que a FUNAI tem consciência da existência deles mas
que ainda não tem resolvido seus problemas, e, o principal problema é a falta de uma área de terra
para que possam reconstruir sua aldeia" (Processo FUNAI/BSB/2708/00, fls. 45).
Encaminhado à Administração Executiva Regional da FUNAI em Rio Branco, esse
expediente teve como resposta o Ofício nº 351/GAB/ AER RBR, de 28.11.1999, em que seu
titular, Antonio Pereira Neto, afirmava que essa notícia havia sido francamente uma
"surpresa para todos nós da FUNAI-AC. Desde 1978 a FUNAI desenvolve trabalhos de
identificação de índios no Acre e até sua carta, não havíamos tomado conhecimento de um povo
denominado 'Apolima'" (Proc. nº 2708/00, fls. 48). Ao tempo em que solicitava cópia do
material (fotos, gravações etc.) obtido pela equipe do CIMI, comprometia-se o
Administrador da FUNAI a "encaminhar pessoal para o Amõnea e confirmar a etnicidade desse
povo que se diz Apolima e, caso sejam, de Jato, um povo etnicamente diferenciado, assegurar-lhes
todos os direitos que tem, conforme preconiza a Constituição" (Ibid.).
Deveras, a partir daí a FUNAI deu início aos procedimentos
cabíveis para o reconhecimento dos Apolima ou Apolima-Arara do· rio Amônia, tomando
quase ao mesmo tempo irúciativas para a regularização de um território para o grupo.
Dessa forma, a área denominada 'Arara do Alto Juruá' foi incluída na listagem geral de
terras indígenas da Diretoria de Assuntos Fundiários (DA:F) por solicitação do Memo nº
441/DEID/DAF, de 08.09.2000 (constituindo esse expediente o documento inaugural do •"'
Processo nº 2708/2000, relativo à sua identificação e delimitação). Amparada por recursos
56
.
repassados pela DAF, a AER Rio Branco enviou o servidor Leão ao rio Amônia, de cuja
viagem resultou o "Relatório de localização e identificação dos indígenas denominados de
'Apolimas' localizados nas margens do rio Amonea e na margem direita do alto rio [uruâ", datado
de julho de 2000. Segundo este documento, havia em três localidades um total de 114
índios "das etnias Arara, Kampa/Arara, Tchama/Arara e Santa Rosa. Verifica-se, pelo relatório,
que o termo 'Apôlima' é uma localidade, provavelmente existente no Peru, vizinho, e não a
denominação de uma etnia" (Memo nº 647 /GAB/AER RBR, de 19.08.2000).
Dois meses depois do envio desse relatório à DAF, os próprios
índios interessados redigiram uma carta com data de 19.11.2000, contendo 173 assinaturas
e encaminhada à DAF pelo Merno nº 986/GAB/ AER RBR, de 15.12.2000, em que diziam
terem procedido à uma "reunião indígena J aminauas Arara do rio Amônia para escolhermos a nossa terra" (Proc. 2708/00, fls. 36/40; grifo nosso). Após um novo interregno, os índios
do Amônia elaboraram uma "Exposição de motivo" com data de 17.01.2001 (encaminhada
ao DEID/DAF através do Memo nº 286/GAB/ AER RBR, de 23.04.2001) em que se
caracterizavam como "povo desaldeado da etnia Arara do alto [uruâ", Um novo documento foi
elaborado pelos Arara no dia 17.03.2001 indicando a presença de 33 famílias indígenas
'desaldeadas' em ambas as margens do Amônia e descrevendo em primeira mão os
limites da área reivindicada àquela ocasião:
"Rio Amônia. Somos índios da tribo arara do Alto Juruá [ ... ). Reunião indígena com todos os parentes dezaldeado para decidir todos juntos o lugar da nossa terra que iremos ficar. Na reunião já ficou tudo decidido por cada um que estava presente, na reunião tivemos presente uma equipe do cime de Cruzeiro do Sul Acre. Na reunião ficou tudo decidido. O lugar que iremos ficar é a onde estamos mesmo é dos dois lados do rio Amônia, da demarcação dos Achaninkas para baixo, porque foi aqui no rio Amônia que nascemos e fomos criado e estamos criando nossos filhos, só que antes nós na área que hoje é dos Achaninkas, mas fornos expulsos pelos mesmos na época da demarcação de suas terras. Mais toda vida fornos daqui do rio Amônia ainda hoje temos parentes que nasceram nessa região que estamos e falam a língua chamada gira[ ... ). ternos também um antigo sernitério dos parentes mais velhos. Por isso que vamos ficar onde estamos mesmo que é os dois lados do rio Amônia, do lado direito é do igarapé montevidel de baixo descendo a reserva extrativista até o garapé Jacarnim que fica dentro de um pedaço da área do 61 Bis, nessa área mora 12 famílias de índios e 24 de brancos. No outro lado do rio é do garapé Artur descendo o assentamento do incra até o garapé grande que fica no Estirão do vai quem quer. Nessa área do incra mora 21 familias de índios e 46 famílias de brancos" (Proc. 2708/00, fls.; grifo nosso).
Entrementes, a solicitação das farru1ias Arara que haviam se retirado
dos limites da área Karnpa parn a demarcação de uma nova terra indígena no médio curso
do rio Amônia começou a ser fortemente rechaçada pelos representantes locais das
instituições que se veriam atingidas, as quais tiveram um apoio decidido por parte da
57
Processo n°: Z =J-o,f' /0= Folha nº: 3 3 l Rubrica:_ ~6 ~ -
Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo. Em uma carta remetida à Presidência da
FUNAI, os Arara se reportaram a uma reunião ocorrida na Câmara Muncipal de Marechal
Thaumaturgo no dia 11.05.2001 em que, sucessivamente, posicionavam-se contrariamente
ao seu pedido o Prefeito Municipal, que duvidou de sua existência enquanto grupo
diferenciado ("Assim falou o prefeito Itamar de Sá, de onde veio mais esses Apolimas que
nin.~uém nunca viu falar"); o representante do INCRA, que sugeriu sua remoção da área
administrada por aquela autarquia no Amôni~ ("se fosse verdade que existem estes índios tem
q_ue aranja um Lugar pra que eles vivam como eles gostam de viver. Só não podia ser no
assentamento do incra"); e o representante do IBAMA, que fez pouco caso do eventual
apoio do órgão indigenista a essas famílias ("O homem do ibama dizia que a funai inventa de
defender os índios sozinhos e acaba deixando os índios abandonados, porque eles fazem essa zuada e
depois deixa os índios sozinhos no meio da zuada é só o que a [unai faz"). Aos Arara também
causou espécie o posicionamento de três índios Karnpa do alto Amônia, que abertamente
colocaram em questão a autenticidade de sua identidade étnica (" Não é pelo pessoa ter a
cara de índio que ele pode ser índio, não é qualquer um não só porque tem cara de índio"), fato que
levou-os a concluir com desagrado que "todos estavam junto contra nós índios arara do Alto
Juntá" (Proc. 2708/00, fls. 85/86)38• Por tudo isso, os Arara indicavam lucidamente nessa
carta que a demarcação de uma área própria seria a solução visualizada não somente para
o seu reconhecimento a nível regional mas também para a 'formação de uma
comunidade':
"Povo indígena dezaldeado da etnia Arara Apolirna localizado na margem do rio Amônia e no rio Juruá [ ... ]. Senhor Presidente da Funai estamos precisando muito que essa terra seja identificada e delimitada o mais rápido possível para podermos se juntar e formar uma aldeia pra podermos ter direito em uma escola, contrato de professores, agentes de saúde, transporte com barcos e motores e tudo isso nós precisamos para nossa comunidade quando ela for formada" (Proc. 2708/00, fls. 84; grifos nossos).
.-
Em função dessas reações contrárias, a Administração da FUNAI
expediu a Ordem de Serviço nº 76/ AER RBR, de 29.05.2001, enviando uma comissão
composta pelo servidor Geraldo Carlos Alberto, técnico em indigenismo, pelo índio
Gerson Severino Manchinery ('Chola'), representante da União das Nações Indígenas do
Acre e Sul do Amazonas (UNI/ AC), e por Rosenilda Padilha, representante do CIMI de
Cruzeiro do Sul, para realizar uma reunião de apoio e esclarecimento da comunidade
indígena, a qual veio a ocorrer no dia 03.06.2001. A mesma comissão reuniu-se o
igualmente, no dia seguinte, com os não índios numa das escolas existentes na margem
abrangida pela RESEX no rio Amônia.
58
Processo nO: ~:,-os/a-y Folha nº: 3 S 3 Rubrica: -z1:.. Z T 7 ?""
Após nossa passagem pelo Amônia em junho de 2001, os parceleiros
do INCRA, com o decisivo apoio do sindicato rural, ocuparam no dia 19 do mesmo mês a
Câmara Municipal, exigindo dos representantes legislativos locais e da Prefeitura
Mundpal um posicionamento contrário ao pedido de demarcação de mais uma terra
indígena no rio Amônia. Essa animosidade fez com que o próprio Administrador da AER
Rio Branco se deslocasse àquele rio em 18.07.2001, realizando juntamente com o
representante da UN1/ AC, acima mencionado, urna reunião com os Arara na casa do
l~der político das famílias egressas da área Karnpa .
.-.,. -
... 59
Prccesw n~_3;- !°.f' ~ Folha nº: "38
1 .• ]I ,r; ·--
II. HABITAÇÃO PERMANENTE
g) Localização
,,-
A totalidade das casas habitadas pelos Arara no rio Amônia está
situada, no presente, em terrenos altos junto às margens desse curso d' água. Tanto essa
nítida preferência pelo habitat ribeirinho quanto a arquitetura e os materiais usados em
suas habitações contemporâneas correspondem de modo geral às características das
residências dos demais moradores não índios na região do alto J uruá. Em geral, as casas
arara atuais são construídas sobre pilotis, sendo compostas por uma ou mais 'peças'
('aposentos') justapostas de forma mais ou menos independente, cada qual possuindo
planta baixa retangular (ou quadrada) e telhado de duas águas. Idealmente, a frente da
casa está sempre voltada parr a margem do rio e os fundos para o roçado ou para a
floresta próxima. Para fazer os esteios e pilares são utilizadas madeiras duráveis como
maçaranduba, quariquari, ita4ha e louro. O assoalho é fabricado ordinariamente a partir
do tronco de paxiúba ou pa4ubão, e as paredes a partir do tronco de paxiubinha, cujo
miolo é retirado e a parte externa 'batida' até se tomar flexível e plana o suficiente para
ser estendida. Quando possívJl, essa matéria-prima habitual para a construção de pisos. e
paredes é substituída por táblas de madeira serrada, combinando-se às vezes os dois
tipos de material erri uma única edificação. O telhado é composto, normalmente, por
caibros de envireira que são co~ertos com palhas de jaci, ouricuri ou buriti, observando-se
uma grande predominância I no uso da primeira dessas palmeiras nas residências
indígenas do médio Amônia. Além de pregos, utilizam-se de forma suplementar cipós e
enviras para fixar e amarrar aJ partes necessárias. Enquanto alguns cômodos apresentam
paredes em todos os seus laros, observam-se outros que estão apenas parcialmente
cerrados ou mesmo completamente abertos. Essas peças abertas ou semi-abertas
encontradas nos fundos ou nal lateral das casas são cornumente destinadas ao fogão e à
cozinha ('jirau') (v. também Frttas, 1995:34-51 e Correia, 2001:60).
A construção da casa é uma tarefa masculina, recebendo o homem
por vezes o auxílio de sua mulher, dos filhos maíores e de parentes próximos. A eventual
ajuda desses últimos deve ser retribuída de acordo com o sistema de 'trocar o dia'.
60
:i ..• +L->:\:ad'(, ) --
. Tradicionalmente, a permanência das habitações arara em um determinado local estava
determinada pela facilidade de acesso a roçados produtivos e pela disponibilidade de
caça no entorno; o seu traslado, por fatores relacionados ao distanciamento em rel~çaü a -
outros grupos étnicos, e pela ocorrência de mortes dos membros da família ou da
comunidade, constituindo essa eventualidade motivo suficiente para o abandono do sítio
até então ocupado. Nos últimos decênios, a escolha, a manutenção e a mudança do espaço
de . habitação têm sido determinadas € • preponderantemente em função dos
constrangimentos territoriais impostos pelo contato com outros grupos indígenas e com
os agentes da sociedade nacional.
A rigor, a localização e a ocupação territorial dos grupos familiares
que hoje compõem a comunidade indígena Arara no rio Amônia foram bastante diversas ,, ;dJ até o último terço do século XX. Tendo em vista a multiplicidade de origens étnicas e as
sucessivas mudanças na localização geográfica desses grupos familiares, pode-se dizer
que a sua ocupação territorial adquiriu características homogêneas somente ao longo das
últimas três décadas. Como regra geral, não foram indivíduos ou farru1ias nucleares os
protagonistas dessa mobilidade espacial, mas sim determinadas parentelas que, em razão
de um processo histórico bastante complexo, amalgamaram-se ao longo do século
passado para formar a comunidade indígena atualmente existente. Congruente com á dinâmica dessa conjunção étnica, essas parentelas dispuseram-se em clusters de habitações
que, se não chegam a conformar 'grupos locais' propriamente ditos, são dotados de
suficiente nitidez para serem reconhecidos como ocupadas 'colocações'
predominantemente por tais ou quais fanu1ias .extensas. Assim, embora os Arara do
~ Amônia constituam uma unidade social com laços de parentesco bem definidos no ;,
presente, podemos compreender melhor o seu devir examinando de forma independente
a trajetória histórica dos principais conjuntos familiares que se conjugaram para produzir
a atual configuração étnica. Essas parentelas ou famílias extensas, de qualquer modo, já
não representavam a fração de uma exclusiva sociedade indígena, mas constittúam em si
mesmas o produto da união entre integrantes de grupos étnicos diferentes, inclusive não
indígenas.
i. Amawáka/Koníbo/Kampa
De acordo com o depoimento do senhor José Macedo (115)39,
residiam 'antigamente' no rio Amônia cinco famílias indígenas pouco abaixo do marco <·
internacional Brasilz'Peru. Tratavam-se dos grupos familiares que eram liderados por João
61 ·
' Velho, Calixto, Chico Terônio, pelo Velho Basílio, e por outro índio do qual não conseguiu
se lembrar o nome. Ao que tudo indica, essas famílias eram compostas por índios
/ Amawáka, Koníbo e Kampa, representando não obstante- os 'ascendentes de uma parte
l __ importante das parentelas que atualmente se identificam como Arara no Amônia.
Segundo nosso informante, Calixto teria sido um índio Amawáka e João Velho o pai dos
índi<?s Taumaturgo de Azevedo Dirão (229), Ana Rosa Azevedo (116), Maria Rosa,
Margarida e Madalena"°. Segundo alguns dep6imentos, esse grupo de irmãos e sua mãe,
~aria Anita, teriam sido capturados durante urna correria promovida pelos Kampa
contra os Amawáka. Por sua vez, Chico Terônio e o Velho Basílio foram dois 'irmãos'
Chama (vindo o primeiro do rio Masisea, no Peru) que se casaram, respectivamente, com
Maria Rosa e Ana Rosa, sendo o primeiro pai do índio Odon Rodrigues Alves (232), e o
segundo, pai de José do Basílio (212t'. Margarida (já mencionada anteriormente - v. nota
30), outra das filhas de Maria Anita, viria se casar por sua vez com o Karnpa Pedrilho
Agostinho, passando depois a residir próximo ao marco da fronteira-
Segundo o testemunho prestado pelo próprio Taumaturgo de
Azevedo ao sociólogo Espírito Santo (1985a:3-4), seu pai, cujo nome em português era
João Maria 1e Azevedo, foi um dos primeiros Karnpa naturais do rio Ucayali a se
estabelecer no Amônia. Encontrava-se ele residindo na localidade conhecida como Fogão
de Pedra quando Taumaturgo nasceu, por volta de 1929. Quando tinha cerca de dez anos,
haviam já se mudado para o Remanso, de onde saíram para trabalhar na cidade de
Marechal Thaumaturgo a serviço de um patrão cham.ado Isaque. Em 1947, com a morte de
seu pai na cidade, ele retoma ao Remanso acompanhado por sua mulher, Joana Aldenora
;~} • Pinheiro, índia natural do Amônia, e pelas famílias de sua mãe e de Basílio. No ano que se
seguiu, porém, "um surto de sarampo e hepatite, matou todos os filhos de Taumaturgo, que
enterrando-os no Remanso, retirou-se para as proximidades do igarapé Taboca" (Espírito Santo,
ºP- cit.:57).
José do Basílio, filho do 'velho Basílio' e Ana Rosa, nasceu na
localidade conhecida como Primavera, acima do igarapé Cachoeira, circa 1934. Segundo ele mesmo, o seu avô teria sido um índio 'Arara', e o seu pai, um 'Onça' (Inonauxú.
Posteriormente, José do Basílio se casaria com Maria Mercedes da Silva ('Paixão'), índia
que tinha sido capturada junto com a mãe e a irmã em uma correria promovida nas matas
do alto Juruá por Wilson Batista, morador de Cruzeiro do Sul. 'Paixão' (213), depois, viria
se encontrar com a família de João Azevedo, tendo sido criada por Madalena, irmã de ... Ana Rosa: Ao grupo de Taumaturgo também se juntariam o índio Odon, já referido, que
·- 62
)
f' í=
t:
se casaria com Élida, filha daquele, e a família de Francisco Rodrigues Pinheiro (conhecido
como Kaiarnano Azevedo Chama), casado com a irmã de Odon. Segundo outros, a família
de 'Kaiamano' (122), cujos. r-ais· chamavam-se Luís e Lígia, seria originária da aldeia
Koníbo localizada junto ao lago Imiria, no rio Tarnaya. Uma das filhas de Kaiamano,
Maria Lúcia, se casaria depois com Francisco Penedo Flores, índio natural do rio Amônia,
filho de mãe Santa Rosa e pai Kampa. É a este conjunto de famílias que se refere o
relatório apresentado pelo antropólogo Vogu~l em decorrência da viagem realizada pelo
Amônia em 1978, no qual se menciona também as conseqüências das epidemias que grassavam entre a população indígena:
"Pouco abaixo do Igarapé Taboca vive Taumaturgo, índio Kampa, sobrevivente de uma família numerosã (3 mulheres e mais 18 pessoas entre filhos, afins e netos) que a febre amarela dizimou. Nas proximidades acha-se ainda uma família do Grupo Shama da qual não foi possível obter informações, pois estava ausente, fugindo da epidemia de gripe que grassava na região" (Seeger & Vogue!, 1978:19).
Outra importante parentela indígena associada a esse mesmo grupo
de famílias teve origem com a união entre um homem, possivelmente 'caboclo', chamado
Hermógenes (Macedo), vindo do Estado da Bahia", e uma índia, possivelmente
Amawáka (i.e., 'Arara', como nos foi dito), ou Chama, como afirma Espírito Santo (op. cit.),
chamada Maria Cassimira, originária do próprio rio Amônia. Dos sete filhos tidos pelo
casal, três permaneceram no Amônia, tratando-se de José Macedo, já citado, e suas irmãs r , :ic. \ . { '\~J
[osefà Jvíacedo e Maria Avelino Macedo (74). José Macedo nasceu na colocação
Assembléia (médio Amônia), criando-se no igarapé Jacamim (baixo Amônia, onde nasceu
sua irmã Maria). Depois, seguiu com a família para o chamado estirão da Cigana, próximo ~~\ {.~~- ii.'\) ,
ao igarapé Cachoeira (onde nasceu sua filha~: de onde saíram por conta de
uma epidemia (de str~mpo?). Passaram então à foz do igarapé Taboca (alto Amônia), \ t ,- -t\.,- {{, 1,1/l )
onde nasceu seu filho Francisco (124), estabelecendo-se em seguida na colocação chamada
Bandeira e, por fim, no Remanso, local que deixaram em decorrência da pressão exercida
pelos Kampa há cerca de dez anos atrás, vindo desde então se fixar novamente na
Assembléia. José Macedo viria se casar com Ana Rosa Azevedo após a mesma se tornar
viúva do primeiro marido, o Velho Basílio. Posteriormente, a filha de José do Basílio,
Isaura, se casaria com o filho de José Macedo, Francisco (cuja mãe teria sido Madalena
Azevedo, irmã de Ta~:_.~go e Ana Rosa que -'3~ mudou depois para o Peru). Julieta,
filha igualmente de ~J viria se casar de sua parle com o não índio Antônio
Moreira Barbosa ('Major'). Raimundo, outro filho de pai Kampa e mãe Chama, que era
(, l
63
-- Processo n°: 2 !:fe> g fo--:> Folha rf: 3 8 g Rubrica:_ t Í - / m
sobrinho de Taumaturgo, também se encontrava junto ao grupo, sendo casado com Dora,
filha de criação do não índio chamado Fausto Bezerra.
'"- w
Em 1985, por ocasião dos trabalhos de identificação e delimitação da
TI Kampa do Rio Amônea, o GT locjll~zoJ nas imediações da foz do igarapé Taboca as
casas de TaurrukJt\ó) Azevedo, Jo'sé\ \ ~acedo, Júlio Guerra (225), Réii~~do, José
Valdivino, e Antônio Avelino. Logo abaixo, em direção ao igarapé Banana Roxa, seguiam- . ( 11. '-l \ ( 'l,ll •. )
se as casas de Francisco Penedo Flores, Francisco Rodrigues, Francisco Macedo, Jose do nii1
Basílio, Sabino Valdivino Batista, Major (134a) e Odon. "Taumaturgo é um Curaca entre os
índios da parte baixa da área, da foz do igarapé Taboca até o igarapé Artur onde termina a área [ ... Ele] se declara Curaca desse grupo, onde abriga índios Xama, Santa Rosa, sua família com algumas
filhas casadas com branco, sobrinhos, Kampas etc." (Espírito Santo, op. cit.:39). Atualmente,
essas famílias encontram-se instaladas de forma predominante nas colocações Assembléia
e Jacamirn, no médio e baixo Amônia, respectivamente, e Pedreira, à margem direita do
Juruá.
ii. Santa Rosa/Kampa
Outra grande parentela que se reconhece no presente como Arara no
rio Amônia foi formada a partir da união entre o 'Velho Avelino', índio Santa Rosa, e Júlia
Forquilha, índia Karnpa. Como outros Saniarosinos (Quijo), o velho Avelino estabeleceu-se
temporariamente no rio Breu, de onde saiu após a morte de sua esposa (um de seus filhos,
Antônio Avelino, teria nascido em São João do Breu por volta de 1917), descendo o Juruá
para se instalar em seguida no Amônia. Depois de morar durante certo tempo no
'-) Remanso (aonde foi residir Maria Avelino Macedo ao se casar com Antônio Avelino), o
velho Avelino se transferiu para o Bandeira e, logo, para as proximidades do igarapé
Montevideu, onde veio a falecer". Quando Voguei passou pelo Amônia, esses índios
encontravam-se a meio caminho entre o Remanso e o igarapé Taboca, registrando o seu
relatório o fato de outras famílias Santa Rosa terem deixado esse rio em direção ao
território peruano fugindo da incidência de epidemias:
"Mais ou menos a meio caminho entre o Remanso e o Igarapé Taboca, encontramos ( ... ) a única família remanescente dos caboclos Santa Rosa, outrora numerosos na região. Em décadas passadas, uma epidemia de sarampo dizimou-os, levando-os a abandonar o Amônea de onde partiram em demanda do território peruano" (Seeger & Voguel, op. cit.:19).
Poucos anos depois, o GT de identificação e delimitação da área
Kampa do Amônia verificou a presença dos Santa Rosa nas proximidades do igarapé
64
Taboca.ionde continuava morando a família ?e Antônio Avelino, e pouco abaixo da foz do igarapé Montevidéu, à jusante, onde estava a família de Maria Amélia Gomes
('Chiquinha' [26]), igualmente filha do velho Avelino:
"Esta última colocação do seringa! Minas Gerais, denominada Montivideo, está ocupada por 04 famílias-de índios, resultado da miscegenação, Kaxinawa, Santa Rosa e branco. Estas famílias, como estão na área de borracha, ficaram fora da área Kampa delimitada, porque os Kampa não têm interesse na área de seringai e nem se dão com estas famílias" (Espírito Santo, op. cit.:25-26).
Embora o casal fundador dessa parentela fosse formado por um
homem Santa Rosa e uma mulher Kampa, a utilização da língua desse último grupo foi
aparentemente descontinuada por seus descendentes. O contraste entre a utilização da
língua Kampa no alto curso do Amônia e do português na parte baixa desse rio foi
registrado no relatório de identificação da área Kampa, no qual se afirma serem os que
residiam entre o Revoltoso e o igarapé do Artur, também nesse aspecto, "diferenciados
daqueles mais isolados pela distância, das proximidades da foz do Amoninha até o marco
Peru/Brasil" (Ibidem:32). De todo modo, um dos filhos de Maria Macedo e Antônio Avelino
viria se casar com uma índia (84) aparentada aos Kampa da aldeia Sawawo, que se
localiza no curso peruano do Amônia. No presente, as diversas famílias nucleares com
ascendência Santa Rosa predominam nas colocações Montevidéu, Tetéu (jusante) e
Palmário.
iii. Arara/Jamináwa/Kaxinawá
A maioria das famílias Arara (senão a totalidade delas) que, por
meio de sucessivos deslocamentos, ocupou o Amônia durante a segunda metade do
século XX tinha como ponto de origem a bacia do rio Tejo. Regionalmente, os habitantes
nativos do Tejo e de seu afluente Bagé são conhecidos como [amináwa-Arara, razão pela
qual algumas das pessoas aqui consideradas também foram chamadas de [arnináwa em
documentos administrativos anteriores da FUNAI. De qualquer modo, conforme um
relatório apresentado por Espírito Santo, embora quase sempre houvesse algum tipo de
ascendência Jamináwa, a auto-identificação mais freqüente desses índios seria Arara
(Shawanaua):
,.....
-~ ,. "Os chamados Jaminawa/ Arara constituem grupos esparsos, localizados na região do alto juruá, originários do cruzamento de índios Arara (Shawanauá) e Jaminawa (Shaindaua) { ... ]. Seeger denomina estes índios de Jaminawa/ Arara, porém auto-denominam-se Arara
- · 65
(Shawanauá). Evidente que na composição do grupo, sempre há urna descendência Jaminawa, que toma necessário um estudo _ para saber de qual geração vem esta descendência, como também os critérios que definem a auto-identificação Arara ] ... ]. Não há como precisar o encontro dos Jaminawa e Arara, mas vem desde tempos imemoriais, quando tinham como inimigo comum, os Kaxinawá, que promoviam constantes ataques para rapto de mulheres" (Espírito Santo, 198Sb:2-3).
A referência à inimizade com os Kaxinawá, contida no final do
trecho acima transcrito, é bastante peculiar. D~ fato, ela pode ser entendida também como
uma oposição entre duas frações da sociedade Arara no rio Tejo: a primeira, que se
associaria ao subgrupo Jamináwa denominado Sainâioa (ou Shaindaua), vivia então
predominantemente no rio Bagé (afluente direito do Tejo), sendo liderada pelo índio
Crispim; a segunda, que se associaria aos Kaxinawá, ocupava o igarapé Dourado, outro
afluente do rio Tejo. Os integrantes deste segundo grupo "estavam localizados parte no alto
do igarapé Dourado (Kaxinaioá), colocação California, e parte na foz do igarapé Moreira, afluente
do Dourado, na colocação Viena (Arara)" (lbid.:4). Deveras, Seeger registrou a presença dos
irmãos Antônio Siqueira e (Se)bastião Siqueira (respectivamente casados com Maria e
Iraci) na colocação Califórnia; do casal formado por Sabino e Nadir (com seus sete filhos,
alguns casados) na colocação Beira Alto; e da família de (Raimundo) Crispim na colocação
Viena (cf. Seeger & Voguel, op. cit.:22-e). Através do relatório de identificação e
delimitação da terra indígena Jamináwa/ Arara do Rio Bagé, somos informados de que as
três dezenas de índios existentes na colocação Viena eram liderados por Raimundo
Crispim (filho do velho Crispim}, o qual era casado com Maria Nazaré, filha de um
homem Kaxinawá e uma mulher Arara. Entre as 27 pessoas existentes na colocação
Califórnia, registrava-se a presença do Kaxinawá Valdemar Valdivino e dos irmãos
Antônio e Sebastião Siqueira (filhos de homem Kaxinawá e mulher Arara), estes últimos
casados respectivamente com mulheres Jamináwa e Kaxinawá (cf. Espírito Santo, op. cit.A-
5).
Conforme o testemunho prestado por dona Ilda Siqueira de Lima
(157), seu pai era um índio Jamináwa chamado José Siqueira de Lima, e sua mãe uma
índia Arara chamada Maria. Ilda nasceu no igarapé Dourado (afluente do Tejo), onde
viveu com seus irmãos Albertino, Valdir, Nadir e Jorgina Siqueira de Lima. Deixando o
igarapé Dourado, casou-se inicialmente com o não índio chamado Antônio Gomes de
Oliveira (com quem teve os filhos Antônio Gomes [62}, Eduardo Gomes [195], Raimunda
[40], Getúlio e Antonilda), mudando-se com o marido e sua família para o seringai Porto
Alegre, situado pouco abaixo da cidade de Porto Walter. Permaneceram neste local por
aproximadamente dezessete anos, após o que retomaram para o alto Juruá, instalando-se
- 66
l [. l- l
~ \.
1 no interior do Amônia em meados da década de 1960. Nesse rio, sua irmã Jorgina casou
se com o também não índio Fausto Alves Bezerra, vindo a ter os filhos Francisco Siqueira
(153), Antônio Siqueira (59), Francisca das Chagas (125) e Maria do Socorro (19), entre
outros. Por ocasião do levantamento fundiário da TI Kampa do Rio Amônea realizado em
1985, Fausto Bezerra foi cadastrado corno ocupante não índio da área delimitada,
retir_ando-se da mesma após ter sido indenizado, como os demais, em 1991. É possível que
as rusgas com os Kampa, entre outros fatores, tenham estimulado a identificação dessa
f~ia nuclear corno não indígena naquela ocasião. De qualquer forma, já então se
reconhecia a existência de laços de parentesco bastante próximos entre essa família e os
'Kampa não tradicionais' e outros 'caboclos', fato apontado no relatório que propôs a
demarcação daquela terra indígena. Segundo este documento, Fausto II estava tendo
~) problemas com os índios da maloca do Pedrilho", pois considerava como sua a área em que
alguns Kampa tinham se estabelecido:
"O Fausto não gostou do local onde fizeram a roça e não gosta que o Pedrinho (filho de Pedrilho) cace com cachorros porque espanta a caça ] ... ]. Fausto é o ocupante mais avançado para dentro do rio, e tem como companheira uma cabocla Jaminawa; e uma filha casada com um Kampa, daqueles como o Taumaturgo, Margarida e outros, que não usam Kusma e têm uma apresentação diferenciada dos Kampa tradicionais. Porém na nossa passagem, o Fausto já estava disposto a sair. Estava fazendo um negócio com um Kampa em troca de suas benfeitorias. A situação era de irritação mútua, tanto o Fausto como os índios, reclamavam e os índios pediram a saída do Fausto. Fato curioso é que já o Taumaturgo, nosso informante, não se dava com os índios da maloca do Pedrilho, especificamente com o filho, o Pedrinho. Ficava conosco mas desaparecia em busca de alimento na casa de Fausto, onde passava o tempo. Frequentava comumente a casa dos parentes, por parte da irmã (casada com Pedrilho) evitando a casa do Pedrinho" (Espírito Santo, 1985a:ll).
Após a saída de Jorgina e Fausto do Amônia, uma parte dos filhos
do casal permaneceu neste rio, passando a ser 'criada' por Ilda Siqueira. Urna outra irmã
desta, Nadir Siqueira, casou-se com Sabino Valdivino Batista quando ainda viviam no
igarapé Dourado, sendo indicada a presença dessa família na colocação Beira Alto, como
dito acima, em 1978. De acordo com o relatório de Seeger & Voguel (Op. cit.:22-e), Sabino
Batista seria índio Kaxinawá; conforme o relatório de Espírito Santo (Op. cít.:24), seria
filho de pai Kulína e mãe Jamináwa nascido no Tejo (sendo sua esposa Nadir identificada
no mesmo documento como Jamináwa nascida no Bagé, e seu filho José Valdivino Batista,
como fruto de pai Kulína e mãe Kaxinawá natural do Tejo). Diversamente, segundo o
testemunho de seu filho, Francisco Valdivino Batista (33), Sabino seria pertencente ao
grupo Katukína. Como já observado acima, por ocasião da identificação da área Kampa as
farru1ias que compunham a parentela de Sabino e Nadir estavam estabelecidas nas
67
processo nº: z+os/a.:z> Fo\ha nº:_ ? e"J 2 : Rubdca:]!;_ E
/ proximidades da foz do igarapé Taboca e no trecho do Amônia imediatamente à jusante.
Um outro filho desse casal, Paulito Valdivino Batista (281), casou-se com Laurinda
Azevedo Pinheiro (282), filha de I<..aiarnano, residindo em várias colocações no interior do
rio Amônia até se estabelecer provisoriamente em meados da década de 1990 na 'área do
61º BIS', próximo ao igarapé Jacamim, onde foram encontrados em junho de 2000 pela
FUi'-!Al (cf. Leão, 2000). Depois disso, deslocaram-se para junto de 'parentes' na TI
Jamináwa do Igarapé Preto, possuindo contudo a intenção, segundo nos foi dito, de r~tomar ao Amônia tão logo que possível.
Por fim, outro dos irmãos de dona Ilda, Albertino Siqueira de Lima,
veio se casar com uma mulher não índia, mudando-se do rio Tejo para o Amônia por
volta de 1970 (segundo se pode depreender correlacionando a idade e o local de
nascimento de seus filhos, cf. Espírito Santo, op. cit.:26). De acordo com o relatório de
identificação da área Kampa, Albertino Siqueira seria Kaxinawá; segundo o testemunho
de sua família, seria filho de pai 'cearense' e mãe 'cabocla'. Em 1985, essa parentela
habitava o trecho do Amônia imediatamente abaixo da foz do igarapé Montevidéu,
residindo portanto na área contígua aos limites definidos pelo GT para a área Karnpa.
Atualmente, a viúva (Maria de Lima [173a]) e os filhos de Albertino (Bernaldo [158],
Arnaldo [161], Reinaldo [167], e Geraldo [174), entre outros) residem no trecho do Amônia
logo acima da confluência com o igarapé Timoteu. As demais famílias que compõem a
parentela Arara (strictu scnsu) atualmente estabelecida no Amônia residem
majoritariamente nas colocações Montevidéu, Tetéu (montante), Assembléia e Timoteu
(jusante)",
h) População
Considerando a diversidade étnica de origem e a relativa freqüência
de alianças matrimoniais entre indivíduos pertencentes a grupos indígenas distintos, bem
como entre estes e não índios, a definição precisa dos limites daquilo que podemos
entender como a 'comunidade indígena Arara' (lato ::ensu) do rio Amônia representa uma
tarefa bastante complexa. Os critérios determinantes para a consideração de alguém como
'pertencente' ou 'não pertencente' à 'comunidade indígena' são aplicados, em geral, de
- 68
- O• 2,-=j-D&/~
processo o·- °? '13 - F~\:::~:- =; ~ -
R~~- 7 forma ampla e não rigorosa. Em princípio, são relevantes para esse julgamento quaisquer
laços de parentesco (consangüíneos e afins) invocados entre um dado indivíduo e os
-.·_·.m~mbros das fanu1ias que compõem o core dessa comunidade. O levantamento
demográfico que apresentamos como Anexo 3 procurou seguir as indicações das próprias
lideranças indígenas com respeito aos integrantes da comunidade Arara no Amônia,
refle~indo de modo genérico essa fórmula básica, ancorada no parentesco, para a
adscrição da identidade indígena. Contudo, éssa presunção de pertença à comunidade
indígena que decorre da simples existência de relações de parentesco deve ser confirmada
suplementarmente por um certo grau de efetiva unidade político-social, que se traduz
através da manutenção de relações sociais significativas e por um projeto político comum.
Deste modo, enquanto os dados básicos consignados no levantamento demográfico e -:,,
k} resumidos abaixo refletem essa concepção 'nativa' de amplo pertencimento vía parentesco
bilateral (seguindo a ind.icasão das próprias lideranças Arara, como já dito), na discussão
que se segue procuramos comentar, tanto quanto nos foi possível apreender, a medida de
participação social e política de cada parentela ou familia extensa no conjunto da
'comunidade Arara'.
Quadro I: População Arara do Rio Amônia (2001) (por sexo e idade)
SEXO HOMENS MULHERES SUBTOTAL º/o FAIXA ETÁRIA
0-4 26 32 58 24,6 5-9· 30 15 45 19,1
10-14 13 17 30 12,7 15-19 18 13 31 13,1 20-24 17 8 25 10,6 25-29 4 11 15 6,3 30-34 6 2 8 3,4 35-39 1 1 2 0,8 40-44 3 - 3 1,3 45-49 2 3 5 2,1 50-54 - 1 1 0,4 55-59 2 1 3 1,3 60-> 4 4 8 3,4
si informação 1 1 2 0,8 TOTAL 127 109 236 100
De acordo com o levantamento demográfico que procedemos em
2001, há urna população de 236 indivíduos que são identificados como pertencentes à
comunidade Arara estabelecida nesse rio. Desse· total, 53,8% são do sexo masculino e
46,2% do sexo feminino, proporção que reflete um certo equilíbrio entre os gêneros. Mais
69
da metade dessa população (56,4%) é constituída por pessoas com menos de 15 anos e
somente 12,7% do total possuem mais de 30 anos. Se, num extremo do gradiente etário,
quase 44% do total é constituído por crianças com menos de 10 anos, na outra
extremidade os adultos com mais de 50 anos representam pouco mais de 5% do universo
considerado. Essa população se distribui por 41 casas, das quais 26 se localizam na
mar~em esquerda do rio Amônia, 13 na margem direita do mesmo rio, e 2 na margem
direita do Juruá. Pelos dados levantados, registramos em média a presença de 5,7
habitantes por residência. Essas residências não se dispõem uniformemente ao longo das
margens do Amônia, mas se sucedem, com intervalos, em conjuntos de habitações
relativamente próximas umas das outras (v. Anexo 10) que, na falta de um termo melhor,
chamamos de 'colocações' neste relatório. Há pelo menos nove colocações no rio Amônia
(a saber, de montante para jusante: Montevidéu, Tetéu [montante], Tetéu [jusante],
Palmário, Assembléia, Timoteu [montante], Timoteu {jusante], Nova Minas, e Jacamim), e
uma na margem do rio J uruá (Pedreira), que são ocupadas por integrantes da
comunidade Arara. A divisão e o nome dessas colocações representam um meio termo
entre as informações fornecidas pelos Arara e nossa própria percepção de sua distribuição
espacial, relacionando-se principalmente aos igarapés afluentes do Amônia (caso de
Montevidéu, Tetéu, Timoteu e Jacamim).
Quadro II: População Arara do Rio Amônia (2001) ) (por corocaçao,
COLOCAÇÃO CASAS HABITANTES Montevidéu 6 39 Tetéu (montante) 6 19 Tetéu (jusante) 5 46 Palrnário 2 10 Assembléia 7 44 Timoteu (montante) 5 24 Timoteu (jusante) 4 15 Nova Minas 1 7 Jacamim 3 24 Pedreira 2 8 TOTAL 41 236
Como se pode perceber, as colocações mais populosas são as
denorrúnadas Tetéu (jusante) e Assembléia, seguidas pelas chamadas Montevidéu e
Timoteu (jusante). Observamos de qualquer forma que os dados acima não incluem um
conjunto de quatorze casas ou tapiris cuja construção foi iniciada na colocação Assembléia {'
no período intermediário entre as viagens que realizamos ao Amônia em 2001 e 2002 .
. - ~- 70
.- - Processo n°: 2 +oJ' /~
Folha nº: 3 "7-i- Rubrica: d::. ( F / ... ..,
Segundo nos foi dito, essas casas, quando prontas; seriam ocupadas pelos atuais
moradores da colocação Jacamim (situada na 'área do 61° BIS') e outros da própria
Assembléia, constituindo o primeiro passo para a formação de uma 'aldeia arara' no local.
No que se segue, procuraremos comentar brevemente a composição social e familiar de
cada uma dessas colocações.
(
1. Montevidéu
.~
Das seis residências encontradas na colocação Montevidéu, três são
ocupadas por integrantes da parentela de Maria Amélia Forquilha de Souza ('Çhiquinha'),
filha do velho Avelino (Santa Rosa). Uma outra é chefiada por Francisco Batista (filho de
pai Kaxinawá e mãe Arara, nascido no rio Tejo), e as duas restantes habitadas por uma
filha (19) e um neto (1) de Ilda Siqueira de Lima (Arara). A parentela de D. Chiquinha
encontra-se nesse mesmo local há pelo menos meio século, havendo nas proximidades de
sua casa, à jusante, um importante cemitério onde estão enterrados muitos 'índios
antigos'. De acordo com ela, o local é bem visível pela quantidade de túmulos e pelo
costume de sinalizar tal sítio com garrafas de vidro. Em 2001/02, um dos filhos de
Chiquinha que ali morava, Josimar (9), estava em processo de mudança dessa colocação
para um local próximo ao igarapé Timoteu, à jusante.
A própria D. Chiquinha casou-se com um não índio (25a),
possuindo pelo menos um filho (6) e uma filha (29) que também se casaram com não
índios (6a e 32a). Do mesmo modo, a mulher (33~) de Francisco Batista é não índia, assim
t:_Tu,, como o marido (18a) da filha de D. Ilda aí residente. Embora tenhamos registrado a ., v
-
mulher (2) do neto de D. Ilda como indígena, baseando-nos para isso em sua própria
declaração, corroborada pelas lideranças que nos acompanhavam ('ela tem parte caboclo'),
não houve uma identificação positiva de seu pai (Sa) como tal, estando o mesmo ausente
da região quando de nossa passagem pelo Amônia 45• Deste modo, das seis residências da
'comunidade Arara' existentes na colocação Montevidéu, quatro (II, IV, V, e VI) são
formadas por casais em que um dos cônjuges é não índio. Apesar desse fato, excetuada a
casa I, parece existir uma boa integração dessas famílias com o restante da comunidade
Arara, com quem partilham, de modo geral, projetos políticos e relações sociais que se
traduzem em visitas mais ou menos freqüentes e participação em eventos festivos .
.-
-
. - 71
Processo nl>: 2 '?-.o ,g ~ Folha nº: 3 f ..b Rubrica: :l!:_..,...,..__ -~:
2. Tetéu (montante)
Das seis residências que compõem a colocação por nós denominada
Tetéu (montante), três fazem parte da parentela de Maria Raimunda (40), filha de D. Ilda Siqueira, tendo ela mesma e um de seus filhos ( 48) se casado com não índios. Outra das
filhas de Raimunda casou-se com um jovem (43) cujo avô era 'caboclo' do seringai Flora,
situado no rio Grajaú. Uma_ outra filha de Raimunda, Jogleide de Oliveira Almeida, é
,--..
.,,- casada __ com o índio Axéninka Francisco Pianko, residindo normalmente na aldeia
~E~".:?<ª46- Outras duas residências da colocação Tetéu (montante) são ocupadas pelas
_ famílias de um filho e de um enteado de D. Ilda, Antônio Gomes (62) e Antônio Siqueira
(59), respectivamente, casando-se ambos com mulheres não índias (59a e 62a), que são
irmãs entre si. A outra residência dessa colocação é ocupada por uma das filhas (52) de D.
Chiquinha, a qual por sua vez também se casou com um não índio (51a). Deste modo, das
seis residências desta colocação, cinco são ocupadas por casais em que um dos cônjuges é
não índio.
Segundo conseguimos perceber, existe em princípio uma ótima
participação dos membros da casa XII nas atividades promovidas no âmbito da
comunidade Arara, havendo também uma boa aceitação dessas atividades por parte dos
membros das casas XI e X, embora com um grau de participação bem menor. Por outro
lado, ainda que as casas VII, VIII e IX constituam a parentela de urna das.filhas de D_ Ilda,
seus integrantes mantêm um visível distanciamento em relação ao restante da,
comunidade indígena, o que ocorre principalmente por conta da influência de Antônio l
-
'Bravo' (39a). Este e seus filhos Macildo (48) e Macivaldo (1) têm mantido a exploração
madeireira como uma de suas principais atividades de subsistência, possuindo essa
família extensa mais de um 'batelão' usado nessa atividade. Quando por lá passamos em
2002, os filhos de 'Bravo' esta_vam em viagem pela região do alto Juruá, retirando madeira
sob encomenda - dizia-se- da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo. Por conta
disso, 'Bravo' possui um padrão de subsistência econômica superior ao de seus vizinhos
imediatos, possuindo bens corno geradores de energia, televisão e outros que são
inacessíveis à maioria dos demais integrantes da comunidade Arara no Amônia. Devido a
esses fatores, e frustrando os compromissos étnicos de sua esposa, há uma resistência
muitas vezes aberta das famílias sob influência de 'Bravo' à proposta de demarcação ou à
participação em outras atividades da comunidade Arara.
72 .--
Processo nº:. 2-=to 8 /:>,o_ Folha nº: 3 '1 :'.1-
Rutxka; ~
3. Tetéu (jusante}
Das cinco residências que compõem a colocação Tetéu (jusante),
quatro (XIII, XIV, XV, e XVI) são ocupadas pela parentela de Maria Avelirio-M~céãô e a
última (XVIl) pela família de um dos netos de D_ Ilda, filho de Antônio Gomes. Com
exceção dessa última, em que a cônjuge é não índia, as demais famílias dessa colocação
possuem uma identidade social indígena (particularmente Santa Rosa) bastante marcada,
sendo 'Preto' (82) um grande tocador de 'pifr' (flauta) nas festas arara do Amônia. Outro
dos irmãos dessa parentela, 'Zeca' (92), desempenhou a representação política dos Arara
do Amônia por ocasião do seminário indígena e da assembléia da OPIRJ realizados em
Cruzeiro do Sul nos dias 17 e 18-04-2002. José Ângelo (83), outro dos irmãos do mesmo
grupo familiar, é casado com uma índia proveniente da al~~-S..g:w_awo, formada pelos
Kampa no trecho do Amônia pouco acima da fronteira internacional". Por paradoxal que
pareça, em razão de saber confeccionar peças de cerâmica e outros tipos de adornos e
artesanato da cultura material axéninka, Amélia (84) possui também um papel singular na
construção de uma identidade indígena para os Arara do Amônia. Além dela, encontramos
também outra índia Kampa e seu filho (Matxao e Txengui) entre as famílias dessa
colocação quando de nossa primeira visita à região em 2001. Na casa de Maria Avelino
Macedo, mostraram-nos urna relíquia familiar, representada por um antiquíssimo
pequeno machado de pedra, já gasto pelo uso, que seria uma herança dos 'antigos'.
4. Palmário
As duas casas indígenas .localizadas na colocação Palmário são
f;/\ habitadas pelas farru1ias de Eduardo (105), também filho de Maria Avelino Macedo, e ' ·:f
Francisco (113), filho por sua vez do anterior. Ao contrário dos demais integrantes da
mesma parentela que vivem na colocação Tetéu (jusante), Eduardo e seu filho são
casados, ambos, com mulheres não indígenas. Porém, esse fato, aparentemente, interfere
de forma relativa na articulação sócio-política de suas famílias nucleares com o restante da
parentela situada à montante, da qual se destacam principalmente em razão da distância
geográfica.
5. Assembléia
Das sete residências indígenas que consideramos na colocação
Assembléia, quatro são ocupadas pela família extensa de José Macedo, uma é ocupada
pela farrúli~ de Kaiamano, outra pela família de uma filha (146) de José do Basílio, e a
- 73
última por D. Ilda Siqueira de Lima, junto à qual vive seu sobrinho/enteado Francisco
Siqueira (153), atual líder político dos Arara no rio Amônia. Como já dito acima, José
Macedo nasceu nesse mesmo local há aproximadamente setenta anos atrás, voltando a
residir nessa colocação desde que deixou o Remanso após a demarcação da área Kampa.
Em frente à sua residência, na margem oposta do Amônia, se encontra a casa de sua filha,
Julieta; pouco à jusante, na margem esquerda, está a residência de seu filho, Francisco
('Nego'), casado com uma sobrinha/ enteada (125) de D. Ilda. Vivem junto à Julieta, que é
casada com um não índio, duas filhas que são igualmente casadas com não índios.
Encontram-se nas proximidades dessa casa as residências de outros dois filhos (144 e 252)
de Julieta, também casados com cônjuges não indígenas. Francisco Siqueira é, do mesmo
modo, casado com cônjuge não indígena, sendo a mesma professora da escola situada em
frente à sua residência, na margem oposta do Amônia.
De certa forma, a colocação Assembléia vem desempenhando o
papel de centro político para as famílias Arara do Amônia. Aí são realizadas a maioria das
festas e, como já observamos, é também o sítio onde se pretende erigir a 'aldeia' (através
de um processo de concentração espacial da população em grande parte similar ao
ocorrido para a formação da aldeia Apiwtxa). Aí também estão três dos falantes nativos
com maior domínio e competência na expressão de dialetos Pano (Ana Rosa [116], 'Nego'
[124], e 'Kaiamano' [122]), e três dos velhos que detêm maior conhecimento da história e
tradições indígenas (josé Macedo [115], Ana Rosa [116], e Ilda [157}). De fato, D. Ana Rosa
é, assim como 'Paixão' (213), uma das poucas integrantes da comunidade Arara que ainda
se recordam dos cantos nativos Pano do rio Amônia.
6. Timoteu (montante)
A colocação Timoteu (montante) é constituída por cinco residências
de integrantes da comunidade Arara, todas elas ocupadas pela parentela de Maria de
Lima (173a). Os dois filhos mais velhos, Bemaldo (158) e Geraldo (174), já enviuvaram ou
não vivem mais com suas respectivas esposas. Outro integrante desse grupo de irmãos,
Arnaldo (161), nos disse que nasceu nas proximidades do igarapé Cachoeira, afluente da
margem direita do alto Amônia, o que diverge do que afirma Espírito Santo (1985a:26).
--. Reinaldo (167), também irmão dos anteriores, é casado com uma das filhas de João
Sebádio (v. adiante, coloc_~ção Nova Minas), enquanto sua própria filha, Marinilsa (180), é
casada com Francisco da Costa (179). Este último tinha chegado ao.Amônia há apenas oito
meses, proveniente do igarapé Triunfo, afluente da margem esquerda do Juruá à jusante
74
.. ·--..-.
r:
r .::,. •.... ·,-; =»
2 -:,.Og /o-0 Folha nº: 5 '1 l "' Rubrica: ef: ~-
/
da cidade de Thaumaturgo. Francisco criou-se naquele igarapé, onde mora o pai, que é
Processo n°:
primo do Kaxinawá chamado Manoel Paulo, o qual vive com cerca de cinco famílias,
também Kaxinawá, na foz do Triunfo~ª. Maria de Fátima, outra das filhas de Maria de
Lima e do falecido Albertino, é casada com um não índio chamado Francisco Josimar.
Apesar da proximidade genealógica, as familias que habitam essa colocação mantêm um
certo alheamento sócio-político em relação aos demais Arara do Amônia, pouco
participando, por exemplo, das festas e reuniões por estes promovidas.
7. Timoteu (jusante)
Das quatro residências Arara existentes na colocação Timoteu
(jusante), três são ocupadas pela família extensa de Eduardo Gomes (195) e a outra é
ocupada pela fanúlia nuclear de uma filha (183) de Maria de Lima (v. acima, colocação
Timoteu [montante]), Embora 'Preto' (182a), seu cônjuge, seja não índio, mantém uma boa
integração com a farru1ia extensa de Eduardo, participando em conjunto com os membros
desta nas atividades que dizem respeito à comunidade Arara. Eduardo, por sua vez, é
também casado com esposa não índia, assim como é não índio o marido de sua filha
Edilene (192). Por sua vez, a cônjuge de Edilson (188), outro de seus filhos que possui
residência na mesma colocação, é filha de Eduardo Avelino (105) e de mãe não índia.
Ao que parece, Eduardo Gomes cultiva relações bastante próximas
com os demais irmãos, ainda que sujeitas a certa instabilidade ocasional. Sua atitude em
relação à reivindicação territorial Arara no Amônia pode ser, no entanto, caracterizada
como ambígua. Como dito acima, Eduardo foi o_ último dos integrantes da comunidade
Arara a deixar os limites da TI Kampa do Rio Amônea. Justamente, as atividades de
exploração madeireira e caça com fins comerciais por ele e seus parentes desenvolvidas
nos afluentes do alto Amônia é que teriam, em alguma medida, fomentado o
descontentamento dos Kampa em relação aos Arara e a oposição aberta entre os dois
grupos. É possível que a rivalidade daí surgida, tanto como o natural apoio ao projeto
etno-polítíco do restante de sua parentela, explique o interesse e o empenho por ele
demonstrados em acompanhar e apoiar os trabalhos de campo deste GT em 2001/2002. A
demarcação de urna área para os Arara no Amônia, contígua à área Kampa, seria vista
como uma espécie de compensação ou reparação ao fato de terem sido retirados da terra
indígena situada à montante. Por outro lado, desde que deixou o Remanso e se tornou
parceleiro no projeto de assentamento do INCRA, Eduardo logrou estabelecer trm sítio .~ relativamente próspero no local onde se encontra atualmente, também conhecido 'sob a
.75
Processo nº: Z.'::1- og /g--o t{({)-o .- -a
denominação de 'Quieto'. Desde que ali se instalou, abriu pastagens e plantou fruteiras,
erigindo no local cercas e casas de tábua serrada. Ele e seus filhos também possuem pelo
menos duas casas na própria cidade de Marechal Thaumaturgo. Destarte, ainda que tal
fato em nenhum momento tenha sido formalmente explicitado, é improvável que
Eduardo e sua família venham a deixar a colocação atualmente ocupada para se instalar
numa futura TI Arara do Amônia cujos lirrútes venham a ser estabelecidos no trecho
acima de onde reside. <'
8. Nova Minas
Para ser preciso, há na colocação Nova Minas duas casas que
poderiam ser ditas ocupadas por pessoas com putativa ascendência indígena. Entretanto,
.kj uma delas é habitada apenas por um indivíduo, João da Silva e Souza ('Sebádio' (257]), o
qual se recusa a ser considerado como parte da comunidade indígena. A outra casa,
vizinha, é ocupada pela família de seu filho (199), cuja esposa (200), por sua vez, é filha de
Maria de Lima e do falecido Albertino Siqueira de Lima (v. colocação Timoteu [montante],
supra:74). Ao contrário de seu pai, Francisco (200) pode concordar eventualmente em ser
considerado 'parte' da comunidade Arara. De acordo com o próprio João "Sebádio', seu
pai seria um brasileiro do rio Purus e sua mãe boliviana; segundo outros, ele seria wn
Kampa serrano (em oposição à ribeirinho). Nascido, como afirma, no igarapé Acuriá,
afluente da margem direita do Juruá à montante da cidade de Thaumaturgo, teria
primeiramente viajado ao Peru para depois, por volta de 1949, se instalar no Amônia. As
relações entre ele e o restante da comunidade Arara poderiam ser caracterizadas como de
oposição; a da farru1ia de seu filho, como distanciadas do ponto de vista social e próximas
genealogicamente.
9. Jacamim
As três residências indígenas existentes na colocação Jacamim são
ocupadas pela família extensa de José do Basílio (212). Essas são as casas que se localizam
na chamada 'área do 61º BIS' e também as mais próximas à sede municipal de Marechal
Thaumaturgo (cerca de quinze minutos subindo o Amônia em motor 'rabeta'). A profusão
do sobrenome Chama nessa farrúlia parece indicar que se trata do principal grupo com
ascendência Koníbo entre os Arara atuais do Amônia. Até meados do ano 2000, também
se achavam no mesmo local a farru1ia de Paulito Valdivino Batista (281) e Laurinda li' Azevedo Pinheiro (282). Junto com José do Basílio, residem os filhos do relacionamento de
76
Processo n°: E, !J-o&" ~ Folha nº: <-[oi
Rubrica: _/-l / ·- suas filhas Cleonice (214) e Clemilda (215) com não índios. Também reside um neto (217)
de sua esposa, filho de uma das filhas dela, Maria Laura, que se casou com um não índio e
foi para o igarapé Noaia, em território peruano. Os filhos de Cleuídes (206) são também
fruto de uma união com não índio. Por fim, os filhos de Júlio Guerra (225) foram tidos
com Adélia, filha de José do Basílio que faleceu em urna das epidemias passadas ocorridas
no ~ônia. De acordo com o relatório de Leão (2000:13), Júlio Guerra teria vindo da
cidade de Nauta, no Peru, dizendo-se filho cfe mulher Santa Rosa e homem não índio".
Essas fanu1ias cultivam boas relações sociais com os integrantes da comunidade Arara,
participando ativamente das festas e reuniões por eles promovidas na Assembléia.
10. Pedreira
· As duas residências indígenas existentes na colocação Pedreira - a
única situada fora do Amônia, à margem direita do rio J uruá, cerca de uma hora e meia de
motor rabeta abaixo da cidade de Marechal Thaumaturgo - são habitadas pelas farm1ias
de Taumaturgo (229) e Odon (232). Este último foi casado com Élida, filha do primeiro, a
qual também faleceu em uma das epidemias passadas ocorridas no Amônia. Após a
expulsão da área Kampa, Taumaturgo mudou-se para a cidade de Cruzeiro do Sul, onde
viveu cerca de cinco anos com os recursos de sua aposentadoria. Depois, retornou ao alto
Juruá, deixando contudo de se instalar novamente no interior do Amônia. A situação à
margem do Juruá, porém, é bastante difícil tanto pela enorme preponderância da
população não indígena no entorno quanto em função da ausência de mulheres adultas
na composição familiar de ambas as residênciaaÉ difícil explicar a razão da escolha pela
~ fixação fora do Amônia, em um local onde, ademais, os terrenos agricultáveis são bastante y
restritos. Uma possível interpretação para este fato poderia estar na distância sócio-
cultural de Taumaturgo em relação às demais farru1ias indígenas do médio Amônia,
sendo ele, por assim dizer, o integrante da comunidade Arara com a identidade karnpa
mais fortemente marcada. Isso, não obstante sua proximidade genealógica com várias das
famílias Arara, especialmente com a de sua irmã Ana Rosa, que reside na colocação
Assembléia, e seu claro incentivo ao projeto político de demarcação de uma área própria
para essa comunidade no rio Amônia.
***
. 77
Processo nº: z.. ~"' 3 /o--,:)
Folha nº: 'i o i R~- :,;;z
Para finalizar essa seção, cabe mencionar ainda o caso particular de
três farru1ias que, devido a informações e/ ou atitudes conflitantes, incluímos na categoria
de "identificação étnica incerta", apresentando os dois primeiros casos características
diametralmente opostas às do terceiro. A primeira família a que nos referimos é s~t ... ~
constituída por uma das filhas de D. Chiquinha, Maria Darclei Forquilha de Souza (237),
que.reside com ô marido e os filhos entre as colocações Tetéu e Palmário. Seu cônjuge não
índio, Aurelino (236a), recusa-se terminantemente a fazer parte da comunidade Arara,
não levando em consideração os laços genealógicos patentes de sua esposa. A segunda
f~rrúlia nesse condição é constituída por Antônio Nefo7$,""um dos filhos de Julie~ (m} casado com cônjuge não índia que, segundo depoimento dos demais Arara, não desejava
até há bem pouco tempo ser reconhecido como integrante da comunidade indígena. No
entanto, as notícias mais recentes obtidas na visita ao Amônia realizada em 2002 indicam
que ele já se predispunha a participar do III Encontro de Culturas Indígenas em Rio
Branco, onde se encontrava, razão pela qual também consideramos incerta ou indefinida
sua identificação étnica. Por fim, temos o caso da farru1ia de Gustavo Macifem Flores, ~"""-' peruano que foi casado durante seis anos com uma das filhas de D. Ilda (157), Antonilda.
Embora Gustavo tenha sido abandonado por ela, a qual se mudou para a cidade de
Manaus (AM), mantém ainda boas relações com a farru1ia de sua ex-mulher (sua atual
esposa, embora não índia, é irmã das esposas de Antônio Gomes {62] e Antônio Siqueira
[59]), desejando permanecer na área onde se encontra ainda que seja demarcada como
terra indígena. Observamos ainda que tal desejo conta, em princípio, com a aquiescência
das lideranças Arara .
.P~} Finalmente, apresentamos junto com o levantamento demográfico
(Anexo 3) uma relação parcial dos Arara que se encontram fora do rio Amônia e que
possuem relações de parentesco com aqueles que se encontram residindo naquele afluente
do Juruá. Tal relação, que alcança mais de quarenta indivíduos, foi elaborada com base
em informações esparsas fornecidas durante o recenseamento realizado em 2001 e nos
trabalhos procedidos em 2002. Menção especial deve ser feitas às famílias de Jorgina
Siqueira (258), por um lado, e de Paulito (281) e Laurinda (282), por outro, possuindo os
últimos a intenção declarada de retornar ao rio Amônia.
78
Processo nº: 2..::;.a 3 !~_ Folha nº: Lf o 1
Rubrica:_ ;.1--( - III. ATIVIDADES PRODUTIVAS
As atividades de subsistência desenvolvidas pelas farru1ias
indígenas que têm se reconhecido como Arara no rio Amônia permanecem em linhas <
gerais bastante próximas às praticadas pelos demais grupos Pano que habitam o vale do
Juruá acreano. Os principais encargos econômicos estão baseados na agricultura, na caça,
na pesca, na coleta, na criação e no comércio, todos praticados em pequena escala. Para a
maioria desses ofícios, a atual unidad~ de produção e consumo é constituída pela farru1ia
nuclear, perdurando contudo a fanu1ia extensa como rede preferencial de distribuição de
bens e/ ou de cooperação em determinados afazeres. Em relação à economia característica
das sociedades indígenas dessa região, as transformações mais acentuadas ocorreram no
campo da cultura material, verificando-se a incorporação de inúmeros utensílios,
ferramentas e técnicas da sociedade ocidental. Em particular, a indumentária usada pelos
atuais Arara praticamente não se distingue daquela trazida pela população regional
circundante. Em ocasiões específicas, quando se deseja reafirmar sua própria condição
étnica, observa-se o uso de pinturas corporais livres feitas com o urucu (mas/zê) e com o
jenipapo (nane)"°.
Verifica-se com respeito à cultura material que a indústria cerâmica,
por exemplo, tomou-se praticamente inexistente, em contraste com a habitual fabricação,
no passado, de utensílios domésticos como pratos e panelas de barro, alguidares, potes
lt) etc. No presente, a modelagem de argila entre as farru1ias Arara permanece sendo
praticada em escala reduzida nas colocações Tetéu (jusante) e Jacamim. O pote (kante) de
tamanho médio para a armazenagem de água constitui a principal peça ainda fabricada
no Amônia, registrando-se entre os Arara do rio Cruzeiro do Vale a produção de
alguidares, 'timbugos', pratos, e 'buzinas' usadas para comunicação. Também se
menciona ali a manufatura de artigos como 'tetuns' (espécie de paneiro produzido na
mata com folhas de patauá, bacabeira, jaci, jarina, ouricuri ou piaçava), 'caçuás', abanos,
vassouras, cestos e esteiras. Em ambos os rios, os Arara continuam a tecer com algodão
(uashnzan) alguns tipos de bolsa e 'petinas', isto é, faixas para a cintura, a cabeça ou os
.~
punhos. As antigas canoas (mmte) da paxiúba barriguda não- são mais fabricadas,
utilizando-se hoje em dia, para a mesma finalidade, madeiras como guariúba, cumarú,
jacareúba e itaúba. Para a confecção do remo (uinti), empregam-se as sapopemas de .~
79
Processo nº: 2':J-ofl (~
Folha nº: <-{ o Y Rwrica:~ ./-( ~ . ~- 2 . ~-
árvores como o cedro. Por fim, encontram-se ainda em uso comum no Amônia adornos
como os colares de sementes ou dentes de animais e, com uso restrito apenas a algumas
ocasiões emblemáticás; o cocar de penas (maite) e o saiote de palha de buriti (chitonte) (cf. -
para os Arara do Cruzeiro do Vale- Freitas, 1995:52-62).
('
i~ Agricultura
Um dos primeiros registros sobre o cultivo agrícola praticado pelos
Arara foi feito no início do século XX por Maximo Linhares, auxiliar do SPI já mencionado
na Parte I (supra:27). De acordo com ele, esses índios realizavam uma agricultura de
coivara, verificando-se uma divisão de trabalho pela qual cabia aos homens a
responsabilidade pelas principais atividades relacionadas ao plantio e às mulheres
aquelas relativas à colheita:
"Plantam de accôrdo com suas necessidades mandioca, milho, mondubim, banana (o seu principal alimento), cana de assucar em pequena escala, mamão e abacaxi { ... ]. Fazem roçadas enormes, medindo algumas 600, 1.000 e mais metros de extensão. As derribadas são feitas a machado e são convenientemente executadas, bem como a broca, encoivaramento e plantação. Este serviço é da obrigação exclusiva dos indios; o da colheita cabe ás índias. O milho que plantam é de uma qualidade especial, mesmo secco é sempre molle e dá em menos tempo do que o nosso. Constitue para elles um bom alimento, não só assado, como feito 'caissuma', mingau que se prepara socando o milho num pilão de madeira, depois addiccionam-lhe agua e levam ao fogo durante algum tempo. Tambem usam a caissuma de banana, mais o menos o mesmo processo, excepto no machucar, que fazem com as mãos; de mandioca, que depois de bem cosida é machucada com um pau, numa panella, e parte mastigada pelas indias, para facilitar a fermentação. Toda a alimentação é confeccionada pelas indias" (Linhares, 1913).
.-
Como outros grupos Pano que habitam a bacia do Juruá, os Arara
costumam fazer seus roçados (uaz) nas ladeiras altas e nos cumes das colinas existentes no
seu território. É possível que procedam dessa forma em função dessas áreas receberem
uma maior quantidade de luz solar que as partes baixas da mata (ni), propiciando urna
melhor colheita do milho e outros cultivas (v., com respeito aos Amawáka, Carneiro,
1979). Quando vão plantar 'roça' (termo regional usado para designar a macaxeira e seu
roçado), preferem os lugares 'de areia', acreditando que o 'barro' não se presta ao bom
crescimento de sua raiz. A abertura de um novo roçado inicia-se por volta de maio/junho,
80
Processo nº: 2. "9- º ~ /,;;;--v Fo\ha nº: '{o{°
Ruooca:~: ;µ - _...
no início da estação seca ('verão'), procedendo-se então a escolha do local adequado e o
corte da vegetaç~o mais baixa, dos paus, cipós e árvores mais finas, atividade que se
denomina 'brocar'. A broca é seguida pela 'derrubada' (rirei) das árvores mais grossas,
depois da qual se aguarda o período necessário para a secagem da madeira e se realiza a
primeira 'queima' (manoke). Procede-se em seguida à 'coivara' (maputankê), que consiste na
reunião do restante da vegetação que não chegou a ser consumida de forma satisfatória,
queimando-a novamente e aumentando desse modo a quantidade de cinza que irá adubar
o terreno. O 'plantio' (banai) se realiza a partir de setembro/outubro, coincidindo em geral
com o começo do período de chuvas ('inverno'). Algum tempo depo~s, realizam a
primeira 'limpeza' (uruz) do mato que volta a brotar no roçado. A 'colheita', enfim,
depende de cada tipo de cultivo, variando entre três meses, por exemplo, como para o
milho, até um ano ou mais para algumas espécies de macaxeira. Após três ou quatro anos
de uso continuado, o solo do roçado perde grande parte de seus nutrientes, pelo que se
toma necessária a escolha e abertura de um novo local para o cultivo agrícola.
Quadro III: Agricultura
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena
Algodão Gossvpium barbadense L. Uashman
Ananás A11mzas contosus L. Kankan
Banana Musa sp. Parania
Batata-doce lpomea sp. Kadi
Cana-de-açúcar Saccharum officinanmz L. Shauê (Tawata?)
Daledale Calaihea allouia st«
Inhame Dioscorea spp. Poa
Jerimum Cucurbita ntaxima Duch. Uaran
Macaxeira Manilwt sp. Atsa
Mamão Carica papaya L. Puclza (Náwimbi?)
Millio Zea mays L. Sheki
Taioba Xunihosoma spp. Yushpu (?)
Urucu Bixa orellana L. Mashe
-. Além dos cultivas relacionados no quadro acima, os Arara do
Amônia têm experimentado o plantio do fetlão em áreas que são abertas na mata sem a ~ realização de coivara. Eventualmente, também podem ser cultivadas as cabaças (Lagenaria
.. 81
Processo nº: 2 -=t--0 E /o,,::; Folha nº: '--w f. Rubrica: . i:::_C /.
siceraria), que constituem utensílio bastante comum, o tabaco (Nicotiana tabacumf", e a uáca (Clibadium sylvestre), apesar de haver se tomado raro, aparentemente, o uso deste veneno
de pesca pelos Arara do Amônia. Também costumam plantar no quintal ou em outros
locais próximos às suas residências uma série de frutíferas como abacate, biribá, caju,
cubiu, cupuaçu, goiaba, graviola, ingá, jambo, limão, manga, melancia etc. Além disso,
cultiva-se igualmente no quintal plantas medicinais como alfavaca, boldo, capim santo,
hortelã roxo, rnalvarisco, mastruz e pinhão roxo, entre outras. Nos roçados, a macaxeira é
~ primeira espécie a ser plantada, semeando-se de entremeio o milho e, parcialmente em
separado, a banana. Entre as variedades de 'roça' (macaxeira) conhecidas podem ser
mencionadas a 'amarelinha', a 'arara', a 'camparia', a 'fortaleza', a 'maria ruma', a
'mulatinha', e a 'santa rosa'. Observando esse rol, aliás incompleto, chama a atenção o
nome das variedades de 'roça' relacionados aos grupos étnicos que habitam a região. De
acordo com a Enciclopédia da Floresta, a roça-arara "é boa de farinha mas não é a de melhor qualidade; tem ararinha e ararão, dependendo do tamanho da follza. Apodrece logo, não rende". A
roça-camparia, ou Kampa, segundo a mesma fonte, "tem casca e batata brancas; serve para
farinha e macaxeira, atura de sete a oito meses, no máximo dezoito. É esgalhada só no alto do pé". A
roça-santa-rosa, ainda de acordo com a mesma Enciclopédia, é "boa para a terra areiúsca
preta, dá uma farinha branca; é alta, de manioa roxa e batata bem alva; a folha e o talo são
vermelhos. É plantada entre agosto e setembro; dá com seis meses e fica boa de um ano em diante
(mas não muito mais). Cozida é boa de comer, é a roça dos caboclos de Santa Rosa" (Cunha &
Almeida, 2002: ·667-668). Com a rnacaxeira se produz a caiçurna (shiate), bebida que é
consumida nas festas e, com menor frequência, no cotidiano das casas.
/;;.') ·/
j) Coleta
Em geral, a coleta de produtos florestais é realizada sem finalidades
comerciais, representando importante complemento alimentar e fornecendo matéria
prima para a construção de casas e outros itens da cultura material arara. Pelo fato de
constituir uma atividade produtiva suplementar às demais ocupações econômicas, de
realização constante ou regular, procede-se muitas vezes à coleta de forma incidental, no
retorno de uma visita ao roçado ou de uma caçada mal sucedida, podendo ser realizada
82
.-
individual ou coletivamente. Entre os produtos mais freqüentemente coletados estão os
frutos comestíveis da floresta que produzem os chamados 'vinhos', bastante apreciados, a
exemplo do açaí, da bacaba, do patauá e, em menor grau, do buriti. Para a construção de
suas casas, extraem da floresta madeiras duráveis (que empregam em esteios, caibros etc.)
e palmeiras como a paxiúba (de cujo cerne fazem o assoalho e paredes), assim como as
palh~s da jaci, da jarina, do ouricuri e do buriti ( que são utilizadas para a cobertura do
telhado). Outros produtos da floresta, usados para diversas finalidades da cultura
material, incluem madeiras como o cedro, o cumarú, a envira, a itaúba, a jacareúba, o
louro, a maçaranduba, o quariquari etc. Dentro do que se poderia classificar como coleta
animal, os Arara se interessam particularmente pela extração do mel de abelhas ( em
especial daquele produzido pela jandaíra) e, de modo cada vez mais raro, pelo
aproveitamento de 'tapurus' (larvas) que crescem nos frutos caídos de palmeiras como
jaci e cocão. De acordo com o relatório ambiental, são também coletados, como parte das
atividades de 'marisco' (v. adiante), o caramujo aruá e o intan".
Quadro IV: Coleta
~
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena Uso Principal
Abiu Pouieria sp. ? Alimentação
Açaí Euierpe precatoria Mart. Pa1Ia (paua?) Alimentação
Agua no Meliaceae ? Cultura material
Bacaba Oenocarpus sp. Hêpisan Alimentação
Bacuri Clusiaceae ? Alimentação
Buríti Mauritia [lexuosa L. Binon Alimentação
Cana-brava Echinochloa cf polystachya ? Cultura material
Cedro Cedrela odorata L. ? Cultura material
Cipó titica Hesjrtopsis sp. Ayash Cultura material
Cocão Attalea tessmannii B. ? Alimentação
Copaíba Copaifera spp. ? Medicinal
Curnaru Torresea acreana ? Cultura material
Envira Pseudoxandra sp. ? Cultura material
Guariúba Clarisia racemosa ? Cultura material
Itaúba Lauraceae ? Cultura material
[acareúba Calophvllum ? Cultura material
Jaci Attalea butyracea Slzobii Habitação
Jarina Plivtelephas macrocarpa Hcpe Habitação
83
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena Uso Principal Jenipapo Tocouena sp. Nane Adorno
Louro Lauraceae ? Cultura material
Maçaranduba Masnilkara sp. ? Cultura material
Ouricuri Attalea phalerata Mart. Kanisin Habitação
Patauá Oenocarpus bataua Mart. Isa11 Alimentação
Paxiúba Iriartea delioidea <: Tao Habitação
Quariquari Minouartia guianensis (?) ? Cultura material
Sapota Matisia cordata ? Alimentação
Ta boca Guadua sarcocarpa Pâka Cultura material
k) Caça
A caça (yumurai') é uma atividade produtiva que continua a ser
bastante valorizada, sendo realizada atualmente pelos Arara quase sempre com armas de
fogo. O emprego do arco (kanoti) e da flecha (pia) para tal finalidade caiu quase
completamente em desuso, perdurando a confecção dessas peças, no entanto, com
finalidade recreativa, comercial (artesanato), ou simplesmente para a auto-afirmação
étnica. Em geral, o arco é produzido com a madeira de pupunheira e sua corda feita da
casca de embaúba; as flechas podem ter sua haste de cana-brava ou paxiúba, sendo a
ponta de diversos formatos (lisa, dentada, rombuda) e materiais (taboca, madeira,
palmeira), variando do mesmo modo a emplumação (com penas de jacu, arara etc.). As
flechas com ponta rombuda de madeira são apropriadas para matar pássaros pequenos;
as com ponta lisa de taboca são para presas maiores, como os grandes mamíferos.
Atualmente, além de espingardas também se utiliza de forma esporádica o terçado como
arma para a caça (p.ex.: para o abate do caititu) ou a captura de embiaras (p.ex.: paca).
Quadro V: Caça
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena
Anta Tapirus terrestris Aua
Caititu ('porquinho') Tayessu iajacu Hunu ~ Cu tia Dasyprocta spp. Mari
84
.-
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena
Cu tiara Myoprocta sp. Tsanas
Jabuti Geochelone denticulata {SJuw?J -oc·.
[acamim Psophia leucopiera Nea
Jacu Penelope jacquacu Kebu
Macaco barrigudo Lagotbris lagothrica lsokoro Macaco Cairara Cebus albif rons e Oroshino
Macaco-da-Noite Aotus sp. Riro
Macaco-de-Cheiro Saimiri sp. Uasa
Macaco Guariba Alouatta seniculus Ro'o
Macaco Prego Cebus apella Shino
Macaco Preto Ateies paniscus lso
MacacoSoim Caliithrix argentata - Callimico goeldii Shipi
Mutum Crax mitu Hasin
Narnbu Tinamidae Kumã
Nambu-azul Tinamous tao Anikumã
N ambu-galinha Tinamus major Kumãua
(N.)-macucau Crupturelius undulaius Tauakumã
Nambu-preto Crupturellus cinereus lsokuntii
Paca Agouti paca Ano
Quatipuru Sciurus spp. Kapa
Queixada Tauassu pecari Yaua
Tatu Dasvpus septemcinctus Yaoisli
Veado Mazaina americana - M. Gouazoubira Chasho
Entre as técnicas de caça conhecidas pelos Arara estão a caçada a
curso (ou rastejo), de espera (ou tocaia), com cachorro, e com armadilha. A caçada a curso
é especialmente indicada para o período de 'inverno', quando a terra úmida permite
identificar mais facilmente os rastros dos animais. Comumente, o caçador pode andar
duas, três ou mais horas nos seus 'piques' de caça, buscando localizar vestígios junto a
'barreiros', fruteiras silvestres e sítios onde suas presas costumam dormir. Para a caçada
de espera, constróem pequenos tapírís com palhas de jarina, cocão ou ouricuri no centro
da mata ou nas proximidades do roçado, ou então aguardam encima de árvores cujos
frutos são apreciados pelo animal desejado, procurando abatê-lo quando se aproxima. Até
há pouco tempo atrás, também eram relativamente comuns as caçadas com cachorro
-~- 85
,- Processo nO: "Z. ::f. e,s@· ·· Folha nº: ~/ o
1
RubriCa: d-_{, /
(uchite), as quais são hoje severamente criticadas pelos Arara por espantar a caça para
locais distantes. Por fim, as armadilhas, que antes eram feitas com laços ou mondés (paus
pesados), são feitas atualmente quase ~pre com espingardas velhas",
l) Pesca
-.
A atividade da pesca - que os Arara do Amônia e todos os
habitantes do alto Juruá denominam 'mariscar' - é realizada preferentemente no 'verão',
quando os rios e igarapés estão baixos e as águas limpas. Entre as técnicas de marisco
mais comuns estão o uso da linha e do anzol, o 'espinhei' (série de anzóis presos a bóias
de madeiras leves) e, com bastante freqüência, a tarrafa. Por vezes, também se emprega a
malhadeira (rede ou 'manga'), o mergulho com 'bicheiro' (espécie de anzol encastoado na
ponta de um pedaço de madeira e provido de linha com bóia), o 'facheio' com zagaia ou
terçado, e o arpão. A utilização de substâncias ictiotóxicas para a pesca (como a uáca)
parece ser, atualmente, muito restrita entre os Arara do Amônia, visto que os poucos
lagos existentes e ínfima dimensão assumida no verão pelos igarapés que cortam a área
lirrútam consideralmente as oportunidades para a utilização dessa técnica. Por fim, o
'marisco' inclui ainda a busca manual em pequenos buracos ('locas') situados pouco
acima da linha d'água de rios e igarapés para a captura de crustáceos como o caranguejo e
o siri.
Quadro VI: Pesca
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena
Arraia Potamotrygonidae Ibi
Bico-de-pato ? Chicnimitash
Bodó ('bode') Loricariidae lcpo
Cachorra ('madalena') Hydrolicus sp. ?
Cará Aequidens sp. Maini (?)
Caranguejo Sakachara
Cuiú-cuiú Oxydoras niger Mucfw
Curimatã Prochilodus sp. B11ê
Jacundá ('Manoel Besta') Crenicichla sp. Sita um
86
Processo nº: z-:;...,c,3(o-o
Folha nº: '-f I f
Rubr\Ca:~ = 7
Nome Comum Nome Científico Nome Indígena
Jiju Hopleruthrinus unitaeniatus Nusha Jundiá_ . Aguaruniclttys sp. (?) Bauin
Jundiaçu f Paulicea Jutkeni Uakauã
J undiazinho Braclzyplastoma [uruensis (?) Aríeri Mandim Pimelodella spp.(?) Tunun
Matrinxã Brycon sp. ,: ?
Mocinha Potamorhina altamazonica Raiõ
Pacu Myleus sp. Piro Piaba Curimatidae Yapa Piau Schizondon fasciatus - Leporinus sp. M11shu Baton Pintadinha Callopliysus macropierus Kauin
Piranha Serrasalmus spp - Pygocentrus naitereri ?
Pirapitinga Colossoma sp. ?
Siri Shaka
Surubim Pseudoplatustoma [asciaium Vauin
Tamboatá Hoplosternum litoralle Vaslzu (?)
Traíra Hoplias aff. Malabaricus Tisima
m) Criação e Comércio
A criação de animais para consumo próprio ou para o comércio é
uma atividade produtiva desenvolvida em pequena escala pelos Arara do rio Amônia.
Entre os animais domésticos eventualmente criados por eles estão galinhas, patos, cabras,
ovelhas, porcos e vacas. Também se nota a criação esporádica de animais silvestres
(araras, papagaios, macacos e outros) com fins recreativos, para o consumo ocasional ou
para obtenção de itens específicos µsados na cultura material. A criação de animais
domésticos é realizada no quintal (galinhas e patos), em áreas próximas separadas das
residências (porcos, cabras), ou áreas formadas com pastagens (gado, ovelhas). O longo
tempo de contato interétr.:ico responsabilizou-se pela diminuição ou término da
repugnância (mencionada por Linhares, op. cit.) dos antigos Arara ao consumo de ." galinhas e patos. A criação de galináceos e suínos, que são os mais comuns, destina-se ao
87
Processo nº: 2:J-o.f'~ Folha oº: t/J ~ · ·
Rubriea: . < -,J-l · ... ,-:;- ..•
· · escambo kcomércio com os regatões que percorrem a regíão ou à venda direta na cidade, d~· M~rechal Thaumaturgo. A cria~ão de gado, por m1trolado, é desenvolvida somente ..
por algumas das famílias indígenas que habitam a margem: esquerda do Amônia, muito
· embora várias delas tenham abatido a mata junto ao rio e formado tampos necessário~ a
essa atividade com vistas ao recebimento dos créditos de. fomento proporcionados pêlo INÇRA, .. Outró~~im,.ainda que naatualidadesejam atividades pública e·veernentemente
.•: . . ' . ·.
criticadas pelas lideranças dó grupo, o comJtcio de madeira de lei e de carne de caça
F?erdura de forma bastante atenuada e ocasional entre algumas faliúlias Arara .
. n) Uso do Território
Há aproximadamente uma década, como já mencionamos, a maior
parte das atuais famílias Arara do Amônia residia nos limites da TI Kampa, situada
imediatamente à montante da área que ora ocupam nesse rio .. Após terem sido expulsas J
r--.. ~-r. 'daquela terra indígena, essas famílias conseguiram se instalar nos locais atualmente
;:..... Q!> habitados, sendo contudo tolhidos desde então vários aspectos de sua ocupação
A ~fu tradicional pela pressão exercida por não índios vizinhos. Isso é verdadeiro ~specialmente
r-. V~ ,,0 em relação à margem abrangida pela RESEX do Alto Juruá, onde o exercício d;s r-. (f r-. "' . atividades produtivas or arte dos Ara_:~ tem ~ido se~~~~~E:le~te rest~ingiq~ eelos dema.isª
. . -· ---·--····"'""' . . . -.
~ . m?radores ribeirinhos e extrativistas. Essas limitações temporais e espaci~is no uso do
r-. território devem, no entanto, ser contrabalançadas por dois fatores: a) em primeiro lugar, ,,...... 1( uma parte dessas famílias indígenas já habitava o mesmo sítio que o ocupado atualmente,
r' '*" 1 exercendo assim uma maior continuidade e controle da área utilizada para suas r" ',;, ;...._ .J . atividades de subsistência. Isso se aplica particularmente em relação àquelas que residem
r-, ,Sv'.) i1.. na colocação Montevidéu, justamente na margem do Amônia abrangida pela RESEX; b) o'.\
r' ,, l . f i
/"'"',.v' 'vl- , . r,, \jQ()
por outro lado, a incidência da ocupação Arara;. àquela época, na zona do alto Amônia
brasileiro deve também ser vista como uma situação momentânea, visto que os seus
ascendentes - principalmente aqueles de extração . étnica Amawáka, originários do
, próprio rio, e os Koníbo a eles associados - haviarn residido. antes em vários outros locais
do mesmo rio, inclusive em alguns dos presentemente ocupados, como por exemplo na
~~-Àssembléía.
88
Processo nO; 2.-:,ag /0-o 1
Folha nº: V f ~ Rubrica: _:;4:!:.
Assim, embora a atual utilização econômica do vale do rio Amônia
pelos Arara sofra os constrangimentos acima referidos, devemos percebê-la sob o pano de
fundo representado por uma ocupação histórica anterior muito mais extensa e ~-·· ~~~~
caracterizada por uma maior liberdade para o exercício de suas atividades produtivas.
Pode ser tomada como representativa a esse respeito a afirmação feita por um dos
primeiros Kampa a se estabelecer nessa região: "É possível ao Samuel Pianco, identificar ~·
antigas capoeiras dos Amoaca ao longo do rio Amônia" (Espírito Santo, 1985a:57). Parte dessa
ocupação territorial, de qualquer modo, continua a se manter na fração meridional da área
ora delimitada por parte de algumas farru1ias Arara que ali habitam há pelo menos meio
século. Tendo em vista essas considerações, podemos indicar as áreas presentemente
utilizadas para atividades produtivas pelos Arara do Amônia da seguinte forma:
1) Agricultura: a maior parte dos roçados está situada a pouca ou
média distância da margem do rio Amônia, sendo alcançados em geral através de
caminhos que partem do fundo das casas em direção à mata circundante. Possuem
dimensão e formato variável, havendo desde os que têm menos de meio hectare até
aqueles com extensão aproximada de 2,5 ha.
2) Coleta: trata-se de atividade exercida de acordo com a localização
pontual do produto coletado, notando-se certa diferença na distribuição de algumas
espécies entre ambas as margens do Amônia ou entre a zona da margem do rio e as terras
interiores. Deste modo, enquanto a maior parte das 'palheiras' (jaci, jarina etc.) e
palmeiras produtoras de 'vinhos' são encontradas de modo esparso em quase toda. a
extensão da terra delimitada, ~~ -~-~91ado._p.r_det_~~-~~-~!E}~gt_f;_D-~..Er<?xi~~2 __ do
j;;~.!.9-.E-~.- I:~~.; As tabocas, por sua vez, concentram-se nas terras situadas a leste do
igarapé Paxiúba, enquanto a cana-brava prefere a zona ribeirinha junto à margem direita
do Amônia (cf. Anexo Ido relatório ambiental).
3) Caça: devido a intensa utilização e trânsito na zona contígua ao
rio Amônia, as caçadas são realizadas preferentemente nas terras interiores dos extremos
da área delimitada. Na margem esquerda do rio, os Arara praticam a caça principalmente
na região entre as cabeceiras dos igarapés Timoteu e Coconaia, e na zona entre este último
e as nascentes do igarapé Artur. O índio Francisco Siqueira referiu-se com desagrado ao
fato de habitantes de Marechal Thaumaturgo ou do próprio Projeto de Assentamento
Amônia realizarem com freqüência caçadas com cachorro nas cabeceiras do igarapé
Timoteu, espantando os animais de caça para locais distantes. Na margem direita do rio, a
caça é realizada especialmente no curso superior do igarapé Tetéu, na margem direita do
89
~:.-
},::.}~
---··---·- •• ---·-"''..... -- d-Sdill+~ zf"' ltb:tcid
Processo nº: z,-<>s/<0-0 Folha nº: 411 Rubrica: = j/:
igarapé Montevidéu e nas cabeceiras dos igarapés Teimoso e Taboca, sendo esses dois
últimos afluentes do rio Arara. As trilhas de caça usadas pelos Arara no divisor de águas
entre a margem direita do igarapé Tetéu e as nascentes dos igarapés Teimoso e Taboca
foram objeto de reconhecimento por parte do antropólogo e do agrimensor deste GT, que
acompanhados pelo índio José Antônio Avelino· Macedo ('Zeca') incursionaram por
aquela região no dia 13.04.2002. A utilização para caça das terras interiores na margem {
direita do Amônia na região abaixo da colocação Palmário é geralmente impedida pela
oposição dos não índios moradores da RESEX do Alto J uruá. 4) Pesca: o 'marisco' é realizado principalmente ao longo do rio
Amônia e nos seus afluentes, especialmente nos igarapés Tetéu e Coconaia. Pudemos
observar o resultado de uma expedição de marisco feita por um grupo de jovens Arara no
médio curso do igarapé Tetéu com o auxílio de tarrafa, constatando uma produtividade
insuspeita para as dimensões então assumidas por esse afluente do Amônia, tendo sido
obtidas na ocasião diversas espécies de peixes (pequenos e médios) e vários crustáceos (v.
Anexo 11). O uso dos poucos lagos existentes na área delimitada é quase sempre
prejudicado pelas restrições impostas por ocupantes não índios presentes em suas
proximidades: i) aquele situado à montante e na mesma margem do igarapé Tetéu é
reivindicado para uso pelos moradores da colocação Saboeiro; ii) o lago do Capim, pouco
abaixo e na margem oposta da colocação Assembléia, é regulado estritamente pelos
moradores da RESEX; e iii) o lago Redondo, também pouco abaixo mas na mesma
margem da Assembléia é eventualmente utilizado pelos Arara, apesar da desconfiança
dos não índios dali vizinhos.
5) Criação: as áreas gerais preferencialmente utilizadas para a criação
de animais pelos Arara já foram mencionadas anteriormente (supra: 87) .
. !
90
Processo nº: 2- rJ' fe-o Folha nº: t./ í 6 Rubrica:_/!:.
IV. MEIO AMBIENTE
o) Ecologia Regional
e:
A área ocupada pelos índios Arara no rio Amônia está inserida
numa região de grande importância e diversidade biológica. Por estar localizada na zona
limítrofe ao Parque Nacional da Serra do Divisor e apresentar uma incidência parcial na
~.:; superfície da Reserva Extrativista do Alto Juruá, projetando-se no espaço entre as duas J::J
unidades de conservação, essa área possui um significado particular do ponto de vista
etno-ambiental. Ela compõe um mosaico territorial com outras glebas públicas reservadas
pelo Governo Federal no alto Juruá (incluindo aí a TI Kampa do Rio Amônea, que lhe é
contígua ao Sul), possibilitando o alargamento da dimensão espacial da conservação e a
multiplicidade de experiências sócio-culturais no uso sustentado da biodiversidade. Com
efeito, o equilíbrio na utilização das riquezas naturais existentes no interior da área
delimitada e no seu entorno imediato representa uma condição essencial para assegurar a
preservação dos recursos ambientais necessários ao bem estar econômico e cultural das
farru1ias indígenas envolvidas.
O alto Juruá integra a bacia sedimentar do Acre formada na Era
Cenozóica, representada localmente pela formação Solimões, que é constituída por rochas
sedimentares de origem fluviolacustre tais como argilitos vermelhos a cinza, arenitos
argilosos, argilitos calcíferos, cocinas (rocha de conchas) e linhitos (camada rica· em
material vegetal) (d. Cunha & Almeida, 2002:43). Além da formação Solimões, cuja fonte
de sedimentos foram as rochas da Cordilheira dos Andes, fazem parte do panorama
geológico do alto [uruá os aluviões holocênicos, resultantes da deposição anual de
sedimentos. Nesse cenário, destacam-se duas unidades geomorfológicas ('ecótipos de
relevo') principais: i) a Depressão Rio Acre-Rio Javari (ou Depressão Acre-Rio Branco, cf.
Cunha & Almeida, ibidem), que se caracteriza pelas elevações (colinas, cristas e tabuleiros)
drenadas por grande número de nascentes e igarapés; e ii) as planícies aluviais e terraços
da nova bacia de sedimentação, a Várzea (fbid.:44-45). No éxtremo ocidental do Estado,
encontram-se ainda sedimentos neopaleozóicos, cretáceos e da formação Ramon que
moldam o conjunto de elevações da serra do Divisor (ou da Contamana). A Depressão Rio
91
Pr~~~-~~- - Zrºíl ~- ___....
<.-{ ( .1:,
Acre-Rio Javari é marcada por relevo bem dissecado, resultante de processos erosivos
sobre a formação Solimões, dando origem a colinas com altitude média de 250 metros e
vales com aprofundamento de drenagem ·. muito fraco. O mapa do Projeto
RADAMBRASIL (1977) indica nas proximidades do rio Amônia três formas de dissecação,
constituídas por cristas (K1), colinas (C11) e interflúvios tabulares (T11), predominando
visualmente a primeira delas. Também apresenta a forma de acumulação "Apf", que ,:
corresponde à planície fluvial de regiões periodicamente alagadas, e "Etfl",
correspondente à forma erosiva representada por terraços fluviais altos esculpidos pelo • 54 no.
Segundo a classificação de Gaussen, trata-se de região bioclimática
classificada como 'subterrnaxérica branda', com duas estações bem definidas: a seca ( ou
'estiagem'), que se prolonga de junho a setembro, e a chuvosa (ou 'cheia'), que ocupa os
meses de outubro a maio. A precipitação pluviométrica varia ao longo dessas estações
entre 1.600 mm e 2.750 mm, sendo a temperatura média anual de 24° (registrando-se a
máxima de 32º e a mínima de 10º). Nos meses mais secos, é comum a ocorrência
esporádica do fenômeno da 'friagem', que se caracteriza pela brusca queda da
temperatura durante dois, três ou mais dias consecutivos provocada pelo deslocamento
da Massa Polar Atlântica. A bacia do alto Juruá possui uma drenagem dendrítica
(semelhante às raízes de uma árvore), apresentando os seus rios e igarapés um traçado
sinuoso, com trechos retilíneos associados à mudanças abruptas de curso. O característico
mecanismo hídrico responsável pela formação de meandros divagantes sucessivamente
recortados gerou ao longo do tempo a planície do rio Juruá, cujas várzeas possuem urna
a~, extensão média de 500 metros (d. RADAMBRASIL, idem). p'
~ l:.{J~
--
Os terrenos plio-pleistocênicos da Depressão Rio Acre-Rio Javari,
unidade que integra a subregião dos baixos platôs da Amazônia, apresentam solos
podzólicos vermelho amarelo distróficos e podzólicos vermelho amarelo eutróficos, de
textura argilosa. O mapa de solos do Projeto Radam traz as seguintes classificações:
"Hge3" (solos hidromórficos gleyzados eutróficos), comuns ao longo do Amônia; "PA3"
(podzólicos vermelho amarelo eu trófico e cambissolo eutrófico), que predominam; e uma
pequena mancha de "PB5" (podzólico vermelho amarelo álico). De acordo com o mapa
publicado por Cunha & Almeida (Op. cit.: 64ss), toda a faixa de terra disposta ao longo da margem direita do rio Amônia é dominada por gleissolo (barro branco) e neossolo (areia
de várzea); na extensão da mesma margem que segue pelo íntersor até o curso do rio
Arara encontram-se o argissolo (barro vermelho) e chemossolo (barro preto - argissolo
~ .. 92
Processo nº: 2':f-o8~
Folha nº: lf 11 Rubrica: -;/_f ~= ~··
mais brunizém), observando-se a nítida predominância do primeiro tipo nos limites da
área proposta e a prevalência do segundo tipo nas terras situadas no setentrião até a
confluência Amônia/ Arara.
~~l ~)'
A Floresta Tropical Aberta é a cobertura vegetal dominante
encontrada ao longo do rio Amônia. De acordo com o mapa fitoecológico do Projeto
Radam, verifica-se a presença das tipologias "Faa" (floresta aberta de palmeiras, bambus e
cipós sobre o relevo dissecado da formação Solimões e solos predominantemente
~odzólicos vermelho-amarelo eutróficos) e, no médio Amônia, "Fap" (floresta aberta com
palmeiras da planície aluvial temporariamente inundada em solos _ hidromórficos
gelyzados eutróficos). O mapa publicado por Cunha & Almeida (Ibid.: 64ss), por sua vez,
que abrange somente a margem direita do Amônia, informa a presença dos seguintes
tipos de vegetação: a) 'tabocal', nas terras que margeiam o Amônia desde o seu baixo
curso até um ponto aproximado a meia distância entre as embocaduras dos igarapés
Coconaia e Tetéu; b) 'tabocal com floresta aberta', nas terras interiores dispostas entre o
curso médio/inferior do Amônia até as proximidades da margem esquerda do rio Arara,
abarcando a metade setentrional da área proposta; e) 'floresta aberta com palmeira' e
'floresta de várzea aberta', que se espalham em toda a fração meridional da área
delimitada, entre a margem direita do Amônia e as proximidades do rio Arara; e d)
'floresta aberta com taboca', compreendendo uma faixa estreita na margem esquerda do
rio Arara.
A excepcional diversidade biológica na bacia do alto [uruá responde
pela existência de cerca de duas mil espécies de árvores, arbustos, ervas, cipós, epífitas,
fungos, pteridófitas e briófitas nessa região. As primeiras coletas botâncias registradas no
Estado do Acre foram feitas pelo alemão Ernst Ule entre os meses de abril de 1901 e
janeiro de 1902, durante trabalhos realizados nas proximidades dos rios Juruá-Mirim e
Tejo (cf. Cunha & Almeida, op. cit.:54-55). Entre as principais fanu1ias botânicas
registradas no presente estão Arecaceae, Annonaceae, Leguminosae, Meliaceae e
Rubiaceae. Destacam-se por sua importância e disseminação regional as diversas espécies
de palmeiras, cabendo uma menção especial ao cocão (Attalea tessmannii), característico da
bacia do Juruá. Outros tipos de palmae comumente encontrados são o açaí (Euierpe
precatoria), a bacaba (Oenocarpus bacaba), o buriti (Mauritia flexuosa), a caranaí (Mauritia
a~_uleata), o inajá (Maximiliana regia), a jaci (Attalea wallisii), a jarina (Phytelepha.s macrocarpav,
o jauari (Astrocan;um sp.), o marajá (Bactris concinna Mart.), o murmuru (Astrocan;um
murumuruy, o ouricuri (Attalea plzalerata), o patauá (Oenocarpus bataua), a paxiúba
93
,/"
O, z '::}-og ! 0,-0 Processo n ·- ~~·
Folha nº:-~- Rllbrica:_F-v~
barriguda tlriarthea ventricosa), a paxiúba lisa ilriarthea exorhiza) e o ubim (Geonoma sp.).
Como as palmeiras, os bambus (Guadua sarcocarpa, bambu de terra firme), e as tabocas
(Guadua superba, encontrada em área sujeita a inundação) aparecem em manchas
destacadas ou formando enclaves em meio a floresta. Outras espécies características que
podem ser mencionadas, de valor madeireiro ou não, incluem a acariquara (Minquartia
guianensisi, o amarelinho (Aspidosperma sp.), a andiroba (Carapa guianensisi, a carapanaúba .:
(Aspidosperma sp.), o cedro (Cedrela odorata), a cerejeira, ou cumaru (Torresea acreana), a
copaíba (Copaifera spp.), a envira-preta (Pseudoxandra sp.), o louro rosa (Aniba burchellii
Kostem), o mogno, ou aguano (Swietenia macrophylla), o mulateiro (Calycophyllum
brasiliense Carnb), o pau d'arco (Tabebuía serraiifolia Nich.), a sumaúma branca (Ceíba spp.),
e a seringueira (Hevea brasilíensís).
· Igualmente significativa é a diversidade faunístíca na zona do alto
Juruá (cf. Cunha & Almeida, op. cit.:455-509), sobressaindo o grande número de espécies
da avifauna, de anfíbios e insetos. Além dos animais 'de pelo' caçados comumente, já
indicados no capítulo anterior (supra:84-85), verifica-se a ocorrência do cachorro-do-mato
(Speothos venaticus), da capivara (Hudrochaeris hydrochaeris), do cuandu (Coendou
prehensilis), do guaxinim (Procyon cancrioorouei, da irara (Eira barbara), da lontra (Lutra
longicaudis), dos morcegos tTonatia carrikeri - Vampyrum spectrum], da mucura (Didelphis
marsupialisr, das onças (pintada/preta, Panihera anca; e vermelha, Felix concolor), dos gatos
do-mato (rnaracajá e gato-preto, Felis yagouaroundi), da pacarana (Dínomys branickii), das
preguiças (Bradypus sp. - Choloepus sp.), do quati iNasua nasuai, da raposa (Atelocynus
microtis), e dos tamanduás (bandeira, myrmecophaga tridactyla; mambira, Tamandua tetra
?'~8 daciula; e tamanduaí, Cyclopes didactylus) . ..;.-
Entre as aves (cf. Jbid.:511-541), podem ser citadas o aracuã (Ortalis
motmot), as araras (araracanga, Ara macao; canindé, Ara ararauna; e vermelha, Ara
chloroptera), o bacurau (Coprimulgue nigrescene - Chordeiles rupestris), as corujas (incluindo
o caburé e o corujão, Pulsairix perpicillata), as garças (Casmcrodius albus - Pitherodius
pileatus), os gaviões (fanu1ia Accipitridae), o jaburu Uabiru mycteria), o japiirn tCacicus cela),
o japó (Psarocolíus spp.), a juriti (família Columbidae), a mãe-da-lua (Nyctibius griseus), o
maguari (Ardea cocai), as maracanãs (Ara severa - A. manilata - A. couloni - Aratinga
leucopthalmusi, as espécies da farrúlia Psittacidae (papagaio, curica, jandaia, marianita e
periquito), a saracura (Aranzides cajanea), o socó (farrúlia Ardeídae) e o tucano (família
Ramphastidae). t'
94
Processo nº:_ 2. ?-oK (oo Folha n1:1: lf ( f
Rubrica: . . J:Z >
Além das espécies de peixes já indicadas anteriormente (supra:86-
87), percorrem igualmente as águas do Juruá e de seus afluentes (cf. Ibid.:543-575) o
aruanã (Osteoglossum sp.), o bacu (Pterodoras lengiginosus), o barba-chata (Pinirampus sp.), o
candiru (família Trychomicteridae e Cetopsidae), o caparari (Pseudoplatystoma tigrinurn), a
cascuda (Psectogaster spp.), a frecheira (anodus sp.), a jitubarana tSalminus hilarii), a matapiri
(Ctnobrycon hauxtoellianus), a pataca, ou machadinha (Toracocharax stellatus), a pescada " (Plagioscion sp.), a pinoaca (Sorubimychtys planiceps), o saburu (Steindachnerina spp.), a
s~rdinha (triportheus spp.) e o tambaqui (Colossoma macropornunz), bem como o [acaré-açu
(Melanosuchus niger), a arraia (farru1ia Potamotrygonidae), o poraquê (família
Electrophoridae), e os botos (rosa, Inia geoffrensis; roxo, Sotalia fluvia/is; e tucuxi, Sotalia
tucuxis. Devido à contínua depleção para atender o mercado regional, a tartaruga
(Podocnemis expansa) e o tracejá (Podocnemis unifilis) tomaram-se bastante raros.
Entre as cobras existentes nas matas do alto Juruá (cf. lbid.:577-600)
podemos mencionar a caninana (spilotes pullatus), a cobra-cega (Amphisbaena fuliginosa), a
coral (Micrurus sp.), a jararaca (bothrops atrox), a jibóia (Boa constrictor), a papagaia (Coralus
caninusi, a periquita-bóia (Bothrops bilineatuss, a surucucu (Lachesis muta), a salamanta
,.... (Epicrates cenchria) e a sucuri (Eunectes murinuey. Entre as muitas espécies de anfíbios (cf.
lbid.:601-614), podem ser lembrados o sapo canoeiro (Hyla boans), o cururu (Bufu marinus),
o sapo-verde (Phyllomedusa bicolor - P. tarsius - P. vaillantíi), a jia (Lithodytes lineatus -
Leptodactylus rlzodonzystax), o sapinho-da-chuva (Dendrobatidae), o sapo-de-enxurrada
(Pn;nohyas venulosa) e o caçote (Eleutlzerodactylus). De acordo com a Enciclopédia da Floresta,
"deve haoer mais de cem mil espécies diferentes de insetos na Reserva Extrativista do Alto Juntá - !:"-, {J..<) talvez o lugar mais rico do mundo no tocante a esse grupo de animais" (Ibid.:38), referindo-se aos ._,;
diversos tipos de abelhas, aleluias, baratas, besouros, borboletas, cabas, carapanãs.
cigarras, cupins, formigas, gafanhotos, grilos, joaninhas, libélulas, bichos-paus, mariposas,
rneruins, moscas, mutucas, percevejos, piolhos, piuns, louva-a-deus, pulgões, tanajuras,
tapurus, tesourinhas, tocandeiras e vaquinhas. Observamos enfim que as espécies relacionadas acima e as
características ambientais anteriormente discutidas têm o propósito de fornecer tão
somente uma idéia geral da biodiversidade encontrada na região do alto Juruá em que se
insere a área delimitada, cuja descrição detalhada certamente sobrepassaria os objetivos
desse relatório.
,,,-.;
r:
Proi:.essc nº:~=,-oS ~ Fo\ha nº: Lf i,c:, Rub{ica'. - ,e. - - 2 -
p) Recursos Naturais e Preservação
-;.~~-~---- ..;-;:-· ..
Considerando o fato da população Arara que ocupa presentemente
a bacia do rio Amônia residir toda junto às margens deste curso d' água, percebe-se de
imediato que a preservação desse afluente do alto Juruá é de vital importância para o bem <!
estar econômico e social das famílias indígenas que ali se encontram. Ocorre, porém, que
~ problema ambiental mais grave encontrado por este GT nos limites da área delimitada
durante os trabalhos de ·campo foi justamente a grande devastação da cobertura florestal
na margem esquerda do Amônia, com o conseqüente desbarrancamento dessa ribeira e o
assoreamento do l~to do rio. Deveras, o que é particularmente notável no processo de
degradação ambiental do rio Amônia é a constatação de ter sido ação perpetrada sob o
incentivo das políticas adotadas por um órgão público federal, no caso o INCRA. Como
pudemos apurar, com a efetiva implantação do Projeto de Assentamento Amônia, as
fanu1ias parceleiras foram motivadas a realizarem derrubadas para a formação de
pastagens com vistas ao recebimento do respectivo crédito de fomento para criação
agropecuária. Deste modo, ao longo da segunda metade da década de 1990, várias
daquelas famílias assentadas pelo INCRA no P A Amônia procederam à derrubada de
grandes trechos da mata ciliar na margem esquerda do rio, efetuando a sua substituição
por capim.
O resultado desse processo é comentado por diversas vezes no
relatório ambiental resultante dos trabalhos deste GT, potencializando-se talvez os seus
efeitos deletérios pelo fato do Amônia ser um rio "bastante jovem, ainda em processo de
colmatação, não apenas por seus meandros, mas pela conformação de seus igarapés" (cf. Anexo 4;
Benjó, 2002:14). Segundo esse relatório, "a partir da promessa de financiamento de gado, os
assentados substituíram a mata ciliar por pasto. O financiamento nunca chegou, mas a degradação
ambiental já é alarmante" (Ibid.:3). Por conta disso, registrou-se "a premente necessidade de
contenção do processo de assoreamento do rio, dada a retirada da mata ciliar para implantação de
pastagem", pois os problemas de degradação ambiental decorrentes da implantação do
Projeto de Assentamento tomavam-se patentes através da "redução da piscosidade no
Amônia e oferta de caça necessários à composição da dieta" (Ibid.:14 e 36). Para os que hoje
navegam pelas águas do Amônia, impressiona o contraste entre as duas margens do rio,
não obstante ser o processo descrito de origern relativamente recente". Embora se observe,
por vezes, .i mesma prática da derrubada de trechos da mata ciliar na margem direita do
·-
-
r-
rio, incluída nos limites da RESEX do Alto Juruá, o impacto decorrente parece ser
consideravelm~te menor em razão de um pequeno afastamento da margem e de sua
destinação prioritária para a implantação de roçados;-·:c-B quais são em geral mais
rapidamente sucedidos pela formação de capoeiras e da mata secundária.
Além do próprio rio Amônia, os lagos existentes no interior da área
delimitada constituem outro importante recurso ambiental para a comunidade Arara.
Esses lagos são: a) o localizado junto à· rnafgem direita do Amônia pouco acima da
embocadura do igarapé Tetéu, chamado 'do Saboeiro' no relatório de Benjó (Op. dt.:38)
por ser no presente utilizado prioritariamente pelos não índios residentes na colocação
homônima; b) o lago 'do Capim', situado pouco abaixo da colocação Assembléia junto à
margem direita do rio, assim denominado em razão de possuir grande parte de sua
superfície colonizada pela vegetação pioneira - que deu início ao processo de sua
colmatação; e e) o lago 'Redondo', localizado junto à margem esquerda do Amônia, cuja
proximidade imediata com o curso do rio, do qual se encontra separado por uma estreita
faixa de terra, faz com que corra o risco de ser à médio prazo 'arrombado' pela força da , 56 agua.
Existem restrições mais ou menos efetivas por parte da população
não indígena ao uso dos lagos existentes na área delimitada pelos integrantes da
comunidade Arara. De acordo com a convenção regional, geralmente o acesso e o
usufruto destes lagos são controlados pelo respectivo 'dono do lote' (no caso da margem
abrangida pelo Projeto de Assentamento) ou 'morador' (no caso da margem incluída na
Reserva Extrativista) .onde eles se acham localizados. Em todo caso, o lago Redondo
continua a ser intermitentemente utilizado pelas famílias indígenas, especialmente
aquelas que habitam a colocação Assembléia. O dito do Capim, por sua pequena
dimensão e pelo fato de estar parcialmente cerrado pela vegetação, tem manifestamente
sua importância pesqueira diminuída no presente. Por sua vez, a exclusividade . na
utilização do lago situado acima do igarapé Tetéu é disputada acirradamente pelos não
índios residentesna colocação Saboeiro. De qualquer forma, os lagos acima indicados
constituem com certeza um recurso econômico relevante para os Arara, sendo a sua
inclusão uma das referências para o estabelecimento do limite setentrional aqui proposto
no curso do rio Amônia.
Outro recurso ambiental crucialmente necessário ao bem-estar das
famílias Arara que ocupam o Amônia é a disponibilidade de animais de caça. Devido à ~
persistente prática de caçadas na bacia deste rio para atender as demandas da cidade de
97
r: ·'"' ,,..... ,,.... r>
r ,,...... ,..... I'"'
r ,,.... r - r-
r: r r ,....
rj ,..... r:
r>
r - r
r
r- r
r r
r
~) I'"'
,,.....
,.....,
,,.....
,,...._
r r>
r: r: ;-.___ ,,.... r: • • ,,.....
r- ,-.
~
Processo nº: 2=1:cJ'/o-u
Folha nº: Lf.2. 2- Rubrica:--#-
Marechal Thaumaturgo, e de turmas madeireiras, há uma nítida rarefação na densidade
de animais de caça hoje encontrados na área proposta em relação aos períodos anteriores,
embora esteja distante aínda=segundo nos parece, de um ponto que pudesse -- ser ·
considerado como de escassez. É possível, inclusive, que as atividades de caça
desenvolvidas na zona circundante à área deliinitada, como é o caso, já referido
ant~riormente, das caçadas com cachorro realizadas por não índios nas cabeceiras do
igarapé Timoteu (no interior da área do Parque Nacional da Serra do Divisor), possam
c~mtribuir em alguma medida para a mencionada rarefação de animais na área
delimitada. Nesse sentido, é de fundamental importância a preservação_ da região de
cabeceiras de diversos afluentes da margem esquerda do Amônia, tal como as terras altas
que dão origem às nascentes dos igarapés Timoteu, Coconaia e Artur. Na margem direita,
possuem importância semelhante as zonas abrangidas pelo curso superior do igarapé
Tetéu, pela margem esquerdá do igarapé Montevidéu e pelas nascentes dos igarapés
Teimoso e Taboca, afluentes do rio Arara, incluindo também a margem esquerda no
médio curso deste último. Essas regiões são imprescindíveis à reprodução dos animais
caçados pelos Arara, funcionando em certa medida como .. zona de refúgio para os
mesmos.
Entendemos por outro lado que as próprias famílias que se
identificam como Arara deverão .considerar os benefícios da· auto-regulação no que
concerne a utilização dos recursos naturais mais críticos existentes na área proposta. As
famílias indígenas residentes na margem direita do Amônia já possuem experiência direta
desse tipo de expediente corno moradoras da RESEX do Alto Juruá, visto que o plano de
utilização dessa unidade de conservação. prevê diversos princípios que são admitidos de
comum acordo para as intervenções extrativistas, venatórias e agro-pastoris na área em
questão". Afirmamos isso devido à experiência passada de parte dessas famílias na
prática de caça visando o abastecimento de turmas madeireiras ou o comércio com outros
não índios. Inclui-se aí também, evidentemente, a conveniência da adoção de algum tipo
de consenso quanto aos possíveis padrões de sustentabilidade na exploração dos recursos
madeireiros no interior da área delimitada. Assim nos manifestamos, novamente, em
razão do envolvimento anterior (e, em certa medida, ainda presente de forma atenuada)
de parte das famílias consideradas com o sistema de aviamento que sustenta a extração
madeireira no alto Juruá. Um exemplo do tipo depostura adotada pelas famílias Arara
com respeito a essa questão pode ser inferido pela disparidade -comentada no relatório
de Benjó (Op. cit.:38)- entre o grande número daquelas que realizaram o desmatamento à
-98
,-...,
margem do Amônia para a formação de pastagens com vistas ao recebimento dos créditos
de fomento providos pelo INCRA e. a inexpressiva quantidade daquelas que realmente
. p~s~uem algum tipo de criação pastoril. Quanto a isso, é de interesse o alerta contido no relatório acima mencionado sobre as possíveis conseqüências ambientais de uma
intensificação na extração madeireira nos limites da 'área proposta:
"Se por um lado a expansão agropecuária ffuplicou na degradação da mata ciliar, na qual está associada a redução da piscosidade do Amônia, por outro a expansão madeireira não pode vir a representar um mal menor, considerando os riscos de ampliação dos tabocais e, por conseguinte, teria-se a redução da diversidade na região o que colocaria em cheque as condições básicas de sobrevivência e reprodução cultural dos Arara" (Benjó, op. cit.:39).
Queremos crer, de todo modo, que prevalecerão as intenções
também manifestas em diversas ocasiões pelos integrantes e· lideranças da comunidade
Arara do rio Amônia que apontam para o surgimento de uma nova mentalidade e
disposição conservacionista, calcada em uma compreensão genuína sobre a relevância da
proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais existentes na área ocupada para a
manutenção dos seus padrões adaptativos.
r • +""" e R0
r- r-
r:
Pro~ n°: .:e:;º s /õ:õ _ Folha nº: t-l l- ~
Rubrica: - J.C /
V. REPRODUÇÃO FÍSICA E-CULTURAL
q) Identidades Pano
Como visto na Primeira Parte deste Relatório, o conjunto de farru1ias
que podemos identificar como constituindo a atual população 'Arara do rio Amônia'
possui, na verdade, diversas procedências étnicas. As informações supra coligidas dão
conta de um indiscutível substrato autóctone Amawáka que foi grandemente influenciado.
pela associação forçosa com os Kampa e os Korubo da montaria peruana, intoduzidos no
rio Amônia durante o auge do período da borracha. Essa população-base seria logo
acrescida com a chegada dos Quijo (Santa Rosa) vindos do rio Breu, recebendo
posteriormente um aporte fundamental de famílias Arara, Jam.ináwa e Kaxinawá
oriundas da bacia do rio Tejo. Além dos grupos indígenas acima nomeados, há também
um razoável contingente de não índios vinculados no presente por relações de casamento
e afinidade aos Arara do Amônia. A dinâmica e as limitações criadas por essa forma
específica de composição social .manífestam-se naturalmente em qualquer consideração
sobre a realidade contemporânea dessa comunidade indígena.
De fato, o que pode parecer urna exceção extrema frente à imagem
corrente ou 'normal' do que seja considerado ~a 'comunidade indígena', um 'grupo
étnico', uma 'tribo', ou coisa semelhante, revela-se sob outro ponto de vista como a
recorrência de um certo padrão regional de organização das sociedades ameríndias.
Alguns pesquisadores têm chamado a atenção para o "aspecto caleidoscópico do mapa
'étnico" (Townley, 1988:83) dessa área amazônica. Em parte, isso seria conseqüência de
uma história de contato interétnico particularmente agitada, que se traduziu em períodos
de freqüentes ataques e hostilidades por parte dos integrantes das frentes de expansão
nacional e de outros grupos nativos, ou contra eles, provocando a migração e dispersão da
população indígena como um todo e um incessante processo de fragmentação e
recombinação das comunidades locais. Como resultado, grande parte dos grupos
existentes no presente são essencialmente 'compósitos', vários deles tendo recorrido à
guerra e casamento por captura como forma de superar perdas populacionais provocadas
por correrias e epidemias (lbidem:83-84).
/
100
. -. r-:
,--.
r'·
-
r- r r:
r:
----"' .
Em princípio, a instabilidade dos grupos locais e a permanente
possibilidade de transposição das fronteiras étnicas constituem o resultado da interrelação
entre esse processo histórico de contato e certas características sócio-culturais dos povos
da farru1ia lingüística Pano. Como observado pioneiramente por Rivet & Tastevin, os
grupos Pano seriam possuidores de "uma homogeneidade realmente notável, que raramente se
enco~tra tão marcada nas grandes famílias lingüísticas sul-americanas" (1927 /29:815). Essa
extraordinária homogeneidade lingüística, gedgráfica e cultural, que permitiria o trânsito
d.os indivíduos entre os diversos grupos do conjunto Pano, é contrastada por autores mais
recentes com a "extrema atomização de seus constituintes" (Erikson, 1986:186), dando origem
à imagem de uma 'nebulosa compacta' (Idem, 1993), metáfora que transmite "a idéia de
pequenos corpúsculos similares e em contínuo processo de movimento e formação, autônomos e
dependentes entre si simultaneamente" (Carid Naveira, .1999:36). Tal imagem é também
tornada como se referindo a ·um "universo em formação": "há uma tendência contínua à
reestruturação que passa por momentos de expansão e contração que a chegada do homem branco
não fez mais que acelerar num primeiro momento e congelar depois" (Ibid.:60).
A construção da identidade entre os grupos Pano é um tema
bastante complexo, sendo a maior parte das 'categorias étnicas' usadas de forma vaga ou
flexível. Tudo ocorre como se houvesse um "grande vazio entre as categorias mais concretas
(os grupos locais) e as mais englobantes (a humanidade de referência, os 'verdadeiros homens', quer
dizer, os Pano)" (Erikson, 1990:45), numa tentativa de "anular as etapas intermediárias, de
modo a deixar a porta aberta para alianças que transcedem o nível 'éinico'" (Idem, 1992:243) . .(\.
identidade pano é p~oduzida por um jogo complexo · de assimilação da diferença e
distinção frente à semelhança, sendo assim intercambiável e, de algum modo,
consubstancial à alteridade·que se lhe opõe (cf. Idem, 1986:189). "Destas considerações não se
depreende que seja impossível traçar fronteiras étnicas entre os grupos pano", diz Lima (1994:26),
"mas apenas que não sejam delineadas em traços fortes. Talvez devêssemos imaginar estas
fronteiras com contornos pontilhados, com pequenas lacunas entreabertas por onde 'o exterior
pudesse ser atraído".
Entre os grupos que estamos tratando, os termos eqüivalentes a
'nós' resumem, no seu mais alto grau, o significado de 'humanidade pano' (adi koin) e, no
seu grau rrúnimo, o de 'grupo de parentes' (kaiwo). O termo kaiuio também pode ser
entendido como se referindo ao 'grupo local', visto que o sistema de parentesco e a usual
habitação em conjuntos discretos de uma a três malocas próximas umas às outras
promoviam uma certa equivalência entre essas categorias:
101
- Processo n~_::--:r~ F o\ha n°' li 2. r;, Rubnça:
- "O grupo local é a mais ampla categoria que proporciona um senso claro e sem ambigüidade para a distinção entre 'nós' e 'eles'. O grupo local é o kaiuio; sendo -wo um sufixo que significa 'grupo' ou 'pessoas' e kai- 'crescer' ou 'aumentar'. O kaiwo é 'aqueles que cresceram juntos'. Além do kaiwo existem vários outros que os Yaminahua poderiam reconhecer também como sendo 'pessoas verdadeiras' (odi koín), pessoas como os Sharanahua ou Mastanahua que falam a mesma linguagem e 'comportam-se como nós fazemos'; mas quem, exatamente; se encaixa nessa categoria, e onde ela termina, são fatos sobre os quais ninguém está seguro. Além do kaiioo as fronteiras da categoria tomam-se confusas. Os Amahuaca e Cashínahua são ditos usualmente serem 'oomo pessoas reais' (odi koin keskera), mas não exatamente do mesmo tipo; os Campa, Culina e mestiços não são propriamente 'verdadeiras' pessoas, sendo portanto extremamente difíceis de entender em qualquer sentido" {Townsley, op. cit.:88f"'.
-
O grupo local "é a mais ampla categoria social que demonstra algum tipo
de efetiva unídade política ou social", delineando-se "por uma tradição de co-residência em um
território contíguo" e pelo fato dos membros adultos centrais do grupo "serem relacionados
por laços próximos de parentesco", sendo por isso freqüentemente nomeado com "os rótulos étnicos nahua" (Townsley, idem:87). Há igualmente o movimento inverso, quando se aplica
um mesmo rótulo étnico à dois grupos locais da fanu1ia Pano distintos entre si. Este seria
exatamente o caso dos grupos Jamináwa estabelecidos nas bacias do Juruá e do Purus em
território peruano, os quais, apesar de nomeados conjuntamente, não constituem "em
qualquer sentido um grupo étnico", pertencendo antes a "uma categoria étnica - Panoanos do
Purus= representada por outros grupos nahua também" (Ibíd.:26). Apesar de existirem grupos
locais chamados_ Yaminahua, "o que esta designação realmente significa e o que distingue os
Yaminahua de outros grupos próximos, designados como 'Sharanahua', 'Mastanahua' ou
'Amahuaca' está longe de ser claro" (Ibid.:5)59.
-
"Perguntado sobre seu kaio, um Yaminawa tenderá a oferecer um termo -riawa, geralmente Xíxinawa; mas pode continuar explicando os grupos -nawa de seus ancestrais imediatos, e eventualmente explicar que 'na verdade' ou 'também' ele é Xaonawa ou Kaxinawa [ ]. No extremo, essa enumeração de ancestrais sugere que os Yaminawa são urna 'mistura' [ ]. Não é muito diferente o processo que faz etnias de clãs e clãs de etnias, segundo se considere a aldeia Yaminawa como fruto de um consenso (um agregado de povos) ou como vítima de um conflíto=-resultado de uma fissão" (Calavia Sáez, 1995).
Como comenta outro autor, "é difícil saber até que ponto o sistema de
classificação totêmico nativo foi exacerbado com os anseios do homem branco em delimitar seu
objeto de encontro passando a converter nomes em etnônimos 'fortes": (Carid Naveira, op. cit.:63-
64). De qualquer forma, encontramos a mesma asserção sobre serem 'todos misturados'
entre os Yawanáwa do rio Gregório, onde "a mestiçagem aconteceu em proporções , consideráveis"(Ibid.:32). Nessa sociedade, "o mestiço é aceito como membro grupai e de certa
forma dá-se uma importância reduzida a este fato. Existe a noção de mistura e é comum escutar a
102
,,,....
frase: 'nós somos todos misturados', porém mais do que dar a entender que se constitui uma pessoa intermediária entre dois termos, o que parece se formar é um ser que os inclui aos dois grupos"
(Ibid.). Deste modo, "ao conservar a ascendência tanto por parte de pai quaiifil"drinliê/ uma pessoa ora era Yawanawa, ora Kaiukina 'puro', ora Yawanawa e Katukina simultaneamente" (Ibid.:37). Por conta disso, um levantamento genealógico de ascendentes Yawanáwa
depara-se freqüentemente como a menção à (sub-)grupos como Iskunawa, Ushunawa,
Sainawa, Rununawa, Paranawa e, signifícativamente, Shawanawa:
"Algumas famílias completas eram por parte de pai e mãe Sainawa ou Rununawa, outras inteiramente Shawanawa (Arara), alguns indivíduos eram por parte de pai Ushunawa como o velho Raimundo Luiz e por parte de mãe Yawanawa sem que uma filiação determinada predominasse, outros por parte de pai Yawanawa e de mãe Sainawa ... Obviamente todos se consideram Yawanawa ainda que sua procedência fosse completamente forânea" (Carid Naveíra, ibid.:150; grifo nosso)".
-
No mesmo sentido, embora a noção de 'mistura' se refira, entre os
Katukína do rio Campinas, especialmente à teoria da concepção, "a incorporação do 'outro' é um traço intrínseco à constituição da ordem social", razão pela qual "a afirmação dos Kaiukina de que são todos 'misturados' encontra aí sua expressão mais radical e esclarecedora: a unidade só é possível pela junção de partes diferentes" (Lima, op. cit.:153-154). Por diversos fatores, "os critérios de inclusão e exclusão da identidade Katukina oscilam permanentemente", sendo essa identidade "sumamente contextual" e dependente "do tipo de relação que se deseja pôr em relevo" (Ibid.:155). Dentro desse quadro, é interessante lembrar a observação já feita
anteriormente (supra:32) de que, entre os grupos assinalados na bacia do alto Juruá ~o
início do século XX, constavam os Sâuia-naua (sâuia, 'arara vermelha') das margens do rio
Gregório, que haviam, segundo Tastevin (1925), adotado "o sobrenome enganar de Katukina"61•
,....,,
r-
~
.r-
Com efeito, a relação entre os Katuk.ína e os Yawanáwa estaria
"baseada em um estado permanente de 'interdependência precária' ou de 'simbiose guerreira'" em
larga medida semelhante ao padrão vigente entre os Jamináwa e Amawáka: "a
ambivalência, antes que a oposição pura e simples, é o que rege a relação entre estes grupos" {Lima,
ibid.:132-133). Embora os Amawáka e os Jarnináwa sejam vistos como inimigos
tradicionais (cf. Carneiro, 1985:123), existindo um antagonismo renitente de parte a parte,
há uma "uma sólida tradição tanto de hostilidades quanto de intercasamenios" entre ambos os
grupos (Townsley, op. cit.:89)62• De fato, os Kaxinawá não fazem distinção entre os
Amawáka e os Jamináwa, servindo-se deste último termo para designar também o outro •m
grupo (cf. Verswijver, 1987:27)63. A relação extremamente próxima entre as duas
,,...., r. 103
,,._,
_,__
r:
r>.
r.
... ----- ----------------~ Processo nO: Folha nº: ll 2. S Rubrica: --:;?~>'----: r=:
sociedades- e os mecanismos característicos de produção da identidade entre os Pano são
os fatores que, em tese, poderiam explicar a suspeita levantada no passado pelo Pe.
Tastevin de constituírem os Amawáka e Jainiruíw1. um mesmo grupo indígena. Assim,
após realizar uma enumeração das 'tribos' então conhecidas na bacia do Juruá, ele chama
a atenção para a ausência de alguns grupos notórios, fazendo o seguinte comentário:
"Espanta que não figurem aqui os Amahüaca do alto Juruá. Na minha opIIU.ao e com garantia de dois Jaminaua que não se conheciam (um do Liberdade, visto em Cruzeiro, e o outro do Gregório, visto em São Felipe), os Amahuaca são os mesmos que os [aminaua, e isto explicaria como os Jaminaua, em contato direto com os Incas do Ucayali., são os introdutores da civilização entre os Kachínaua, Amahuaca é o nome de um rio (amo, capivara, toakâ, rio), afluente direto do alto Juruá, sobre cujas margens estava a sua maloca. Há na região vários outros cursos d'água que tomam o seu nome da capivara (hydorclwerus capivara): o Amônia ou Amona, afluente esquerdo do alto Juruá; dois Amaya, um deles tributário do Abujao, afluente do Ucayali; o outro, que corre até o Imbira; e o Amaran (ama, capivara, han. ou xan, rio), entre o Tucuman e o Imbira, sobre as margens do qual vivia uma tribo Kachinaua, quando da invasão brasileira. Os índios não podiam cometer o mesmo engano que os estrangeiros e tornar o (Pirée) por um homem: daí vem, acredito, o seu silêncio sobre os Amahuaca" (Tastevín, 1925).
Segundo Townsley (Op. cit:.12), os diversos grupos locais
denominados Amawáka apresentariam uma dispersão considerável e quase nenhum
contato uns com os outros, não havendo, na falta de uma efetiva unidade territorial oµ
social, uma razão manifesta (exceto talvez pela possível _origem comum) para serem
considerados um mesmo grupo étnico. Além de sua identificação com os Jamináwa, os
Amawáka são, ém outros momentos, equiparados aos Chipinaua do rio Cruzeiro do Vale
(Tastevin, 1928), ou ainda aos Papavô do rio [ordão, também chamados Yumbanatoa (cf.
Tastevin, 1926)64. Estudos mais recentes informam as seguintes denominações para os
grupos locais Amawáka no Peru: Coiinahua, Shanioo, Shimanahua, Indowo e Rondowo (cf.
Santos & Barclay, 1994:xxv}. Contudo, caberia ainda aventar uma outra possibilidade para
a intrigante ausência dos Amawáka no quadro etnográfico atual do alto Juruá brasileiro,
visto o seu quase onipresente domínio nessa região ao tempo da viagem realizada pela
Comissão Mista de 1905 (supra:19-23}, bem como as diversas menções posteriores que se
reportam aos locais habitados por esses índios no território acreano na primeira metade
do século XX (v. Anexo 7). Assim, podemos admitir, ao menos como hipótese, que parte
dos Amawáka e outros grupos indígenas citados nos rios Cruzeiro do Vale e Tejo, por
exemplo, tenham sido absorvidos pela população Arara (e [amináwa) que habita os
mesmos cursos d' água no presente. Há, evidentemente, outras possíveis explicações para •
o 'desaparecimento' dos Amawáka em ambos os rios, algumas inclusive mencionadas na
104
r,
r:
r: r r: r- r:
r:
r:
r
b r r: r:
r:
r-;
Processo nº: :z. ~J.~ _
Folha n": ';:[;, RubdoB;~ =
Primeira 'Parte, como migrações, incidência de epidemias e junção a outros grupos. É
preciso considerar, por outro lado, -o grande incentivo ao abandono da identidade
'Amawáka' que constitui ~ -ubf qua representação regional sobre este grupo indígena como . .
o modeloexemplar do (endo)canibalismo pano", A especial reputação dos Amawáka
entre os não índios do alto Juruá, porém, abrange igualmente outras· características tidas
como 'selvagens'. Seja como for, a possibilidade da conversão de uma identidade
'Amawáka' em 'Arara' nos referidos cursos d'água-se procedente- ajudaria por sua vez
a explicar a aparente facilidade com que os antigos Amawáka do Amônia (e os outros
grupos que a eles se juntaram ao longo do tempo) vieram a assumir sua atual identidade
'Arara'. Isso nos leva à discussão sobre o significado do etnônimo utilizado neste relatório
e sua correspondência com a consciência prática demonstrada pelos próprios
interessados.
r) Significado do Etnônimo
A patente similitude das sociedades Pano do alto Juruá e a dinâmica
de suas relações étnicas certamente proporcionou a atribuição de múltiplas denominações
regionais e bibliográficas a grupos cujas fronteiras são, no entanto, bastante fluidas tanto
ao nível empírico quanto classificatório. "Praticamente cada grupo local se vê dotado de um
nome particular, o que resulta em um desconcertante pulular de denominações" (Erikson,
1990:44-45). Esse afastamento entre nomes e grupos, por assim dizer, já era verificado pelo general Mendonça ao comentar que "as chronicas aitribuem ao [uruâ, desde 1709 até os nossos
dias, 49 tribus indígenas, tendo 98 denominações", observando ainda que "algumas dessas tribus
parecem exiincias, outras alteraram os nomes e muitas se internaram demasiadamente, pois já não se falia nellas. Surgem, entretanto, denominações inteiramente differenies, talvez de tribus ouir'ora
desconhecidas" (Mendonça, 1989:188)66.
"O problema dos etnônimos Pano é um dos quebra-cabeças com o que qualquer estudioso destes grupos topa mais cedo ou mais tarde. Provavelmente o eixo das múltiplas peças radique na facilidade destes numerosos grupos para se contrair e dilatar, recolher e expandir, se fissionar e re-fusionar ... a .mobliidade política e as contínuas fragmentações e1tari~m de acordo com as mudanças e confusões de etnônimos que de certa forma funcionariam mais como nomes de agrupamentos, que se repetem em lugares diversos, que como rígidos emblemas étnicos [ ... ]. Por vezes parece que os nomes nada mais são que
105
r: r:
conjuntos vazios prontos par~ serem preenchidos, de outro lado temos uma fagocitose 'hierárquica', como no· caso dos Yawanawa, o~déw ,uns poucos seriam ditos ''puros', Yawanawa por parte de pai e mãe, mas onde a línguaç.ó nome se impôs a todos. Se o que estou chamando Yawanawa são realmente pessoas de diferentes procedências adscritas previamente a conjuntos da mesma abrangência é lógico supor que o que desaparece, seguindo o árduo rastro dos etnônimos, é o nome mas não seus integrantes" (Carid Naveira, op. cit.:63).
Essa sugestão é bastante pertinente para o caso aqui examinado, <!'
dado que, embora não se encontre mais no rio Amônia o emprego sistemático e
generalizado das antigas denominações étnicas de origem, pode-se perceber a
coexistência das antigas identidades Amoaca, Chama, Santa Rosa, f amináwa,. Kaxinatoâ, e mesmo Kampa, com o presente uso do "rótulo' (label) étnico 'Arara'. Aliás, a utilização
desse etnónimo por; __parte dos próprios índios sofreu algumas flutuações no passado
recente. Como visto ·anteriormente (supra:57-59), na sua primeira grande manifestação
conjunta, datada de 15.12.2000, esses índios .identificaram-se como "[antinauas Arara do rio
Amônia". Pouco depois, numa 'exposição de motivo' datada de 17.01.2001,
autodenominaram-se "povo desaldeado da etnia Arara do alto [uruâ" e logo, em um
documento de 17.03.2001, "índios da tribo arara do Alto Juntá". Cerca de dois meses depois,
em uma carta enviada à direção da FUNAI, caracterizaram-se como "povo indígena
dezaldeado da etnia Arara Apolima localizado na margem do rio Amônia". O derradeiro termo
aqui empregue - 'Apolima' - merece por sua importância um comentário especial.
Ao que se saiba, Apolima foi uma denominação primeiramente
usada para se referir às famílias indígenas aqui consideradas no expediente dirigido pelos
integrantes do CIMI j.e Cruzeiro do Sul em 18.11.1999 ao chefe do posto da FUNAI
naquela cidade, o que causou 'surpresa' ao então Administrador Regional do órgão em
Rio Branco. Posteriormente, havendo visitado o rio Amônia para fazer o levantamento
das famílias interessadas, o antropólogo e técnico indigenista Raimundo Leão intitularia
seu relatório "de localização e identificação dos indígenas denominados de 'Apolimas'",
Conquanto no corpo desse trabalho ele diga que seu objetivo seria a "identificação de vários
grupos de indígenas, que se autodenominaram de 'Apolimas'", observa claramente que era
quase "unanimidade entre estes indígenas de se considerarem pertencentes a etnia Arara"
(grifos nossos):
"Outras ~tnias, fora os Arara, não tive oportunidade de constatar dentro dos que visitei. Para dirimir qualquer dúvida, estive visitando os indígenas Amahuaca, em uma aldeia localizada dentro do Peru, próxima a fronteira com o Brasil e a cidade de tr-pisca (Distrito de Yurua '(..._ Breu) [ ... ]. Nessas duas localidades, estive perguntando se eles possuíam parentes no lado brasileiro e a resposta foi negativa [ ... ]. Quanto a etnia dos indígenas que se
L06
autodenominavam de 'apolimas' o indígena Taumaturgo de Azevedo nos afirmou que essa denominação veio do Peru. Mas tudo levando a cr-er de se tratar de uma localidade e não uma etnia" (Leão, 2000:29-31; grifo nosso).
r:
Indagado sobre o assunto, o índio Taumaturgo respondeu: "'Eu estó misturado com ari e meu pai Kampa e minha vó veio de apolima, mãe arara, moradó desse seringai Minas Gerais'". (Ibid.). A menção à proveniência da avó (paterna, como se depreende do
contexto) de Apolima, indicaria assim se tratar .pe área ou região ocupada pelos Kampa no
Peru. Com efeito, segundo João 'Sebádio' (nº 257 - Anexo 3), Apolima seria uma localidade
do rio Pachitea, no Gran Pajonal. Alguns Kampa da aldeia Apiwtxa sugeriram igualmente
que o termo pudesse ser uma corruptela de Apurimac, rio que percorre o território dos
grupos de filiação aruák no piemonte andino peruano. Caso proceda a suposição de que o
termo Apolima provém de alguma localidade ocupada pelos Kampa no Peru, haveria de
fato urna cer~a ironia no emprego desse termo para se referir aos 'Arara' do rio Amônia,
que apesar de possuírem fortes influências genealógicas e até mesmo culturais daquele
outro grupo indígena, dele intentam se distinguir claramente no nível político. Por outro
lado, não seria a primeira vez que ocorreria a adoção de um nome forâneo para a
designação de um grupo Pano, ou com substrato pano, sendo esta a regra antes que a
exceção. A este respeito, é significativo o diálogo mantido entre o servidor Leão e [osé
Macedo:
"Inicialmente, perguntei seu nome, ele por sua vez respondeu 'José Maceda Kantpa', Eu fiquei surpreso do senhor José ter o sobrenome de Kampa, e perguntei se ele era Kampa, ele: 'Não, senhor eu não sou Kampa'. Então perguntei o que ele era, e.ele: 'Eu soubi que meu pai era baiano e minha mãe não era, a minha mãe era arara'. Indaguei por· que colocaram o sobrenome de Kampa, ele respondeu 'Era no tempo que nois estava lá em cinta, junto com eles naquele tempo, né. Entonce nois saímo, por que eles queria por só Kampa'" (Idem:18).
r:
Seja como for, a partir do uso feito inicialmente pelos representantes
do CIMI e da persistência até o momento dessa organização de apoio em denominá-los
dessa forma (v. Padilha, 2002), possivelmente para os distinguir dos Arara estabelecidos
no rio Cruzeiro do Vale e dos '[amináwa-Arara' do rio Bagé, alguns integrantes das
famílias indígenas aqui enfocadas também passaram a se (auto)referir comoApolima-Arara (o que, de acordo com a conjectura exposta acima, equivaleria simetricamente a algo como
'Kampa-Pano'). Por outro lado, apesar do atrativo representado pela denominação
compósita - que já tem seu precedente regional exatamente com os chamados 'Jamináwa
Arara' do ~agé -, não existe urna justificativa plausível para o seu emprego além do mero
efeito de ,·:marcar a especificidade sócio-histórica de uma determinada 'comunidade
.107
r,.
Processo nc:. Z '::J-°K / c:,...;:J Folha nº: L/ ~ 2, Rubrica: ~[
••••• ~ ~ ~ 22i!!iiidr:,.JW-=>
- indígena' frente a seus correlatos mais próximos. Pois, a adoção de' Apolima-Arara' como_
etnônimo (ou, in c.asu, 'Kampa-Arara') representaria talvez urna arbitrária exclusão dos
demais grupos indígenas presentes na composição das famílias dessa 'comunidade'.
Ademais, se o que se deseja é expressar uma realidade sociológica, logo se constata as
aporias a que chegaríamos ao tentar descrever terminologicamente a descendência, por
exemplo, entreuma pessoa considerada Santa Rosa-Kampa e outra vista como Koníbo
Amawáka. Ou ainda, o resultado da união erttre uma pessoa pertencente à qualquer dos
grupos formadores da atual 'comunidade indígena' e os não índios inseridos na sua rede
de parentesco. Na verdade, os 'Arara do Amônia' demonstram uma postura flexível a
esse respeito. Assim, entre as assinaturas constantes da 'exposição de motivo' datada de
17.01.2001 (encaminhada ao DEID/DAF através do Merno nº 286/GAB/ AER RBR, de
23.04.2001) figuram, por exemplo, as de 'Esieliia Felix do. Nascimento Arara' e '[uraci Alves
Bezerra Arara', sendo ambas não índias casadas, respectivamente, com os 'Arara' ( ou
Uami)Náwa-Arara, dependendo do ponto de vista) Antônio Siqueira e Eduardo Gomes de
Oliveira (Processo nº 2708/00, fls, 65/69). Com efeito, essa atitude parece ser congruente
com o conteúdo do depoimento prestado por uma índia Arara habitante do rio Cruzeiro
do Vale, que ressalta essa multiplicidade de identidades derivada do processo de
'mistura' interétnica:
r
"O branco casado com Arara constitui com seu cônjuge uma familia Arara, sendo considerado como membro do grupo; tira inclusive sua certidão de nascimento como Arara. 'Os branco vira Arara sem ser, né?'. Os índios estão conscientes da não indianidade dos "neo índios' e da miscigenação causada por essas uniões interétnicas. 'Porque se juntando com índio era mais melhor, porque quando a mulher dele tivesse um filho só era índio mesmo, não era assim mais misturado que neniassim que eu, que assim, meu pai fosse junt~ com uma índia eu era índia também, nera? Mas ele se ajuntou com uma branca, eu sou assim misturada não sei dizer como é, porque eu tenho parte de branco e de caboco, porque meu pai é caboco e a minha mãe é branca'" (Freitas, 1995: 104-105)6'.
,- Tendo em vista as considerações precedentes, o etnônirno 'Arara' é
utilizado neste relatório em referência ao conjunto de famílias indígenas que no período
mais recente vêm se identificando dessa forma (ou como 'Apolima-Arara') no rio Amônia
e que por sua vez são identificadas de forma diferenciada em relação aos índios Kampa
que habitam o mesmo curso d'água. Embora esse grupo de famílias tenha vivido uma
trajetória histórica muito particular e diferenciada em relação aos demais grupos locais
conhecidos como Arara (ou Janúnáwa-Arara) situados no alto Juruá, existem vínculos
sociais e de parentesco entre eles". Compreende-se, portanto, a adoção do etnônirno Arara ! como analítica e empiricamente: i) facultada pelos laços históricos e sociais que unem de
108
'"" .. , .-...-t;~--~~... . . .
!'"''
0 r-
r: I""-.
r r: r r».
r'· r: r r r:
r r- r-.
r r- ~
forma dirêtii"-uma parte dessas famílias aos demais Arara do alto Juruá.; #) estimulada pelo
seu caráter po1,1co específico (ao articular uma 'Indianidade" genérica que caracteriza a
maior parte dos grupos.Pano contemporâneos do alto Juruá), pos§i6iâtáfiêio· a 'abrangência
das demais identidades indígenas envolvidas (uma das quais tacitamente evitada por seu
caráter negativo a nível regional); iii) definida pelo pertencimento étnico da liderança
reconhecida n~_-.:p.i--esente pel~ 'comunidade indígena'; e ·iv) sustentada pelos laços de
parentesco estabelecidos entre as famílias de filfações étnicas antes distintas e pelo projeto
social comum, em grande parte galvanizado no presente pela reivindicação territorial que
deu origem a este relatório de identificação e delimitação.
s) Aspectos Sócio-Culturais
Afora algumas referências tangenciais que se encontram esparsas
em relatórios administrativos da própria FUNAI,. pouca atenção recebeu essa população
indígena até o momento, não havendo, por exemplo, dados sistematizados disponíveis
sobre as taxas de natalidade e mortalidade do grupo. O resultado do primeiro
levantamento demográfico direcionado especificamente aos Arara do Amônia (cf. Leão,
2000), que contabilizou somente 114 índios pertencentes a esse grupo social, refletiu por
certo esse desconhecimento prévio e algumas limitações no trabalho in loco. No censo que ---:-_':-·
realizamos em 2001, -corrígido pelas observações feitas durante os trabalhos do GT em
2002 (cf. Anexo 3), apuramos a presença de 236 pessoas que se identificavam e/ou eram
identificadas pelos demais como 'Arara' no rio Amônia. Outras 21 pessoas possuíam uma
identificação étnica incerta, sendo-nos indicado ainda o nome de outras 40 pessoas
pertencentes ou relacionadas às fanu1ias levantadas que se encontravam temporária ou
definitivamente· fora do Amônia. Em tese, a população dessa comunidade indígena pode
vir a alcançar 297 pessoas, dependendo para tanto, principalmente, da efetividade e/ ou
aceitação da adscrição étnica. Embora a pirâmide populacional refletida através dos dados
contidos no Quadro I (supra:69) indique uma alta taxa de natalidade, que se traduz no
forte influxo das gerações mais jovens no total considerado, acreditamos que as flutuações
demográficas mais significativas no futuro imediato poderão advir do movimento de
inclusão o~ exclusão da 'comunidade indígena' decorrente de possíveis mudanças
109
!'"',
- r»,
-· 1""·
r:
-· r- r>
('
(índíviduaís ou familiares) de escolha e pertencimento às categorias de :~~el).tiq.ade étnica· .· em jogo no atual momento histórico".
Como reflexo---~- siiã heteróclita composição social, entre outros
fatores, os Arara do Amônia possuem um arcabouço cultural bastante singular. O grupo
passa por um __ _mornento de revalorização do conhecimento de línguas e tradições de
fundo pano possuído por alguns de seus componentes mais Idosos", A despeito da ,, ausência de investigações mais aprofundadas sobre o assunto, temos a impressão que as
línguas Pano ainda faladas no Amônia· poderiam provir dos [amináwa-Arara (como no
caso de Ilda Siqueira de Lima·- nº 157), dos Amawáka (como no caso de Ana Rosa
Azevedo - nº 116), ou dos Koníbo (como no.caso de 'Kaiamanc' - nº 122). Antes que um\
meio de comunicação usado cotídianamente, a importância do conhecimento lingüístico
para os Arara do Amônia reside hoje mais no fato de representar uma demonstração
patente da indianidade do grupo no contexto interétnico. Esse mesmo tipo de avaliação
manifesta-se no depoimento dado por um Arara que habita o rio Cruzeiro do Vale:
"'Entonce prá nós ter nosso direito nós tem nossa área delimitada, né? Nós tem nossa língua indígena falada, nosso documento é nossa língua. Então prá nos não falar na nossa língua nós perde nossa cultura, nossa família, qualquer canto nós pode falar, nós não se acanha de falar. Chegar na frente dos brancos em São Paulo nós tem que falar nossa língua, prá nós provar que somos índios, né?"' (Freitas, op. cit.:108).
As festas cumprmam, em princípio, um papel semelhante de , .
articuladoras privilegiadas de uma etnicidade emblemática". Ocorre que é justamente
nesse campo onde se txpressa com maior nitidez a influência kampa na cultura arara do
rio Amônia, envolvendo desde a importância única concedida à caiçuma de macaxeira até
osinstrumentos musicais utilizados {tambor e flauta) e o estilo de composição. As festas
também têm servido como canal legítimo para expressão de quase toda a sociabilidade
arara cujo alcance sobrepasse a esfera doméstica ou de uma exclusiva 'colocação' do
Amônia.
Além daquelas áreas de evidente significado sócio-cultural para as
famílias indígenas que reivindicam a demarcação da área, como o já mencionado
cemitério existente nas proximidades da colocação Montevidéu (supra:71), poder-se-ía
afirmar corno de valor intrínseco para a identidade do grupo os locais de ocupação
histórica dos seus antigos ascendentes ou membros já Idosos. É o caso, por exemplo, da
colocação Assembléia, habitada intermitentemente desde o primeiro t~ço do século XX . ; .
110
·. _:}pé1a_ ~eifu~··f~~ :1n~i~ria.}ive• r.e~~u~ôu-6 •.. 1biatApós,,~'.•·sti~Ietiia4a ·:dó~ ,ii~f~~ .• 9f ;ti{·\ .... K~IÍtpàdo Rio &nptiea:
. .-- .
·,,..-.._.
~---··
-, .
E
1 !
1
,--._
,-._
-- r'
,----,
·,. ,--. ___ r- --.
r·
,,-.
,--. ,-._
r:
VI.LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO
t) Unidades Federais
A proposta de Iimites aqui formulada para a terra indígena Arara
do Rio Amônia incide em (ou apresenta incidência de) duas glebas sob administração de
órgãos federais: a primeira se trata da Reserva Extrativista do Alto Juruá {~SEX), criada
pelo IBAMA, e a segunda do Projeto de Assentamento Amônia (PA), implantado-pelo
INCRA. A superposição de ambas as glebas com a área delimitada para a TI Arara do Rio
Amônia é apenas parcial, compreendendo uma fração ínfima da RESEX do Alto Juruá e
cerca de um terço dos lotes destinados ao P A Amônia. Das residências ocupadas pelos
Arara que têm solicitado a demarcação da terra indígena, aproximadamente dois terços
estão localizadas na margem.esquerda do rio, inserida no PAAmônia, e o terço restante __
na margem direita, abrangida pela RESEX do Alto Juruá/Além_ das duas unidades
federais acima · mencionadas, a delimitação sugerida para a terra indígena Arara
confronta-se em parte de sua divisa noroeste com o Iimite meridional do Parque Nacional
(PARNA) da Serra do Divisor".
A idéia para a criação da R,ESEX foi ventilada pela primeira vez ei.n
1987, numa reunião yromovida pelo Conselho Nacional . de Seringueiros no seringai
Restauração, localizado no rio Tejo. Essa proposta representou urna reação dos habitantes
locais à truculência· de uma expedição- .. .organizada .no ano anterior ·pelos patrões
seringalistas, com o apoio de força policial, para a cobrança de dívidas próprias do
sistema de aviamento regional. Após a realização de um levantamento preliminar na
bacia do rio Tejo e da qualificação ecológica da região, ocorridos em 1988/89, o Governo Federal criou i3-)1ESEX do Alto Juruá - a primeira do País- através .do Decreto nº 98.863,
de 23.0_1.1990, com área de 506.186 ha. Ainda. que estivesse apenas interditada pela
Portaria nº 2.749 /87, a TI Kampa do Rio Amônea foi devidamente considerada na
descrição do perímetro da RESEX contida neste decreto, que englobou toda a margem
direita do Amônia desde o limite da área Kampa até a sua confluência como rio Juruá.
É preciso ressaltar que, à época de criação da RESEX do Alto Juruá, m ~
parte das familias Arara (principalmente de origem Santa Rosa/Kampa) já se encontrava
..•... 112 ·, ·
estabelecida à margem direita do Amônia. O seu caráter indígena, porém, não parece ter
sido considerado_ enquanto tal pelo IBAMA, permanecendo as mesmas até o momento
em seus locais de ocupação tradicional na qualidade de 'moradores' comuns da
Reserva. Como visto anteriormente (supra:65), a razão apresentada pelo GT da Portaria nº
1815/E/85 para a exclusão dos índios dessa colocação da área delimitada em favor dos
Kampa seria porque estes últimos não tinham "interesse na área de seringai e nem se dão com
estas familias". Deste modo, permaneceram ela~ até o presente submetendo-se ao mesmo "----,
r~gime das demais famílias extrativistas regionais. Aliás, cabe observar que, com a
acentuada queda do preço da borracha desde a segunda metade da década de 1980, a
grande maioria dos moradores da RESEX (pelo menos aqueles estabelecidos à margem do
rio Amônia) deixaram o ofício do seringai para sobreviver, como outros habitantes
regionais, da agricultura familiar, das atividades de caça e pesca, e da comercialização
eventual de outros produtos florestais.
Por sua vez, podemos surpreendentemente encontrar a primeira
menção concreta à 'desapropriação' de terras por parte do INCRA no rio Amônia em um
relatório, já citado, da lavra de servidores da FUNAI (Aquino et alli, 1985). Segundo os
autores do relatório, numa reunião com os representantes das familias de posseiros que
deveriam deixar a área Kampa recém identificada e delimitada, "todos os chefes de familia
solicitaram ao Incra a distribuição de lotes para eles viverem e trabalharem no próprio rio Amônia,
mas fora dos limites da reserva indígena" (Ibidem:8). Em decorrência ou não da situação criada
pela extrusão dos ocupantes não índios da área Kampa, o INCRA enviou à região um
engenheiro agrimensor do Projeto Fundiário Altq Juruá que, num 'Diagnóstico' datado de
?--~ 1988, propôs a arrecadação sumária de uma gleba com 26.000 ha. De acordo com este ",.,;} -
documento, que consta do Processo do INCRA nº 21560.000825/96-29 (v. Anexo 5), a área
era tida como parte do seringai Minas Gerais, pertencente a Tertuliano Pereira Lopes,
tendo sido demarcada com 38.782 ha embora seu proprietário possuísse uma escritura de
apenas 6.147 ha (metade dos quais teriam sido vendidos a Avelino Custódio de Andrade
em 1984). O Diagnóstico do 1NCRA constatava também a existência de um contrato entre o
proprietário do seringai e a firma Marmude Cameli & Cia para fins de exploração de
madeira, em conseqüência do qual tinha sido dizimada a madeira de lei na área
escriturada e, fora dela, em parte da gleba proposta para arrecadação. O mesmo
documento, em seu item 3.3, faz a seguinte observação: "Presença Indígena. Nos limites
deste serlngal, como também na sua totalidade, não existe a presença de áreas indígenas ou
presença da FUNAI". Ainda que a inexistência de terras indígenas demarcadas não
~ .. 113
Processo n°: 2 +og ID-<?
Folha n<>: : '!J1. · Rubôca: ~ ~·
implicasse necessariamente a ausência de famílias indígenas, podemos admitir que o
documento do INCRA exprimisse uma certa realidade sociológica à ocasião, visto que a
maior parte dos Arara egressos da área Kampa veio se instalar na área abaixo da foz do
igarapé Artur na primeira metade da década de 1990. A acomodação das famílias Arara
abaixo do limite da TI Kampa do Rio Amônea não foi, porém, observada ou
cons_iderada depois pelo INCRA, sendo a Gleba Amônia arrecadada como terra devoluta
pela Diretoria de Recursos Fundiários daquela autarquia através da
Portaria/lNCRA/DF/N° 14, de 19.04.1995. Ato seguinte, a Superintendência Regional do
INCRA no Acre criou o Projeto de Assentamento Amônia por mei? da Portaria
INCRA/SR-14/Nº 44, de 25.07.1996, prevendo a implantação de 260 unidades agrícolas
familiares",
A área delimitada por este GT abrange, à margem do rio, os lotes de
número 001 a 045 do. PA Amônia e, nas terras interiores, os lotes de número 225 a 249.
Nenhum desses últimos (225 a 249) apresenta ocupação efetiva legalizada dos parceleiros
do INCRA. Quanto aos primeiros (01 a 45), diversos são ocupados por integrantes da
comunidade Arara, tratando-se no caso, entre outros, dos lotes nº 01 (Francisco Eugênio
Moreira), 02 (Macivaldo Oliveira de Almeida), 03 (Antônio Tavares de Almeida), 04
(Macildo Oliveira de Almeida), 08 (Antônio Siqueira), 10 {Antônio Gomes de Oliveira
Filho), 11 (José Antônio Avelino Macedo), 12 (José Davi Avelino Macedo), 14 (Flávio
Nascimento Oliveira), 31 (Francisco Macedo), 36 (Francisco Siqueira), e 32 (Antônio de
Azevedo Barbosa Neto, dependendo este de uma definição sobre o pertencímento
étnico"). Outros membros da comunidade Arara são encontrados, fora da área delimitada,
nos lotes nº 48 (Bemaldo Silva de Lima), 49 (Arnaldo Silva de Lima), 50 (Reinaldo Silva de
Lima), 51 (Geraldo Silva de Lima), 52 (Francisco Gonzaga de Oliveira), 53 (Josimar
Forquilha de Souza), 54 (Edilson Bezerra Oliveira), 55 (Francisco Souza), 56 (Eduardo
Gomes de Oliveira), e 63 (Francisco Ferreira da Silva). Portanto, excluídos os lotes já
ocupados pelas fanúlias indígenas, e aqueles do interior da área que nunca foram de fato
ocupados por agricultores não índios, existem 33 lotes do PA implantado pelo INCRA, à
margem do rio, inseridos nos limites da TI Arara aqui delimitada.
Em princípio, tanto o IBAMA quanto o INCRA desenvolveram suas
atividades-fim no rio Amônia de forma lídima, não se podendo esperar de seus técnicos o
entendimento de fundo necessário para a proposição de iniciativas que viessem
contemplar uma problemática indígena regional. A despeito disso, a atual existência da
RESEX doAlto Juruá e do PA Amônia não deve ser vista como óbice intransponível à
114
- . - - - -------·---- - .
27ak'&,o .. Folha nº: 4~ Cj c:z::s: : r
demarcação de uma terra indígena como a requerida pelas famílias Arara no rio Amônia.
Processo n":
A solução para a questão fundiária que envolve essas famílias exige necessariamente que
se contemple a especificidade de sua condição étnica, e os órgãos federais afetados âevo:n' s:c·,
considerar a inviabilidade da imposição de medidas ou propostas que visem a retirada
definitiva do rio Amônia dos descendentes de seus primeiros habitantes e dos demais
grup_os que a eles se juntaram ao longo do tempo. ('
u) Ocupantes Locais
Como antes relatado (supra:6-7), o levantamento fundiário dos
ocupantes não índios no interior da área delimitada foi realizado apenas parcialmente
devido à oposição de alguns e a recusa demonstrada pela maior parte deles em fornecer
as informações necessárias e/ ou colaborar com os trabalhos então desenvolvidos. Essa \
resistência manifestou-se de forma mais ativa entre os ocupantes localizados na margem
do Amônia abrangida pela RESEX. Informada por meio do sistema próprio de radiofonia
acerca do início do levantamento, a direção da Associação dos Seringueiros e Agricultores
da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAD orientou expressamente seus associados
a não cooperarem com os objetivos do GT da FUNAI. A maioria dos parceleiros do.
INCRA negou-se igualmente a informar os dados ou permitir a realização da vistoria ,::- .. r_) necessária ao preenchimento dos laudos sócio-econômico e fundiário. Antes mesmo da
constituição deste GT de identificação e delimitação (mas logo após nossa passagem pelo
rio Amônia em decorrência da I.E. nº 67 /DAF /2001), o INCRA já havia enviado um
técnico agrícola à área para "verificação de denúncias de litígios entre comunidades indígenas e
assentados do PA Amônia", cujo relatório foi contestado pelo Ofício nº 141/GAB/ AER RBR,
de 22.03.2002. Paralelamente, a Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo também
se mostrou avessa à reivindicação dos Arara. No recente Ofício PMMT /Nº 76/2003,
dirigido à representante de seringueiros e agricultores do rio Amônia, o Prefeito
Municipal, Itamar Pereira de Sá, menciona expressamente que, "como já tornamos público,
somos contrários à demarcação da área pretendida pelos índios de etnias diversas, liderado pelo Sr.
Francisco Siqueira",
115
,,,,.-...·
. · PrcC~;~~::~~;- ;;, .~?fê_-,:-· -~---~-~~
'-~;%!: . ' -- .--' ,, - _<'<_<.; ··>_:._ - - - ',t:_:c::;ya:>_
. __ -Apesar_- da-- _r~sistêp.cia · dos'.·atore~ .envolvidos, .. e da recusa· ?i·i· - ' _, - col~boração ·por parte ~~- ~o~i~- -d~~ ;-upan~~s ~ão -índi~s, foi possí~~l co~p~r- ~ · - :
- q~adro raz~avelmente preci~o da situação fundiária na-área delimitada. Assim, pude~os
,constatar•_~:presençà. de~2iocupantes rrão índios -nó;fütêtior-:de,sêµ:~perí,metn): deste~/3~ \ .•• Joçâfizªril-se na n.i,argem cio_,PA Amônia.( dentreos - q4a~ fot~-pi~I)_éhidos 6 -l~udo;·à.e'.-
- .vistó_pc1)j.e._l9,;p{;Iílar.ge~-d~-,RÊSEX' Alto Juruá (dentre 6s,quaisJo.rJm:.p~eellChlc:ids·3·
laridbs de vistori~)75. Todas as o~upJções vistdtiadas mi apenas visitad~s caracterizam~se
por seu cunho essencialme11.tefazniliar,voltadas p~ra. uma écqrionua:de subsistência. tí:píca .·
. dia região amazônica A 1npiôr parte das residências é construída ~~ madeira ou paxiúba,
, com piso dos mesmos materiais e telhado de· palha Ou zinco. A ,grânde\rnàiorfa das ·
demais benfeitorias_·-~-~tentes 11es~asocupações· é constituída por fruteiras .plantadas-em
pequenà escal~, cerbi de afame- ÓU. pau-~~pique, e áreas restritas formad~S com .
r>.
./"""" ..
,,--. . pastagens. Conf~rme o relató~ió do levantamento fundiário deste GT (v. Anexo 5), aos agricultores assentados pelo INCRA foram liberados os recursos do Fomento Agrícola, do
Promorar e do PRONAR Como observado no mesmo documento; há algumas
flisc~epâ~das entre os ocupantes 4A área delimitada ew:ontrados-pel? GT na margem'
esquerda do r10 e aos nomes de. 'beneficiários' do PA_ Amônia constantes da relação
forriecÍ4a pelo INCRA. . . .· . . . Comparando-se à relação de ocupantes não Iridios levantados pelo
pre?ente GT com a dos ocupantes ihderuzados na JT Kampa do Rio Amônea, verifica-se
uma correspondência direta 4e apenas dois ou três nomeaDada .a presença de apelidos
na):ela:çãO ern caµsa,k:possíyel que existamoutros ocupantes extrusados da terra Kampa '· '. ' ,. . .. : ·:.~ . -: . ··.~'.::-:·.· '.'. ' . .. ~ :·. ' ~. . : ' . - .' . . . . . ' ' :..... . ' : . . . . '.
_,-
,-.
que se: encontrern Il.Ó fBté#of c:i{área ora delimita.c;lapara os Arara; contudo.xremos que
.··em.mimero·berrtinferioràsl(jJa.mfüas.me_nciônadas.·no•_ofício/PMMTINi·76/2003 e . -Ao
eviclente desconforto -provocado- pela necessidade de novo reassentamento 'dessas ._r-, .. . .
famílias; devemos acrescentar as dificuldades opostas por .dois núcleos soci_ológicos de
: re~istên~ia à der:nar~a~ãó de urrià área para .os Arara: o primeiro é constituído pelos .. · ·.· , ' . . . .
parentes de Frâ[cisca Soares da Silva (D .. 'Píti', esposa. de Antônio Pianko, líder político .', . . ... ,. -··,- ... -- . . . :
dos Kampa 9-;3. aldei~ _Aptwtxa); representados _principalmente por - Sebastião Soares
,---
('TengO:', nº 8 nOquadrod~ ocupantes não índios) e pela mulher de José Liomar fLió\ rl0 .
7)7{ p ~egundÜ é cons~itajdo .pélo conjunto de moradores. da colocaç&o Saboeiro, locali~ade dódó Aíriôniào~upada intericit~nterilente ~.el~ poptilaçãonã6 in,díg-~nà desde -
.. •º ~eríodo ç1~· borracha. . , . - . . - - .·,~·-··,: ·'
.r"·
i
1 1 i i
1 i L !· 1 I· t 1
Processo rf: °? '1ª 'f (o-<:. folha nº: '-r-f I Rubri<'a:~ ?~-:~
Uma outra peculiaridade concernente à regularização fundiária da
área delimitada é a complexa teia de parentesco que une os integrantes da 'comunidade
indígena' com parte dos ecupentesrnão índios'. Assim, Adélia Eugênio Moreira (nº 1) é
'prima' de Francisco Eugênio Moreira (casa IV, no Anexo 3); o filho de Cordélio Cordeiro
de Oliveira (nº 3) é casado com Antônia Gomes ·de Souza (casa X); Vanderlei F. do
Nascimento (nº 26) é irmão de Estelita Felix Nascimento (casa XI), Maria das Graças Felix
Nascimento da Silva (casa XII) e Francisca 'fiapito' (nº 247 - Anexo 3), tendo ele nos
d.eclarado que, embora não se considere índio, gostaria de permanecer no interior da área
mesmo se chegasse a ser demarcada como terra indígena. Os quatro últi~os indivíduos
são irmãos, ou parentes próximos, de José Carlos N. Margarida (nº 19) e Francisco
Margarida (nº 22), que se opõem de modo tenaz à demarcação da terra indígena. -Estes e
outros casos semelhantes ( como o de Adelson Martins, citado na nota 45) deverão receber
uma atenção especial no eventual processo de indenização e reassentamento dos
ocupantes não índios da área ora delimitada.
v) Invasões Fronteiriças
Em abril de 2001, os Kampa da aldeia Apiwtxa denunciaram ao
Administrador Regi~nal da FUNAI em Rio Branco a descoberta de um caminho,
F\ possivelmente utilizado por traficantes de drogas, vindo das cabeceiras do rio Tamaya, no 4
Peru, e seguindo pelo alto curso dos igarapés Ananias e Artur em direção à parte oeste da
área ora delimitada para a TI Arara do Rio Amônia. Segundo o documento, os Kampa
observaram
"que o caminho está cortando nossa terra e passa com direção ao assentamento do INCRA. O caminho e muito estranho, além de ser largo e limpo, tinha momento que ele abria em dois e se encontrava mais adiante. A conclusão que tivemos e que o caminho foi aberto pelos traficante para transporta drogas, e os caçadores que estão usando o mesmo caminho pode saber quem e mais não fala nada" (Carta anexa ao Memo nº 310/GAB/ AER RBR, de 27.04.2001).
De acordo com uma notícia p.rblicada na edição do jornal A Tribuna ~
de 28.04.2091 ("Descoberta nova trilha do tráfico em terra indígena"), os índios haviam
confirmado que a trilha seguia pelas "terras que estão sendo requeridas pelos índios Arara do
117
PIT.>Ce$$0 n°: 2 ~!? jo,v Folha nº: c...í ~ 2
Rubrica: .. ~ = Amônia passando pelo projeto de Colonização" e chegando "até a margem do igarapé Timoteo que
desemboca no rio Amônia a pouco mais de uma hora e meia de canoa com motor, da cidade de
- - ,e:-- --~fffechal Thaumaturgo", Um dos membros da comunidade Arara confirmou a informação
e acrescentou: "Se a polícia quiser saber a verdade basta que eles entrem no projeto do Incra e
acompanhem a estrada, pois muitas pessoas que receberam seus lotes não têm sequer lavoura, isso
porque estão vivendo de transportar drogas". Posteriormente, o chefe do posto indígena de
Cruzeiro do Sul encaminhou à AER Rio Brattco o Memo nº 40/PIN CZS, de 04.10.2001,
"informando que narcotraficantes peruanos estão ameaçando índios Arara e especialmente o líder
Francisco Siqueira Arara, residentes atualmente no Projeto de Assentamento Amõnea" (Ofício nº
569 JGAB/ AER RBR, de 14.12.2001). De fato, um documento dos próprios Arara
encaminhado à DAF através do Memo nº L043/GAB/ AER RBR, de 28.12.2001, afirmava: _;]}
-~-
"Nessa mesma área do assentamento do incra que mora uma parte desse nosso povo tem três caminhos que vem do Peru e sai nessa área por esses caminhos tanto sai peruano como entra brasileiros todos são traficantes de drogas. Aqui nessa área que nós moramos entre o Brasil e o Perú vivem um grupo de traficantes formado por brasileiros, colombianos e peruanos. Há três anos atrás eles foram atacados pela polícias peruanas em um lugar chamado Noaia eles tinha até pista de pouso para transportar suas drogas mais a policia peruana bombardearam e eles fugiram. No ano passado eles foram atacados novamente mais já em outro lugar chamado putaia, eles tinham já construido outra pista de pouso mais novamente a policia peruana bornbardiaram e eles escaparam e os mesmo que hojem vivem aqui entre o Brasil e o Perú em um garapé afluente do putaia por nome caiaiam esse grupo hoje eles vivem transportando suas drogas aqui pelo rio Amônia, por esses caminhos que sai nessa área que nós moramos" (Proc, 2708/00, fls, 91/92).
Em novo documento, datado de 26.05.2002 (encaminhado à DAF
através do Memo nº 474/GAB/ AER RBR, de 13.06.202), os Arara citam diversas pessoas
da região que acreditam comprometidas com as atividades do narcotráfico, mencionando
o envolvimento de alguns "com um grupo que conhecemos aqui por terrorista eles vivem aqui
entre o Brasil e o Perú em um igarapé por nome caiaia e putaia", De fato, obtivemos em campo
a confirmação dos Arara de que o varadouro para o igarapé Cayania continuava a ser
utilizado pelos traficantes. Relataram-nos igualmente que, no início de março de 2002,
durante uma festa promovida na residência de uma das famílias do grupo situada junto
ao limite da TI Kampa (casa I - Anexo 3), apareceram narcotraficantes vindos pelo
referido varadouro que ameaçaram os presentes, especialmente os Kampa, que acabaram
sendo protegidos pelos próprios Arara".
118
-·· Processo n°: Z.. ~º~/o-o Folha nº: Y <( ? Rubrica: I= (
VII. CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO
w) Área Requerida
.-
Conquanto tenham reconhecido de forma explícita a diversidade
étnica que cindia a população indígena que habitava o alto Amônia em território
brasileiro, nenhum dos relatórios administrativos anteriores da FUNAI (Seeger & Voguei,
1978; Idem, 1979; Espírito Santo, 1985a; Aquino et alli, 1985) chegou a sugerir
espontaneamente a demarcação de uma área própria, distinta da dos Kampa, para as
famílias que hoje se identificam como Arara naquele rio". Entre as 'Sugestões para uma
Atuação lndigenisia no rio Amônia' elencadas em um desses relatórios, no entanto, já
constava a seguinte admoestação:
"Também é muito importante que a Funai não discrimine os 'caboclos' (resultado da miscigenação de Kampa, Santa Rosa, Amuaca, Kaxinawá e Xarna) em detrimento dos Kampa tradicionais, ou vice-versa. É importante que todos os índios sejam assistidos corretamente pela Funai, sem favoritismo. Caso contrário pode acirrar o faccionalismos entre os dois grupos étnicos que ocupam atualmente a área indígena do rio Amônia" (Aquino et alli, idem:10).
Ainda que a presença das famílias de origem Amawáka, Koníbo e
Quijo, unidas muitas-vezes aos Kampa, pudesse gerar por si própria o mesmo tipo de
demanda fundiária que ora se apresenta, é preciso reconhecer também a possível relação
do pleito atual com a forma de encaminhamento dada à situação de parte das famílias
Arara, Jamináwa e Kaxinawá que ocupavam a bacia do rio Tejo ao tempo da identificação
da TI Jamináwa/ Arara do Rio Bagé. Segundo o relatório de identificação dessa terra
indígena, "apesar das indicações de estarem em terras imemoriais indígenas", a postura dos
Arara que então habitavam os igarapés Dourado e Moreira, "era a de seringueiros comuns.
Dividiam o espaço com outras colocações de seringa ocupadas pelos brancos e se portavam como
tal" (Espírito Santo, 1985b:S). Além da ausência de características que os pudessem
identificar "como índios imediatamente, além da fisionomia e a segregação", afirma o mesmo
relatório que "não havia reivindicação de terras, apesar do desconforto da presença dos brancos"
(Idem:13 e. 5). Assim, após um! preleição sobre o trabalho da FUNAI dada pelo
coordenador do GT, os Arara do igarapé Dourado decidiram juntar-se ao restante de seus
119
processo rf:_-z.1-=!._/0-S.- · ·
fo\h9 rf: ;íL. Ruonca'-= - =- . '
- -- ----·. - --· -- r t
parentes· que habitavam a área do rio Bagé. Distinguiam-se nisso também daqueles que
habitavam próximo ao igarapé Pavilhão, "donos de uma história dissociada dos Arara e
descaracterizada da vida indígena", que não foram. contemplados na proposta de área,
"ficando sua situação aberta à opinião de outros especialistas" (ldem:14):
"A presençadeles. a nosso ver, não justifica estender a área até os limites da foz do igarapé · Rio Branco. A princípio, seria um transtornq, .obrigá-los à convivência com os Arara, já que entre os mesmos, apenas um homem e uma mulher, contribui com sua origem étnica diferenciada, para a formação das familias. É aconselhável contudo, que outro G.T., voltando a área, as conheça para avaliar a procedência de uma tutela por parte do governo brasileiro. Aos que visitamos, informamos a respeito da área de interesse dos Arara do igarapé Dourado chefiados por Raimundo Crispim, para que dentre eles mesmo se entendam" (Espírito Santo, idem:15).
-A menção à necessidade de um 'acordo interno' deve ser
compreendida à luz da afirmação feita no mesmo documento de que "propostas de área
comum a todos, não são viáveis, tendo em vista possíveis desentendimentos" (Idem:15). Essas
desavenças intra-étnicas já eram mencionadas em um relatório anterior sobre os índios da
bacia do rio Tejo:
.-
"Dentro do grupo existem certos conflitos: é difícil saber porque estão em três seringai? diferentes. Uma informante disse que se davam melhor com os regionais do que entre si[ ... ]. Mas a natureza do conflito é desconhecida. Um Arara afirmou que todos morariam juntos numa gleba de terra, se a tivessem. Mas não havia o mesmo tipo de identificação étnica dos Kaxinawá. Também este 'grupo' que descrevo é o resultado de casamentos entre Jaminaua e Arara (e Crispim é Kaxinawá). Eles falam (entre si) somente uma língua. A própria natureza da formação do grupo talvez tenha sido um dos mecanismos responsáveis pela sua desintegração. Preciso salientar que é sempre possível que, com uma reserva demarcada, criassem uma identidade em tomo da sua identificação com uma área. Esta possibilidade tem que ser considerada na implementação de uma política indigenista" (Seeger & Voguel, op. cit.:18; grifos nossos).
ô
Embora não se possuam informações seguras sobre o destino das
famílias Arara (ou Arara-Jamináwa-Kaxinawá) que ocupavam as localidades excluídas
dos limites ao final definidos para a área do rio Bagé, é possível que várias delas tenham
emigrado da região devido à impraticabilidade de partilhar uma mesma terra com as
parentelas dominantes dos outros grupos locais. Certamente, para isso contribuiria o
padrão vigente de "péssimas" relações interétnicas no Tejo, tendo sido esse rio "despovoado
pelos índios, tanto pela agressão do contato, como pelo isolamento imposto pelos patrões" (Idem:5).
\ \ \ das famílias do grupo do interior dos limites da área Kampa situada à montante. Em
Seja como for, é evidente que a atual reivindicação dos Arara para a
demarcação de uma terra indígena própria no rio Amônia decorre diretamente da retirada
-120
--- Processo n°: ê..~g ~
Folha nº: Lf '{ (
Rubrica: J-f:_ = ~ . função dessa origem, não deve causar estranheza o fato da primeira providência
reclamada pelos Arara ter constituído justamente o seu retomo à mesma área da qual
haviam sido desterrados. Assim, ao ser questionado em meados do ano 2000 por um
servidor da FUNAI se pretendia sair do local onde se encontrava, o senhor José Macedo
respondeu: '"Nois estamo querendo tirar uma área pra nois', Perguntado onde estava
localizada essa área, disse: 'Vou tirar ai onde nois morava mesmo, lá pelo Taboca, onde nois
moraoa'", enfatizando-se que, apesar da prêsença dos Kampa, "para outro canto não
pretendem ir" (Leão, 2000:18). De igual modo, o índio Taumaturgo de Azevedo "insistiu em
querer voltar para o seu antigo lugar dentro da T.I. Kampa do rio Amõnea" (Idem:30):
'Também indaguei se ele tinha vontade de deixar aquele lugar e ir morar em outro local. Ele , respondeu; 'nois uueria morá in amônia, né. Donde nois morava primeiro, fui eu que dividi terra primeiro' [ ... ]. Novamente perguntei, se eles fossem convidados pelos Arara [da TI Jamináwa/ Arara do Rio Bagé ou da TI Arara do Igarapé Humaitá] para ir morar com eles, prontamente respondeu: 'eu nom quero, 110m tem costume com ele'. Insistiu que queria mesmo era voltar para o interior da T.I. Kampa do Rio Amônea, por que foi lá que nasceu e se criou" (Leão, ídem:8-9). '
No mesmo .sentido, Maria das Chagas Siqueira Negreiro afirmou
em seu depoimento que "íse coisasse direito, nois ia mora lá no nosso canto de novo'. Caso não
pudessem realizar o sonho de retornarem, pretendem ficar onde estão" (Ibid.:19). Provavelmente',
os Arara chegaram à conclusão sobre a impossibilidade de retorno ao interior da área
Kampa antes mesmo do final daquele ano pois, em um documento datado de 19.11.2000, . . '
afirmam terem realizado urna reunião "para escolhermos nossa terra [ ... ] e todos decidiram que
querem os dois lados do !ÍO Amônia" (Proc. 2708/00, fls. 37). Quatro meses depois, os Arara já
') haviam adquirido uma idéia mais precisa sobre a área reivindicada, mencionando em um
documento de 17.08.2001 (citado extensamente supra:57) sua extensão dos "dois lados do río
Amônia, do lado direito é do igarapé montevidel de baixo descendo a reserva extrativista
até o garapé /acamim que fica dentro de um pedaço da área do 61 Bis ]. .. ]. No outro lado do rio
é do garapé Artur descendo o assentamento do incra até o garapé grande que fica no
Estirão do vai quem quer" (grifos nossos)". Em linhas gerais, essa constitui a mesma área
cuja demarcação foi inicialmente requerida pelas lideranças Arara quando da chegada
deste GT in loco, possuindo os índios inclusive um croqui bastante preciso com a
localização das residências indígenas no interior dos limites indicados.
Menos de um mês após a realização dos trabalhos de campo que
fundamentam o presente relatório, o líder político da comunidade Arara, Francisco
Siqueira, concedeu uma entrevista ao antropólogo Terri Valle de Aquino na qual, entre
121
Processo nt': 2- ':}<>.8 /~
Folha nº: <-f '{b Rubrica:.J:..Z • ~ r:a
outros assuntos, manifestou-se também sobre a área requerida pelos Arara. Nessa
entrevista, cujo teor nos foi dado conhecer por meio do Memo nº 771/GAB/ AER RBR, de
27.09.2002, apresenta-se no diálogo transcrito uma nova formulação para .. os·ü.-~nifes da
área em foco. Depois de se aventar o anseio para a delimitação da área desde o igarapé
Timoteu, na margem esquerda do Amônia, e desde o igarapé Paxiúba, na margem direita
do rio, até a confrontação com a área Kampa, expõe-se as seguintes considerações: <!'
"Chiquinho [Francisco Siqueira]: A gente falou nessa reunião com o pessoal da FUNAI que queria mesmo é essa área do igarapé Tirnoteu pra cima, porque tem essas seis farrúlia que ficou nessa parte debaixo do igarapé Água Preta e acima do igarapé Timoteu [ ... ]. Txái [Terri Aquino]: Então, a proposta do GT da FUNAI, pelo que entendi, não atendeu. a reivindicação ~e vocês, porque não pegou do igarapé Timoteu pra cima. Pegou, na verdade, do igarapé Agua Preta pra cima[ ... ]. Chiquinho: Isso aí foi o que a gente discutiu com o pessoal da FUNAI. Foi o acordo que a gente fez, mas dizendo pra eles que a área mesmo que a gente quer é do igarapé Timoteu pra cima. A gente quer do Timoteu pra cima por causa dessa invasão toda que tá acontecendo por lá, tiração de madeira, caçada com cachorro pra vender carne de caça na Vila Thaumaturgo e esse tráfico de droga, essa coisa toda [ ... ]. Txai: E do lado de lá, da margem direita do rio Amônia, onde está situada a Reserva Extrativista do Alto Juruá, vocês estavam reivindicando da foz do igarapé Paxiúba pra cima. É isso? Chiquinho: Essa era a nossa proposta. No caso podia tirar uma linha seca bem de frente da ( boca do Timoteu, que fica do outro lado, que ia sair no Paxiúba, bem na boca desse igarapézinho sem nome, afluente do Paxiúba. Subia esse igarapêzinho sem nome; , afluente do Paxiúba até a sua cabeceira. Daí tirava outra linha seca até encostar no rio 1 Arara [ ... ]. Txai: A boca desse igarapé Paxiúba fica bem perto dessa Reserva Militar do 61º \ BIS, né? Chiquinho: Por isso que a gente não faz questão de tirar por lá, que é pra não ofendei: tantos moradores da Reserva Extrativista. Mas podia ter .tirado uma linha seca de frente da boca do igarapé Timoteu, que fica do outro lado do Amônia" (grifos nossos).
Posteriormente, recebemos por meio do Ofício nº 007 /DEID, de
27.01.2003, cópia de um novo croqui da terra indígena tal como putativamente desenhado
' pela liderança -da comunidade Arara. O mencionado croqui indica como limites da área
requerida, na margem esquerda do rio Amônia, desde a confrontação com à área Karnpa até a foz do igarapé Timoteu, de onde segue pela 'linha seca do INCRA' até a fronteira
internacional. Na margem direita do Amônia, esse mesmo croqui destaca a área situada
entre o limite da terra Kampa e a foz do igarapé Paxíúba, seguíndo por este à montante
até o seu médio curso, de onde ruma com uma linha seca em demanda da foz do igarapé
Taboca, afluente do rio Arara, subindo por este último curso d'água até a linha já
demarcada. De acordo com o relatório de viagem do então Administrador Regional da
FUNAI em Rio Branco, encaminhado ao DEID/DAF por meio do Memo nº
104/GAB/ AER RBR, de 18.02.2003, a delimitação da TI Arara não havia sido concluída
ainda porque o antropólogo-coordenador do GT "estava avaliando algumas novas
informações referentes à extensão da área", entre as quais se incluía o novo esboço
122
Processo n°: 2. "+-o.f /o,o Folha nº: 4 4 "'.J
Rubriea:.:.... /1 _ cartográfico enviado por Francisco Siqueira, "diferente do croquis inicial, resultado das
conuersações e acertos que tivera com aquele antropólogo, no período em que ele esteve ali
realizando o trabalho de campo", ·· · - -·
x) Área Delimitada
Por diversos motivos, a área que propomos para a terra indígena
Arara do Rio Amônia reveste-se de um caráter incomum. As informações coligidas e
expostas neste relatório de identificação e delimitação sugerem certas especificidades da
ocupação indígena que devem ser consideradas na definição de seus limites. Assim,
tomando como parâmetro os elementos definidores do conceito de terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, tal como cunhado pelo artigo 231 da
Constituição Federal, fazemos as seguintes observações:
a) Habitação Permanente: a atual disposição das residências
ocupadas pelas famílias integrantes da comunidade Arara ao longo das margens do rio
Amônia foi consolidada há cerca de oito anos atrás, em grande parte como decorrência da
ação do INCRA e das restrições vigentes na reserva jurisdicionada ao IBAMA. Ela não.
deve ser confundida nem com a antiga ocupação autóctone (Amawáka) dessa região nem
com aquela da fase que se seguiu ao final do ciclo da borracha, quando, possuindo certa
) mobilidade qua farru1ias extensas, os índios habitaram diversas colocações à margem do
rio Amônia, dentro e fora da área ora delimitada. Várias parentelas indígenas (inclusive as
de procedência Arara strictu sensu) somente chegaram ao Amônia no final desse período,
inserindo-se no movimento geral de acomodação interétnica que restringiu a ocupação
indígena quase totalmente à região do alto Amônia brasileiro, onde a maioria se
encontrava em meados da década de 1980 por ocasião dos trabalhos de identificação da
área Kampa. Assim, é bastante difícil estabelecer com precisão uma área ·historicamente
habitada que possa servir como parâmetro válido de referência para todas as farru1ias que
se identificam hoje como Arara no rio Amônia. Do mesmo modo, os locais presentemente \
habitados por essas famílias nos_ rios Amônia e [uruá não são tomad?s,~omo definidores
para uma proposta de limites nem mesmo pelos próprios integrantes da comunidade - .
Arara. A extensão da área delimitada na margem esquerda até o igarapé Timoteu,
123
Processo nº: l:! +08(00 Folha nº: lf'{~
Rubrica:~~ ~ /
f f: 1:
justificada em parte na entrevista antes citada (supra:122) pela existência de outras famílias
indígenas nesse espaço", não se coaduna com a exclusão daquelas outras que residem
imediatamente abaíxo.nas colocações Timoteu (jusante), Nova Minas e Jacamim.
b) Atividades Produtivas: observações semelhantes às de acima
podem ser feitas a respeito do exercício das atividades produtivas pelos Arara do rio
Amônia. Constitui tarefa extremamente árdua estimar as possíveis áreas utilizadas para a e :
subsistência indígena no passado, antes que sua ocupação territorial fosse restrita
predominantemente ao interior da TI Kampa do Rio Amônea. Por outro lado, pelas razões
já apontadas (supra:88-89), as áreas utilizadas atualmente para atividades produtivas pelos
Arara não correspondem forçosamente às áreas necessárias, ou assim consideradas, para a
consecução satisfatória dessa finalidade. É preciso igualmente estarmos atentos para não
projetar a imagem presumida de um prístino modo de subsistência, determinando-se ao
invés disso as áreas necessárias às atividades econômicas desenvolvidas pelos Arara do
rio Amônia tendo por referência as suas presentes características organizacionais, que se
assemelham bastante, de certa forma, ao modo de exercício dessas mesmas atividades por
outras 'populações tradicionais' existentes na região (como se reputam os moradores da
RESEX do Alto Juruá, por exemplo). e) Meio Ambiente: constituem as peculiaridades mais notáveis com
respeito à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem estar dos Arara do
Amônia o fato dela depender no presente, em larga medida: I) da cessação dos incentivos
federais à exploração agropecuária nas terras do projeto de assentamento que apresentam
sobreposição com a área aqui delimitada; II) da proteção e fiscalização contra as caçadas
$ predatórias e a extração madeireira praticadas pela população regional não indígena em
regiões específicas da área proposta; e III) de uma mudança na atitude em relação a essas
mesmas duas ocupações econômicas por parte de algumas das famílias integrantes da
comunidade indígena. Em relação a este último ponto, são representativas as observações
feitas sobre um episódio recente no "Relatório de Viagem do Administrador Regional da
AER Rio Branco/RJNAI à terra indígena Arara do Rio Arnônea" (encanúnhado à DAF
pelo Merno nº 104/GAB/ AER RBR, de 18.02.2003):
"Ao final de 2002 a Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo fez um contrato com um índio Arara daquele povo, Macildo, para que ele construisse 17 baleeiras (embarcação de médio porte para ser utilizada no transporte de produção de várias comunidades ribeirinhas apoiadas pela Prefeitura) com madeira retirada do Projeto de Assentamento Amônea (justai:n,ente no território que está sendo delimitado como Terra Indígena), sem que houvesse autorizações formais do INCRA, do IBAMA e até da FUNAI (para quem, mesmo sem estar demarcada, aquela é uma Terra Indígena, com todos os amparos legais decorrentes). Aquela
124
.. - . f
atitude da Prefeitura provou uma divisão entre os índios Arara daquela nova Terra Indígena. Uma parte deles, coordenada pelo líder Francisco Siqueira Arara, se posicionou contra a atitude da Prefeitura em utilizar o patrimônio da futura Terra Indígena em benefício de um único índio, e a família do Macildo, evidentemente, incentivada pela Prefeitura, não apenas recebeu os· recursos destinados à construção das 17 baleeiras, como derrubou as árvores que queria, realizou o trabalho e assim, foi convidada pelos demais a abandonar a região por não concordarem com a opinião e o posicionamento da maioria que não queriam a depredação do patrimônio florestal da nova Terra Indígena [ ... ]. Essa atitude de alguns Arara de· sé aproveitarem do patrimônio florestal comum em benefício próprio, sem a anuência dos demais, preocupou também os índios Ashaninka da Terra Indígena Kampa do e Rio Amônea".
d) Reprodução Física e Cultural: mais do que qualquer fração
específica existente no interior da área delimitada, a terra indígena proposta em sua
totalidade representa o espaço indispensável à concretização do desiderato de reprodução
!.;:j física e cultural do grupo indígena interessado. Essa é também a percepção demonstrada
pelos Arara do rio Amônia, revelando-se no discurso de seus representantes a
compreensão de que a demarcação de uma terra indígena própria constitui o meio apto
no presente contexto histórico para a continuidade dos laços sócio-culturais e perpetuação
da identidade étnica que une as famílias indígenas envolvidas. Assim, em um documento
datado de 11.11.2001, encaminhado à DAF através do Memo nº 1.043/GAB/ AER RBR, de
28.12.2001, noqual se definem como "povo indígena dezaldeado da etnia Apolima Arara do Alto
fumá", manifesta-se a esperança de reunir os integrantes do grupo e alcançar um futuro
núnimamente viável através do processo de regularização da terra indígena:
"E mais uma vez que se reunimos para pedir apóio e ajuda para a identificação e delimitação de nossa terra para podermos juntar o nosso -povo e preserva o que é nosso para nosso futuro filhos e netos para que eles não vivam a vida quenós vivemos no passado sem apóio de ninguém morando em uma terra junto com os dauar branco sendo umilhado por uns e outros[ ... ]. Queremos a demarcação de nossa terra, queremos forma nossa aldeia falamos a língua materna, trabalhamos em artesanato, temos pajé e nossa parteira ainda curamos com nossa medicina tradicional, queremos um futuro melhor para o nosso povo, queremos funcionando em nossa comunidade no ano que vem, nosso agente comunitário de saúde indígena, escola e professores do nosso povo para dá aula o dia e a noite queremos também transporte para o nosso povo" (Proc. 2708/00, fls. 89/90).
Nesse sentido, tendo em vista as características particulares
assumidas pela ocupação territorial contemporânea dos Arara no rio Amônia, tal como
discutidas acima, o principal critério que utilizamos para proceder à identificação e
delimitação da terra indígena aqui considerada foi o de reprodução física e cultural. Isto
é, tomando como parâmetro os elementos que configuram a ocupação indígena presente e {!
passada no rio Amônia, a definição da área contemplou prioritariamente a sobrevivência
l25
Processo "°=- 2 ~'°0-= Folha nº: "-1 ..(" o
Rubrica: # étnica das famílias Arara que ali habitam, propiciando-lhes urna base territorial adequada
para a continuidade de seus laços sociais e a realização de suas atividades econômicas.
Conquanto possua especificidades 'que escapam ao conceito estrito de terra
tradicionalmente ocupada pelos índios, a área proposta reúne, por diversos aspectos já
comentados ao longo deste relatório, condições fundamentais que tornam possível, em
gran9-e parte, compreendê-la no horizonte visado por essa noção constitucional.
Independente de sua especificidade administfativa e legal, a regularização da área em
Cé;lUSa representa um expediente válido e necessário para a sobrevivência física e cultural
das famílias indígenas envolvidas, permitindo a sua continuidade como um grupo étnico
diferenciado.
O processo de definição dos limites da área identificada teve início
com o pedido feito pelos representantes da comunidade indígena, no começo dos
trabalhos de campo deste GT, para inclusão de todas as residências localizadas em ambas
as margens do Amônia ocupadas por farrúlias Arara. Dado que o atendimento a esta
solicitação implicaria na extensão da terra indígena até as proximidades da cidade de
Marechal Thaumaturgo, ponderamos a previsível dificuldade em justificar
convenientemente uma proposta dessa magnitude, sugerindo como alternativa durante a
reunião com as lideranças indígenas procedida no dia 15.04.2001 uma delimitação que,
partindo do Marco 46 da fronteira internacional Brasil/Peru, seguia por uma linha seca
até as cabeceiras do igarapé Água Preta e pelo curso deste até a confluência com o rio
Amônia. Do ponto em frente, na margem oposta, seguia o perímetro por uma linha seca
até a confluência do igarapé Paxiúba com um afluente sem denominação, subindo pelo
) primeiro até as suas cabeceiras, de onde rumava com outra linha seca para encontrar o rio
Arara pouco abaixo da TI Kampa do Rio Amônea. Desse último ponto, seguia o limite
pelo rio Arara até a divisa da área Kampa, acompanhando a confrontação com essa terra
indígena e a linha internacional até o marco de fronteira acima mencionado.
Posteriormente, tendo em vista as considerações feitas com notável
veemência pelo antropólogo Terri Valle de Aquino, atual chefe da Coordenação-Geral de
Identificação e Delimitação da FUNAI, bem como a obtenção de novas informações e o
exame do croqui da área encaminhado através do Ofício nº 007 /DEID/2003,
reformulamos parte do limite proposto à comunidade Arara, a) adequando-o em parte, no
extremo noroeste, à confrontação do PARNA da Serra do Divisor, b) abrangendo no limite
leste o curso superior do igarapé Teimoso, e e) alcançando na extremidade sudeste a foz ~~ do igarapé Taboca. A primeira modificação justifica-se prioritariamente pela melhor
126
Processo rf: 2 ::;c,sfo-o Folha nº: tt.,C I Rubnca: :J1
proteção da área a ser demarcada; a segunda pela inclusão de áreas de caça; e a terceira
em atendimento parcial à delimitação indicada no croqui acima referido. Em resumo, a
delimitação procedida por este GT foi pautada nos seguintes princípios: 1) inclusão do
maior número possível de habitações Arara, abarcando cinco colocações por eles
ocupadas à margem do rio Amônia, incluindo as três mais populosas (Tetéu [jusanteJ,
Assembléia e Montevidéu)": 2) abrangência dos lagos situados imediatamente à jusante
da colocação Assembléia e das áreas de caça eli.contradas ao longo do curso dos igarapés
Artur, Coconaia, Montevidéu, Tetéu, Paxiúba, Teimoso e Taboca; e 3) observância da
desigualdade na distribuição dos recursos ambientais existentes em ambas as margens do
rio Amônia e consideração pela finalidade precípua das unidades de conservação aí
presentes. Deste modo, a área enfim delimitada e proposta por este GT pode ser assim
descrita: partindo do Marco 46 da fronteira internacional Brasil/Peru, segue por uma
linha seca confrontando com o PARNA da Serra do Divisor até encontrar a margem do
igarapé Água Preta, seguindo por este até sua confluência com o rio Amônia". Do ponto
situado na margem oposta, continua por uma linha seca até a confluência do igarapé
Paxiúba com um afluente sem denominação, seguindo por este até as suas cabeceiras.
Deste ponto, prossegue com uma linha seca até a confluência do igarapé Teimoso com um { 1
afluente sem denominação, seguindo à montante por este último até suas cabeceiras, de ! / onde dirige-se com outra linha seca até as cabeceiras de outro igarapé sem denominação,
seguindo-o com rumo jusante até a sua foz no igarapé Taboca. Deste ponto, prossegue à
jusante pelo igarapé Taboca até a confluência com o rio Arara, tomando este último no
sentido montante até a divisa da TI Kampa do Rio Amônea e daí em diante pela
~ confrontação com essa terra indígena e o limite internacional Brasil/Peru até o marco de 31 •
fronteira antes mencionado. Em atenção ao disposto pelo art. 2º da Portaria nº 14/MJ/1996,
registramos que acolhemos apenas parcialmente a reivindicação da comunidade indígena
pelas seguintes razões: I. por não haver, afora a difusa expectativa para definição de uma
área suficiente às necessidades do grupo, um motivo explicitamente sustentado que
justifique estender o limite da terra indígena para jusante no curso do rio Amônia (a
ampliação da área até a foz do igarapé Tirnoteu, como sugerido pelo líder Arara Francisco
Siqueira no trecho da entrevista antes transcrito e representada no croqui que nos foi
encaminhado no princípio deste ano, implicaria na inclusão de outras onze famílias não
indígenas a serem reassentadas no processo de regularização da terra indígena). A "" própria comunidade Arara, através de seus representantes, apresenta ainda pouca
127
tYl-bb 1<,::.- ;f,,Aí,,,i,S..~
processo nº: Z ]03 /c;-::) Folha nº: C..C.f2
Rubrica:-= r =
.~
segurança· quanto à área efetivamente reivindicada, como se comprova pelas sucessivas
modificações nas propostas de demarcação apresentadas nos últimos três anos. II. para
minorar, tanto quanto possível, os efeitos da regularização de mais uma terra indígena
sobre a população regional, possibilitando a continuidade de sua ocupação no baixo curso
do rio Amônia. Observamos a esse respeito que a regularização da área proposta
imp?rtará no reassentamento de um número superior à cinqüenta famílias não indígenas,
sendo que apenas quinze famílias Arara encontram-se localizadas presentemente fora da
área delimitada (parte das quais, inclusive, poderá vir ~ optar por permanecer nos locais
hoje habitados, exercendo eventualmente, em consenso com aquelas estabelecidas no
interior da área, o usufruto dos recursos encontrados na terra indígena proposta). Essa
postura objetiva - a par de refletir conscientemente a busca de uma certa equanimidade
frente a situação fundiária que se vê configurada na região - permitir mais facilmente a
aprovação da área proposta pelas instâncias superiores de governo e atenuar a reação
contrária a nível local, fins esses que favorecem, em última análise, a própria comunidade
Arara.
y) Visada Étnica
Antes de concluir este relatório, acreditamos ser necessário fazer
~0 algumas observações sobre a questão da identidade étnica das fanu1ias que têm se ,;)
reconhecido como Arara ou Apolima-Arara no rio Amônia 83• A constituição dessa específica
identidade indígena insere-se no contexto maior da emergência de novos grupos ou
rótulos étnicos que vem ocorrendo com grande intensidade no cenário brasileiro durante
os últimos dez anos". O fenômeno adquiriu tamanha importância para a própria FUNAI
que sua Presidência viu-se obrigada a instituir através da Portaria nº 246/PRES, de
20.03.2002, uma comissão para "discutir critérios para futuros estudos de identificação étnica".
Evidentemente, tal providência somente se justifica face ao emaranhado de fatos e
opiniões que são quase sempre trazidos à baila quando se trata de verificar a possível
correspondência ou aplicação das definições legais de índio e comunidade indígena a um
determinado indivíduo ou grupo em particular. Como se sabe, esses conceitos estão
definidos no artigo 3° da Lei nº 6.001, de 19.12.1973, da seguinte forma:
... 128
Processo n°: 2.'}-os/o-o
Folha n": J2 Rubrica:~ =
"I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados".
<i' Estas definições legais derivam diretamente do 'conceito operativo
de índio' formulado por Darcy Ribeiro, para quem "índio é todo indivíduo reconhecido como membro por uma comunidade de origem pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena pela população brasileira com que está em contato" (Ribeiro, 1982:254). Por seu caráter muitas vezes contencioso, a segunda parte desta sentença (que
implica o reconhecimento externo da etnicidade ou indianidade característica de um
determinado grupo social) tem sido completamente relegada pelos instrumentos jurídicos
mais recentes, inclusive os de cunho internacional, que tratam dessa matéria. Assim, a
Convenção nº 169, de 07.06.1989, da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
ratificada pelo governo brasileiro através do Decreto Legislativo nº 143, de 20.06.2002,
afirma em seu artigo 1 º:
.-
"A presente Convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e. que estejam regidos total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial; b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou urna região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que seja qual for sua situação jurídica conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas"l<S. -
.-·
O item 2 do mesmo artigo especifica que "a consciência de sua
identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para
determinar os grupos a que se aplicam as disposições da presente Convenção". No âmbito
científico nacional, uma formulação semelhante foi recentemente adotada pela Associação
Brasileira de Antropologia na 'Oficina sobre Laudos Antropológicos' realizada no final do
ano 2000 na cidade de Florianópolis (SC), cujo documento final registra a seguinte
colocação: "Entende-se como grupo etnicamente diferenciado toda coletividade que, por
meio de suas categorias de representação e formas organizacionais próprias, se concebe e
se afirma como tal" (ABA, 2000:5). Essa postura situa-se explicitamente no campo de
tensão gerado pela alteridade entre o saber antropológico e as demandas de cunho
129
Processo nº: 2-:;o f (o.,v Folha nº: l.{r'f Rubrica: Jl
7
jurídico e administrativo, percebida freqüentemente através da dualidade entre "produzir
julgamentos e produzir inteligibilidade" (Ibid.:3). Em consonância com as premissas
antropológicas, o mesmo documento expressa que "os assim chamados .r:.:íatóríos de
identificação étnica não têm caráter de atestado, devendo ser elaborados como diagnoses das
situações sociais investigadas, que orientem e balizem as intervenções governamentais na aplicação
dos qireitos constitucionais" (Ibid.:5). Se a concepção dos referidos 'laudos de identificação
étnica' como simples 'diagnoses de situação" busca preservar de alguma forma a ética
profissional (assinalando-se na discussão conduzida sob os auspícios da comissão
formada pela Portaria nº 246/PRES/2002 "que não se deve esperar que antropólogos dêem
atestado de indianidade" - cf. Anexo 6 in Almeida, 2002), omite-se argutamente a razão por
que as conclusões obtidas ou intuídas através da investigação realizada devam ser ~-~ i";;J tomadas como norteadoras de um determinado procedimento administrativo ou jurídico.
Embora evitem fornecer uma resposta taxativa ao serem indagados sobre a etnicidade ou
'indianidade' de um grupo social numa situação histórica específica (pronunciando-se ao
invés disso de forma indefinida ou alusiva no sentido de que ele 'pode ser considerado ... ',
'reúne características que levam a crer se tratar ... '), os antropólogos mantêm diligentemente a
expectativa de que sua manifestação seja definidora para o deslinde de uma ação legal ou
orientação da conduta governamental".
O descompasso entre a certeza requerida (ou pressuposta) pelas
ações administrativas (ou judiciais) e a compreensão expressa pela antropologia acerca de
um fenômeno complexo como a etnicidade parece, no entanto, derivar da natureza
instável e cambiante -~º fato social em si, antes que de um bias inerentemente cultivado
pela disciplina acadêmica. Com efeito, os estudos antropológicos sobre a etnicidade estão
plenos de referências à transformações de identidade (ou de ênfase .nos 'processos de
identificação étnica) engendradas por situações de ambigüidade ou escolha de
alternativas, de resto sobejamente comuns na história de conjunções inter-culturais e
contato entre populações. Importa reter que os grupos étnicos entendem-se em 'geral a si
mesmos, especialmente no nível retórico, como possuidores de uma origem comum e
como portadores de uma tradição que os distingue de outros grupos semelhantes:
"Origem e tradição são, porém, elaborações ideológicas, que podem ser verdadeiras ou falsas, sem
que com isso se altere o fundamento da identidade étnica" (Cunha & Cardoso de Oliveira,
1986:117).
,-
No caso específico da 'comunidade indígena' Arara do rio Amônia,
julgamos merecedores de comentário particular os seguintes aspectos: a) afora a própria
130
r: Folha nº: 4 r f Rubrica: /:(_
,,....
reivindicação das famílias interessadas (em si mesma considerada um fato constitutivo),
há elementos suficientes que permitem afirmar a existência de uma genuína identidade
étnica construída sob o manto dos rótulos Arara ou Apolirna-Arara; b) uma pequena parte
das famílias que hoje se assumem dessa forma identificou-se e/ ou deixou-se identificar
como não indígena por ocasião do processo de regularização fundiária da TI Kampa do
Rio Arnônea (tratando-se, justamente, daquelas de origem Jamináwa-Arara propriamente
dita); e) parte dos indivíduos e famílias ielacionados por vínculos de parentesco e
afinidade ao núcleo principal de famílias que se identificam corno Arara no rio Amônia
(alguns do quais, por falta de alternativa, inchúdos no levantamento demográfico
apresentado no Anexo 3) negam-se peremptóriamente a serem identificados como tais ou
como índios de qualquer modo, representando essa recusa uma cisão potencial para
algumas das unidades familiares consideradas; e d) a influência do parentesco não
indígena sobre a comunidade em referência vai muito além dos 21 indivíduos
estritamente 'não índios' incluídos no quadro do levantamento demográfico realizado pelo
GT (mas não no total indicado para a comunidade indígena), já que mais de 60% da atual
população Arara no rio Amônia possui algum antepassado direto na primeira ou
segunda geração ascendentes (ou seja, um dos pais ou dos avós) espontaneamente
identificado como não índio.
.-
Outrossim, podemos observar-certas semelhanças na construção da
identidade étnica afirmada pelos Arara do rio Amônia e pelos Náwa da bacia do rio Môa,
constituindo estes últimos uma outra 'etnia emergente' de grande proeminência atual no
vale do Juruá acreano. De acordo com o relatório pericial apresentado pela antropóloga
~ Delvair Montagner no curso da Ação Civil Pública (nº 1998.30.00.002586-0) movida pelo ')
Ministério Público Federal na lª Vara Federal de Rio Branco contra o IBAMA e a União, os
Náwa encontrados no interior do PARNA da Serra do Divisor usam "o parentesco como
ponto de partida para a sua identificação, vinculando também a uma localização espacial étnica"
(Montagner Melatti, 2002:142). Como entre os Arara do Amônia, "é grande a mestiçagem
entre os Náwa, não só com os brancos, mas também como outras etnias, que muitas vezes não
sabem identificar" (Ibid.:103). Igualmente como entre os Arara, "o einõnimo Náwa foi adotado
recentemente pelo grupo durante o processo de reorganização social e étnica, e resistência à perda
do território tribal" (lbid.:105).
"O termo Náwa não é só aplicado para o próprio grupo, mas para as etnias (indígena e branca) que estão engajadas na luta pela legalização do território Náwa [ ... ]. Se um dos parceiros é Nukini e o outro é Náwa, ele e seus filhos passam a se identificar como Náwa por
131
Processo nº: 2. ::,.o~~ Folha nº: l{f k Rubrica: .)? :
habitarem na terra deles. O mesmo acontece com qualquer outra etnia que habita o território Náwa, com exceção dos Ashanika e Arara-Jamináwa que se identificaram a si e a seus filhos como pertencentes a suas próprias origens. Se os pais forem uma mistura de Nukini, Náwa e Poyanáwa, o filho será Nukini se residir na áreaNukini { . ..J, Os filhos de um casal assim misturado, apesar de terem uma parte de sangue. de branco e outra de índio, são considerados da 'raça' Náwa, pois 'moram no mesmo lado' destes, em sua terra, nasceram e se criaram nela [ .. .]. Alguns mestiços com branco afirmam, que se sua identidade for contestada, assim mesmo preferem continuar residindo em território Náwa. Gostam da mata, nunca pensaram em sair dela. Seriam índios mesmo que fossem brancos" (Montagner
: Melatti, idem:lOl-103)"7. ('
Assim como os Arara do Amônia, os Náwa possuem urna
'classificação étnica' baseada no critério de pureza ou mistura 'de sangue', sendo bastante
representativas as seguintes categorias relacionadas na perícia antropológica:
"- Mais caboclo, caboclo, caboclo puro, caboclo de sangue a sangue, índio puro, índio pintado (tatuado) ou índio antigo, quando a pessoa é do tempo em que vivia em maloca, no mato, foi pega a cachorro [ ... ]. - Índio legítimo quem pertence a uma etnia, não tem mistura com branco. - Índio aquele que tem ascendência indígena por um dos lados da linhagem dos pais, avós. Uma certa pureza sangüínea dos antepassados. Há momentos que o termo caboclo transforma-se em sinônimo de índio { ... ]. - Misturado, cruzado ou mestiço quem tem mestiçagem de índio Zcaboclo com branco/civilizado (negro, brasileiro e peruano). É a geração atual. Para explicar a ascendência étnica, como as novas gerações se filiam às antigas, fazem de modo simbólico, metafórico, relacionando a 'troncos velhos', que são as famílias que viviam em 'maloca' ou pessoas que foram pegas a dentes de cachorro. São os Náwa legítimos" (Ibid.:108-109).
·;-
É preciso somente esclarecer que, prevalecendo o amplo
entendimento acerca da legitimidade desse tipo de reivindicação étnica, existe a
possibilidade concreta do surgimento de outras demandas na bacia do Juruá acreano
semelhantes às dos Nâuia do rio Môa e dos Arara do rio Amônia. Um caso já aventado em
documentos de trabalho do próprio órgão incligenista é o do grupo. de famílias
relacionadas à Milton Gomes da Conceição, cuja presença está grandemente dissemida na
bacia do rio Tejo. Considerado 'índio' em documentos assinados por servidores da
FUNAI e 'seringueiro' em obras publicadas sob a inspiração dos moradores da RESEX do
Alto Juruá, o senhor Milton seria um descendente de indivíduos pertencentes à grupos
Pano capturados em correrias na região do rio Envira e que, após se fixar na bacia do rio
Tejo, teve grande influência na implementação da unidade de conservação ali criada,
sendo ex-presidente da Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva
Extrativista do Alto Juruá. Curiosamente, a possível área cuja dernarcaçã<_? como terra
indígena seria reivindicada por essas famílias está· situada exatamente na zona do igarapé
.-
Dourado, já tantas vezes mencionado ao longo deste relatório",
132
Processo rf: -z..=;-,=,,g/0-0 ---
Folha~ "qfJ - Rubrica:-= 7 =
--·- -- -- -- ----- E; t. [ '
Resta claro que existe um componente étnico nesse tipo de demanda
social. O que nos parece requerer uma reflexão mais acurada por parte dos diversos
agentes envolvidos é em ql<c medida e de qual forma essas situações podem e devem ser
enquadradas nos marcos administrativos e legais atualmente vigentes relativos às
sociedades indígenas. Uma possível alternativa · de encaminhamento, aventada na
transcrição do debate patrocinado pela comissão da Portaria nº 246/PRES/2002, seria
"pensar uma categoria que possa abranger esses k7-upos que vem reivindicando reconhecimento
é~nico, tal como populações caboclas ou outro nome parecido, ao invés de tentar encaixar estas
mesmas em uma definição de índio" (Almeida, op. cit., Anexo 6:15). Enquanto isso não ocorre,
vemo-nos impelidos a procurar a transformação dos ordenamentos jurídicos, sociais e
políticos existentes com uma II diversidade de concepções que devem dar origem a uma mais
~_& larga diversidade de direitos" (ABA, op. cit.:3).
z) Justificação e Propositura
De um ponto de vista puramente assertivo, é possível dizer que
uma das soluções visualizadas para a atual situação fundiária configurada pela
reivindicação Arara discutida ao longo deste relatório seria o retomo das famílias em
questão ao local por elas ocupado até cerca de uma década atrás no interior da terra
indígena Kampa do Rio Arnônea. Esta foi, como já comentamos (cf. supra:121), a primeira
providência requerida pelos grupos familiares em causa. Esse procedimento se vê obstado
principalmente por dois motivos: i) há uma evidente dificuldade (senão
impraticabilidade) dos representantes da FUNAI, do Ministério Público Federal, ou
mesmo de organizações não governamentais de apoio às comunidades indígenas, em
efetuar uma negociação com os Kampa da aldeia Apiwtxa que vise o alcance dessa meta
(esse embaraço representa na verdade menos a emulação de um suposto 'respeito à
diferença' do que uma incapacidade crônica de estabelecer um verdadeiro diálogo
interétnico): ii) ainda que a tentativa de um acordo como esse viesse a obter sucesso -
qualquer que fosse o expediente utilizado para tanto-, haveria ainda urna real incerteza
acerca da estabilidade nas relações sociais entre os dois grupos étnicos por um per~odo de "' tempo considerável, com possíveis desdobramentos que devém ser evitados.
·- 133
Prece...~ nª:
--·-······--- F
z~oslo-o K t• K
Folha nº: Ltf°f ·· Rubrica: z1: C -
P~!~s-·tâzôétf expostas, apresentamos como -soluçãe-possível para -a
situação que afeta as famílias Arara do rio Amônia a proposta para a regularização de
tuna terra indígena com superfície de =-l.6-.9-00, hectares 'e- perímetro de 64 -quílômetros,
conforme o mapa e o memorial descritivo de delimitação apresentados no Anexo 2.
Embora o já referido croqui encaminhado pelo Ofício nº 007 /DEID /2003 contenha as
indicações de 'terra indígena Arara do Alto Juruá', de 'área indígena Apolima Arara' (na
margem direita do Amônia), e de 'reserva indígina Apolima Arara' (na margem esquerda do
~esmo rio), preferimos denominar a terra indígena em questão como Arara do Rio Amônia
devido a) ao fato da mesma não atingir qualquer trecho do río [uruá e b) à i_rnprecisão ou
incerteza quanto ao significado do termo Apolima (d. supra:106-108).
Salvo melhor juízo, respeitadas as prerrogativas inerentes à
condição de terra indígena, caso haja a disposição dos Arara em assumir o compromisso
de acatar o Plano de Utilização aprovado para a RESEX do Alto [uruá, entendemos não
haver a necessidade de alteração nos limites dessa unidade de conservação. Pois as
fanu1ias do referido grupo podem perfeitamente ser enquadradas, do ponto de vista do
IBAMA, na categoria de 'populações tradicionais', passando a gestão da área em que
houver a sobreposição entre a terra indígena ora delimitada e a RESEX, no que couber, a
ser feita conjuntamente pelos dois órgãos federais envolvidos.
Além disso, afora o desejo natural de influenciar o deslinde de urna
questão fundiária como a aqui retratada, bem corno a compreensível angústia ou
insegurança quanto aos rumos de um processo que envolve o reassentamento de
populações, tanto os membros da comunidade Arara, por um lado, quanto os ocupantes
~ do projeto de assentamento e da reserva extrativista, por outro, não possuem razões
objetivas para agravar a exaltação de ânimos já existente. Ainda que se compreenda a
.-
eventual função política da radicalização do discurso, inclusive como mote para a ação
administrativa, acreditamos que a problemática fundiária hoje configurada no rio Amônia
possa ser melhor encaminhada não através de atitudes extremas - seja qual for o lado de onde venham -, mas por meio de um diálogo interínstitucional e inter-societário baseado
na franqueza e no respeito.mútuo. É provável que a inquietação causada por esse tipo de
situação fosse um pouco menor se houvesse uma perspectiva real de um amparo eficaz
aos possíveis reassentados, sendo certo que até mesmo o montante das indenizações já
calculadas (do pQ~to de vista técnico inteiramente corretas) parece não fazer jus ao
trabalho investido por cada ocupante na área ou lote que atualmente ocupa . .''
1-34
Processo n11: 2 f .08 ja-::>
Folha nº: Lf .[""1 Rubrica: &:Z
Por fim, para concluir esta exposição queremos novamente retornar
uma proposição já salientada em um relatório sobre os Arara encaminhado há mais de
três décadas atrás à FUNAI (citado supra:120). A demarcação de uma área própria para o
grupo de famílias aqui considerado certamente teria um efeito positivo na .Perpetuação de
uma experiência social humana que, de outra forma, possui grandes chances de se
dissolver nos escaninhos da história: "Esta possibilidade tem que ser considerada na ~·
implementação de uma política indigenista" (Seeger & Voguei, 1978:18).
Era o que tínhamos a relatar.
Brasília, 26 de maio de 2003
~ti-~~ Coutinho Jr.
Antropólogo-Coordenador GT Pó'rtaria nº 1.054/PRES/2001
135
VIII. NOTAS
1 Nos afluentes da margem direita do médio Juruá. acham-se ademais os Katukína de fala Pano, que habitam a TI Campinas/Katukína, na divisa estadual entre os municípios de Tarauacá (AC) e lpixuna (AM), e a TI Rio Gregório, no município de Tarauacá, que partilham com os Yawanáwa. Na bacia do rio Tarauacã, também se encontram os Kampa, os Kaxinawã, os Kulína, e os Xanenáwa. Por fim, há diversas notícias sobre apresença de índios isolados na bacia do Tarauacã, bem como, mais esporadicamente, na região do alto rio Breu.
2 A grafia utilizada para as palavras Arara segue de modo gen1t 'a adotada por Cunha ( 1993) e Freitas ( 1995), havendo no entanto pequenas diferenças no registro de alguns fonemas com o intuito de tomar mais fácil a comparação com os cognatos de outras línguas Pano. Exceto no caso das citações. em que o nome das sociedades indígenas é transcrito de acordo com a fonte original, a grafia dos etnônimos procurou seguir tanto quanto possível a convenção adotada pela Associação Brasileira de Antropologia em 1953. Em função dessa escolha. os etnólogos especialistas na área cultural aqui enfocada sentirão maior estranheza, provavelmente, na substituição do sh pelo x na grafia do nome dos grupos indígenas mais conhecidos, a exemplo dos Shipibo, Shetebo. Ashaninca, Shawanawa etc. A tradução dos trechos citados de obras estrangeiras são de nossa responsabilidade. exceto no caso dos artigos do Pe. Tastevin. aos quais tivemos acesso a partir de traduções anônimas e sem dara obtidas pelo antropólogo Cloude de Souza Correia, a quem expressamos o nosso agradecimento.
3 Se. em alguma medida, as restrições inerentes ao reduzido tempo de trabalho despendido em campo podem incorrer no que foi caracterizado como um .• aprendizado de circunstância" (Oliveira & Almeida. 1998:86). ou mesmo serem passíveis de questionamento quanto aos "procedimentos metodológicos e o rigor habituais à discipluta .. {Silva. 1994:61 ), consideramos de todo modo a pesquisa realizada como suficiente para fundamentar o presente relatório. devendo no entanto ser complementada caso haja outros interesses administrativos ou acadêmicos.
4 O cônego Fernandes de Souza menciona que "no an110 de /813 foi o indio Joaquim Tiuoco, morador de Ega, ao rio Juruá á agarração de gentios com os seus familiares, e logo depois de passada a barra se encontrou com alguns da nação Marauá, que desciam dos centros á praia do Araçatúa a trabalhar para os brancos ria escavação dos ovos de tartaruga e fabricação de manteigas, á troco de ferramenta como costumam: foram logo presos em troncos de campanha e trazidos a Ega como seus escravos ]. .. /. De igual sorte aconteceu aos mamelucos José Castelhano e Thomas; Barbaça, moradores do lugar de Nogueira. que foram 110 ano de 1818 colher salsa n'este rio. Convocaram alguns gentios d'este rio a que Lhe colhessem salsa a troco de ferramenta, e em poucos dias tiveram carga para eis suas igarités possantes: então se lhes suggeriu o diaboiico projecto de capturarem os ultimas que lhes trouxessem, salsa, mulheres e homens, que a troco de paga os amarrassem. entroncassem e embarcassem para os vender como escravos, segunda o uso d'aquelle paiz: Prevenidos os troncos e as cordas, assim o fizeram com outros índios de sua comitiva, e os embarcaram em duas igarités amarrados e entroncados .. (Souza. op. cit.:444). Além dos grupos habitantes do Juruá citados por Noronha e Souza. uma obra publicada em 1852 relaciona ainda os Achóuari, Araruá, Júma, Múra, Uaniá (ou Uamani) e Uaruecóca (Amazonas. 1984: 184).
5 Enquanto a exportação de borracha do Estado do Amazonas atingia em 1892 a cifra de 9.391 toneladas, a produção equivalente do vizinho Departamento de Loreto, no Peru, alçava em 1891-92 a ordem de 18.430 toneladas. Em 1901. a produção de borracha no Amazonas já permitia a exportação de 29.373 toneladas pelo porto de Manaus, enquanto no período 1900/01 a produção de Loreto alcançava 27.660 toneladas. Com efeito, a exploração dos seringais no rio Juruá respondeu quase sempre pelo segundo lugar em importância na produção total do Amazonas, sendo de 2.087 toneladas no ano de 1892. de 2.925 toneladas no ano de 1901. e de 3.642 toneladas no ano de 1902. A produção de borracha do Departamento do Alto Juruá permaneceu acima de três mil toneladas até 1908, caindo para 2.963 toneladas em 1909, e para 2.094 toneladas em 1912. Nesse último ano, excluída a produção do rio Tarauacã e seus afluentes. o vale do Juruá acreano foi responsável pela produção de 900 toneladas; em 1913. essa produção teve uma queda bruta! para 598 toneladas. mantendo-se nesse patamar (com relativa recuperação em 1916 e 1917) até 1923. quando voltou a cair significativamente para 312 toneladas (cf. Mendonça, 1989: 123-133; Villanueva, 1902:381; Castelo Branco, 1930:709- 713).
6 A "linha Madcira-Javari" era mencionada desde o Tratado de Madri ( 1750), que estabelecia o limite colonial pelo álveo do Madeira até um ponto eqüidisrante entre o rio Amazonas e a foz do Marnoré, "e desde aquela paragem continuará por uma linha leste-oeste até encontrar a margelll oriental do Javari", seguindo pelo leito deste. Embora este acordo fosse anulado pelo Tratado de E! Pardo (1761 ), uma linha idêntica entre o Madeira e o Javari voltaria a ser tomada como limite pelo Tratado de Santo ldelfonso ( 1777), anulado posteriormente pelo Tratado de Badajós (1801 ). Finalmente, através do Tratado de Ayacucho ( 1867) a fronteira entre as nações envolvidas foi estabelecida desde a confluência entre os rios Madeira e Beni para o oeste "por ui/la paralela tirada de sua margem esquerda, na latitude /Oº 20', até encontrar as nascentes do Javari", ou, se o Javali tivesse suas nascentes ao norte daquela linha leste-oeste, seguiria "a fronteira, desde a mesma latitude, por uma reta a buscar a origem principal do Javari" (Tocantins, 1979, vol. 1 :74. 80 e 126). A disputa fronteiriça entre a Bolívia e o Peru. em grande parte suscitada pela interpretação desses tratados, somente seria
... 136
Processo n°:_.~ t-o8/e-u Folha nº: L/ {; f Rubrica: • d(:l
solucionada em 1909 através de um tratado de arbitragem julgado pela Argentina, cujo deslinde final, no entanto, sofreu severo repúdio da opinião pública boliviana.
1 A empresa Melo & Cia. foi uma das mais importantes no período da exploração da borracha, estando entre as quatro maiores armadoras do Pará, possuindo seis vapores próprios em 1897. Segundo Bueno de Andrade, Prefeito do Departamento no período 1907/10, "ao negociante português Antonio Costeira, da firma paraense Mello e Cia., deve-se o povoamento do Alto Juruâ. Percorrendo-o ousadamente em toda a sua extensão, foi deixando em suas margens, à mercê de Deus, os cearenses que levava em sua companhia. Desse modo formaram-se os seringais. Para assegurar a posse de imensas extensões de terra, não raras vezes, do inteiro curso de um rio, bastava um único homem e o simples levantamento de uma rude barraca de madeiras, coberta de caranai" (apud Barros, [1982]:154-155). No curso acreano do Juruá havia "cerca de 50 seringais, dos quais 18, os melhores por suas terras, localização e produção, estão nas mãos dessa poderosa firma. A ela também pertencem todos os localizados 110 rio Amonea e 9 dos 13 existentes 110 rio Tejo" (Ibidem; grifo nosso). O seringai Minas Geraes foi "explorado por Luís Francisco de Mello, tendo sido seu primeiro proprietario Antonio Doutor. Foi entregue a Mel/o & Comp., em pagamento de dividas, inclusive o seringai Nova Minas, que fica 110s fundos dêste, por Luis de Metlo, sendo-lhe incorporado, mais tarde, o Mississipe, que foi explorado por Francisco dos Sanctos Falcão, seu primeiro do110, que o vendeu a Luís Sassi. Hoje é propriedade de Nicolaus & Comp., assim como o Minas Geraes, que os compraram depois da fallencia de Mel/o & Comp, Em 1908, quando de Mello & Comp., era o Minas Geraes a casa de maior movimento commercial de todo Alto-Juruá, sendo ahi que os vapores dessa firma despejavam seus carregamentos para supprimento dos seringaes do rio Tejo e outros do Juruá, pertencentes á mesma firma. Em 1912, Mello & Comp. adquiriram o Bocca do Tejo e para fá mudaram a séde de seus negocios no Alto Iuruá, perdendo o Minas Geraes a sua importancia" (Castelo Branco, 1930:622).
-~
8 O carpinteiro-calafate da expedição tinha "descoberto mais outra purma antiga com poucas bananeiras e coentro na margem direita e a montam e, e sendas batidas atreve: do rio· que indicavam a existencia de toldos proximos em reconditos da numa de um e outro lado, rodeando nosso acampamento. Na manhã de 25 (de setembro de 1905, próximo da prainha da Tapera] em uma das investidas pelo raso leito do igarapé de jusante, que poderemos chamar das Frechadas, os selvagens o seguiram e se emboscaram numa volta propricia, atra; de arvores. Desciam desprevenidos,
. elle e um soldado que o acompanhava, quando Ires frechas seguidas cortaram o ar numa distancia apenas de seis metros de barranco a barranco e foram cravar-se com força na areia marginal, rasgando a roupa e ferindo levemente o soldado em uma das coxas. Responderam com tiros de seus fuzis que afugentaram as atacantes e foram ouvidos do acampamento, a que logo se recolheram para dar-me parte do ocorrido. Co11w não trouxessem as frechas contra e/les atiradas, antes que voltassem as indigenas a buscai-as e podessem se persuadir de haver inspirado temor, para lá me dirigi, apenas entrado em convalescença, acompanhado de quatro homens, compre/tendidos os dous escapas da emboscada. Abrindo picadas, galgámos o morrinho da roça, descambámos para a oure/a direita do igarapé e seguimos os rastos dos indios desde o ponto em que, rendo morto e depenado um 111utw11, viram e seguiram os nossos dous homens, ora por veredas de facial transito, ora arrastando-se por baixo das folhas espinhosas dos gravarás cerrados que ahi bordam a torrente, até chegarmos precisamente ao bem escolhido local da emboscada. Por ira; ele alteroso pau mulato e outras arvores encontrei um arco e treze frechas em cinco molhos e mais Ires esparsas, cravadas na base do barranco e prainha opostos, uma delas enterrada 11a areia em quasi todo o comprimento a evidenciar a força do arremesso" (Mendonça, op. cit.:125-127).
9 O poder executivo foi autorizado a organizar convenientemente o novo Território do Acre através da Lei nº l.181, de 25.02.1904, procedendo-se a sua divisão em três Departamentos (do Alto-Juruá, do Alto-Purus, e do Alto-Acre) através do Decreto nº 5.181, de 07.04.1904. Essa divisão foi depois alterada por força da Lei nº 1.820, de· 19.12.1907. e do Decreto nº 9.831, de 23.10.1912. resultando desce último a criação do Departamento do Alto-Tarauacá, desmembrado da área antes abarcada pelo do Alto-Juruá.
10 A população total de índios do Juruá era calculada em quatro ou cinco mil pessoas no princípio do século XX, sendo que pelo menos mil habitariam o trecho acreano do rio (cf. Villanueva, op. cit.:426; Branco, 1930:597).
11 Esta é igualmente uma forma de autodenormnação corrente entre os povos Pano do Ucayali, a exemplo dos Xipfbo Koníbo (1011i) e dos Kaxíbo (Uni). Alternativamente, também se encontram na bacia do Juruá variantes dos termos Yura (ou Yora, i.e., 'gente', 'corpo') usadas como 'denominações étnicas' (v. infra).
·-
12 A localização geral dos grupos indígenas encontrados na bacia do alto Juruá no segundo decênio do século XX é indicada por Tastevin ( 1920b: 146). Segundo ele, à montante do Tarauacá, "o rio principal e seus afluentes são ocupados pelos Nawas: o médio Tarauacá e o alto Gregório pelos Kasinawas, o alto Envira e o alto Juruá pelos Jaminawas em armas; o alto Tarauacá pelos Kontanawas: o espaço compreendido entre o Liberdade e o Gregório, ou mais exatamente, o igarapé Reconquista, pelos Katuquinas; o alto Liberdade pelos Ararawas, o espaça compreendido entre o alto Liberdade e o alto Juruâ pelos Chipinawas e Kapanawas; o baixo Môa, na margem direita, pelos Kuyanawas; o alto Mõa pelos Nukuinis; o alto Paraná da Viuva, entre o Ucayali e o Juruá, pelos Campas e Remos. Devo assinalar também as Amoucas (Umauas) que deram seu nome a um pequeno rio da margem direita do Iuruá dois dias acima da cidade de Cruzeiro do SuC' (grifos nossos).
137
13 De acordo com Barros ({1982]:125), utilizando "índios 'Nauás' civilizados"; o Cel. Mâncio Lima havia organizado urna expedição chefiada por Antonio Marques Menezes que localizou nas matas vizinhas à fazenda Barão do Rio Branco treze grandes roçados e cinco malocas completamente desertas: "Foi então contratado o cearense Ami}!]_io Bastos, conhecedor dos hábitos e dialetos, 'além de dotado de perspicácia e sentimento humanitário'. Assim. ao áiió seguinte (1912)/oi organizada uma nova expedição, com a cooperação também de índios civilizados", realizando-se dessa forma o contato com os Poyanáwa.
14 Este local seria também "um magnifico ponto de atracção para os indios Chipinauas e Curinas, que não habitam lagar certo. percorrendo diversas zonas: estes desde o Brêu ao rio Jordão, afluente do Tarauacá e aquel/es as cabeceiras do igarapé Yalparaiso, afluente do Juruá {. .. /. Em caminho acima do Iuruá-Miry, encontramos o Sr. Bastos, que subia em canôa, até o alto Brêu, afim de conseguir chegar á fala com 06 índios Chipinauas" (Silva, lbid. ).
15 O fato é também narrado, diversamente. da seguinte forma: "No Alro Gregório viviam duas irreconciliáveis tribos: a dos "Catuquinas' ou 'Amoucas' e dos 'Araranâs' ou 'Araras'! Os primeiros eram chefiados pelo índio Tescon, célebre e temido pelas suas proezas. Em /914, na luta por eles travada pereceu Tescon numa emboscada. Apavorados com as possíveis represálias, os 'Amoacas' valeram-se da simpatia que lhes dispensava o Cef. Absolon Moreira. procuraram proteção 110 seringai 'Humaitâ', onde e/regaram após longa caminhada, doentes, famintos e estropiados. Decorridos alguns meses, recuperados e alimentados, sorrateiramente abandonaram as terras do protetor e retornaram à selva em busca de seus adversários que inclusive dispunham de rifles. Eram ao todo 70 indígenas" (Barros, op. cit.: 126; grifos nossos). Apesar da rivalidade, a tatuagem facial de ambos os grupos seguiria o mesmo padrão: "Os Katuqulnas e os Aramll'OS se reconhecem por uma Linha azul que lhes vai do cama da boca à parte inferior da orelha, como as rédeas de 11111 cavalo" (Tastevin, 1920b: 154).
16 Este autor afirma em outro de seus artigos. publicado no mesmo ano, que o "serviço de catequese positivista organizado pelo Governo" havia "agrupado os Kasinauas 110 alto Gregório, os Sipinawas, os Amauakas, os Capanawas e os Jaminawas entre o rio dos Amoacas e aquele de Natal, e os Cuyanawas sobre o baixo Môa" (Tastevin, 1920b: 149). Percebe-se não existir nesse momento a posterior equivalência feita no artigo de 1928 (citado no texto, supra:29). entre Amawáka e Xipináwa.
17 Segundo Correia (2001), é possível que o indivíduo aqui denominado 'Felizardo Siqueira de Lima' se tratasse do mesmo Felizardo Cerqueira, anteriormente citado. de quem se dizia também possuir um "harém de nove mulheres" e que teria sido aceito como chefe, com Ângelo Ferreira da Silva. pelos Yawanáwa, Rununáwa e lskunáwa do rio Gregório, ajudando na pacificação dos Arara do rio Liberdade e retirando-se posteriormente para junto dos Kaxinawã (cf. Tastevin, 1926). Após a morte de Angclo Ferreira, assassinado em 1909 no rio Apuanã por capangas de outro patrão seringalista, "Felizardo Cerqueira, sobrinho e antigo empregado de Angelo Ferreira levou bom número de Kaxinawá que vinham trabalhando nesses locais para o rio lboiaçú .. (Aquino & Iglesias. J 994: LO). Acompanhando-o até o alto rio Envira, os Kaxinawá passaram a ser utilizados por ele na extração do caucho: "No ano de /919, Felizardo e esses Kaxinawá encontravam-se nas margens do igarapé Aliança, afluente da margem direita do Alto Envira. onde existiam varadouros usados por caucheiros peruanos vindos dos rios afluentes do Ucayali" (Ibidem). De acordo com a memória histórica dos Kaxinawá, uma parte do grupo dispersou-se no final da década de 19!0 depois de massacrar uma turma de caucheiros peruanos e saquear o barracão do seringai Simpatia, no alto Envira: "iPor isso, os Kaxinawá começaram a dividir. Um bocado segwu para a mesma direção que eles já iam, para as cabeceiras do rio Purús. Alguns velhos contam que, ali, foram atacados por peruanos guerreiros e por Jamináwa. Outro bocado de Kaxinawá voltou para a direção do Taraiá, que é o Tarauacá. Ali, encontraram com Felizardo Cerqueira. Este começou a perguntar de onde eles tinham vindo, porque naquele lugar não tinira capoeira amiga, só roçado novo. Eles contaram como tinira acontecido e que tinira muita gente ainda dentro da mata. Felizardo convidou eles para ir junto buscar o resto do pessoal que tinira ficado. Só três ou quatro pessoas tiveram coragem e seguiram viagem. Quando chegaram numa passagem de igarapé perto da aldeia, os Kaxinawá atacaram Felizardo. Mataram dois parentes e balearam um branco. Meteram bala no Felizardo, mas as balas não ofenderam ele. Depois que voltaram, o Felizardo ficou só com que ele tinha encontrado. Ele levou esses povos para as cabeceiras do rio Formoso e depois para o Jordão. o rio que hoje nós chama de Yuraiá · (Agostinho Manduca Mateus Muru - pesquisador Kaxiuawá do rio Jordão). A outra parte da população Kaxinawá rumou, portanto, na direção das cabeceiras dos rios Envira e Tarauacá, onde, por volta de 1920, foram novamente agrupados por Felizardo Cerqueira [. . .]. Felizardo costumava tatuar os braços de lodos os homens com as iniciais de seu nome ( FC) mostrando para os demais patrões da região que aqueles Kaxinawá lhe pertenciam ]. . ./. 'Felizardo Cerqueira amansava caboclo, dava mercadoria para nós caboclo. Agradava o 1•el/10, o menino. Felizardo e Angelo Ferreira amansava caboclo pra trabaiá pra ele. Nós tudo aqui trabalhemo com Felizardo. Ele dizia que tinha pra mais de oitenta filho com as cabocla. Eu mesmo ele me ajudou a fazer. Felizardo amansava caboclo e depois botava a marca ( FC) pra saber que era dele, que foi ele que amansou. O Nicolau Costa, o Regina, o Chico Curumim, o Romão Sales. o Valdemar Damião, esses caboclo mais velho tudo, ainda carrega essa marca no braço. Picava o braço com quatro agulha e passava a tinta, que é jenipapo misturado com pólvora e tisna preta de sernambi' {Sueiro Sales Cerqueira, velho shaneibú Kaxinawá do rio Jordão). Após concentrar aqueles grupos extensos Kaxinawá nas águas do rio Formoso, afluente da margem esquerda do Alto Tarauacá, Felizardo levou-os para o Revisão, último seringai das cabeceiras do rio Jordão. Ali, fora chamado pelo primeiro proprietário e patrão, José Maia, para dar segurança e proteção aos seringueiros cariús que moravam nas colocações de centro contra os frequentes ataques de caboclos brabos [indios arredios). localmente
138
Processo nº: 21oõ/p-o Folha nº: '-{ k 3 Rubrica: 7 =
conhecidos como Papavõ. A mando de Felizardo, os Kaxinawâ realizaram inúmeras correrias contra esses índios nas cabeceiras do rio Jordão { ... ). Além das extensas relações familiares estabelecidas com os Kaxinawâ; Felizardo Cerqueira era por eles concebido como bom patrão. Falava fluentemente o Hãtxa Kuin (a língua Kaxinawá] e tinha várias mulheres indígenas. Aceitava o modo de vida dos Kaxincvâ, ~íava-lhes mercadorias, incentiva-os a cultivar seus · roçados, a praticar as suas outras atividades de subsistência e a atualizar festas e rituais de sua tradição" (Ibidem: 12- 13). Importa registrar que, segundo o testemunho dos Arara oriundos do rio Cruzeiro do Vale, Felizardo 'Siqueira' teria vivido também entre os Arara do rio Bagé: ··o nome de Felizardo Siqueira de Lima, bisavô de Chico Nogueira, entre os antigos [índios Arara}, é especial por se tratar de um cearense, segundo a memória do grupo, que passou a viver com os índios Yawanawa e Arara no rio Bagé, tendo posteriormente migrado para o rio Jordão apenas com os Yawanawa, vindo a se tornar o 'Tuxaua da turma das Yawanawa' e ascendente de alguns Arara. Sobre Felizardo Siqueira de Lima consta na memória Arara: CN- 'Felizardo era branco, mas considerado como índio, andava 11u, tinha o peito pintado, as orelhas furadas, colocava pena 11a venta, considerado Indio ]. .. }. Era cearense.foi ,w tempo das correrias para pegar os Yawãdmva. Ele não conseguiu matar o po110, ele queria amansar. E não amansou mesmo, o povo. O povo era muito, eles matavam muito, mas ele ficou com 1m1 grupo de Yawãdawa, e amansou e ficou com as indias e foi criando aqueles mais novos, aqueles mais velhos foram acostumando até que misturou-se, ele morreu 110 meio das tribos dos Yawãdawa, nunca se apartou' (Chico Nogueira, 05/03/2000, Cru z eiro do Sul)" (Correia, op. cit.:28; grifos nossos).
18 V. também Aguiar (1987). De acordo com Rivet & Tastevin (1921a:460). pertenceriam provavelmente ao grupo Katukína os índios encontrados por Chandless pouco acima da foz do Liberdade, devendo estar relacionados ao mesmo grupo os Kauikína do Jaquirana que, segundo Stiglich. seriam aparentados aos Kapanáwa. Para Oppenheim, os Katukína "habitavam o baixo vale do Iplxuna e a margem esquerda do vai/e do Juruá. Outrora numerosos, são actualmente reduzidos a poucas tribus nomadas" ( 1936: 147).
19 Assim .•. o inimizade entre os Sainawa e os Yawanmva vinha já de anteriores confrontos. pois como a prôpria Txitxi Panani contou. quando ela era menina - há uns oitenta anos - os Sainawa não podiam nem ver os Yawa11awa, tanto é que quando a avó de Dona Nega {viúva de Antônio Luiz/ que era Sainawa casou com w11 homem Yawanawa, este foi morto na primeira visita que fazia à maloca de sua esposa para conhecer seus novos parentes 110 Riuzmho da Liberdade [. .. /. Txitxi Panani descreveu com tristeza a morte do marido (Yawa11awa) de sua tia [Sainawa). Ele tinha ido morar 110 Cupishawa de seu sogros (Sainawa), mas estava sempre alerta pelas desavenças já conhecidas. Um dia descansava na rede, com o rifle do lado, homens de um outro Cupishawa, que eram também Sainawa, se aproximaram e entraram 11a casa, o renderam a força [. . .]. Foi depois desse acontecimento quando e/regou aos ouvidos dos Yawanawa que tinha caboclos nas proximidades, organizou-se uma expedição com uns cinqüenta Yawanawa armados para o qual obtiveram permissão e uma carta de apresentação dos patrões, 'os cariocas', com o objetivo de visitar os territórios de um outro patrão seringalista chamado Manel De Pin onde, em teoria, se encontravam os recém-chegados [. . .]. Quando chegaram ao encontro do grupo os Yawanawa viram todas aquelas pessoas que não conheciam e só então souberam que esse grupo eram os Katukina, os quais lhes contaram que vinham cruzando o Matrinchão, Ataláia e a cabeceira do Tavari, escapando de outros povos Kulina e Djapa com os que brigaram. Pediram a proteção do líder Yawanawa no caso dos perseguidores chegarem na área. pois eram os Yai,·wwwa que dominavam aquele território O morto era cunhado de Antônio Lui; que não esperou muito para se vingar. Organizou-se outra expedição para retaliar a ofensa. Se dirigiram para o rio Besta onde estavam os Sainawa e a mulher do falecido. Se apresentaram ao patrão Barroso - primo de Manel De Pin - como homens de paz que só queriam conhecer seus parentes. Os Sainawa não temiam o ataque uma vez que não foram eles os que tinham matado o Yawanawa e sim outras famílias Sainawa. A confusão teve consequências desastrosas. À noite todos os Yawanawa armados de espingardas os surpreenderam atirando sem piedade [ .. .]. O massacre deixou alguns vivos - mulheres e crianças como era costume - que foram levados como cativos { ... ]. O caminho de volta foi duro e agitado, abrindo caminho por onde não o havia, cortando a mata e seguindo o curso do rio Forquilha até dar 110 Gregório" (Carid Naveira, op. cit.:41-43).
20 A presença dos Kapanáwa é registrada por Rivet & Tastevin (1920a:457-458) no Tejo, que confirmam do mesmo modo sua localização nas nascentes do Breu, e entre o São João e o Caipora. Para esses autores (lbid.:475), os Yúra seriam um 'ramo' dos Amawáka. A denominação Yúra irá reaparecer no período contemporâneo para denominar uma sociedade de língua Pano, também conhecida com Náwa ou Parquenawa, que habita a região entre as cabeceiras do rio Mishagua, afluente do baixo Urubamba, e o alto rio Manu, afluente do rio Madre de Oios (cf. Verswijver, 1987). Presentemente, há informações sobre a presença de índios Morunahua no alto Juruá e de Chitonahua no rio Mapuya (cf. FENAMAO. 2001). O padrão oscilante de hostilidade/aliança entre os Amawáka e outras sociedades Pano que ocupam a mesma região pode ser percebido, por exemplo, no fato deles acompanharem os Jamináwa quando estes últimos migraram, provavelmente na década de 1930, desde a região do rio Envira, no Brasil, para os rios Mapuya e Huacapistea, em território peruano. Do mesmo modo, os Jamináwa contatados na bacia do rio Purus e levados para uma missão dominicana no rio Sepahua, afluente esquerdo do Urubamba, passaram a viver ali em conjunto com índios Amawáka, Piro e mestiços regionais. Porém, quando outros Jamináwa chegaram ao mesmo local em 1968, foram quase totalmente exterminados pelos Amawáka. Os Amawáka foram também os intermediários da atração J~ um grupo Jamináwa ao rio Mapuya por um missionário dominicano em 1964, voltando metade da população contatada para o Huacapistea após as epidemias que se seguiram (cf. Townsley, 1988:89-90).
,- 139
21 O rio Caniguati também é expressamente mencionado por Villarejo ( 1959: 122) como um dos locais de referência para os Amahuaca peruanos.
22 Se o mencionado rio í":Ja correspondesse ao rio Cujar, formador do rio Puros, o território descrito corresponderia de modo bastante próximo à área até hoje ocupada pelos Amawáka no Peru. Aliás, devemos lembrar que um mapa encontrado em 1853 já localizava no rio Cuja um povoado de índios Piro e Arnawáka (sobre o curso d'água denominado Cuja, v. Branco, 1947: 156-157 e 210; Idem, 1958: 15-17).
23 No período mais recente, os Amawáka estabelecidos em território peruano têm sido encontrados de forma rarefeita pelos-rios lnuya, Mapuya, Tamaya, Piedras, Sepahua e Urubamba (cf. Gonçalves, op. cit.:239; Kensinger, 1983). Outros autores, além de Grubb, também citam o rio Sheshea como 16éal de habitação desse grupo: "Os amahuacas vivem pelas cabeceiras do Chesea e do Tamaya. São uns 300. Semi-civilizados" (Villarejo, 1959:167). O mesmo curso d'água é citado igualmente no depoimento de um índio Kampa como região ocupada por seus parentes no Peru: "Junto com meu pai e outros Kamparia, trabalhei no rio Sheshea. Aí trabalhei muito tirando madeira lá. Esse Sheshea faz cabeceira com , io Amônia, onde tem muito Ashaninka também. No Sheshea vi muito Kamparia por lá. Kamparia de lá botava roçado, plantava feijão e tirava madeira pra patrão peruano [. .. ]. Varando da cabeceira do Sheshea saiu lá na cabeceira do Iuruá, acima de Tipisco" (apud Aquino, 1996:26).
24 Em princípio. essa localização corresponderia antes ao território ocupado pelos lskonáwa na bacia do Ucayali ou pelos Nukiní na bacia do Juruá, ambos os grupos também conhecidos anteriormente como Remo. Seria possível supor que Oppenheim estivesse confundindo os Amawáka com esses outros grupos indígenas caso eles não fossem também considerados separadamente no mesmo artigo.
25 Uma afirmação semelhante é feita por Castelo Branco ( 1930:597): "Nas proximidades do Brasil, em territorio peruano vagueia grande numero de Amahuacas e de outras tribus, apparecendo acidentalmente na fronteira brasileira os Campas, Shamas e Remos".
26 Na década de 1920, os Kampa estabelecidos próximos à boca do rio Huacapistea, trazidos do Gran Pajonal por caucheiros peruanos, tinham ainda suas batalhas com os Amawáka daquela região (cf. Mendes, 1991 :39).
27 Os Remo viveriam entre as montanhas de Canchahuaya e o rio Tamaya, sendo Callaria sua principal localidade: "Os Remo, assim coma os Ama/maca, são deveras tratáveis, e como aqueles são vítimas das incursões dos Conibo: é por esta razão que o R.P. Calvo, como já dissemos acima, fundou, em fins de /859, o povoado de Callaria, que leva o mesmo nome do vale, para impedir as incursões dos Conibo para o lado onde vivem os Remo" (Raimondi, 1863:422). A presença dos chamados Sakuya, considerados um 'ramo' dos Remo, é mencionada nessa época, por exemplo, no divisor de águas entre o Tamaya e o Juruá (cf. Rivet & Tastevin, 1921 :471 ).
28 Mais de um século ·antes, os Koníbo do rio Tamaya haviam sido localizados pelo Pe. Ramon Bousquet. companheiro de viagem do conde Francis de Castelnau (cf. Castelo Branco, 1958: 15-17).
29 Como outros grupos indígenas do oriente equatoriano, inclusiv~ aqueles de fala Quichua localizados no alto rio Napo, os Quijo também foram eventualmente chamados Yumbos, termo regional de conotação depreciativa. Todos os grupos Quichua do oriente equatoriano possuem a autodenorninação Runa ('gente'), diferenciando-se internamente de acordo com o nome do rio ou lugar de origem (p. ex.: Napo Runa) (cf. Muratorio. 1991:1 e 243). De acordo com Muratorio, entre os grupos citados ao redor da cidade de Archidona por volta de 1660 estavam os Oas, Zaparo e Encabe/lados (Siona-Secoya): "Alguns deles, como foi o caso dos Oas, foram deslocados pelos jesuítas para Ansupi e Santa Rosa", mencionando-se que "sete famílias de Coronados refugiaram-se de seus inimigos, os Gayes, com seus 'parentes· Oas, também conhecidos como Oaquis 011 Decaguas, que viviam 'em paz' na jurisdição de Archidona e Quijos" (/bidem:38: grifo nosso). Aparentemente, existem algumas diferenças entre os Quijo estabelecidos na área de Tena-Archidona e aqueles situados um pouco ao norte, na zona de Avila-Baeza. Segundo Whitten (1985:22), "nás não remos quase nenhuma evidência da linguagem original dos Quijos, e o nome não é conhecido nas linguagens indígenas atuais. Eles se moveram em várias épocas pam Leste, após os índios da floresta terem sido deslocados, escravizados, ou arrasados por enfermidades. Os habitantes nativos de hoje que vivem nas arredores de Tena, e provavelmente nos afluentes do Napo superior, como o Ansuj e Jatun Yacu, representam os Quijos Quichuas contemporâneos, que também se autodenominam Runa. Estendendo-se para Leste desde Arajuno, a cultura Quijos Quichua começa a mesclar-se com os Canelas Quichua, especialmente em sítios como Chapana e Vil/ano".
30 "Para os Ashaninka do rio Amônia. os Amahuaka encarnam a categoria de 'índio brabo'. Apesar de as guerras entre esses dois povos terem terminado há décadas, os Amahuaka ainda são considerados os inimigos tradicionais dos Ashaninka que se referem a eles de uma fo1111a ext,;;'i·uimente negativa. Para caracterizar os Amahuaka, os informantes usam uma série de atributos negativos: violência, nudez. canibalismo [ ... ]. Quando os Ashaniçka chegaram ao rio Amônia, eles mataram, incorporaram e, sobretudo, afugentaram os Amahuaka da região. Os informantes contam que Samuel Pianko e Tenente, uns dos primeiros Ashaninka a se estabelecer no Amônia, 'faziam guerra' contra esses 'Indios brabos'. Hoje, existem nas margens do rio algumas pessoas descendentes desse grupo indígena que casaram com
140
Processo nº: 2.:':J.,o r /c-,u Folhan':~ Rubrica: ~
r
\ 1
1
1
. \
regionais ou com membros de outros grupos nativos. Elas vivem fora dos limites da Terra Indígena, na Reserva Extrativista do Alto Juruá ou no assentamento do Incra. Margarida, uma senhora de cerca de 70 anos, é tia de Antônio [Pianko], mas a sua figura é freqüentemente mencionada quando os Ashaninka do rio Amônia se referem aos Amahuaka. Margarida é Amahuaka. Os índios dizem que ela foi 'pega e amansada' pelo marido, irmão de Samuel, quando ainda era criança. Hoje, Margarida é uma pessoa muito querida dos Ashaninka, mas, antigamente, ela tinha todos os atributos que caracterizam os Amahuaka. Por exemplo, antes de 'ser civilizada' e de vestir a kushma, ela 'andava nua': 'Ela andava nua primeiro, não tinha kushma. Pegaram ela no mato, ·pegaram ela quando era pequena, aí amansaram ela. Se Amahuaka pegava Ashaninka, matava pai, filho, então Ashaninka tinha que pegar ele. Agora pegava quando era pequenininho, porque se pega maior ele vai embora, volta pro mato. O patrão dava mercadoria para pegar Amahuaka, assimpequeno para criar. (lrãtxa)'. Para os Ashaninka do rio Amônia, o caso de Margarida prova que os Amahuaka podem ser 'civilizados' se forem capturados ainda peque/los. No entanto, é interessante notar que o 'processo civilizatório· nunca conduz a uma assimilação total. Apesar de vestir a kushma, de falar a língua, de pare ilhar a cultura, de estar integrada na comunidade e de ser parente, Margarida não é considerada pelos outros como Ashaninka. Ela permanece Amahuaka, mesmo que ela rejeite essa 'identidade negativa' e tente se confundir com os outros" (Pimenta, 2002:206-208). Em resumo, "para os Ashaninka, os Anuihuaka eram vistos como a encarnação da selvageria" (lbicl:46).
31 Consta no relatório de identificação da TI Kampa do Rio Amônea a seguinte informação: "Como vivem da exploração de madeira abundante na região, [os índios] estão preferencialmente próximo à foz dos igarapés, por onde rolam as toras de aguano e cedro até o Amônea" (Espírito Santo, 1985a:27). Quanto aos patrões então existentes no Amônia, registra-se no mesmo relatório: "Dois filhos de Quixare, escavam no Amoninha; tirando madeira para Antonio do Vale (Torvo), irmão de Getúlio do Vale, residente na Vila. Estavam acompanhados de dois filhos do Torvo. Além desses, trabalham 110 Amônea, os irmãos Bezerra, Nego Bezerra e Pedro Bezerra como marreteiros, moradores do rio Arara e da Vtla ], . .}. Hélio Matos de Melo. trabalha para Abdul Karim Almeida, dono da Serraria São José em Cruzeiro do Sul, comprando madeira dos Kampa no Amônea. Abdul Karim, juntamente com Annede Cameli, são as empresas mais fortes. nas mãos das quais no final das comas deve chegar toda a madeira retirada do Amônea. José do Vale (Birrito) ocupante da foz do A111011inha e Nanci [Freitas da Costa] que tem uma posse denominada Primavera, também exploram o trabalho dos Kampa na retirada de madeira. Nanci está com uma derrubada de aproximadamente 500 madeiras, retiradas do lado brasileiro e peruano, nas cabeceiras do Revoltoso, aguardando condições para o seu descimento, Segundo fomos informados, pelo volume da empreitada, será necessário a utilização de máquinas pesadas para a retirada dessa madeira. Getulio [Ferreira] do Vale. o sub-delegado da Vila de Taumaturgo, vendeu 'suas terras' no Amô11ea para Abdul Karitn, mas durante nosso levantamento no Cartório de Cruzeiro do Sul, o seu registro de propriedade emitido pela Prefeitura. está anulado. o que ao ser denunciado, provocou constrangimento entre as partes" (lbid.:35).
32 O GT para a identificação e delimitação das terras indígenas Kampa do Rio Amônea e Jamináua/Arara do Rio Bagé foi constituído pela Portaria nº 1.815/E, de OS.O 1.1985, procedendo-se a substituição de seu coordenador através da Portaria nº 1.829/E, de 04.02.1985, e a inclusão do técnico do INCRA, Leonardo Pacheco, para os trabalhos do respectivo levantamento fundiário através da Portaria nº 1.838/E, de 05.03.1985.
33 Essas disputas políticas ocorreram principalmente a partir de 1982/83, com a chegada do chefe Thaniiri desde a região à montante do Juruá, o qual logo se instalou no interior do no Amoninha, opondo-se então ao grupo fraterno do chefe Kanari, cujas famílias habitavam ao longo do rio Amônia entre o ·igarapé do Macaco e o marco de fronteira Brasil/Peru (cf, Mendes, op. cit.:102). No final de 1989, em outro episódio na tentativa de conquistar a hegemonia política dos Kampa deste rio, apareceram "umas cinquenta pessoas do Peru. muitos deles com parentes 110 rio Amônia, querendo fixar-se perto de uma fonte de manufaturados", as quais foram acolhidas por Thamiri. Deixando essas famílias construindo casas e abrindo roçados no Amônia, dirigiu-se Thamiri para Cruzeiro do Sul a fim de conseguir as mercadorias que buscavam. Esperando-o durante cinco meses, e vendo que o mesmo não voltava conforme o combinado, esses Kampa "foram embora para o rio Breu, abandonando suas casas e seus roçados. Quando Thamiri retornou, sem nada ter conseguido, havia uma clareira repleta de casas vazias" (Mendes, op. cit.: 102-105).
34 Sobre as ações desencadeadas pela guerrilha peruana no território kampa em meados da década de 1960. especialmente as deflagradas pelo Movimiento de lzquierda Revolucionaria (MIR), consultar Brown & Fernandez ( 1991) e Espinosa ( 1993). Para as ações do Sendero Luminoso na década de 1980, v . Rodrígues V. ( 1993).
35 Na segunda metade da década de 1980. após o falecimento de Samuel Pianko, a liderança politica da comunidade Kampa do Amônia passou a ser partilhada entre os índios Antônio Pianko, Kishare e Taumaturgo de Azevedo (v. Anexo 9). De acordo com Pimenta top. cit.307), seria sobretudo devido ao controle da cooperativa axéninka. permitindo-lhe abastecer de produtos industrializados os aliados, que Antônio teria conseguido estender sua influência política sobre a maioria das parentelas Karnpa do Amônia. "Todavia, se Antônio é apresentado e aceito hoje como kuraka de roda a Terra Indígena, a configuração política era mais complexa na época da exploração intensiva de madeira. Se os fatores acima mencionados contribuiram para firmar a posição de Antônio Pianko, seu domínio político, no final da década de 1980, não se estendia a todos os Ashaninka do Amônia. Até a demarcação da área, o território indígena era composto por três grandes narnpitsi [territórios políticos] liderados por 11-ês kurakas, chefes de importantes grupos familiares: Thaumaturgo · Kampa, Antônio Pianko e Kishare. Se algumas famílias ashanlnka continuaram vivendo de maneira mais independente fora desses três nampitsi, a influência política desses kurakas estendeu-se à grande maioria dos Asltaninka
141
Processo nº: :2 7/-C 3/t;;..::1 Folha nº: e.ti h Roorifa: . ~ =~
do rio Amônia, cujo território também contava com a presença de posseiros brancos e de alguns descendentes de outros grupos indígenas. A luta pela demarcação da Terra e a atuação da FUNA/, acirrou os conflitos entre esses três territários políticos e levou pouco a pouco à consolidação de Antônio Pianko como kuraka de toda a área. No capítulo /1, já tive a oportunidade de mencionar a figura de Thaumaturgo kampa, quando procurei identificar a ocupação ashaninka no curso superior do rio Amônia nas primeiras décadas do século XX. Lembro que Thaumaturgo nasceu em /929 no Amônia, de mãe amahuaka e de pai ashaninka. Falecido em I9.J7 e enterrado na Vila Thaumaturgo (Espírito Santo 1985:3), seu pai foi w11 dos primeiros (talvez o primeiro) Ashaninka a estabelecer residência na região. lnformações precisas sobre Thaumaturgo Kampa podem ser encontradas em diversos relatórios da FUNA! (Seeger e Vogel /978: Espírito Santo 1985; Pivatto 1986), na medida em que os integrantes dessas equipes o tiveram como um interlocutor principal. Durante o meu trabalho de campo, não tive a oportunidade de encontrar Thautnaturgo, que deixou o Amônia após a demarcação da Terra indígena e vise hoje à beira do Juruá. O:. conflitos com Thaumaturgo deixaram lembranças desagradáveis entre os Ashaninka do rio Amônia e os informantes não gostam muito de evocar o personagem. Muitos negam sua identidade ashaninka e o apresentam como Amahuaka para insistir sobre as diferenças que os opõem. Aricêmio, por exemplo, afirma que Thaumaturgo tinha a ambição de ser kuraka, mas nunca foi reconhecido pelos Ashaninka como tal. Segundo ele, seu único objetivo era dominar e controlar todas as famílias para que elas continuassem sendo exploradas pelos madeireiros, mas sua influência política exerceu-se apenas sobre um grupo de 'índios misturados' aliados aos broncos. Thaumaturgo poderia ter sido líder de uma parentela importante, pois Pivatto ( /986) informa que ele teria tido 19 filhos que morreram vítimas de epidemias (sarampo, hepatite ... ). Na década de /980, Thaumaturgo Kampa morm•a entre os igarapés Remanso e Taboca, onde se localiza hoje a aldeia APHVTXA. Considerava-se kuraka da área situada entre o igarapé Art111; onde começa a Terra Indigena, até a foz do Taboca. As famílias que ocupavam ene território político eram o resultado de uma grande miscigenação étnica, realizada através de casamentos entre brancos, Ashaninka e outros gmpos indígenas, remanescentes de povos que ocuparam o Amônia no início do século XX ou vindos, posteriormente, do Juruá ou do Ucayali: Amahuaka, Shama, Santa Rosa, Kaxinawâ, Jaminawá, Arara. Em razão desse mosaico étnico. os meus informantes minimiram a presença de Ashaninka 110 interior· desse nampitsi. Eles referem-se ao gmpo liderado por Thaumaturgo Kampa com desdém, dizendo serem 'índios misturados· 011 'coboclos'" (lbid.:315-318; grifo nosso).
36 Uma informação diversa é fornecida por Pimenta (Op. cir.:171-172), quem afirma ter Maria Avelino, por ele considerada 'posseiro', permanecido na área Kampa até 1997.
37 Em um documento recente, os Arara comentam seu estabelecimento no médio Amônia fazendo referência à ocupação histórica desse trecho do rio por seus ascendentes: ··A muitos anos nós vivemos aqui no Rio Amônia, vivemos aqui á mais de 100 anos. Á 14 anos atrás nos morava na areados Achaninkas, com a criação de sua terra os mesmos não quiseram nos junto com eles porque nós era de outra tribo e vários povos na verdade somos amoaca, lhama, Santa Rosina e arara, mas consideramos hoje uma só família por esses motivos foi que fomos obrigado a sai dâquela terra que tantos anos vivemos com nossos parentes que lá ficaram plantados. quando foi Jeito a-demarcação da terra dos Campas do rio Amônia com pouco tempo os mesmos começaram a criar problemas com nós, dizendo que era para nós ir embora para outro canto, então pôr esses motivos foi que fomos obrigado a sai dáquela terra que hoje vive os Achaninkas do Rio Amônia. Então fornos saindo aos poucos e se colocando da ponta de baixo da area indígena Campa para baixo nos 2 lodo do Rio Amônia aonde nós já tinha morado á 50 anos atrás" (carta de 28.01.2003, anexa ao Memo nº 104/GAB/AER RBR, de 18.02.2003; gnfos nossos).
38 Essa é. no entanto, uma postura que os Kampa mantêm de modo geral: "Durante o 'I" Encontro de Culturas Indígenas do Acre e do Sul [do] Amazonas' realizado em Rio Branco na Semana do Índio, em abril de 2000, também pude observar os preconceitos e as atitudes dos Ashaninka em relação a esses 'outros indios'. Apesar de partilharem o mesmo hotel e de conviverem 110 mesmo espaço durante as atividades do Encontro, os Ashaninka do rio Amônia não demonstraram muito interesse em se misturar as outras populações indígenas da região ] ... ]. Ao considerar esses povos. a atitude dos Ashaninka oscila entre sentimentos de paternalismo, comiseração e ironia. Para eles, muitos grupos, como os Nukini ou os Poyanawâ, já tinham 'perdido a cultura', já estavam 'virando branco', apenas mantendo uma 'cara de índio'. Nenhum desse povos tinha roupa própria, usava apenas 'roupa de branco'. Muitos não sabem falar 11,,1is a sua língua. não conhecem os cantos e as músicas próprias" (Pimenta, op. cit. :212-213).
39 Neste capítulo, os números que aparecem junto ao nome de uma dada pessoa correspondem à sua respectiva numeração no levantamento demográfico dos Arara apresentado no Anexo 3.
40 Segundo Espírito Santo (l 985a:3), o índio João Maria Azevedo teria chegado ao Amônia junto com seus irmãos solteiros, Basílio. Gregório, Mateus e Euzébio, havendo os três últimos retornado posteriormente ao Peru.
41 De acordo com o depoimento de Geraldo da Silva Bezerra (morador não índio do igarapé Novo Recreio que é casado com uma índia Náwa e afim de uma mulher Arara}, existia a 'tribo' Cuyanáwa "dentro do Rio Amônea, na cabeceira do Rio Revoltoso, nas águas com o Peru, onde ele extraiu madeira. O Rio Revoltoso era habitado só por indio. Conheceu o caboclo Chico Peronho. Havffi muitos roçados de bananeira roxa dos Cuyanáwa peruanos [ ... ]. Geraldo Bezerra ( 112) conheceu também a tribo cios Inka, os caboclos eram de estatura pequena e pele roxa (escura). A população era numerosa. O grupo localizava-se 1111:n lugar afastado, nas cabeceiras, na fronteira, para frente da Serra do Divisor.
142
Geraldo Bezerra ( J 12) também diz que era do seu tempo, os Kampa de Santa Rosa, que possuíam uma pele clara e cabelo duro e liso" (Montagner Melatti, 2002: 112; grifos nossos).
42 A proveniência da Bahia é por vezes 'indianizada' por alguns informantes ao assinalar a possível pertença do indivíduo em questão à sociedade Pataxó.
43 Outros depoimentos afirmam que o velho Avelino teria falecido ainda no tempo que residiam no Remanso.
44 É provável que o geniror dessa parentela Arara, José Siqueira de Lima, identificado alternativamente no Amônia pelos membros de sua família como Jamináwa, Kaxinawá ou 'cearense' se tratasse do indivíduo chamado do mesmo modo nos relatos colhidos entre os Arara do rio Cruzeiro do Vale (onde fambérn é identificado como Yawanáwa; cf. supra:27-28). Se tal inferência for correta, tratar-se-ia provavelmente do filho de Felizardo Cerqueira com mulher Arara ou Kaxinawá, cuja descendência seria encontrada depois junto aos Jamináwa-Arara que habitavam a bacia do Tejo. É possível que o seu pai fosse o "catequisador cearense" mencionado coetaneamenre por Castelo Branco ( 1930:596) entre os grupos indígenas do rio Breu. Em uma entrevista concedida ao antropólogo Terri Valle de Aquino em maio de 2002 pelo 'cacique' dos Arara do Amônia, Francisco Siqueira, há o seguinte diálogo: "Txai: Vocês são parentes daquela família do Crispim, que vivia nas cabeceiras do rio Bagé? Chiquinho: Ele era casado com a tia da minha mãe. O meu bisavô era o Felizardo Siqueira. .. Txai: Felizardo Cerqueira, né? Aquele mesmo seringueiro cearense de Pedra Branca que amansou os Kaxinawâ Ao rio Jordão, não é? Chiquinho: É esse mesmo. É meu bisavô ele, que também é pai do Sueiro lá dos Kaxinawâ do rio Jordão. O Sueiro é irmão da meu a,,õ por parte do pai de mãe. O Siã Kaxinawá é primo legítimo da minha mãe, porque o pai dele é irmão do nosso al'Ô, irmão do pai da mãe" (Memo n" 771/GAB/AER RBR/2002).
45 Por essa razão. deixamos de incluir separadamente a casa do senhor Adelson (a mais próxima ao limite da TI Kampa do Rio Arnônea) nesse levantamento demográfico, não podendo também reunir elementos que nos levassem a incluí-lo no levantamento fundiário.
46 A visão que os Kampa têm dessa cônjuge 'Arara' de um dos filhos de Antônio Pianko é sintetizada do seguinte modo: "Jurgleide ('Juca') tem ascendentes Kaxinawá, mas é considerada branca" (Pimenta. 2002:261). Cabe lembrar que o cônjuge 'Kampa', no caso, é também filho de uma 'branca· da região, d. Francisca ('Piti'), cujo pai (Francisco Chagas Munis da Silva, 'Chico Coló') chegou ao rio Amorrinha em meados da década de 1960.
47 É interessante observar que a separação dos habitantes da aldeia Sawawo do conjunto dos demais Kampa do rio Amônia ocorreu paralelamente à formação da aldeia Apiwtxa e expulsão dos 'caboclos' que até então residiam no Remanso: .. A instalação das famílias ashaninka no local hoje denominado Sawawo (arara vermelha) data apenas do final de 199-l-. Anteriormente, eles viviam na parte brasileira, entre o igarapé Amoninha e a fronteira internacional. Os Ashaninka de Sawawo estão ligados ao grupo de Apiwtxa por fortes laços de parentesco. A comunidade peruana é Liderada por· Carlos, João e Careca. Os dois últimos são filhos de Margarida e Pedrinho, já falecido, que era cunhado de Samuel, pai de Antônio. Carlos está casado com Maria Helena. filha de Margarida e Pedrinho" (Pimenta, op. cit.:284-285). Cabe lembrar que Margarida é considerada uma espécie de protótipo dos Amawáka 'amansados' pelos Kampa (v. nota 30). podendo em tese, como seus irmãos Taumaturgo de Azevedo e Ana Rosa, reivindicar uma identidade 'arara' tal qual entendida neste relatório (aliás, parece haver uma certa ironia involuntária no nome escolhido para a nova aldeia fundada no Amônia peruano). Como seus parentes que residiam no Remanso, Carlos "e o u11 gmpo também seio acusados de terem participado do 'sistema dos patrões', principalmente, no comércio de carne de caça que a comunidade [kampa de Apiwtxa] tinha decidido proibir" (/bid.:287).
48 Há poucas notícias sobre esse núcleo de índios Kaxínawá; talvez ele seja constituído por famílias que tenham emigrado desde a bacia do rio Tejo após a demarcação da TI Jamináwa/Arara do Rio Bagé (v. infra: 119). estando ou não relacionadas aos membros do mesmo grupo que transitavam pelo igarapé Caipora, vindos do rio Breu, ao tempo da viagem de Seeger & Voguei (Op. cit.: 17- 18).
49 Cabe também consignar que a cidade de Nauta possui urna expressiva população indígena do grupo Kokáma.
" ,,
50 Os antigos homens Amawáka portavam um cordão de envira (risw[) na cintura e. as mulheres. um saiote quadrangular (sawironti). Entre outros adornos são mencionados o cocar de plumas tmaiti) masculino, feito com tiras de bambu e enfeitado na parte traseira com três faixas e plumas de arara, e as pulseiras de algodão (hongshe) usadas por ambos os sexos na munheca e abaixo do joelho. No lóbulo das orelhas os homens usavam pequenos bastões de madeira e. as mulheres, duplos laços com 'cáscaras ensartadas', O septo nasal era perfurado em ambos os sexos, levando aí os homens um adorno de concha (resp1) e, as mulheres, um disco redondo do mesmo material. A parte externa das narinas também em perfurada cm ambos os sexos, onde os homens colocavam penas amarelas de japó e as mulheres dentes do macaco aranha. Ambos os sexos faziam perfurações ao redor dos lábios, inserindo ali 'estipcs' de madeira ou palmeiras (Ileu), havendo no lábio inFerior um orifício maior onde colocavam uma espécie de tembetá comprido de madeira. A tatuagem (muka) era levada por ambos os sexos, sendo feita com auxílio de um espinho pontudo desde o centro do nariz até as orelhas. Enegreciam os dentes com uma Piperacea silvestre (tokónti) e arrancavam as sobrancelhas com urna faca de bambu (cf. Tcssmann, 1999:93) .
..•. 143
Processo rf". 2 ~ ~ / g,-0
Folha n': ;::z Rubrica:~ ~
51 Sobre o uso do tabaco pelos Arara, comenta Unhares (op. cit): "Ruman (r brando) tabaco misturado com cinza, que elles usam para evitar e curar defluxos. Dessa mistura tomam elles cerca de uma colher de sôpa, e, introduzem-n'a em um canudo (de ordinário uma canela de pernalta) que collocam nas narinas do doente e sopram com força. Depois de algumas applicações fica o índio completamente embriagado durante 2 horas mais ou menos. Este remedio é tambem applicado aos cães com proveito, para o mesmo fim".
52 As atividades de coleta de outros grupos Arara do vale do Juruá incluem ainda a extração da matéria-prima para a produção da ayahuasca (ronê? sendo o cipó denominado simbu e a folha, kawá - cf. Correia. 2001:154) e a captura do sapo-verde tPhyltomedusa bicolor.Phyllomedusa tarsius; Phyllomedusa vaillantiii, denominado kampo na língua indígena. Deste último se faz a chamada "injeção de sapo', dé 'uso muito difundido entre os povos indígenas da região para a cura de males como preguiça, fraqueza, e principalmente da má sorte na caça ('panema'): "Pegam um sapo verde especial, denominado compô e vivo esfollam-lhe as pernas e retiram-lhe por compressão digital uma viscosidade muscular, que vão depositando em um peq11e110 pao das proporções de um lapis commum, onde secca. Quando entendem necessário a 11111 doente um purgativo e vomitas energlcos, Jazem com um pequeno palito em braza seis pequenas queimaduras symetricas, em fárma de pomo, na região do estomago, nas quaes passam a viscosidade muscular do sapo, ou se servem da secca, omollecida pela agua. O indio logo depois sente um grande mal-estar; dõr nos olhos, incitação nos lábios, nas veias, no rosto, etc. Os e/feitos não se fazem esperar, dentro de uma hora o do vomitivo e logo após o do purgativo" (Linhares, op. cit.).
53 Nessa seção e na seguinte, relativa à pesca, apoiamo-nos parcialmente nas informações fornecidas por Correia (2001) sobre as características das mesmas atividades produtivas entre os Arara do rio Cruzeiro do Vale; comparar também com as atividades de caça descritas por Carneiro ( 1985) para os Amawáka do Peru.
54 Na região do rio Amônia, entre outras. a Depressão Rio Acre-Rio Javali é •. caracterizada por um relevo bastante dissecado, mostrando uma topografia com colinas de vertentes com forte declividade e vales mostrando planícies de inundações pequenas. onde os sedimentos mais freqüentes são argilo-siltosos. Onde predominam sedimentos argilo siltosos tem um caráter geológico ímpar em toda a área mapeada; trata-se do seu ambiente de deposição tipicamente continental fluvial de baixa energia e subordinadamente lacustrino - que condiciona o aspecto lenticular e mudanças de facies laterais e verticais de maneira brusca e constante entre argilitos. siltitos e subordinadamente arenitos, bem como a presença de abundante material carbonático e gipsifero. Ocorre grande quantidade de fósseis de vertebrados, invertebrados, plantas e madeiras em carbonização (linhitot que refletem um ambiente redutor" (RADAMBRASIL. 1977:48). '
55 Podemos de qualquer forma observar um estágio anterior desse processo de desmatamento à margem do Amônia através dos trechos em branco junto ao rio que aparecem representados na carta Foz do Breu, folha SC.18-X-D-JI, produzida em I 988 pela Diretoria do Serviço Geográfico do Ministério do Exército.
56 Além dos lagos mencionados, o relatório de Benjó (op cit.) refere-se também ao dito 'do Macedo', pouco acima e na mesma margem da colocação Assembléia, assim chamado provavelmente pela sua proximidade com a residência do integrante homônimo da comunidade indígena. Apesar de ser o único à que têm livre acesso os Arara (principalmente aqueles estabelecidos na colocação Assembléia), possui aparentemente uma importância reduzida para a economia de subsistência do grupo.
57 O "Plano de Utilização" da RESEX do Alto Juruá objetiva "assegurar a auto-sustentabilidade da Reserva Extrativista mediante a regulamentação da utilização dos recursos naturais e dos comportamentos a serem seguidos pelos moradores", contendo "a relação das condutas não predatórias incorporadas à cultura dos moradores" e que "devem ser seguidas para cumprir a legislação brasileira sobre o meio ambiente". Entre as intervenções extrativistas e a!lro pastoris admitidas estão as seguintes: "7. Cada família praticará o extrativismo e as atividades agro-pastoris na própria colocação. respeitando os limites reconhecidos pela comunidade. Cada família zelará por suas estradas de seringa. 8. Os moradores poderão praticar o extrativismo da borracha conforme as práticas tradicionais, cortando cada estrada duas vezes por semana, chegando por ano a 60 dias de corte por estrada. É proibido cortar danificando o lenho 'no pau ·. Deve-se empregar o sistema de corte 'pela banda· ou 'pela terço· para a divisão das bandeiras e a colocação das tigelas, até que surjam técnicas mais apropriadas. 9. As seringueiras não podem ser derrubadas e devem ser evitadas as derrubadas e queimadas em locais que ameacem a sua sobrevivência. 10. É facultada a coleta de frutas e cocos das palmeiras. bem como, o uso de palhas para a cobertura de casas. É proibido derrubar o patoá. Só poderão ser derrubados o buriti, o açai e a bacaba onde existirem em abundância, sendo abrigatârio o replantio de dez mudas por palmeira derrubada, aplicando-se o mesmo ao aricuri e ao jaci. 11. Substâncias como a copaiba, o louro e outras essências úteis. bem como. outras substâncias extraídas da floresta, serão extraídas para uso dos residentes, e sua comercialização só poderá ser feita mediante plano de manejo que determine a capacidade de produção sustentável, e conforme as normas emitidas pela Associação. 12. o~ moradores da Reserva poderão utilizar áreas de floresta para implantar roçados destinados a produzir alimentos, respeitando sempre o limite máximo por familia de 15 ha incluindo plantio, pastos e quintal, inclusive áreas abandonadas com menos de cinco anos. 13. As capoeiras deverão ser aproveitadas para atividades agroflorestais com introdução de fruteiras e árvores nativas, mediante plano de manejo .
... 144
p~ n1': ~7C>-8~
Folha n•: ;i . Rubrica: = • . ~ :=
/4. Os roçados devem manter a distância de 100 metros ou mais Longe da beira do rio, evitando-se os locais onde existam seringueiras ou outras espécies de valor para o extrativismo. 15. Não poderão ser colocados roçados nas cabeceiras dos rios e igarapés. /6. Todos os seringueiros tem direito de criar animais domésticos em escala familiar. 17. É permitida a criação de animais de terreiro e de gado, respeitando-se sempre o limite má .uno de" iirea derrubada por casa. 18. A criação de animais como porcos, gado e ovelhas deve ser feita por comum acordo dos moradores da vizinhança. ficando a construção de cercas ou chiqueiros sempre por conta do criador. 19. As florestas devem cumprir a sua função social e para tanto os recursos naturais disponiveis devem ser usados adequadamente e respeitando o meio ambiente". No que tange a novas intervenções na floresta, o Plano de Utilização da RESEX dispõe que "20. Obedecendo ao artigo 2° do Código Florestal Brasileiro. não podem ser desmaiadas as 'Florestas de Preservação Permanente' entendidas estas como as matas ciliares, as das nascentes e as margens de cursos d'água. entre outras. 21. Os moradores poderão extrair madeira para uso prôprio, paradenha, para uso em construções no interior da reserva, barcos para uso da Reserva, mâveis e instrumentos de trabalho. 22. A utilização de outros produtos da floresta posteriormente à aprovação deste piemo, só poderá ser feita mediante a elaboração de um Plano de Manejo simplificado, aprovado pela Associação". Quanto às intcrvencões na fauna, o Plano em causa afirma que "23. Os residentes tem o direito de pescar (mariscar) para sua alimentação. É proibida a pesca por explosivos ou por tinguizada, particularmente mediante o uso de timbá, assacú e oaca. 24. Fica proibida a limpa de poços e a batição, assim como o uso de bicheiro. É proibido o uso de manga na boca dos rios e igarapés sendo também proibido o uso de arrastão. 25. É proibida a pesca profissional 110 interior da Reserva, exceto pelos próprios moradores. 26. A Associação poderá, em acordo com parecer da Comissão de Proteção da Reserva, criar regulamento especial para reintroduzir e proteger os bichos de casco". Por fim. quanto às intervenções nas áreas de uso comum, o Plano de Utilização da RESEX dispõe: --27_ Os rios, lagos, caminhos reais, praias e barrancos são áreas de uso comum a Reserva, respeitando-se a tradição e recorrendo-se à Associação e à Comissão de Proteção da Reserva para resolver as questões que porventura existirem entre moradores. 28. Os rios devem ter suas margens protegidas de derrubada até uma distância de /00 metros (barrancos). sendo Livre o trânsito. 29. O uso dos lagos deverá ser combinado em acordo dos moradores, e mediante aprovaçào da Comissão de Proteção da Reserva aplicando-se ao mesmo ao uso das praias e barrancos. 30. Os ccm11nf1os reais serão conservados, sendo permitidos apenas os caminhos e estradas tradicionais, e ramais para uso de animais de carga. 31. As matas vadiando 110 Reserva poderão ser reservadas para descanso e abrigo da caça. sendo sua ocupação para abertura de novas estradas de seringa ou estabelecimento de novas colocações de seringa sujeita a permissão da Associação, e em conformidade com o Zoneamel!to".
58 Os Katukína de fala Pano do rio Campinas distmguern "entre kaivo e kaivo ma, traduzidos informalmente como 'parentes' e 'não-parentes'. Esta tradução coloca alguns problemas, uma vez que leva a confundir a oposição kaivo/kaivo ma com cog11atos/11õo cognatos ou com consangiiineos/ofins. Não é disto que se trata. Kaivo/karvo ma exprimem categorias de troca matrimonial e as obrigações que lhes são associadas. O uso destas categorias é polissêmico e, numa acepção ampla, kaivo pode vir a designar a totalidade do grupo local ou ainda todos os Katukina, opostos, respectivamente, a outro grupo local (à aldeia Katukina do rio Gregório) e a outros grupos indígenas, que são, nesse contexto, kaivo ma" (Lima, 1994:47). Por sua vez, entre os Yawanáwa do rio Gregório, "o campo social interno acha-se estruturado gradativamente por um conceito que ao mesmo tempo engloba e pertence ao domínio do parentesco: aquele que divide as pessoas em imiki/irrnkima, 'meu sangue/sem meu sangue' ou, utilirando uma metáfora espacial usada pelos próprios Ymm1wwa, 'parentes perto mesmo/parentes longe', EHa divisão não equivale com aquela entre consangiiineos e afins nem se refere a algo parecido com as metades, distinção esta última mais terminolágica e sociocentrada. Também não são 'categorias de troça matrimonial e as obrigações que lhe são associadas', como a oposição kaivo/kaivo ma dos vizinhos Katukina [. . .]. lmiki é uma categoria ego-centrada e gradativa. todas as pessoas com as que tenho laços de parentesco baseados na união de nossos sangues são meus imiki. É gradativa porque as pessoas, segundo as posições de classe que ocupam. são mais ou menos imiki. Assim meu pai é mais imiki do que meu sobrinho ]. .. [. Estes laços dependem obviamente da memória ou do reconhecimento atual de algum nexo de união entre duas pessoas" (Carid Naveira, 1999:53). Por fim, "o termo que os Yami11awa traduzem. por parente é yura, habitualmente glossado como 'corpo· ou 'carne"]. .. }. Yura_é apresentado em ocasiões como o etnônimo verdadeiro. o que pode ser um erro, ou como uma categoria sociológica, o que pode levar a erro ( ... }. Esse yura-parente existe sobretudo por contraste com dawa, o estrangeiro. o exterior em geral[. .. ]. Em geral domina uma interpretação muito mais restrita de Yura como grupo unido por relações carnais e proximidade física: yura é o consangüíneo próximo mas também o alindo efetivo [. .. }. Dawa é o estrangeiro ou mesmo o não-humano (um de seus significados é onça) mas também é uma das metades em que o mundo yura se divide - a metade 'externa' do próprio interior" (Cal avia Sáez. 1995).
59 Do ponto de vista lingüístico, os dialetos falados pelos Xaranáwa e Jamináwa elo Purus possuem uma semelhança de 98%, reportando-se não haver praticamente diferença entre os dialetos Xaranáwa e Marináwa (cf, Verswijver, 1987:26- 28). O dialeto falado pelos Jamináwa do Juruá, por sua vez, seria mais próximo das variantes faladas pelos Mastanáwa e pelos Yura (Parquenahuai. Afirma-se ainda que as aldeias Jamináwa do curso superior do Juruá são habitadas por membros de grupos locais antes distintos, como Maxonáwa, Nehanáwa, Nixináwa, Mastanáwa e Xandináwa. Os Jamináwa dessas aldeias também se reportam a grupos com os quais acabaram perdendo contato, como os Masronácvi (estabelecidos sobre o alto Cujar), Boronáwa e Xitonáwa (com· os quais teriam vivido no alto Envira). Townsley ( 1988: 12) enumera uma série de agrupamentos 11áw<1 que deveriam ser vistos como pane da mesma 'categoria étnica', a saber: 1) Shaonahua, representados entre os Jaminawa do rio laco e na bacia do Juruá; 2) Chandinahua, cujos descendentes seriam encontrados entre os Parquenawa; 3) Chitonahua, cujos descendentes estariam entre os Jamínawa
145
Folha nº:_
Rubrica: -
do Juruá; 4) Deenahua, representados entre os Jamináwa do Juruá e do Purus; 5) Bashonahua, que constituem a maior parte dos Jamináwa do alto Juruã; 6) Choshunahua, encontrados entre os Jamináwa do Purus; 7) Shishinahua, cujos descendentes seriam encontrados com os Jamináwa do Purus e com os Parquenawa; 8) Shuwanahua, cujos descendentes estariam com os Sharanaltua; que ·a~ át(se mudarem para o Puros localizavam-se no alto Envira; e 9) Shaninahua, cujos descendentes seriam encontrados com os Xaranáwa; sendo Mainahua um termo usado pelos Kaxinawá para se referir aos Jamináwa e Dishinahua o nome usado pelos Amawáka em referência aos Jamináwa do Juruá. Uma breve síntese das relações históricas entre os Jamináwa e alguns desses outros grupos Pano é oferecida nos seguintes termos: "O núcleo da população Jamlnáwa do Juruá é formado por descendentes de um gru110 que, 110 tempo do bootn da borracha (quando começa efetivamente o período coberto pela história oral), vivia nas nascentes do rio Envira e se auto-denominavam Bashonahua (povo do possum). Nas proximidades viviam pelo menos outros cinco grupos Locais com os quais os Bashonahua mantinham relações: esses grupos eram conhecidos pelos Bashonahua cama Chandinahua, Chitonahua. Deenahua, e Morunahua. Havia ainda um grupo Amahuaca. As relações que os Bashonahua mantinham com esses grupos eram variáveis e instáveis; em momentos diferentes. elas envolveram hostilidades com todos esses grupos; elas também envolveram intercasamentos com todos, exceto com os Morunahua { ... ]. Por volta do fim do boom da borracha, ou pouco depois, os Basltonahua se dividiram, indo uma parte da comunidade para as terras ao Sul do Purus, e a outra, as antepassados dos Yaminahua presentes do Juruá. permaneceram no Envira, movendo-se depois para o Norte e Oeste em direção aos rios Mapuya e Huacapistea, onde eles têm vivido desde então [. .. ]. Depois dessa cisão, os Bashonahua que permaneceram 110 Envira descobriram-se como um grupo reduzido, sendo deste modo compelido aos casamentos exogãmicos pelas razões já descritas anteriormente: falta de esposas disponíveis dentro do grupo e a necessidade de alianças a fim de diminuir suo vulnerabilidade política. Alianças exogâmicas foram estabelecidas com os Chitonahua, Dee11al111a, Cha11di11al111a. e Ama/maca. Todas essas alianças foram de curta duração e deram lugar, em uma época que estimo ser 110 década de 1930, à hostilidades, em resultado das quais os Bashonahua se moveram ainda mais para Oeste. Eles levaram consigo as mulheres que tinham recebido desses grupos e os filhos dessas mulheres são agora membros da geração senior dos Yaminahua do Iuruá. Há, de/ato, poucos membros sénior do grupo que não tenham seja os pais seja os avós - usualmente uma mulher devido à virilocalidade comum desses casamentos - vindos de outro grupo local {. . .]. Como resultado disso, a primeira geração de descendentes de um estrangeiro casado são sempre considerados como membros do grupo, embora eles possam sob certas circunstâncias ser identificados como estrangeiros; a segunda geração de descendentes é totalmente incorporada" (Townsley, 1988:91- 92).
60 A existência de 'genre da arara' (Slutwanawa) como um subgrupos (ou categorias étnicas) dos Yawanáwa é confirmada por um relatório de Lúcia Szmerecsányi datado de 1991, que informa também a presença de pessoas Rununawa, Eskinawa, Kamanawa e Ushunawa iapud Lima, op. cit.:21 ).
61 Os dados disponíveis não permitem .. afirmar que os Katukina sejam resultado das fusões de 'tribos' outrora independentes e não Irá em suas auto-denominações qualquer referente geográfico" (Lima, op. cit.:50). Por outro lado. "a impropriedade de definir os grupos conhecidos por esse te11110 como uma única 'tribo· é certa" (lbid.:23-24). No presente. O!, Katukína localizados no rio Campinas reconhecem internamente seis auto-denominações: Varináwa, Naynáwa, Kamanáwa, Satanáwa, Wanináwa e Numanáwa (cf. lbid.: 19). O grau de semelhança lingüística e a partilha de uma história comum são os fatores que concorrem para o reconhecimento dos 'Katukína' do rio Gregório como parte do mesmo grupo indígena e para a recusa dessa identificação com os· 'Katukína' do rio Envira. Junto com os primeiros, os 'Katukína' do Campinas ocuparam intermitentemente, ao longo do século XX, os seringais Sete Estrelas e Caxinauá no rio Gregório. Universo no rio Tarauacá, e Guarani e Bom Futuro no rio Liberdade, ocorrendo a cisão do rio Gregório na década de 1960 e a formação da atual aldeia em 1972 (passando. no intervalo, oito anos no seringai Japurá, próximo à foz do rio Liberdade) (Ibid.:31-34). De sua parte, os "Katukína' (Xanenáwa) do rio Envira teriam se estabelecido na aldeia próxima à cidade de Feijó vindos dos rios Liberdade e Gregório, em fuga dos Yawanáwa (cf, Carid Naveira, op. cit.:39). Assim como o termo 'Amawãka', que no início do século XX era usado para designar quase todos os grupos pano interfluviais a leste do Ucayali, a denominação 'Katukína' foi utilizada de forma genérica para se referir a mais de um grupo indígena do alto Juruá, sobrepondo-se a uma variedade de etnônirnos terminados em -nawa ou -bo (Lima, op, cit.: 18).
62 •• As relações entre os Yaminahua e os Ama/maca são altamente ambivalentes. Entre os Yaminahua do Juruá e o grupo
Amahuaca que tem vivido no mesmo território por vários anos existem vínculos de parentesco que remontam a muitas gerações. Esses vinculos de parentesco, baseados na troca de mulheres, são reconhecidose suas principais obrigações são observadas da mesma forma que seriam dentro do grnpo. No casamento entre esses grupos. o serviço da noiva é prestado normalmente, os homens Yaminahua indo viver com seus afins Amahuaca pelo período estabelecido até o nascimento da primeira criança, e vice-versa. Tanto 110 Huacapistea quanto no Mapuya essa é a base para a estreita relação entre os grupos. equivalendo quase a uma co-residência. Há uma grande quantidade de intercurso social entre os dois grupos. Há visitas casuais quase diárias às casas uns dos outros e no dia a dia eles se tratam mutuamente sem considerar, na aparência, suas diferentes afiliações de grupo. Para além -,.f<;ssa aparente proximidade. há fortes correntes encobertas de suspeito e desconfiança" (Townsley, op. cit.:93-94).
63 Conquanto sejam vistos como o protótipo de um grupo Pano com identidade étnica fortemente marcada. os Kaxinawá também se inserem no mesmo sistema de relações. No testemunho prestado por um Kaxínawá do rio Jordão, por
.- 146
Processo n°: Folha nº: Cf r I Rubrica:_ /? =
exemplo, em que ressaltava o fato do igarapé Primavera, afluente do Tarauacá, ter sido habitado tanto pelos Kaxinawá quanto pelos Jamináwa de Tescon, ele afirma: "Minha gente Kaxinawâ chamava os Jaminawâ de Nuku Shatenê, quer dizer que era também nosso parente mesmo, metade da tribo que se separou" (Aquino, 1996:22). Por outro lado, a viúva do índio CriSê',n (éf. supra:37), Maria Ferreira Yaminawa, refere-se em um depoimento aos 'Kaxinawá lá do Gregório' para mencionar os Yawanáwa (Carid Naveira, op. cit.:78).
64 O Pe. Tastevin (1926) informa ainda que os Papavo, ou parte deles, seriam igualmente conhecidos como Nisinaua, Tchaninaua, Charanaua, Yambinaua, Chanenaua, Mainaua etc.
65 Sobre o endocanibalismo Amawáka. consultar Dole (1985). é
66 Segundo o mesmo autor, as crônicas registravam ao todo «77 tribus selvicolas habitando o valle do Juruá desde os tempos mais remotos" (Mendonça, op. cit.:80).
67 Essa atitude constrasta vivamente com a dos Kampa, que demonstram grande apreço pela "pureza da raça e manutenção do costume": •• Como dizem, não somos índios, neto somos caboclos, somos Kamparla. O Kampa originário de miscigenação com outros grupos indígenas, são diferentes, tendendo mais para o tipo brasileiro no vestir e morar, e estão espacialmente separados dos outros" (Espírito Santo, 1985a:67/68). Claro está que essa postura articula-se muitas vezes essencialmente do ponto de vista ideológico, dados os exemplos existentes - como o da família Pianko na aldeia Apiwtxa - de casamentos inrerétnicos e flagrante diversidade somática em relação ao padrão característico de outros Kampa.
68 Curiosamente. parte dos laços de parentesco entre os Arara do rio Amônia e aqueles estabelecidos no rio Cruzeiro do Vale é traçado através de indivíduos não índios. Assim. José Nogueira da Cruz C Anchieta'), índio Arara do rio Cruzeiro do Vale que encontramos na cidade de Cruzeiro do Sul no dia 16.04.2002, referiu-se ao parentesco existente entre as famílias indígenas daquele curso d'água com os Arara do Amônia através do não índio Antônio Gomes, ex-marido de dona lida Siqueira de Lima. Cabe observar que aqueles estabelecidos no rio Cruzeiro do Vale, do mesmo modo que seus pares do Amônia, também possuem indivíduos de outros grupos indígenas incorporados à sua genealogia, destacando-se no caso os de procedência Poyanáwa. Jamináwa, Yawanáwa. e Duandáwa ou Andeawa (cf, Correia, op, cit.; Freitas, op. cit.: 102).
69 Assim, pudemos registrar a intenção de 'tirar da lista' um dos irmãos do líder político dos Arara do Amônia em função do abandono da família inicialmente incluída em nosso levantamento demográfico (formada por mulher não indígena) e seu concomitante envolvimento com pessoa não pertencente à 'comunidade indígena'.
70 Ainda que tenhamos gravado alguns cantos nativos numa festa promovida pelos Arara do Amônia na colocação Assembléia em junho de 2001, preferimos a título de exemplo transcrever abaixo aquele entoado no rio Cruzeiro do Vale por Chico Nogueira - filho de um homem Poyanáwa com uma mulher descendente de mãe Arara e pai Duãdawa -. a ele ensinado pelo espirito de um pajé falecido (no qual a palavra tsibu refere-se ao cipó da ayahuasca. e sharakapa à qualidade de 'bom. bonito'): "Ne hene pahiraka / ne hene pahiraka / ashkara tsibu epa e sharakapa mâ / na hanã pahetahi l ne liene pahetahl I tarãba tsibu ne ayakãdi ki / ashkara tsibu epa e sharakapa mà I shitanawa hãdihe hetahi / shitanawa hiidilie lietahi / tarãba ne tsibu ayakãdi ki beka kedi ki / iwtsltinawa hãdihe hetahi / iwtshinawa hãdihe hetahi / ne tsibu avakãdi ki / duãdawa ãdihe hera/ri/ duàdawa ãdilie hetahi l ne tsibu ayakãdi ki / ne hene pahiraka / 11e hene pahiraka I kisltisha ayumãda I yumãda avataki / hudipiba avataki" (Freitas, 1995:93).
71 Papel que no passado certamente devia ser desempenhado por meio de diversos signos, entre os quais. de forma patente, as próprias tatuagens. A julgar pela descrição da índia Margarida que faz o sociólogo Espírito Santo, a tatuagem dos antigos Amawáka assemelharia-se fundamentalmente à portada por diversos grupos Pano conhecidos: "A Margarida tem o rosto tatuado em genipapo, em forma de dois riscos saindo dos cantos da boca em direção as orelhas" ( 1985a: fls. 65).
72 Há um lapso no decreto de criação do PARNA da Serra do Divisor quando menciona nos Pontos 12 e 13 de seu perímetro o igarapé São Luiz. tratando-se na realidade do igarapé Aparição. corno atestam as coordenadas geográficas inclusas na descrição de seu limite (v. Decreto nº 97.839, de 16.06.1989). Embora constitua uma problemática à parte do tema deste relatório, conviria um esclarecimento entre os órgãos federais envolvidos à respeito da possível sobreposição entre o trecho do PARNA que atinge a margem do rio Amônia à altura da foz do igarapé Timoteu e os lotes do Projeto de Assentamento ali demarcados pelo INCRA.
73 De acordo com os mapas do INCRA.., o PA Amônia confronta-se inadvertidamente no rumo oeste com a chamada 'Gleba Arara', também pertencente à União Federal. Embora conste em alguns dos croquis produzidos por essa autarquia uma indicação tracejada relativa à provável divisa do PARNA da Serra do Divisor (v. Anexo 5), a demarcação dos IQ'les do projeto de assentamento ocorreu de forma contínua ao longo de quase toda a margem esquerda do Amônia, inclusive na zona próxima à foz do igarapé Timoteu.
147
74 Aliás, a inclusão deste sob o nº 38 no 'Quadro Demonstrativo de Ocupantes Não-Índios' pelos técnicos da Portaria nº
l.054/PRES/2001 responsáveis pelo levantamento fundiário - fato do qual somente nos apercebemos quando do exame do respectivo relatório:encaminhado à Diretoria de Assuntos Fundiários por meio do Memo nº 215/02/DIF/AER/CGB, de 05.08.2002 -, embora possa vir a se confirmar, parece-nos no momento precipitada. Por conta disso, ao invés de considerarmos aqui a presença de 53 ocupantes no total da área delimitada (dos quais 34 na margem do PA Amônia), como faz o relatório fundiário deste GT, indicamos a presença de 52 ocupantes não índios no total (dos quais 33 na citada área do INCRA).
75 Embora o GT não tenha percorrido o trecho da margem esquerda do rio Arara que perfaz o limite sudeste da área delimitada para verificação da eventual presença de ocupantes não índios, o mapa referente à 'Ocupação Humana' publicado por Cunha & Almeida (2002:64ss), baseado nas' informações do Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT/lBAMA), não indica a presença de moradores nesse trecho da RESEX do Alto Juruá.
76 Em um relatório recente da FUNAI, que se refere à resistência existente contra a reivindicação territorial Arara no rio Amônia, encontra-se a seguinte observação (aliás. bastante singular sob o ponto de vista etnológico tradicional): "Os Asheninka estão muito preocupados com os acontecimentos naquela região. Uma boa parle dos moradores brancos da Reserva afetados pela reivindicação dos indígenas que atualmente lutam por terra naquele lugar são seus parentes. Isto é um problema" (Macedo, 2002:6; grifos nossos).
77 Apenas a título de complemento, cabe lembrar também a invasão fronteiriça no interior da TI Kampa do Rio Amônea promovida pela Empresa Florestal Venado. com sede em Pucallpa, no Peru. que através dos Kampa da aldeia Sawawo foi chamada a extrair madeira na região de cabeceiras dos rios Amônia. Showanha e Tamaya. Apesar de não autorizada pelo Instituto Nacional de Recursos Natura!es (INRENA). do governo peruano, a citada empresa promoveu intensa derrubada de mogno no lado peruano da fronteira. invadindo o território brasileiro na área do alto rio Amoninha e abatendo ali também várias árvores da mesma espécie (v. Memo nº 46/GAB/AER RBR, de 16.01.2001).
78 Após a formalização do pleito pelos interessados, o relatório de Leão (2000:32) concluiu pela "necessidade de se realizar a identificação de uma Terra Indigena" para esse grupo.
79 O igarapé Grande constituí o primeiro curso d'agua de alguma importância à margem esquerda do rio Amônia à montante da cidade de Marechal Thaumaturgo, sendo que a foz do igarapé Jacamim encontra-se pouco abaixo na margem oposta. O mencionado igarapé Vai-Quem-Quer é representado em geral nas cartas topográficas disponíveis com o nome de 'igarapé Formoso': por sua vez, o igarapé Timoteu é geralmente identificado nas cartas topográficas como 'Quimodeu'.
60 Seja dito de passo que os representantes dessas famílias não nos fonnularam de motu próprio essa reivindicação nem durante o levantamento demográfico procedido em 2001. quando os visitamos em suas residências, nem durante os trabalhos do GT em 2002, em cuja realização. aliás. demonstraram pouco interesse em participar.
81 Dentre as colocações não abrangidas, os habitantes da denominada Jacamim predispunham-se já a se reunir aos seus parentes da colocação Assembléia, onde haviam sido construídas quatorze novas casas no intervalo entre as viagens realizadas em 200 l e 2002. Embora as lideranças indígenas nada tenham comentado sobre a colocação Pedreira, é provável que, dadas as difíceis condições de vida à margem do rio Juruá, seus habitantes retornem ao interior do Amônia na ocorrência da demarcação de uma área para o grupo Arara, havendo Taumaturgo de Azevedo participado ativamente das reuniões e de parte dos trabalhos do GT.
82 Ressalve-se que na vistoria realizada no curso superior do igarapé Água Preta no dia 14.04.2002 pelo coordenador e pelo engenheiro agrimensor integrantes do GT não foi possível identificar quaisquer vestígios indicativos do limite meridional do PARNA da Serra do Divisor, havendo necessidade. possivelmente, de observar na demarcação deste trecho da terra indígena a declinação da linha que une a foz do igarapé Tirnotcu ao Marco 46 da fronteira internacional com o Peru (visto encontrarmos igualmente, devido ao uso da base cartográfica digttalizada, certas discrepâncias nas coordenadas geográficas citadas no decreto de criação do PARNA relativas a esses pontos definidores de limites).
83 Destacamos o fato das reflexões aqui tentativamente elaboradas sobre a identidade étnica das famílias Arara no rio Amónia possuírem um caráter estritamente preliminar, devendo ser relativizadas levando-se em consideração a exigüidade do trabalho etnográfico que as embasam. Consignamo-as mesmo assim neste relatório por entendermos constituir essa problemática um dos fulcros mais importantes em torno dos quais certamente se debaterá o eventual ;!ndamento do processo de regularização fundiária para as familias indígenas cm questão.
lW Entre os casos conhecidos arrolados no Parecer nº 034/DE! D/2002, de autoria dajintropéloga Rito Heloísa de Almeida, constam os seguintes: Aranã/MG: Arapium/PA; 'Borboleta'(Kaingángvj/Râ: Kalabaça/CE; Kalankó/PE; Kanindé/CE;
148
Processo í
t
1 e 1
Kariri/CE; Karuazu/PE; Kaxixó/MG; Maitapu/PA; Náwa/AC; Pipipan/PE; Puruborá/RO; Tabajára/CE; Tumbalalá/BA; Tupinambá/BA; e Tupinambá/PA.
85 Uma definição análoga pode ser encontrada na proposta do novo 'Estatuto das Sociedades Indígenas' (Projeto de Lei nº 2.057/1991). que contém as seguintes definições:"/ - Sociedades Indígenas, as coletividades que se distinguem entre si e no conjunto da sociedade nacional em virtude de seus vínculos históricos com populações de origem pré colombiana; li - Comunidade Indígena, o grupo humano local, parcela de uma sociedade indígena organizada segundo seus usos, costumes e tradições, localizada no território nacional independentemente da situação das terras que ocupem; III - Índio. o indivíduo originário de uma sociedade ou comunidade indígena, que se reconhece e é reconhecido como tal" .•
~· 86 Encontrando-se num certo arroubo de franqueza, algumas raras vezes. a singela (ou temerária) sugestão para que este papel seja exercido pelo indigenista (cf. Anexo 6 in Almeida, op, ciL:4).
87 Como se pode verificar pelo quadro apresentado à página 29 do Relatório de Viagem decorrente da IE nº 67/DAF/2001 (cf. Anexo 6), os não índios representam a 'etnia' com maior número absoluto no total da população Náwa encontrada na bacia do rio Môa. A excepcionalização dos (Jamináwa-)Arara no trecho citado é deveras interessante (estando relacionada possivelmente ao seu tempo de chegada à essa região), visto outras referências ao mesmo grupo contidas no relatório pericial em causa. Segundo Montagner, •. os habitantes do Rio Azul não sabiam a que grupo étnico pertenciam, uns eram Nukini que casaram com cearenses, outros eram Arara, Ashaninka. Está tudo misturado não se sabe quem é quem" (Op. cit.: 103; grifo nosso). Uma Nukiní atestou a indianidade de uma família Náwa, "pois os Pebas eram Arara" (Jbid.: 106). A família Peba morava no igarapé Novo Recreio, "mas na época ninguém sabia que eram indios, pensavam que eram brancos ]. .. ]. Na época que foi feito o levantamento da FUNAI na República para identificação da terra, as famílias de Peba se identificaram como Nukini como eram conhecidos, pois viveram sempre aí e no igarapé Novo Recreio" (lbid.:107). Singularmente, a participação em encontros indígenas e eventos culturais nas cidades da região contribui de forma decisiva para a construção da etnicidade Náwa ao induzir a produção tanto de "cultura material [quando se apresentam "vestidos 'a rigor' com seus trajes artísticos recriados"] como manifestações culturais nunca antes encontradas ou vividas entre eles. Nessas ocasiões culturais e políticas seus interlocutores os tratam como iguais, são respeitados, valorizados e reconhecidos como um grupo social étnico" (Montagner Melaui, op. cit.: 142).
.-
88 De acordo com um relatório assinado pelo sertanista Antonio Macedo, "seu Milton Gomes da Conceição é patriarca de um grande familião de mais duzentas pessoas. Enquanto dona Mariana, esposa de seu Milton é Matriarca do mesmq grupo de pessoas. Seu Milton é Neyauawá (Gente do Jacamim) sobrevivente das correrias organizadas pelos antigos caucheiros peruanos e patrões da borracha e dona Mariana é Contanawâ (Gente do Coco), também sobrevivente das correrias organizadas pelos antigos caucheiros peruanos e patrões. Ambos os sobreviventes do tronco linguístico pano, Milton e Mariana, casaram-se e formaram uma grande famiha indígena que embora não falem nenhuma das duas linguas são índios. Esta familia foi a que mais teve destaque na luta pela criação da associação e da primeira Reserva Extrativista. Excluído por Orleirrinho e sua turma como seu Milton se sente hoje dentro da associação, ele já falou para muita geme ouvir que vai procurar seus direitos e o que ele disse que quer para si e seu povo morar é toda bacia do Rio Dourado. Isto vai dar outra grande confusão. Porém, embora ~ cobra l'á fumar, direitos são direitos e devem ser reconhecidos" (Macedo, 2002:6). Diferentemente. a Enciclopédia da Floresta o considera como 'seringueiro": •• Seu Milton nasceu em 23 de março de 1933 na colocação Jurema, seringai Bonfim, no rio Jordão. Filho de Pedro Lourenço da Silva, um índio Kontanáwa capturado em correria no Envira, e de Raimunda Gomes da Conceição, uma acreana filha de cearenses, morou até a maioridade no Jordão. Quando se casou com dona Mariana, mudou-se para a colocação Vitória, depois para Boa Vista, Bananal e Vista Alegre, todas no alto rio Tejo. Em 1965, foi com a família para a Restauração, onde trabalhou como seringueiro, motorista de embarcações e ferreiro. Em 199./, mudou-se com a esposa e dois filhos, Cidoca e Osmildo, para a foz do Machadinha, tendo retomado à Restauração no ano de /999. Foi gerente· geral das cantinas da Cooperativa, vice-presidente e presidente da Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAJ), tendo participado ativamente do processo de implementação da REAJ. Hoje, aposentado. dedica-se a seus roçados e à sua oficina. consertando de espingardas a motores" (Cunha & Almeida, 2002:688). Retratos do senhor Milton e de dona Mariana constam às páginas 28 e 23 da referida obra (lbid.) .
...• 149
IX. BIBLIOGRAFIA
Processo rf: 1,.-:,.cs/~ _
Folha o': 4)1: Rubrica:~ , =
ABA (Associação Brasileira de Antropologia). 2000. "Oficina sobre Laudos Antropológicos - Carta de Ponta das Canas". Florianópolis, ABA/NUER-UFSC.
AGUIAR, Maria Sueli de. 1987. "Os Clãs dos Índios Katukina". Cadernos de Estudos Lingüísticos, n" 12: 43-48.
ALMEIDA, Rita Heloísa de. 2002. "Documento final sobre a discussão de critéfÚ,s para estudos de identificação étnica". Brasília, FUNAI.
AMAZONAS, Lourenço da Silva Araújo e. 1984. Dicionário Topográfico, Histórico, Descritivo da Comarca do Alto-Amazonas. Manaus, Grafima (edição fac-similada de 1852).
:: .. ;) >,7
AMICH, José. 1975. Historia de las Misiones dei Convento de Santa Rosa de Ocopa. O- Heras, ed.) Lima, Editorial Mílla Bastres.
AQUINO, Terri Valle de. 1996. "Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Kampa do Igarapé Primavera" - GT PP 1204/93. Rio Branco, FUNAI.
____ & IGLESIAS, Marcelo Piedrafita. 1994. Kaxinawá do Rio Jordão: História, Território, Economia e Desenvolvimento Sustentado. R10 Branco, Comissão Pró-Índio do Acre.
_____ et alli. 1985. "Relatório assinado por três Administradores da FUNAI e por um sertanista sobre fatos ocorridos em 1981 e 1985". Rio Branco, Fundação Nacional do Índio, 31.12.1985.
AZEVEDO, Gregorio Thaumaturgo de. 1906. Relatório do Primeiro Semestre de 1906 apresentado ao Exrno. Snr. Dr. Felix Gaspar de Barros e Almeida, Ministro da Justiça e Negodos Interiores, pelo Coronel do Corpo de Engenheiros ... , Prefeito do Departamento (Prefeitura do Alto Juruá). Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
BARROS, Ghmedes Rego .' [1982]. A Presença do Capitão Rego Barros no Alto Juruá (1912-1915). Brasília, Senado Federal.
BENJÓ, Elione Angelim. 2002. "Relatório Ambiental. Terra Indígena Arara do Rio Amônia -Alto Juruá - AC". Manaus.
BROWN, Michael F. & FERNÁNDEZ, Eduardo. 1991. War of Shadows, The Struggle for Utopia in the Peruvian Amazon. Berkeley-Los Angeles London, University of California Press.
CALA VIA SÁEZ, Oscar. 1995. O nome e o tempo dos Yaminawa. Etnologia e história dos Yaminawa do rio Acre. São Paulo, Universidade de São Paulo (dissertação de mestrado).
CALIXTO MÉNDEZ, Luís. 1977. "Evolucíón Étnica dei Ucayali Central" iu J. Matos (ed.), III Congresso Peruano EI Hornbre y la Cultura Andina - Actas y Trabajos, tomo IJI:194-203.
CARIO NA VEIRA, Miguel Alfredo. 1999.~ Yawanawa: da guerra à festa. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (dissertação de mestrado).
150
Rubrica:
CARNEIRO, Robert L. 1964. "Loggíng and the Pairôn System Among the Amahuaca of Eastem Perú". Actas y Memorias dei XXXV Congresso Internacional de Americanistas. México, Vol. 3:323-327.
1979. "EI cultivo de roza y quema entre los Amahuaca dei este dei Peru" in A. Chirif (cornp.), Etnicidad y Ecología. Lima, Centro de Investigación y Promoción Amazónica: 27-40.
1985. "Hunting and Hunting Magic Among the Amahuca of the Peruvian Montaria" in P. Lyon (ed.), Native South Americans. Ethnology of the Least Known Continent. Illinois, Waveland Press, 3' ed.
CARVALHO, João Braulino de. 1931. "Breve noticia sobre os indígenas que habitam a fronteira do Brasil com o Perú elaborado pelo médico da comissão, ... e calcada em observações pessoais". Boletim do Museu Nacional, vol. VII, n" 1: 225-256.
CASTELO BRANCO, José Moreira Brandão. 1930. "O Juruá Federal (Território do Acre)". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol, 9:589-722.
1947. "Caminhos do Acre". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 196:74-225.
1950. "O Gentio Acreano". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 207:3-78.
1958. "Acreânia". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, voL 240:3-83.
CERQUEIRA, Felizardo. s.d. "Historia de um grande Catequisador de índios ... ", ms.
CHANDLESS, William. 1869. "Notes of a Journey up the River [uruá". Joumal of the Royal Geographical Society, vol. 39:296-311.
CORREIA, Cloude de Souza. 2001. "Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá/ AC". Brasília.
COSTA, João Craveiro. 1998. A Conquista do Deserto Ocidental. Subsídios para a história do Território do Acre. Rio Branco, Ministério da Cultura/Fundação Cultural do Estado do Acre.
COST ALES, Piedad & COSTALES, Alfredo. 1983. Amazoriia. Ecuador=- Peru- Bolivia. Quito, Mundo Shuar.
CUNHA, Carla Maria. 1993. A Morfossintaxe da Língua Arara (Pano) do Acre. Recife, Universidade Federal de Pernambuco (dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Gradução em Letras e Lingüística).
CUNHA, Manuela Carneiro da & ALME[DA, Mauro Barbosa de (orgs.}. 2002. Enciclopédia da Floresta. O Alto Juruá: Práticas e Conhecimento das Populações. São Paulo, Companhia das Letras.
CUNHA, Manuela Carneiro da & CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1986. "Parecer sobre os critérios de identidade étnica" in M. C. da Cunha, Antropologia do Brasil. Mito, história, etnicidade. São Paulo, Brasiliense/ Edusp: 113-119.
D'ANS, André M. 1974. "Etude glottochronologique de neuf langues Pano" in Atti dei XL Congresso lnternazionale degli Americanisti (Roma-Genove 1972.). Genove, Telgher, vol. IIl:87-97.
DeBOER, Warren R. 1986. "Pillage and production in the Amazon: a view through the Conibo of the Ucayali Basin, eastern Peru". World Archaeology, vol. 18, n" 2: 231-246.
151
Processo nº: '? +os/ o-o Folha nº: C{Jf, Rubrica: ~ /;;z; :
DOLE, Gertrude E. 1985. "Endocanibalisrn Among the Amahuaca Indians" in P. Lyon (ed.), Native South Arnericans. Ethnology of lhe Least Known Continent. Illinois, Waveland Press, lnc., 3ª ed.
ERIKSON, Philippe. 1986. "Alterité, tatouage, et anthropophagie chez les Pano: la bellíqueuse quête du soi". Journal de la Societé des Américanistes, vol. LXXII:185-210.
1990. Les Matis d'Amazonie. Parure du corps, identité ethnique et organization sociale. Paris, Université de Paris X (tese de doutorado).
.- 1992. "Uma singular pluralidade: a etno-história pano" in M. Carneiro da Cunha (org.), História dos Índios no Brasil. São Paulo, Fapesp/SMC/Cia das Letras:239-252
1993. "Une Nébuleuse compacte: !e macro-ensernble pano". L'Homme, vols, 126-128:45-58.
ESPINOSA R., Óscar. 1993. "Los Asháninka: Guerreros en una história de violencia", América Indígena, vol. LIII, n" 1- 2:45-60.
ESPÍRITO SANTO, Marco Antônio do. 1985a. "Relatório de Viagem - Port. n" 1829/E de 04.02.85 [Identificação e Delimitação da Área Indígena Kampa do Rio Arnônea]". Brasília, FUNAL
1985b. "Relatório de Viagem - Port. n" 1829/E de 04.02.85 [Identificação e Delimitação da Área Indígena Arara do Igarapé Hurnaité]", Brasília, FUNAL
FENAMAO. 2001. "Establecimiento y delimitación territorial para las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca alta de los rios Los Amigos, Las Piedras, Tahuamanu, Acre, Yaco y Chandless". Puerto Maldonado, Federación Nativa dei Rio Madre de Dios y Afluentes.
FREITAS, Déborah de Brito Albuquerque Pontes. 1995. Bilingüismo do Grupo Arara (Pano do Acre). Sugestões para alfabetização na língua indígena. Recife, UFPE, dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística.
GONÇALVES, Marco Antonio (org.) 1991. Acre: História e Etnologia. Rio de Janeiro, NEI/IFCS/UFRJ/Fundação Universitária José Bonifácio.
GOW, Peter. 1991. Of Mixed Blood. Kinship and Hístory i n Peruvian Amazonia. Oxford Clarendon Press.
GRUBB, K.G. 1927. The Lowland Indians of Amazonia. London, World Dominion Press.
KENSINGER, Kenneth M. 1983. "Investigacion Linguistica, Folklorica y Etnografica Pano: Retrospeccion y Perspectiva". América Indígena, vol. XLIII, n" 4:849-875.
LAGROU, Elsje Maria. 1998. Caminhos, Duplos e Corpos. Uma abordagem perspectivista da identidade e alteridade entre· os Kaxinawá. São Paulo, Universidade de São Paulo (tese de doutorado).
LATHRAP, Donald W. 1975. O Alto Amazonas. Lisboa, Editorial Verbo.
LEÃO, Raimundo Tavares. 2000. "Relatório de localização e identificação dos indígenas denominados de "Apohrnas', localizados nas margens do rio Amonea e na margem direita do alto rio [uruá". Rio Branco, FUNAI, 10.08.2000.
152
LEVINHO, José Carlos 1984. "[Relatório de Identificação e Delimitação da Área Indígena Jamináwa]". Brasília, FUNAI.
LIMA, Edilene Coffaci de. 1994. Katukina: História e organização social de um grupo Pano do alto Juruá. São Paulo, Universidade de São Paulo (dissertação de mestrado).
UNHARES, Maximo. 1913. "Os índios do Territorio do Acre". Jornal do Commercio (12.01.1913):3-6.
MACDONALD, Theodore . . 1984. De Cazadores a Ganaderos. Cambias en la Cultura y Economia de los Quijos Quichua. Quito, Ediciones Abya-Yala. e:
MACEDO, Antonio Luiz Batista de. 2002. "Relatório de acompanhamento dos trabalhos da 10• Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá - ASAREAJ". (Rio Branco), FUNAI.
MALCHER, José Maria da Gama. 1964. Índios. Grau de Integração na Comunidade Nacional - Grupo Linguístico - Localização. Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura. Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Publicação n" 1, nova série.
MARCOY, Paul. 1869. Voyage a travers L'Amerique du Sud de L'Océan Pacifique a L'Océan Atlantique. Paris, L. Hachette et Cie., vol. II.
MEIRELLES JUNIOR, José Carlos dos Reis. 1937. "Relatório -Área Indígena Jaminawa Arara do Rio Bagé". Cruzeiro do Sul, FUNAI.
MENDES, Margarete Kitaka. 1991. Etnografia Preliminar dos Ashaninka da Amazônia Brasileira. Campinas, Unicamp (dissertação de mestrado).
MENDONÇA, Belarmino (Gal.). 1989. Reconhecimento do Rio Juruá (1905). Belo Horizonte, Ed. Itatiaia e Fundação Cultural do Estado do Ac_re (coleção Reconquista do Brasil, vol. 152).
MONT AGNER MELATTI, Delvair. 2002. "Construção da Etnia Náwa (perícia antropológica sobre a condição étnica dos moradores do Igarapé Novo Recreio, Rio Môa, que se autodenominam Náwa)". Brasília, ms.
____ & FIGUEIREDO, Amilton G. 1977. "Relatório da Viagem Realizada a Áreas Indígenas do Município de Cruzeiro do Sul". Brasília, FUNAI.
MURA TO RIO, Bianca. 1991. The Life and Times of Grandfather Alonso. Culture and History in the Upper Amazon. New Brunswich, New Jersey, Rutgers University Press.
MYERS, Thomas P. 1974. "Spanish Contacts and Social Change on the Ucayali River, Peru". Ethnohistory, vol. 21, n" 2:135-157.
1976. "Isolation and Ceramic Change: a case from the Ucayali River, Peru". World Arqueology, vol. 7, n'' 3:
NIMUENOAJU, Curt. 1987. Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju. Rio de Janeiro, IBGE/Fundação Nacional Pró Memória.
153
processo n(I: 2. -=,-=8 (~ folha nº: 4 '=1- 8, - I-r- Rubrica:_ _ _
NORONHA, José Monteiro de. 1862. Roteiro da Viagem da Cidadedo Pará, até as ultimas colonias do Sertão da Província. Pará, Typographia de Santos & Irmãos.
OLIVEIRA, João Pacheco & ALMEIDA, Alfredo Wagner B. 1998. "Demarcação e reafirmação étnica: um ensaio sobre a FUNAI" in J.P. Oliveira (org.), Indigenismo e Terrítoriallzação. Poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro, Contra Capa: 69-123.
OPPENHEIM, Victor. 1936. "Notas etnographicas sôbre os indígenas do alto Juruá (Acre) e valle do Ucayali (Perü)".
: Annaes da Academia Brasileira de Sciencias, tomo VIU, n'' 2:145-155. (
ORTIZ, Dionisio. 1984. Pucallpa y el Ucayali ayer y hoy. Lima, Editorial Apostolado, Tomo I (1557-1943).
P ADILHA, Lindomar. 2002. "Apolima-Arara. Luta pela garantia de seus direitos" in Povos do Acre. História Indígena da Amazônia Ocidental. Rio Branco, Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour /Conselho Indigenista Missionário:50-51.
}::j PIMENTA, José. 2002. 'Índio não é todo igual'. A Construção Ashaninka da História e da Política lnterétnica. Brasília, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de Brasília (tese de doutorado).
RADAMBRASIL. 1977. Levantamento de Recursos Naturais. Vol. 13. Folhas SB/SC.18. Javari/Contamana. Rio de Janeiro, Departamento Nacional de Produção Mineral, MME.
RAIMONDI, Antonio. 1863. "Description de la Province Littorale de Loreto" in M. Paz Soldan, Géographie du Pérou, Paris, M.A. Durand: 357-463.
REIS, Arthur Cézar Ferreira. 1959. "Limites e Demarcações na Amazônia Brasileira". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 244:3-103.
RIBEIRO, Darcy. 1982. Os Índios e a Civilização. Petrópolis, Vozes, ed.
RIO BRANCO, Barão do (José Maria da Silva Paranhos]. 1947. Questões de Limites. Exposições de Motivos. Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores, Obras do Barão do Rio Branco, vol. V.
RIVET, Paul & TASTEVIN, Constant. 1921. "Les tribus indiennes des bassins du Purús, du Juruá et des régions limitrophes". La Géographie, tomo XXXV, n" 5:449-482.
1927 /29. "Les dialectes Pano du haut Juruá et du haut Purus". Anthropos, XXII [1927):811-827 e XXIV [1929):489-516.
RODRÍGUES V., Marisol. 1993. "Los Ashaninka: Tiernpo.de Carnbios". América Indígena, vol. LIII (4):61-77.
SANTOS GRANERO, Fernando. 1993. "Templos e Ferrarias: utopia e ré-invenção cultural no oriente peruano" in E. Viveiros de Castro & M. Carneiro da Cunha (orgs.), Amazônia: Etnologia e História Indígena. São Paulo, NHII/FAPESP: 67-93.
_____ & BARCLA Y, Frederica. 1994. "Introducción" in (eds.), Guía Etnográfica de la Alta Amazonía, vol. 2, Quito, Flacso.
154
Processo ~ 2 ~f 1~ Folha ri': '-{ =, 'i = Rubrica:~
SCHULLER, Rodolfo R. / 1908. "Documentos para el estudio de la historia de las misiones fransciscanas en el Peru oriental". Revista Histórica, tomo 111:165--189.
SEEGER, Anthony & VOGEL, Arno. 1978. "Relatório da Viagem ao Alto Rio Juruá (Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, em Janeiro-Fevereiro de 1978)". Ms.
1979. "Dados complementares para a delimitação e demarcação de área indígena para os índios [arninaua-Arara do alto Juruá (Município de Cruzeiro do Sul, Acre). Ms.
SIL V f:, Aracy Lopes da. 1994. "Há Antropologia nos Laudos Antropológicps?" i11 O. Silva et al., A Perícia Antropológica em Processos Judiciais. Florianópolis, Ed. da UFSC/ ABA/Comissão Pró-Índio de São Paulo: 60-66.
SlL V A, Dagoberto de Castro. 1912. [Relatório - Inspetoria do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais no Amazonas e Território do Acre, Manaus, 26 de dezembro de 1912]. CEDOC, filme 31, plan. 3852-3856.
SOUZA, André Fernandes de. 184.S. "Noticias Geographicas da Capitania do Rio Negro no Grande Rio Amazonas". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 10, 4" h"imestre:411-504.
STEW ARD, Julian & MÉTRAUX, Alfred. 1948. "Tribes of the Peruvian and Ecuatorian Montana" in J. Steward (ed.), Handbook of South American Indians, Washington, Smithsonian Institute, vol, 3:535-656.
T ASTEVIN, Constant. 1920a. "Le fleuve Juruá (Arnazonie)". La Géographie, t. XXXIII:131-148.
1920b. "Quelques considérations sur les indiens du juruá". Sep. Bulletin et Mernoires de la Société d' Anthropologie de Paris, nº 8 W série):144-154.
1924. "Chez les Indiens du Haut-Jurua (Rio Gregorio)". Missions Catholiques, t. LVI: 65-67; 78-80; 90-93; 101-104 [trad. "Entre os Índios do Alto [uruá"].
1925. "Le fleuve Muru. Ses habitants. Croyances et Moeurs Kachinaua". La Géographie, t. XLIII & XLIV:403-422°& 14-35 [trad. "O rio Murú. Seus habitantes - Crenças e Costumes Kachinaua"].
1926. "Le Haut Tarauacá". La Géographie, t. XLV:34-~4 e 158-175.
1928. "Le Riozinho da Liberdade". La Géographie, t. XLIX:205-215 [trad. "O Riozinho da Liberdade"].
TESSMANN, Günter. 1999. Los Indígenas dei Peru Nororiental. lnvestigaciones fundamentales para el estudio sistemático de la cultura. Quito, Ediciones Abya-Yala.
TOCANTINS, Leandro. 1979. Formação Histórica do Acre. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira/INL/MEC/Gov. do Estado, 3' ed., 2 vols.
TOWNSLEY, Graham Elliot. 1988. ldeas of Order and Patterns of Change in Yaminahua Society. Cambridge, Cambridge University (tese de doutorado) .
. - V ARESE, Stefano.
1973. La Sal de los Cerros (Una aproximación ai mundo Campa). Lima, Retablo de Papel Ediciones, 2ª edição.
VERSW[JVERJ Gustaaf. .!' 1987. "Analyse cornparative des parures Nahua: Similitudes et différences", Bulletin du Musée d'Ethnographie de Cenêve, n" 29:25-67.
155
Processo rf'. 2~og/~ Folha nº· <(Kº Rubrica: # :
VILLAREJO, Avencio, 1959. La Selva y El Hombre. Estudio antropocosmológico dei Aborigen Amazónico. Lima, Editorial Ausonia S.A.
1979. Asi es la Selva. [quitas, Publicacíones CETA, 3ª edição.
VILLANUEV A, Manuel Pablo. 1902. "Pronteras de Loreto". Boletin de la Sociedad Geográfica de Lima, tomo XII, n" 4:361-479.
WHITTEN, Jr., Norman E. 1985. "La Amazonia actual en la base de los Andes: una confluencia etnica en la perspectiva ecologíca, social e ideologica" ín N. Whitten e& al., Amazonía Ecuatoriana. La otra cara del progreso. Quito, Ediciones Abya-Yala, 2ª edição.
,--.
WlLKENS DE MA TTOS, João. 1874. Diccionario Topographico do Departamento de Loreto. Pará, Typ. Commercio do Pará.
ZACHARIAS, Sílvia Regina. 1998. "Laudo Pericial - Danos materiais na Terra Indígena Kampa do Rio Amônia". Brasília, Ação Civil Pública n" 96.1206-7 .
. -
156
processo rf'", -i.~s /o;; Fo\ha nº: . "'·g J Rubrica:. ffe _
'
,..-..
ANEXOl
PORTARIAS DO GRUPO TÉCNICO
...
pror.esso nº: Folha nº: 4 3 2 Rubrica: k{
7
Fundação Nacional do Índio MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
PORTARIA N°/o!ift /PRES BRASÍLIA, ~J DE DEZEMBRO DE 2001
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições, conferidas pelo art 21 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 564, de 8 de junho de 1992, de conformidade com o art. 19 da Lei nº 6.001, de
~ 19 de dezembro de 1973, e com o Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, ;;,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Grupo Técnico para realizar estudos e levantamentos de identificação e delimitação da Terra Indígena Arara do :Á1to Juruá de ocupação dos índios Arara, composto por: 1. Walter Alves Coutinho Junior, antropólogo-coordenador, consultor/PNUD; 2. Elione Angelin Benjó, bióloga, consultora/PNUD; 3. Marcelo Elias Maschietto de Almeida, engenheiro agrimensor, consultor/PNUD; 4. Antônio Alves de Santana Sobrinho, técnico em agronomia, colaborador; 5. Leonardo Pacheco, técnico agrícola, INCRNAC.
Art. 2° Determinar o deslocamento dos técnicos ao Município de Marechal Thaumaturgo, no Estado do Acre.
Art. 3° Determinar o prazo de quinze dias para a realização dos trabalhos de campo do antropólogo-coordenador e da bióloga, dezesseis dias para o agrimensor e quinze dias para os demais técnicos, a contar dos respectivos deslocamentos; e trinta dias para a entrega do relatório do agrimensor e do fundiário, quarenta e cinco dias para o ambiental e noventa dias para a entrega do relatório final do antropólogo, a contar do término dos trabalhos de campo.
Art. 4° As despesas com o Grupo Técnico e seus deslocamentos correrão à conta do Projeto de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal - PPTAL.
Art. 5° Esta Portaria ent't~:C :rfir de sua p
cJRNOBREME
- •• 3. sex!.l-fcira. 4 de janeiro de 2002
SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA.DE .PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO _00RDENAÇÃO-GERAL DE_ RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N' 504., PE l8 PE DEZEMBRO DE :ZOOl
O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS A SUBSECRETARIA OE f'i..\NeJAMENTO. ORÇAMe,ro E
fa.MINl$TRA.ÇÃO DA SECRErARIA EXEC\ITJVA 00 MINIS ~ 0/\ JUSTIÇA. usando da sub6clcp;io de ~ que
NIC foi CGAferidJ pdo attieo .••.• icem w. armc:a "e", da Pon.JÓ3 --"-4ini<taiid ••. • 223. de u de abril .de 2000. p,1,1i=ia "" o~
íci.l de ll seguint.e, iesolvc: ~ ..,.,..,..._ volwllári> coa, - ~.
- ntidonl MARIA HELENA PEREIRA. IIUt&c»b a• 0162308, "° . .ai;<> de A-""""' Adnúoisu.uiva. c:b..-s,o A. pod,I<> UL do Quadro ~ dcpe MiAislái<>, - ia- do anlp, 186. iaciso IU.
"'" •a•, tia Lei l.111J90, c,oa, a .....u,em do ""''° T da Lei .'!.. 911194, ;wqur.>d& peb EC-2094. (Proc. 08007.00l 101/2001-391
SIMEI susx SPADA ··~.
l'OlffAR!A N' 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2002
O COORDENADOR-GERAI. DE RECURSOS HUMA -')S, SUBSTITUTO. DA SUSSECRETARIA OE PLJo.NE.IAMEN
J, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC!lETARJA Ex.E· J:VTIVA 00 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. u..ado do l&lbddq;><,~
oomp«cneó• que lhe r.,; """1c:rid& pdo aniro 1•. i<.= IIL :>lína. <•. d. l'<Hlaria Mi1lislcrial n.• 223, de 12 de >bril de 2000. public.b
~G o...;., Of,c:íad de 13 seiuintc. n:sol,c: · Cooada- l'<as5o V.talkio a SEBASTIANA MAC CORMl
f/:,~if.E C>.RV~UIO. vidY.11 dê ROBERTO DE CA.RVAUfO, ,.,,._ . :,j a• OIS91911, S<Nido< "i""""l.ldo do Q=lro "=- dai< .,íru<áio .., catilº de Ai,:nte Adminisu.,ri.o, (1...., A. ~ IIL
. ,... paa:,,W>I de <CtA por ccnlO doo p,ovcnta, do rd<rido scr,,idor, • ' sr de 19.11.2001, de &C0ro0 ooa, O dupo,ao DO ••• jgo 2(7, inciso 1. ,i;..,, •••• çombinado ço,,. o Vliro 21s ambo$ d> l.ci • 112J90. ~,e. 08007.001137/2001-12)
C:U.UDIO rosa OOS SANTOS
FUNDAÇÃO NACIONAL DO L'<DIO
P'ORTAIUA N' 971, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001
O PRESIDEmE DA RJNDAÇÃO !'t",QONAL 00 IN LJ10 - FUNAI., "° wó du atribuições. coc,f<ridu pelo an 21 do p-,....,, :ij>n>Vado pelo Dcaclo ri' S64, de: g de _juaho de 1991_ de
,omiid,.dc com o an. 19 da Lei a" 6.001, de 19 de d=:mbno de 197). e -.. a D<Qdb ri" 1.=. de a de jaDeita de 1996. ,aol-.e: - An.. 1• Coastiwit GNpO T6aioo p,n rcaliz.w ·.....sa. e .._.-..-.,. <lc idcntirOQÇJG e~ da To,R ~ Las ('..uas de ocupoçio dos Cadios lúl>p6. __.., pa,:
l.J,diana Melo, ~ C08SU!co- ,,.,l't-11.JD; ..,.... 2.Mw:o A4lõaio F=wa Bucuo.. biólogo. o:,o,,,l1'>dl'NUD.
J.Silvio. ~ Roeba. C<lge,,hén ~ .,.....,1. IDr.llPNUD; . . - -4.Ailtoo Rt>mcu Silva, 16:ni<o ~ AER/ARAGUA!NA;
S.a cbign,a;. c6ouico ogncob. !NCRAJPA; ""- r Oclamiuar o dcsloamenlo .,.,. l&:nico& aos mu·
1ios de ~ o Ri:dcnçlo, - ESÚdo,; de TOCUlliAs e do P.ri~ . - lut. 3" Odami,w- o pnm de lriou di>s pon • rwiuçlo '- lnbolhol dcampod> an~c do bl&loco,dc q~ diu par.a o ai,imcmot e~ e ci600 cba> pa,fb,11cle=is · 1!<- a contar dos rapcdivos dalocamenloo; e U1DLI dios pota a ~ do rdatório do ,grimensoc, quare,w.a e cinc"J p>n a CIM>dwio, .--.:nl> d~ para o biól<,ao e ClCQ(Q e vÍQCe clw pon a Cllln:p do ,. ooo fü\&I da azuropóloga. a cocu, do rt,,nino doo v-1hos de ~po.
-"ORTARIA N' 1.054, DE 21 DE DEZEMBRO DE: 2001
O l'l!.ESIDENll: suesrrrirro OA FUNDAÇÃO NAClO. ~ DO ÍNDIO - FUNAI.. oo \ISO du llribu;çõci, coníaidu pelo "" 21 oo e....-apo,vllllo pelo Oea,:,oa" S64. de 8 dejuobodc 1992. &--.úonrucbdcco.noart. 19 d> Lci o• 6.001, de 19dcdc:=nbro de 1'. , e com o Occ,,c,o a• 1.nJ, </e S de pnci,,, de 1996, =olve:
~",wilt.t,
Diário Oficial da União - Seção 2
M. t• C011~ituÚ' üvpo T«-io, p;M"".1 ,._-.Ji.1x i..""'4mLo~ 1.· k;-_.-;.in1..uocntos de M.k.-nlií~ e ddin11l~-i.., tb "l("rr.1 &oth:c,.•tu \r...,....1 1.fo Alto Junci de OCUpJ.çâu dus. inwut. Ãnr-A. Ct1tu,_....,..v '"-...
• 1) W.:r.ltct Aln;:s Co..stinho Jv:n-nf. ;a.uro"f"'•°!,;º'·•tcot1l.., •..•• &01. ~"'""'lwrll'NlJO:
5: ~:~: ~k~~:...~:t::~~~~11~!~ .. ~;:,i• tnl!n~. 1.'.•~ltodPNUO.
4J Ant&Riu Aty,o; de S::1ot.1A.:1 Suh,nnhu. h.'\.t~" ~""IH ~;tn• 11omi:~ c»bbondor;
S> ~ P-..chcco. lécnico ,;ó<.oi;,. l"'ll!.N/\C Att. r Octcnn,rut O ~ lkn. tã_,tk"4h .N• ,.\.fu.
t11"fl,l'tU J,: Man.~h:il ~ .••• 13.si ..• Jo 1'n /'H.r"·· An.. J- Octcnnin:a' O f".J.U di.;: (f'l.utU'.; ,l.i,, l •.•••. -" ;t 11,. ;.h/ "\)U
de,,,, \Ah.=llh<):S; de: Qnlpo do ~-.."twonS,..'1wt,6,.or <" ~L ~ ••••• ttt:J... d.;~ís Ja..as p.in u .;il:fl~ e ~.e ~Q.O, p...ar.. ,.., J.:"i.:11, ,n_ .. flk~. a cunbr 00'5 ~"'°' ~f~"Mk~ .• .: tnnt:.i Ju, 1...w:.. :a d~~ ~ul~ ~«:~'~:..; :t~cd~:~.'}.~; do ~~a. a cun.1~ do.~ dos ll.M'UI~~..., J..: ,;;..,1'i~'
A.ri.. 4• lu ~ C'UrlQ •• Cn,s,u 1'-.;n.,.·u 1.· "4.·1,., ,1.-,.ltl '-~~ ÇQ(TQ"lo à ~ do Proja.u 4c Pt,~.;.. ::f,. r.'10\11..._,-,, e Tar.., h><lõ- d, - Lcpl · PP'fAL
Art. S" áu Pof1w CftfD cni vi;o, ;a r,,a1tf J.: ,:u_. 1111• blic~, ,.
AJCTUR NOIIRE ~ILNOI'-~
, ••• ,, .• ,r.,-t:,
Ministério do Meio Ambiente
SECRETARIA EXECUíl\'A
l'ORTAICIA CONJUNTA l'l' n, Of. ?1 IH-; Dt'.;'.~~\IHl<II IHê !1•11 O SECRETÁRIO DE l<KUKSllS lct'~IAMIS 1,11 ~11-
NISTÉRJÇ> DO Pf.,V.:EJAME."10. ORÇA>!!i",u E Gl~~,-~o <" SI-.CRETARIO.EXECUTIIIO DO MCNISTI.1<10 00 Ml:10 ,\M· UU:.NTE, "'° 1,QO de w;as a••pa.bl..:i2> ~,::a&!:.. .•. f\.'(lll.·i;ti,.u ••••.. htc . pd,s l'u,uri,s MP Q• .Sl, d< 14 d< .t>ril d,: :!Ollll. e ~1~1A ,.- !~ 1. J.., tJ de iulbo de 2Q(JI. e~ o du,p."10 tl•• ..rrrt. J.7 J.s l.d n· lt l l 2. de: 11 cJc dc:r.ahbru de 199Ct OJc$I .-L'W\"5., J.-L p:t.a (...._"'1 n ~.5.?7. de 10 de d,c-.t:embn) de 1997. oc~, •. "t11 r..:.Ji, .. mh..i.r
Sc..'f"oridor. c.conu, 4b Silv:a D.tn.ciru CM'Co: Entcnhóto "&tõnomo, Cl:.,,..J,,,C ~e- P .aJt~o 1 M>i,;.;..1,. ao SIAPE: 0110315 Cód,go ~ """' 4S$491 f>u. EuiMik> TCITM6no ~ de R,IDfn~ l'.&n: IA>IIUKO .Br.n.ikato do Mcid A.n~ e dt"' K ••. "'I:~ ••• ~u,~,. Ra.url.-çis.lBAMA ~ S<:mdo<: e.rio V>i:<> ÚIV-e-íséa> Cóct.i:o da np: os1,169 lkt• lru.tiluto 8'2ukiro da ~ Ai:~ e ..14~ k e ,..,,r-,,..., N.1ti.r ••. u~ lknu•;...,;...18AMA ~ M,MStério do Pbnej.uncMo. ~ < Gc.,1iu Proco... <t"; 10167.0()04l61200l-<9
LUIZ CAltt..Os OE ...u.:11'.U>,\ CAPl:UJ\
JOSé CAIU..OS CARVAIJIO
lNSTilUl'O BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
GERÊNCIA EXECUTIVA NA BAHIA
POltTARIA N' 11, DE lt DE DEl.E/,IBKO UF. 21lOI
0 Ccm\l.c E.r,c,r;;utiYO 1 do lr\li-1.iluU) Bq'\.Cldru 00 Mci(1 Am btçnt.C: e dm ~ N~ ltenov.ivcis no E-..t:ac.Jo ~ A:.hi;i. MI l.t)O das w,l:,uiç6d Qúe lhe ~n ~ Port.:wi~ a• 1 ~S-P e 006-1'. tJç 05 de j,,lh<> de 2001. pu!:,1- ao Oiirio Oftci.J .S. U•""' de O<J õe julho.=-
Dcsli-oar • >cr,iJ,,q W~A MARIA l'AIMA ,-1~1,\~ . malncul::a ,r O 6'4108. ~ ~tui:r o Gcrcnli: Es,a;ulí,.u I i.kt 18/\MA. çódigo DAS.101.4 •• 8'>1lia, ck 02 > ll.Ol.!001.
JOSÉ GUILHERME OA ~101TA
GERÊNOA EXECUTIVA NO CEARÁ
PORTAJt.lA N' 11, OE 1, OE D~:Zf.\lKICO UE ?llUI
O =<e; E..=ti.o do INSTITifíO URA.'>ll URO 00 MEIO AMBIEl'fre E DOS RECURSOS NATURAIS R~.r.:ovA VEJS • 1 BAMA. no EsutJa ô,, Ccri. "" ""' tb., ..,.,..,.,.._,,,_,~ ~"" lhe Íoe>m dclcpd:>s pela Pu<R<ia a• 9 l(..-J9..P. de 1611111 •JW. I"'· blic.lda "° DOU de 17111/1999. n:,i(,c,d, pct,,. ••••••.•.•••• 9'1-!r>'l-1'. (Jc ~12/1999. public-~ AO [)()V de 2-llf?/IWJ. l~lf1.vi:. u• 7ltt·l~ de 1 )IU9l20()0, pu1>1ic><1., oo DOU õc l~•.viuoo l'v<u<u .- 01. Jc
:!'~ 13 ~~ .......
WMll/2001 •. ("UNt..-:xJ.i ""· nou J..: .\IA.Jtr:!tlOL l'un:&ll.A 11- 5. uc i .• «Cl2U01. ruh,l.._";aW n.• IJOU ,L: Unlh~!1)Ut ~· Purt:.aria 11• (,. de: rtUY2flJI. piNtl."":ri..b n., 1KUJ •. &e O(Jlt:Y2U.ll. ~,n.,1ri.i l.O.n. Jc U3Jll7.'.!00I~ p,bt"--":Ml.i o,, l>Oll tk tl'J/U7/!00L l'\M1.ui..1 I.U~S. J... 06m71200I. ~~ 11i1• l)OL: \k· U'J/U7f?t~II • .Poo:11iJ t 0-U•. ,i._; 06,t.11!.?(WU. pubh •. -..W.a t111 IXJl: J.: fNIU7f?OCJI. Ptati.ari.:i n .•. t .D,O. oc C15IUJ/2RH •. 1tUt".."'--:::.,,l1 , ••• UCllf tk 171(17~nc11 e 111.:b. ,•,-.,.ma 14- t.l:?..l. ••.. l.?Alt'l.:too'!'· t"'d .••.•...•• r., IWt nou t.k n,01,~0ltl: t\,· •••.• ,lv.:.
l>o.i~ o •••• :nul.,:" "-.U~l·t~ t•l:..\t\'.\'UIS 11.1.Xt:ll-( '\ U,\'). TOS.. Al:4lri&."Utl e(' l.145-:1~ -. :""-' c~crt. ••. -r "' \'..lk..·.u-;°"' c.k.:: Sut,:-1i(1.Uo do (1,--f.cdr::U~kd..; C~it,, L •••••••• ,;,."\L,,.r.-1 u. (",'tlt,a..-.:a l)J\S. 10,.2. d.J A •• A Jhi~~l..J(l:_ ,1111, i,,~l'- .. , ••••. 1111 •.•• l.."':!-1 •.•• c,1."t\h1.11~ •. ·/,.., h"U1p1 tf".iciu.
Hll~ll l \l 1)1(;\llc"I 111: ,\l:IWII/\ t'tll.1.110
GERÊNCIA EXECt;TIVA NO ESPÍRITO SANTO
l"OKTAIUAS m. !•J ui,: l'óO\'EMUl<O Ut: 21NII
O GERE,'lôfE U,,n•nvo l>O INSTITlnO 8KA~ILEI R0 00 MEIO A.\lllll,N!l. t: IX)S IU.C.1JHSOS NATURAIS RE NOVÂVEIS. NO F.!ff/\1.l< • m1 E.'iPIR1TO SANTO. ús:.nw <h,, •tri hutÇócs que thc ~. c.,,nfr·:·.J.-, p.:b Pon~ n• IOtS. O(, Jc julh<.J 2CIOI. ~i<::Ml.. MJ Di:iru• tHtu;,f d..a Un~, di: lJIJI de juUw. e. cun· Ji•lcr.mdo ~ icw",111nt.M,.<"'- ~ ._,,01i1~ nn (w'u..k1 ri· fV'J;\l(lt-CS. tk 1 S/fOf?O.U. 11..•·,,uh i:::
NT -8~ - 1 - Obp,.:n .•..• r u .._n:,1oc DARCI SOARES FIRMINO. rn..1- uicub a• ~t.!lJI. rr..tr., ,, ..•. , ••. a,~o~ Jc. UJtb.tit1,1tJ 1,fo ~!e de: Dí ,..,.i.:.o d..i Wên.;;.l ü •. "1..u:n_. ,1.., IUA:\IAIJ:S. Côdi_g.11 DAS UH 2. do,isa;i,do pd.-1 r,ti1wt1:J ='- l 1 IUI\MA/ES.. ti! 26J01~01
N~ •• ~ - l - 1~'1'""'"'··.c '" .•. " "-"•"' JO\i. 1.UlZ \TVAS:, ni.;1,trk....,Li 11'"
(l(,a..u;..s1. ~ ,..., nk..u;.·, 1 .•••. ,h .• 1th·~~" ,k~ ( tN.·I~ &.· Oi1.i~, 1.l.1 G.."tl?nc.~ ~°'"' d11 li~ \'.I \11:.."i, ("i.J1!:-"º UAS 1111.1, J..°"il:n..'ldu p::b l'li.n'l.lf'g X- l-1. IUA:,1 \.1:S. ,k ;(.,117/!00I
1, ,..;( M:OR.NANOO ~f.J)KOSA
.. .- , ... -~,~ ..• - . GERÊNCIA EXECu·rnA NO RIO GRANDE DO Sl.JL
l't)kíAH.I.\S 1)1 Ili BE UEZ •. ~l\.lltRO OE lOUI
O ~te: i:J..<.."\..111n.1 J., lllAMA. no u...u ú.a"' ..v1bt1~õc,. '1~ thc ~ coafcrid:l."' p.:b 1\011-10., n• 1 ~.S de ()6.i1.J7/200l puhlic:kb nu D.O.O de C.t'h\11/.!(JUI. Ni.,ohc.
Nf 10 - r Oo.Í~R.li( KC-wfiJ •• , l:.lvo. h,m.at M.u1tlb. M.uric;üla SIAPC a• 0634468.. p:ir.:ii o:i. coc.a~,n de M1~it:..:o do Chcfo do .Gacr.itório Rc!;ian.ll de Rio GrJn<\;.::. Ct"teÍÍ!;O ll.,'\ S IOI :. no:,, :u.·tn. iiup.;,di- 1nc;ffl1Ri h:.1:=1i1'. c,.c;nl"3ê. cA...., tçmporirMJ~
N'= i 1 - 1ª f)cjtn..u" u ~T, W.C.M' Jn....; Alír~-&, ili Stfy;a Gunç.alYC'-. M..,rtl."t1LI SIAPt; •• - lJ..t!,01> 11 ,1..1,..a ll'lro. c1w.::.(\:1t"' d.! ,-ul"Mihllu Jo Cb,:fc.: W &c:tw.irio ~iocu.t de C:.i,i:t...:: 00 Sul. Ccx.lie,u O.A.S JOt.l~ ~ ~ ÍmpedÍI\IICDZUCó lcg;.~. c~l.,1tú;;iii~ c1úú ~c~o:c.
N' 12 - 1• Oc:üê:,t'Uf i.> ~niJ•v Ju~ Jlin-M"te Sul..;JI~. M;ttllOJla SlA.PE a• 0634851. ,,..- .• °' co,.~..,... ck P.1bslituto do Cbcfc do Escritório R~t()IQf Jc ~:a M.ui.a, Ct•lib•u l>.A.S ,a l, I. OU1i ICI.I< ímpedi uw.:n1.os kpU... c"auu:.il .• 1.:~..,. tctnpor.i.rK.b,.., W I J - r Dcsi,:rut ~ ~" nfor.L Bctcnicc S:int.os: M:u-qU(.s. M..t.trict1la S1A.PE n• ()66.5177~ p,:it..1 ca (.OC~ de su~mtuta do Chcíc do EM.:ritóno Regi~ 1k Un.i&u.11.:tn.1.. Código D.AS 101.1. no~ ~us impcdtmca.t~ ki~h. cv..:n1u.Ul> dou tc:mpor.inus.
RODNEY RITfER MORGADO
.Ministério de Minas e Energia
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO
l'OllTARl,\ N' 320. UE 11 o~; u1:.-,::1,.MBRO IJE 2001
O Sut,sluuiu t.:,,,.,u,I uv Dll<EfOR-Gr.RAL ,i,. -"C:ÊNCIA NAOONAL. DO PETRÓU:.0. Jc .aconJo com o JL•-ti,o~• ""' l 3• do :rn 6'" e"° 10t."'i-.c1 lll UV .,,1 1-. <lo Anc:Ao 1 d:I ~ru,uni R1.~i11w..nt.al apnrvm pdo Oci..-r"--w 11• ~.-1'5_ de U de j:i.nciru de tlNK. e ~1. "idl.·t:lndu .1. J..:hh..-r.à\·;io J.1 •• u.1 Om.:,uti2. rcs.ol-vc:
Namc-.u NEY M.\l·RICIO CARNEIRO DA C:WIIIA. p,r.._ ;,,,CIU pn.:juin1 tJ,c •••• u .•• IUl"i,IIC'"' • ..; xm :,,(,,Úmuh, JI! YCHc •. "'\u,·ftf.,....._ CU"!"•
c,.i..,:. ÍNcrilLUne.."Tl'h:.. U L"..J1ç,• c~t4111, .••• Utl.k.LU Ü.: c;..T.:"n ... -i.a 1..: '(.C(.."\lti'W.1.
1..·fdit,o CGE • 1. de Su1"-.·urtt1.·tllk."11lC de J;::.."4udv,,,. l~1r.i1é;:.iL"UQ.. no E."õ(.-rit&w Ccnu-.al d.a A:!Cu,,, 1..t ~:.c.On •• t do PafUk:tJ - ANP. n;1 cid-.nk do Rio de bnciro
-;;:;---·
IULIO COI.OMlll N"TfO
.···- ~· . : ~ ~ .
::··.· .. 1· •. •
Processo n": 2. ~s /O-...J Folha nº: <f S Y Rubrica: __ ..#{:.
--~T~t···
Fundação Nacional do Índio MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
,. PORTARIA N° 0 S- L /PRES BRASÍLIA, l, 1 DE JANEffi.O DE 2002
O PRESIDEJ\i'TE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições, conferidas pelo art 21 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 564, de 8 de junho de 1992, de conformidade com o art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e com o Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro de 1996,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar o art, 1 º da Portaria nº 1054/PRES, publicada no Diário Oficial da União de 4 de janeiro de 2002, Seção 2, substituindo o colaborador Antônio Alves de Santana Sobrinho, técnico em agronomia, pelo servidor Antônio de Paula
- , Nogueira Neto, engenheiro agrônomo, nos trabalhos de identificação e delimitação da Terra Indígena Arara do Alto Juruá,
Art. 'Z' Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
-
16 ISSN 1676-2347
-:·d:/-:;·,: .. .'Ministério da· Justiça
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N'. 94, DE 30 .DE JÁNEfllO DE 2002
O M1N1S111-0 OE ESTADO DA JUSTIÇ!>, no aso du >lri t,,,içb qoc lhe coní= o ><t. )", t 1•. 4o Dca<1o dc 13 de "'""1(1 de
..-'>()OI, que 'imti11n o Comilt IA<.em>ci<JA>I de Ccmbolc l Pin1,ri;, e i ouuo, ~~·, e tendo cm vi.ia o disposto u. Lei ll" 9.610,
de 19dc 1<;.......,,, de 1998.cl'o<uri.l a.'"489. de ]()de awodc2001. --=i1vc:
Designar os ~ EOMO O'AQUINO SALVAlO!U e EDSAMAA CABRAL DOS SANTOS "°"' ,.. guof,d.,dc de - ~ """"° snpla,<cs dc R08El(TO PRECIOSO JUNIOR e I..A1USSE .AVAJ..CANTI:: UNO, rapeclivamcn&e. COITlf0«'1' o ll>COCiotu<la
_coaúl!.
ALOYS!O NUNES FERREIRA
t(JJ..D.,/~J
• DE51'ACH0i l,)O' MINISTRO Em 29 dcqOhê:iro de 2002
O M.lNIS11l0 DE ESTA.DO OA JUSTIÇA. no uso d.> com '°°";. 'li"' lhe foi dekg,d,. pclo Dc,;,ciQ n• l.337. de 1 ôe Í<"«<iro ce 199S. modií,ea&, p<lo.. Dcacto,; n"s 2.349. de IS de °"'vl>ro de
_....1.997. e l.o25. dc 12 de >hril de 1999, ,utonza o ,fawmatlD do Pais ;S AiQltes de Pol.ciJ. Fe:dc::ral:. _
Al.FERES VIDAL OE BRITO. JOAO LUtZ SPANEVEL ..-,..o GII.MBA. CARLOS ROBERTO MONIEIRO GARCIA e ÁL \RO MARlO ROIEK. 1oudos na Oclczocia de Políci.t F-cdc,.,J an
lt.pi/SC. par& pro=len:m à cscolL> pol~ CO<I> O objcti..a de R· ~ ao ~ Dcruiis Thy W"ill 8c Ooac e=,, Kmplcy.
~ ali. a cid>dc de J~ Áfnca do $ui. "° A'i">'~ de 29 de: j»,ciro a 3 de ÍcY1:n:lfO de 2002. mduindo o F ::~to. ooao &til limâlado. (Pnxcuo d' 03205.000lDl/200l~l-
:, • CARLOS AUGUSlO DA SILVA MONTEIRO e Gt.>.UClA. LUIZA DE CARVAUlO PINHEIRO, iobdD> ..,. ~i, ---i,nna1 do~ de Pol~i.> f"<4cn1 "".Esb4o do R,o de
~ira. por.. pn,c:cdcrcm i acolt.a polioi>l 4-a ~ o.>cio,,,I FJi""< cio Silva LlA. o.a ,;idade de Bogo<J.. ~ ao pct{odo de
_..... • 31 de janci.ro oe 2002. ioc:tuindo o lriru.ito, com 6cw5... (Proccuo 08:!QS.000476/2002-26 e 08200.000202n002-S7).
FRANOSCO ANTONIO CARDOSO. A.'a"ONIO lRAN ~'HOA DA ROCHA e ANTONIO AZEVEDO VIEIRA fll..llO. . .ado< u Sapain1eodã>cia _Regional do OcpoNmen<o de Policia ~ ao &lado do C=i. pata procedcn:a, l coc:olQ policial com
~jcó"!' de a,pouiar o cbndcstino Bright: Mal. acoa,paah>ndo-o ~ • cidw de~ Nii:lrio. ao pcz(odo de 31 de jaocit,, a 7 de f,a,,czcin> de 2002. iDc:luin<' o lrinsiio. com o-, limit.aoo. (Proccuo
l82QS~177/2002-9 o. O MJNlSTRO OE ESTADO DA JUSTIÇA. ao "'° d>. com
~- lbe foi dclc:coci> pelo~ n• t..3!1. dei de f=in> 199S. modifiodo pcloo Oca<,.o, n •• 2-J49, de IS de OúWl,ro de
lrl7. e l-02.S. de 12 de .abril de 1999. l)<"On'Og1 o pafodo de .r,., -..,,.., do l'Jls - knióoc"1:
JOSê FRANCISCO DE CASTlUlO NE!O. RENATO RO . ORJG<.TES BJJUlOSA e EURICO MOll!BRO MONlcNEGRO. ,-, da.cn\'Olvaan Mi<>lo Of"M:ial. nas Esadoc Uo.idoo da Arnáic.t..
o dia ' de lev=iro de 2002. incluiodo o tr.11tsi<o, coo, ÕOU1. (Proceuo ,.. 08200.025079/2001,26). · ~ . .
ALOYS!O NUNES FERREIRA
,q...n .• 'IO'ZICC'J
~ SECRETAR4- NACIONAL.DE JUSTIÇA )EPARTAMENTO PENITENClARlO NACIONAL
l"OKTAIUAS DE )O DE JANElllO DE 2002,
O DIRETOR DO DEPAJrrAMEtrn) PEN~pÁR.10
:]ONAI... do Mi.ni.sL6rio cio Ju,,iç.._ DO = de "'""' Wlbuiçô<>
. ""°'""' . ~ - i---, - ~ o A,quitcu, JOSé RICARDO PAOiECO - CREA n•. ! JOfD - l:>F. ,:cprc,a,taoie dazc Minis:érin. e °" Scnbota lill.00 · FER1lANDO l>E MEOE!llOS, CARLOS AUGUSTO CAU>AS DA ~,A .llÍNIOR e ANl'ÔNlO Al..BEltrO SA:nlRNO DIN[Z. rc- f =w.tcs da Sa:rclatia do Tnbolbo, da Jouzi? e d.& c;id>daAia d<> ~ Gtoadc 4o Noo1':, pan IOb • p,- do pnmcúo. <XXU-- 1 ,:m a Co,,,i&&$o iDcua,bícb. de promover • ~ T- ,us o. _ _.. de~ da Paül.coci.iria cm ~ - Nr.ia Aocuu - R_tj. Cooffilio .._• 07!/2000, e estando a mesma de OCV<do coa, os ç 'd_,,.... e ao:i<ávcis., cmltlc o rapectivg TERMO DE ACEl- 1,.,.;ÃO. 'I"" º""'PP"'" a~ de"""""'- 1 ~ - Dcsia,,a< oo i,gai1,c..,,. AIEXANDRE ALVES MAJCTlNS N.,_,o - CREA ~- 9675 • DP, e EDUARDO MARTINS TliOMÉ. • Cl=A ,._• l71!79 - MG, ~tes dazc ~ e oo So- •. ~ ANTONJQ E0S0N MARI1NS DA SD...VA e APOLO MAS !iAO IMAGUMA_ <e<p<>c<ivamcnlc ~ e ""- quilij.,de de ~ °" l;.agcal,ciroo ALEXANDRE AUGUSTO SEIXAS e 10- ,_ DIJAAOO CARDOSO R.OR1ANO."~'.dl.~;
processo n~: 2- +-"° 8 / o--o
Folha nº: V s !" Rubriea: A:_ z·
N"~2.- 7 quuua-feira 31 d - -'--- e Janeiro de 2()02 Diário Oficial
uri.:I d.a Admi11.is:tt'.,ç~o Pcnitencíiti •• da &t.xJo de S5o P-.wlo, ~ sob :1 p<Uidência do primeiro, c:onstit"i.rr:m • Cominio i.ncucnbtd.i de _..,., • 1~ T6c:ruc.> nas ob<>s de Conwução do Cawo de ~z.>Ç$0 de A.-.d - SP. Convênio,._• ll4/'2000, e c=ndo • mesma de KOcdo com OJ ~ nonn~h: e ~úvc:is. emiti.e' o rcspec<i"" TERMO DE ACEITAÇÃO. que i.rí compo< • ~ de coa<><.
N' 9 - 0..ign..- os E,,g<:n1,e.,,,. ALl;XANDRE ALVES MARn~S NETO - CREA n". 961S • DF. e EDUARDO MAIOlNS THOME - CREA L" 11179 ·MO.~ dc.lc MiniStó-io: e 0< Sc M<Ka ANTONIO EDSON MARTINS DA SILVA e APOLO MAS SAO IMAGUMA. rcspocúvama,u; Engcnhcin><. e n2 quo.!i<bdc de. Supla,tca os Engc,,hciros IJ.EXANDRE AUGUSTO SEIXAS e 10- SÉ EDUARDO CARDOSO A.ORJANO. ,q,rc,cnt.anu:> da Scac bti.. d> Adminis<r>ção P<,ii~ do E.udo de São Paulo, pan >ob & p=ídêoçio do primem>. COP>ti1<1..- & G.omiulo ...,.....i,;.i.. de promo-= • 1n-.~ Técnica .,.. obns de Cocuuuçio do Centro de Rasocwização de ~-. SP. Conv~io n.• IJ612000. e C>Undo a m:snu de x.ot'do com os p~ OO<'m3is e aceiú.vcis:. emiti(- o rcsp<CÚ"° lERMO DE ACEITAÇÃO. ~ ir.l «>'l'p<>r • ~~ de °"""'· N' LO. o..ign>< os e..ccn.'>ciros ALEXANDRE ALVES M.~RTl~S NETO - CR.EA n". 947S - DF. e EDUARDO !,iA.RTINS THOME -· CR.EA a..• 17879 • MG. ~ de.te Ministério. e os Sc nl>o= ANTONIO EDSON !dNtTINS DA SILVA e APOLO MAS SAO IMAGUMA. n:,pa:,iv>memc E,,gc,,hc:iros. e na quo.!,d;wlc de S~lcnt.c,, 0< Engenheiros ALEXANDRE AUGUSTO SEIXAS e JO SE EDUARDO CARDOSO A.ORJANO. RJ><CSC"Wlta d> Socrc uri.i d.3 A.dmiRn.tr.:1,ç~ Puii.ictv.;:iári.a da &Lado de Sl.o P:iulo. p.lr,4 sob a ~.1 do primein>, consü.tuM'an .:t. Colni~ iocumblJ.. de proa-cvcr • ~ T- ..,.. ob<u de Con""'ÇliO do Ccnt,o de ~soci>linç:io de Uns • SP. Coo-,ê<>io n.• 141/2000. e CSlMdo • micsm1 die: acordo COftl ~ ~ nomuis e accit.:5vcis. emi1i, " re,po;úvo TERMO OE ACEfTAÇÃO. QIIC i,j c,ompo,- a p<abç3o úc CIXl!ll.
N' U • Dcs,g,..,- os Et\~cnhciroo ALEXANDRE ALVES MAltllNS NETO - CKEA o". 967S • DF. e EDUARDO MARTINS TllOMÉ • CREA a.• 17879 - MG. ~ eles"' Muüumo, e °" Se nhoo:s ANTONIO EDSON 1'lAlrr!NS DA SlLVA e APOLO MAS SAO J~GU~ rcspccu111amc~ Engcnhc'irof.. eu qu~Hdidc <k Su_pkntn os En...,i,cin>< ALEXANDRE AUGUSTO SEIXAS e JQ. SE EDUARDO CARDOSO FLORIANO. rcprcscnUJucs da Secrc un.. da Adati~ Paúlét\CWÚ do E.sudo de Slo P.wlo. p,ra >ob • ~ do pcimciro. CON<ilui<=I • Co<n,uJo incumbida de promo.-c,- • ~ Téalic:a nas ob<u de Cons<ruçlo do Ccm,o de ~ de !',brili.a - SP. Coavblio n. • 14212000. e aww!o • .mcum. de acotdo com 0:1 pa,.:ir6ç_:s ~ e aoc:ithcis.. emitir o rcq,caivo TER.-.«> DE ACEITAÇÃO. q,,c id compoc •~de oonus..
ÁNGELO RONCAW DE RAMOS BARROS
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
POlrTAR.IAS DE 29 OE JANElRO DE lOOl
O DIREiOR-GERAL 00 DEPARTAMENTO DE POÚCIA RODOV1ÁJUJ,. FEDE:RA4 SUBSlTTIJI"O. wa.nóo da compc:<tnci., que lbc íoi au,"búíd,a pelo Oca-cio de 30 de ..ovcmbro dc 1999. publ>;.do "" ~ Ofic;i.,J da UoiJo de r de d<=mb<o de 1999, e an. un. incúo XVI. do RcpmcnlO ln=m. a~ pcla Polt>ri> Mitú=rul o• 166. de 16 de fevcmn, de 2001, publicada no Diirio OC~ da Uoiia de 19 w~ == N' áJ - Dcsig,..,-. MARCO ANTONIO MlRAl..HA BASTO. l'ohci,J Rodovürio Fodcnl do Qu>dto Pam>="' ~ Dcp<>rUmcnto. p;in ex.a= • íu.oçio de Oiefc de Núcleo de ~ EJpccw,. códis<> FG--03, da Seçã<, de PolÍcWt>allO e ~ da 19' Supcrin- ~ ~gioo.,1.
N' 6' - Di>pau&r. a pcd,da, GUARAO SlLVEll.O CAU.AJ. l'o- 6ci.al Roclavürio f.a:Sct.l do Q,..dn, ~ dcuc Oq,m,,ncoto. da fu.-.çlo de Cl>cfc de Nucloo Opc:nç6cs E.,pc,ciai>. código FG-03, da Scçlo de Policumcn.lo.c fuc.i.uçliO 19" Su~ Ro c,on,J
ALTAMJR.0 SAnll.l:R FlUiO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETmCAç}..ú
Na Pocuru DPRF/MJ a..• 002. de I SIO l.ol. public3da no DL.lóo Oí.cial da Uoilo ele L6"01J02. ~ li. onde t.e lt: • _,f' S..p<ri~.:. ~ ._ •• Distrila.-"·
t ·• ~ ~ ,-; J: . ; ; • : : : ~ t J ••• : ! 1 1 i ; =~:-i.~i~~'; .
FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDlO
l'OKTARU N' 51, DE 29 DE JANEIRO DE: 2002
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NAC10NAL 00 'iN DIO - fUNAI. PC> uso d.s :Hnbuiçõc,;, confcri.hs l"lo -"' 21 do Est:11u<o op<ovodo pelo Dc=<o n• 564. de 8 de junho ~e 1992, do coníom~ com o an.. 19 ~ Lei n• 6.0:JL de 19 de: J~..:mN'u tJc ICJ73. e aNtt o l.kcm.o n• LTIS. de 3 OC j:wk:iru tk 1996. t,:'Vhc.: . An. 1' Altc<>t o :ut. I' 1b l'o<W<i> n• IO~l<ES. puhlic-J.b no ~ Ofi~iA ~ Uni~ de= .C de j.inciru Jc 'l{KJ:!. Scçj., '2. :,.uh •.• lituindcJ o cohbur.Wot Aotõoio Alvçs de S.utt;,m:i Sobrinho. LC\:nic'1 cm a.,roaon.i..,.. pclo SCtVKLx'.AnWllk) UC P;:,,ul~ Nogucit'.l Nclo, cn ga,hci"' oeronomo. AOS tr>t,,.lho,. <Je idcntií=iio e dclim,e,ç~ .r, - Temi IAdi- Ar:>n do Alio J=
Ârt. r f:..'\1.:1 Pocuri:i. c:ntr.a cm vigor :1 p;utir de Sua pu· bl"'>Çâo.
GI..ENIO DA COSTA ALVAREZ
1
1
1
l'Ol!TAIUAS DE JO m; JANEIRO OE: 2002
O ~RESIDENTE SUl>STITIJ"TO DA FUNDAÇÃO NACIO NAL DO lNO!O - FUNAt nu u~ d..r..,;; ~nbutc_.-ôc:.< que lhe ,).ão coníctid;;b pdo &.l:~u1u. :tpror~o pclu Dccn:ta a.• .56,,C. Uc 08 de junho de 1992. ~yc;
N' n - An.J.• E,;onc-r.,, o servido, L!NOOL.FO MOREIRA JORGE. Técnico de Coabbêlid..ide. ní,·cl NI-A.lU. m:stóçul.l n• 044) 154, do c.ugo cm comiu5ô de Ô'lc(c do Serviço de Adminislr.>ç"~. códlgo DAS-tOLI. cb Adminisu..çSo Eiocu1iv:. Rc1;ion • .il de Gui~nÍJ, pu:i u qu.d foa no.itacado ,aJf.1.Yá ~ Pbruai:i Q• 4 751PKESl2001. An.r &u Port:uia cntr.a çm vi,or ~ dJ.b de W3 p..rblic:-...ç--:.0 •
N' 73 - Att. l" Nomcor o servido< JOSÉ REIMER JÚl':IOR. As ..istcnte AJnünílM°.ilÍ'i'O. nlvcl Nl-A..Ul. u~'1.ll.a n• 0444:!6~. p.:in cxcn:cr o ar,.c., cm con,i~ de ~(e Jo Sc"·4i,;o 4: Ac.Jmini,1..-J\·io. c6<llgo OAS- lOI. t. cb Aumipi)J.r..-_~1 &.C\."Uh\..a RL-i~ d.e G:1~m..1. IQ ~g.::t d.."'(:OCl'ulC' d:a ,1.pl:M.""3Ç~• d:.. Pl"1.ui:, n• 07!111lU~>tl!. An..T E9ib Pun:11-iJ i:nlr.l cl'l'I vi1,."tJ< ca ~-' rk ~ rubfo:.;.:t<t.
N' 74. Art.1' Dú,,c= o SàVMlu< UNDOLFO MOR.l:lRA JORGE. Tã:nícu de C~:.tiitubJc. nível Nt-A..UI. 1n.wícul..t ••• (>..;..l;l~J. J,1 Cl\c.~O de sub~iiu1u 00 Admini,tr .Mlor Rc~u 'O.ai. ~ôJi:~t• DAS t(J 1.3. mi Adm1ni:1otnç.io f.i:1Xuliv.a Rc~idrwl de Got~m.i. p.u:a o \IU.1.I (o("., dcign;xlo atr.avê~ dJ Pon . .ufa 11• S31/PRf..sr.?OOI. Art..r. áta Poruri~ et1&.r.ll cm "'''°' ru d.J.4~ de su..i put>1,c.1oÇSo.
N' 1S - Art.1" o.:.,,,,,,, r, ..,,-vido,- JOSÉ REIMER JÚNIOR. A, s.Ísl(:11tc Adminístrat.ívo,, tii\'d NI-A.lll. Rblricub. n• 0444162. p:M. subo:tiruic o Admioistr.ldo< Rqion:,J. códtgo DAS- 101.l. d, Admi · ni~ Ex«w.iv~ Regional de: Goi.!ni&. cm ~ irapcdiméllc~ k g~ dou cvcnrü.m. AA.r Es1II Pom.ri..:1. ca.i.r. em vigor IU cbu de s~ publ..:~.
AR:nJR NOBRE MENDES
cvf-.U•'~•
Ministério da Previdência e Assistência Social
GABINETE DO MINISTRO
RETIFICAÇÃO
Na POfWi.:i MPAS/OMIN" "l7. de tO 01.?002. publ\c.d> no DOU de li.O 1.2002. seção Z. pigina 11. oodc se lê; • -· por 2 (dou) an0,1 de CTWKbl.o. ,1 consar d.a da.b. de publicaç:M> dcsu. PtH1..ri:.L'". lc1:a I.c-: • -por 2 {dois)~ de IJW1<b(o. a conur de l&fJOf.2.00l•.
N• Potwia MPASIGMIN- 2-S. de l 0.01.2002. public..><b no DOU de 11.Dl.2002, sc,;ão 2. ~güu.17. oodc ,e 1c ·-· po..-2 (dotS) ano< de l!Wl<bto •• c:oow d, d&t.a de publ\caç;o desu l'O<Uri>.. •• 1c,~ ,c: • -po< 2 (dois) >n<>< de nw>d.w>. ~ c:on~ de 18/10/2001".
'fll--ª•'...u:a,u,
lNS'ITl"UTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GERÊNCIA EXECUTIVA EM ANÁPOUS
PORTARIA. N' YI, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2001
O Ccrc:nu: uccutiYO cm Adpolis/GO, no uso d3S atribui ~ que lhe QO coníaidas atr:a.vé.s ~ ?"fr.::SSIDCIPR.ES N- 401 de 20.11.2001, DOU l22 de 21.11.2001, Art. •. p>rigr.úo F. =• dcnndo o~ a• )S070.0012S31200l•77, r=>lvc:
&oocnc. • pçdido. a p,,úr de 08.11.2001, o sc,vido,- Wu ncy P2tdo Ncty Anlljo. molrlc;ul• n• 1.312.1!73, do cuio do= Pro cur.dor Fo:lcni. C1,.ssc 2, Padtia V. do Qu>dro Pa-nuu-lcntc d<>lc lnstiruu,
1 - • : '' 1 '. - ' CARLOS JOS~ DE CASql.9, - ._._-_. ~-·-= ··- .. - --- . ·-· ·- - - .. - ..• - - - - •.. - -- . - - -.- - - • - - - • ·- - - - - - - - - • - - - - •• ···- - - -- - - - . - -- ..• - - - •. - - - . - •.• - - . - --- - - - --- - .... -- --
·-
Processo n~ z ~i/~ Folha nº: Cf R Jo Rubrica: -A=G
/
Fundação Nacional do Índio MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
PORTARIA Nº 2 :5 4 IPRES ' Brasília,, 7 :!. de março de 2002.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições conferidas pelo art. 21 do Estatuto aprovado pelo Decreto n" 564, de 8 de junho de 1992, de conformidade com o art. 19 da Lei 6.00 l, de 19 de dezembro de 1973, e com o Decreto nº l. 775, de 8 de janeiro de 1996,
RESOLVE:
Art, l O Alterar o art. l O da Portaria nº 5 l/PRES, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2002, Seção 2, substituindo o engenheiro agrônomo Antônio de Paula Nogueira Neto pelo engenheiro agrônomo Luiz Antônio de Araújo, nos trabalhos de identificação e delimitação da Terra Indígena Arara do Alto Juruá (AC).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
:JsTA~Zt- -
Fundação Nacional ddÍndio MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Brasília, :...:..'.i de março de 2002
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições conferidas pelo art. 21 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 564, de 8 de junho de 1992, de conformidade com o art. 19 da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e com o Decreto nº l. 775, de 8 de janeiro de 1996,
RESOLVE:
Art. l º Alterar o art. l º da Portaria nº 1054/PRES, de 21 de dezembro de 2001, substituindo o engenheiro agrimensor Marcelo Elias Maschietto de Almeida pelo engenheiro agrimensor Jairo Barroso Verte, no referido GT de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do Alto Juruá, no Estado do Acre.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
~
•
---·
Processo n": 2+-0g /_o-;::J
fo\ha nº: lf K 3 Rubrica: - -d:_[_
m 5 -
Fundação Nacional dl1 Índio MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Brasília, . ./_. -~. de março de 2002
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições conferidas pelo art. 21 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 564, de 8 de junho de 1992, de conformidade .com o art. 19 da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e com o Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro de 1996,
RESOLVE:
Art.1 º Alterar o art.3° da Portaria nº 1054/PRES, publicada no Diário Oficial da União de 4 de janeiro de 2002, prorrogando o prazo dos trabalhos de campo da bióloga do GT de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do Alto Juruá, no Estado do Acre.por três dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
-
,7, seguada-feira, 25 de março de 2002 Diário Oficial da União.
O MOOSTRO DE ESTADO DA JUSllÇA. .......to da co,n. ~ allÍllllla pelo an. 38 d,, l.ci _. 9.112. de li de -de • ......,, raolwc::
W 797 • ~ MAIU)ll.RER RAMII.UiO ltJBe!RO. Po6cw ;,---,.- Fedc,.J do Qu>d,,, - - "''"islfõo. do •••• e-_, de...,.._ do~~ DAS-101.J. da 6" ~ llqioaal do Dcpo,tama,lo de Polícia Roclovi.iria r ......_ ~&-·~ PAULA QUBROZ FON'TEU.ES p,v,, ~ o r m. o6dia<> DAS-101.S;do ~ de Proc.eç.lo e Delesa ~-;~ de DiRico E<onõmõco._ cm seus npc:di-
)I• 199 • Doai- C\'NJlfIA !.OSSO PRUDENlc para """'6luic o
;.'."~ ~~dode°="'='~~ ~ ";!!!.~~ ~ ,00 • Daipa' SÉRGIO. MANUEL DE CASTRO, Polõóal Ro i91<iirio l'Qkt,d. do Qwdso l'limaoeGl.e - t,f'lftislirio, - IUbs j o s.,p,,·rt 1 e ~ DAS-101.3, da 6" ~ õlc~~ do ~ de i'l>lkia Rodovwia l'cld<nl. - ,,.... ...----...IL.
0 MltilS1RO DE ESTADO DA JUSTIÇA. uuodo da a,m. ~ - pelo iDcis<> r.-õo art. !•, do Dccrdo à' J.362. dc 10 l •cn:in> de 2000. caol\'F,
~I • ~. a pedido.. ISMAELJTA MA~ .U.VES DE - , do caiio de ~-O<nl. c6digo DAS-101.-', da Co >nSenadona Nocional pon lntcgioç1o da - - de De ' - 'CÍa do Dq,aiun,<:Dio de Promoçio doo [)itci<o, ~ da ;._ =ia de - do, Düci10$ -
.. ~"l. _;. ANA ANGá.JCA CAMPELO DE lú.8UQUER.·· ?a,;~. MELO cio _aiic> dc Coon1=ido<. çódigo ~101.J. ·d<I ~-·:: 4a ~ e do /ul<>IOSOCD&c da Sc=uria de fscado ··-- ·. ..>ll3 • Noo»<w MAIUO ~ CMI.VALHO MACHADO para
,r o caqo de O,cú: dc ~ códito DAS-101.4. da Se· =ia Nacioa>I de Scgu,aoça ~ 1icMc1o aoncndo do que .~.- !' 304 • Noa,ai- 8.lANI! PINHEIRO M.VES pan e= o c.,go k-~ """°'· c6di&o DAS-1023. do Oiid« do Depuua,c,iw, Nr ic ~ de Tdmilo da Sc=wia Eu,a,tiva.
ALOYSIO NUNES FERREIRA
DESPACHOS DO MINISTRO Em 'l2 6c, - de=
Q MJ:NISlllO DE ESTADO DA JUSTIÇA. m uso 11a com ei- q,,o. lbe f<>i deq,d,i pelo O.:C,,,U, a• 1.387. de 7 der •.•••.••••• ~ )S. IDO<lilio..s.> peb Doado& ,,.•, 2.349. de IS de ~ de <»,. e 3~ de 12 dt ,àii de 1m. """"""'o~- do 7,- . .
.,.,_ "- de P<,llcia Fcdcnl JUELC PINHEIRO GU .AXTE, JU.uu::t VARGAS DA CRUZ. SéRGIO LUIZ W/\.YHS e V- 1AM .ÃNGELO PRÁDO, - •.• D,;lop;ia dc hllci& Fe •• ,fD ltajaIISC. poni~ l =lm polià.,I ~ o objcâvo ·~os lib:rim ~ Smiu: e Johsm. l/Q, ..,.,.._.,,ndo • • cidade de ~ África do Sul. DO perlodo de 28 de ••.• .., a 4 de .,.;a de 2002. incluindo o _.,., co... ll,,,;s limibdo. l'l:P<=ao •• Ol492.00093ll200Ull). . . A ......so.a MARCILJ.NDIA DE FÁTIMA AR.AWO, da =cúria de - l.cpsl>tiyoa. - partiçipu do "Semwrio ~ ldi.aiRrial po11 a Aa>tri<& ~ e o c.n1,c·, aa <ida4o dc ~ ~ ,.. pc,fodo de 23 1 lll de - dc 2002. induiAclo tnnsilo, e=, &ius. (?rooeuo rr. 08005.0001 l.s/2002.36). ~ (Of. l!L •• 046sbp)
J . . .• .:; ·, - . ~AIJ<n a ~ de afasWDColo do f'w ~ DO ~- ~ Unilo 'li' 16, de 23 de jat><iro de 2002.. ~ 2. ,ia<>, 10. pon incluir o A-. de Polici& F'CdcnJ AmÔNIO AZFr
•• \ V!ElR.\ ~o ,!<> Dq,onamcnco de Pnllcia Fo:dcnl - DPf e ilc....c o pc,jodo po,o. 31 de~ a 7 de abril dc :lOOl. iadwxlo o ~- <OC116au limi<Ado. (J>,oocuo •• 0820S.0001'111.!001r36). .
ALOYSlO NUNES FERREiAA coe. a a·D4:s.t,p) SECRETARIA EXECUTIVA
N' 106 - Noroeac FERNANDA OAII.OA MACI ~o dc CIICfc de Scn-ôç,,. eódigo DAS-101.1. da~ de Coatn>lc de MCIQdo do Dc:puun,ec>lo de • ra. Ecoo6mica das..:-. de DitcilO -~- ./
H' 101 - Nomc>c RENA.TA TUMB/\. COSTA~~. ~ . 0..fc de Div~. <:ódic,, DAS-101.l. da ~ · ' __ Use de Infr.açõcs do& Seuxcs de _Apiculwnl e lndüstria do WDCnla de Pro<cç5o e Dcku lico<,õa,ic> da Sccttutia de Ecoo6mloo. f~ «~ do que .....imc- ocupa. ,"9f;,
JOSI: BONlFÁOO BORGES DE ANDa.llDl'I cor. a •• :wsE>
DEFENSORIA PÚBUCA DA UNIÃO PORTARIAS DE 2l DE.MARÇO DE :ZOOZ
A DEFENSORA l'ÚBUCA-GEll,\l. PA UNIÃO. u=wo das ~ que .,. üo ooatcridu pc1o uuio r. iAci>o x1u. o1o Ld Comj>laA<atlt •• IIJ. de 12 de ja,,ciro de 1994. ,aolve: ,. H' SI • E.<oc,cnr, • pedido, a p,ltir de 22.03.2002, HENRIQUE BRAVO COU.'( ouatricu1, S1AP€ o• 1341744., ocupan&c do cargo de Oc{cnsoc Nolico da UaiSo. de 2' ~ do Qu.dro da Ocfensoci• Publica da UoiSa. de oc.otdo ax11 o tlispos\o DO """° 34. da Lei a" 1.112. de 11.12.90.
N' .S9 - ~. a pedido. • pattlr de 22.0J.2002. l-EON'AAOO AU.IEIDA CÔR'TES DE CARVALHO, matlialla SIAPE n• 1341160. ocupa111c do e~ de Dclauoc Publ@ da Uniilo, de 7: ÔlcgDfÚ.. do Quad,,, da Ocf- P>lblico> da Unilo, de acordo com o dispOSIO "" artigo 34. da Lei o• 9.112.. de 11.12.90
Af,/NE EUSABET'H NUNES DE OLIVEIRA (Oí. EI. •• 137/dj>o,)
DEPARTAMENTO DE POÚCIA FEDERAL
PORTARJAS OE ll DE MARÇO DE l002
O OJRETOR-GEltAL DO ~AMENTO DE l'OÚOA FEDERA!.. .......i., da ~ia que lbe foi ,ubdclegada pelo attigo I'. icem IU. da l'o<uri> Minislcial n' SO-MJ, de 10.02.95, p,,blicad., oo Diitio Oficial à Uailo de l l.02.9S. n:solvc:
N' 259 • Coaced<r apo,eoudo<u "°""'-úna hxcp-al • ltEUO JOSÉ DOS SAtOOS. Gl.1U!cub SI.APE n' 111.1n. oeupa,,<e do QI'&() de EsaMo de l'<>llci. l'cdenl. a...c E,pocial. do Quadro de PcuoaJ c1c> ~ de Policia l'<dcnl. """' fiuldoioalo "" waa 1·. i<= 1. d., Lei~ a" SI, de 20.12.8.S. a,,n a Y.11\UC""' da Gnti<,oçio de Atividade -.._ p-c<uta "" WJO l" à Lei Oclep!a a• 13, de 27.Cla.92. elas Gnotií,o;6c, de A.tówidade Policial FcdcRl. ~ Ocp,,ica e AJi.-idade de Risco. IIOdas ..,... ...,-. pelo utieo 4' da Lei •' 9.166. de 1S.o3.96. da ~ de Kobilitaçio Policial Fcdcnl ~ pelo ,rui,, s-. Ílcm u. da lci a• 9.i66196. d& po=la ~ d& ~ po< Opc,oç6cs Espc,:i,js (cujo <a•>bdcrim<No se deoi poc ~ ju.dicial). • que ~ rcf=m ao flocrcto...ui ,,., 1.714. de 21.11.79 e 2.37.!. de 18.I I.B7. ~ MP a• 2009-1.00. e d& \lamacca> Ptuoal
~~-~anig~~'!"~·~~!.~: de OW912()ÇJ. (Pi-..o a" 082&5..000691nool,~).-
N· l60 • ~ opo,eotadori& --. ;;,.,,·s,il a ROBEKTO P1NIO SCHWEITZER., macricula SIAPe ll': 1?8..9-41, OOUp>Dle do ""'º de DcL:g>do de Pollci.a F.odcnJ. Ouse úpc,çw; do Qu.dm dc Pcssoal do Dcporu,mc,t.o de P<wcia Fc<lcnl··c:ói,, tu,,da,nc,,lo no utiaa r. n.an r. da Lci eoa,~ .;~,r;de 20.12.u. coo, a •anut= da G~ de Alividodo Euo,liva. pccYiA& no otligo J" d& Lei Dclcgad., D" 1). de 27.QS.92_ daJ Gnru:qçõcs de ÁliYidadc Policial Fcdenl. ~ O!pn.ic:a_ ~ ~ de Ri=, lodaa i.mpond.u pelo wro 4' tia Lei o" 9.266. cb tS.03.96. da iooc,,izAçio de lubíliuçlo Poll<ial F- w.eiunda pelo attigo S'. itan r. c1., Lei D" 9.266/96, da P"=il it>oo<ponda'.d.a.Gmií,c>çlo po< {)pe· r.,ç6cs &pcci.lis (cujo resubclccin>:nlo se deu. po, dekrmill>Çilo ju dicial). a que se t'CÍCt""1 oo Docttl,>s-Lci ri', 1.714. de 21.11.79 e 2.372. dc 18.1 l .lr7, otow1n,,,,.. pç4 MP ,.. 2009-1/00, e da Vmugcm Pessoal Nominalmcn1C ldcntifw;a&. - VPNI. p<'OYist& oo anlgo 62-A da Lei a• &. I 12/90, -==i4o pelo wgo 3" da Mcdid& Provis6ti.a n• 2.ns-.5. de 1).1.09.0l. (~ ,,- 0&49Q.OOIS40/2002-0S).
AG!uO MONTI:IRO fU.HO (0<. EJ. a• Ol2-E--SAP1CP)
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
POIUAJUAS DE li DE MARÇO DE_l002
Al.f... r O Grupo S<Ci <:n<np<WO pelo, ltcnicos: Aynon lun Ussomi - ~ ARfl)Aomo. Consullor RJNAIIUNESCO. loudo oo ~ ~~~/D~ FUvio u,;~ Ô>mc • En- ~ ~~~ o de$loeatnc!lto cios Técnicos ._. cidades de: SJo Pulo. BIIW\I e "'°"'"guá. IIO Esudo de SJo Paulo. CO<\· •
o ll'U" clc 15 (qwm.e) das pato. 1 rc>liuçio dos !Dba-
··111 Ait. ~ Ddcnnib:w ~ que_ ~ Ad,niQis~~ EJt~UV3 ~ &.n. p<alc o ."P"'º ~ noccuirio l ~•uçâo
<.,t_ J" EI(\ l'ocUri.a COln, em •ÍJOC "" ct. •.• de SUi pú• · aç.o. O l'RESll>ENTE DA FUNDAÇÃO NAOONAI. DO ÍN DIO • f\lHAI. - uso 4u a<tibo~ conf<ridu .s:;,to an. 21 do ==:.~ ~ 'i.t:i 6.00~.&dedcl~u ~ ~~ ~ 197}. e com• D<aciO •º l.77S, de 8 de janeiro de 1996. resolve; ·-.~~Õi~-,;r~::,i;t=~s~~~~~i:. tiluilldo o ~ ~ Anl6nio J.: Poub ~u..~r• Nctu ~;-~ r~ 't,à~bl~~·z-~ do '1':.!~.::'.i (AC). bl~ Art. 1" &ui Purtori• ...in cm '''"' • pani( dc :,u~ pu·
N' 2S.S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l'ofun, n• 105-VPRES, de 21 de dc"n:mbto de '200J~ wbsliwíodo o cnl:'!"hci.ro ::1grimcn"<Jr M;ucdo ~=~~:'~'at~~,.~~ ~&i=~~~-1!;:; lodígc:u Aan do Alto Juruá, DO Esudo do Acre.
Ar<. %°' EslJi Pott.uia etltn. Cffl ..-1,or .t. p::ul.ir de SüJ. pú-
blieapo. Gt..fulO DA COSTA A1.VAREZ
PORTARIAS DE 22 DE: MAIIÇO JlE l002
' O PllESIDENTE DA flJNPAÇÃO NACIONAi. 00 ÍN- g:~.;., ~ ao~ ~:t~~ r:~ ~ºc1c"'rJ1. :rc c:oafotmidodc c.,,u o an. 19 d& J.ei 6.IXJI. <Jc: l~c da.cmbrn de 1973, e com o D=-c:to •• 1.ns. de & de jancuo de 1996. resolve: W 256 • Art.t• Alccar o an.)' da Pnnari:, n• 1054/PRES, publleoc!a ~:-1 da ~5o .!'~~~~~ ~2i,~~ i.páct lJ.; 1ctcnúf.a,çio e ~bção d.a TCll3 hdig~ A.n,-., do l11u Juru:t no e.to.do do ~ <ris dia.. blM:.IÇio. Ar!,- r Eu,, fO('U.tU. CIW'a Cm vigor .a ~ir de !tUA pt.1·
(Oí. EI. a" 130/DAF/OI)
O l'IISSIOEl'lTE DA f\lNOAÇÃO NAOONAI. tx> (N- ~.;..,_FU~ ;:'o~~~~ "õs '!' ;!.T1~:i'. oaolve:
W 258 •. Arc.,!1 Tlltllat insu.bsi.stcntc e ,&çiu ~tn efeito a Pocu.ti.:. a• 2031PRES; de D.o3.2002.. que •• ........,. a servido< OSVALPO AMORIM SO~. do ""'liº cm comissão de O>cfc do Scn-iço &o A>sistã,cia, c6dl,io DAS-101.1. da Admiruswção Eluecuti<a Regio nal de Baaa do Cotoh.
. ~ t&ta Po<úrio cmra cm ,vigor IIÃ d,&u. de sua publi- QÇ6o.. .; ; o,rl".;.1i ,•• i•• •• ,(• r •
N' 2S9 '! Àh. >\'-f.,...... imub,istcnli c·'sciiiãaÍliiuu oícico • Pwutia •• 204JPRES. de 13.03.2002. que disJlCIUOO o SCNidoc OSVALDO AMOIU!lf·~ do - de ,abs<,...., do /\.dtn;ais<rodor Rc gioool.. códip.DAS-101.l. d., Adminisnw;J<, l!u,:ulin Regional de San.ado.~ •.. , ,,4
Art-r E.5u Portaria ea.tn. cm viioê e.a d.ua de ~ publi4 ~ ·" ,. GLENIO DA COSTA AI.VAREZ
{OI'. a •. 0661Slia.>
" SE •.••••• ~C>IR..E~ 'L.JI S-~R.I C> 5- ~ pela ·diwlgação dos atos oficiais do governo,
• ~~ lnlonnaqueMO possui represenlantM comerciais. nem revendedores
aulorizados. Pooanlo,ei;, !lã,) SII responsabiliza poí QUaÕSQUef serviçoa
prestados por lerceiros ou pela attlenliádade de doc ...,....,'os po,1inonles, fomeódos pelos mesmos.
~S ESCtAAECIMENTOS PflO TElffONE° ... ·-
0800 61 9900
O COORDfNAD()jl-{;fM.L OE flSCALJZAÇÃO do 1!"~-rlTUTO NA.ClON,U. DO SEGt:RO SOC1"1. • SUBSTJWl'O . 11.1.) '1.1iO d;b. ~íçõe-si, que. 111c do c.onfcnd.u pe!u. inciM.K !, U. UI, IX e XU ~~ ""· )8 do R~ro lrnemo dó INSS. :,pn,v.do pda P~tft...ln• M..nu.t=n:,i D' J..c.64. de 27 ce ,c:tcmb{o Jc. ?U01. con....i c.lt..,...Jl'\Ju .a RC".; •• ~ di:: i,:npnmír fl1.M.ior :c!end..ld:: 11 ~ fhc.i• G-A ~d.;~ ,;.ot't\ntM...iatcs OI ~id!nci" So:::ui.J, co,u.z:4nt~ tSo Pl.4n,n de: -\{1J ,lo ~ de ~ .••• , C<m•i<lcnodo •• d•'!"'<•,-õc• cos >m }º e 6º do Po<taria INSSIOIRAR n• l l. de 1~ d<!""'"º de !t.(J::!, <;uc U.il...i.-n, ,~~cisw.a.rnc.ntc.. 41,1 c:-o,u.tiwiflo de ,C"Upo., de: u.1111-
h...ilhC p1r.1 • CU.C"",,-li• * ~'l,eti \."Ol.>t<.k~•• de fi,.çollliL.IÇlk> e das IC"l{'Utl...ab.1'41.dr: ;~:;. ::..·-+:t~ a l,Cl'Cnt C.lCCUtad..i:ii cm n:Z~·lo • <..IÜ• ut:UL d.A~ n1c.aa. Jr.., .;.,1~ :~ .• w de Ai"Ao: Ç()O,i,,der.ndo • oe .;"" •-!... ~ d-:" !""l"'!'..,-ic muor oPCC•cioo..1hd~ ..- p,u::cd.Jmc.nto<t de ~~"-~"h..n~>"'- "•Ml•:í;ç o: o'JTW:: •. , IIÇOc.a: fü,co.is desen ,uh. ')· :-•· e:.~ .• -:'..., Rift ,Jc. J.nc•f'T'I, ,c~::._.c:._
""· 1' e, . ..-,....., C..up...,.:., r•,:..,.lt,o (GTJ <um a fimilod.idc ó.e .,.&4-:\ÓCT L aç.õiõ tlK.li.s Q1JC en"'<'!.,•m coauibul.fltu da prcvidtncia .A·,.t ao Eltldo do Rio de Janeiro. Up«:~ em rdaçiO li. d..·~ ........S.. :lo AuJJ.IOcia,Ccnl e Proc,,,~on.-0<,al. ~e i1 •• Úl\J10. b::ci q,.n; f4. ---•~;..~,:i -:,,, t:"'°':"~'\t: da Uru.So. Min1~thi.o Vut>l..aJ ~ Soe~ Ec.d,...-:-IM (W: ~~,n,4e lntcrno e. IX'I,~ ;afi.ns.
An. l" O GT ..:ri o,ropu.1o po< um Supcr,,isor e um C.,.. :>nkl\aOOf T6c1ti<o. a quem ji,cumbi,, e orieelaÇlo doi Cnb•lhoa ;d.em de uma Equipe T&:ra COC.C&Wída m~,al~ pôf" cn.:,~ :.. ' ~:·,. -e- r-.c--u: d,i p-cvtdb)ci.a soci.aJ, mcnc~ no ...-e. ?-. pod.:Mo C'_Cc 1,1:Ü,1•~~ L:J :!.t;,C•,;'4,: f:rt ~t! :.: ! .&'"' ~ •• a cri\.trio dc1t.,, C~. ~OI ÍUIIÇI,<) da eece •• idMfe ÓO l<<'<,ÇO-
.:, ~·t'o.,?"' •- ;._~.,,·:...r. O COORDENADOR GERAL D€ FlSCAJ.JZAÇÀO IX 1 · ...i.,,,, o~ nwu:o. !.':~Tl ~:;·_,) JI l('-(•K'\L .,o SEGURO SOCIAL - JNSS. "" UM
1 l~,. .• ...c,-.t ? of •• ,.__,6 _ ::':.:--:~~- '1o,c. ,nu:2:r7::atc~ dó dN atribuiçõct ~ lhe fon.m conferidu pelo, tn<.:il.CX l, ll. li.l. e VI GT COffl. a. Udidu:ies ~ uo 111~X e vt~ ..__,"'-:!,•.-:: 4 11• '>·· ,:.1 &:!Í~ .•. 1 dt c..C.~ ,:, .•. ~~-;-;imenW do INSS, 11.pro"&e» pciu-OC...TÇ\1
·- •1J.>- -------------- -- -- -·- •.•.• - •.•.• - n• lJDS~ de oe oe,juftllO ~ 2001. combLJ\~ Co(U w 1nclt.v5 VI.
ITANOit NEVES CA~EIRO
,....., CX. El o" ó< 1-E-:'lAl'ICP)
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
l'()RTAIUA N' 41, OE 16 OE ',{AIO llE ~l
~ C P!U..S!DENTI'. DA RJSDAÇÀO NAClúNAL 00 IN- .JJO - fUNA(. 0<> u«> da, a1tibwçõc.> ~ U... >lu c.,nf"'kÚ, pelo
r-~ ~::~ ,.tt ~~:;,~~~ i: ~ ~r .i!~~ .-..olvc
,,,_ Att t• Ct)ru.fit1J.1r GNp7 T~nic-o Cc..'ffl ~ r:.aw.1.d...dc ck p,1. .•.. .âlcl • •• hu...,""'6.J do k11rwamen10 (un<L.00, M\. id....çcuft<°11J1.I(."\). Jc,
. ~ e <..anoh~ ~as IX".1p&Ç6es de nlo llld~ ea~ nt.,. lemtth ..-~ len.11 lndiaic:1\.1 fOTJGUARA~ loçdu~d• r.o- munic..~ de B.uu
::.ii Tni,çSG. Mun..n.s.ao.rc e R.0 Tio&u. Eu..i.óo .,.. P.i~ib... hicoOwwCli~ ..-~w~ t..,Ju:wn.11 ,ndíj(,C"UI pck> 0ct;TC1u de ~~ Jc ot.1uhn.t dcf
M. 2- O Cru;.o ~j ~~to pc;.c...s &é...n.~ FR .),,~li ~O DE. ASSIS FtNHEIRO • Técmco de Ag:1<ulwn e l',;cu.il-101rt:NAI ,·
--.iREMA oté V . .._ ~C-ONC"ELOS SAl'ITOS - ér,~eni..,in, A~<&unu .ol~,._!PB
M J• A1JfNlZ.W' a âcaluc~.n~r.w Jua. ~"Kio.t") 11uc \"1..1111· _... 'Õe:m u tt'ÍC;r-'W Gn.p.> Téct!iÍCO à iupr.K.,tad.J. l:tr.1 in.JCi:en-1. VL'Wf\.h..
•• 11 CW'l1p.,·,,ncN,> ~ ob)C(l'"tl,I. p.~ oc ~ 1• dcs.t.ii Pori'11u ~,do ú prazo de: 60 dt.a:a p.al.A • n:~h.z..yt., J.l lc', ii,\wllk:O(CI d,. ' $IP" e 410 tcbtlôrio wac:Lu\lva. -. Cônl.U' d.J. U.&.La 00 i1tk,.iu J .•. , $~ ,c<ldo o, u-.dwlho,$ nunc""°4 flCI~ l'ot1ari., o·
,nES/2000 e l""""f'° E!.tccuu,a o• ;.;:DAF~ Ast. ("' Octcm»A.r aiadl que .a A.d.mcn1.u-~r.o El(a:,.ni, :.a de Jok, Pe,so,.. pi::a:t.e o apoia lOi,f:.u ••.. cc r.oc(:~·fo à rl!.J.
hb,.l"
GLENIO DA COSTA~- \'All.l:::L
li.r.;"~'<:.<:t.Ç.~(\
_.. Com ~fm.- ...• ao !l\. 1· da PDRTARJA N' 1 OS4, De 2, .JE OEZ.EMBRO OE ")llOl. ~ roo D'4l>O úfu:,oJ <12 Umfo õc
~ ~ ~""' A.. 2n02... Seyio l. ~ 13, onde. i.: lt ·EJtOfl:c "11ichn .Cjv, O.A !.);,.i. ç•,i.. <, Lo,.on..~ •',!},. l,c._..,:. -(.'.OI',· c.,,.ll;; ~ •. n-1
,.!""'!"h<n ~ """sul<on/1':"l.!0'. í EI. n• :74JOAFI ··--·-- -----
SECRETARIA . ACUONAL DE JUSTLÇA DEPARTAM.EN10 , ENITENCIÁR10 NAQÔNAL
POkTARIA N' 7t, Of: IS DE MAIO DE :IIM!l
O DIRETOR DO DEl'ARTAMENTI) Pf.NITENCIÁRIO NACIOt.AL - 01:Pl:N. du Mu,i.-imo <i, - •• ~. AO uw <lo ....,,. .,nlN'\-óc< lc1:"'-. rê.olv,,:
J)e,;i~nu Cá.IA REGINA CE AZEYWO E SOL'ZA. ce <>hl<o..Jor• de """'"'!"""""""""' Jc t;ori1&.s. FRANCl5'..""'0 OT"· YIANO CAMl'El.O, Cu<llado,- • CRCIOF O!s.llS/0·6: JCÁTIA RE Gll"A SAJU):~ttA, hicólop • CRP Ol/80?0; MARIA ALDERIZA
~t~:~ru~.JJ\,~'1~,~~J-M1t,tt'~ó': SANGSU. PEIXOTO SA/S"TA RITA. A...- Social - CRESS 2Ul!S' Repio; TEkEZA CRISTINA CAVAl.CANTI SOBRAL. A,J. •oe..J.. OAtl!OF 15620; e CEILA MACHADO OE SOUZA. a •. d\.wcl cm D,,,ci.(.o_ ~- wh a ~&..l dol ~ COA,,,ltt:ufrem o. C411jM~ ÚI: AÃÍ4n,&!' d..!~ Soit.·W1. • CAPS.. "!4,imb.J:.1 de ,...,....... • ~ l6cAica cio: ~iob.Jid.J<: duo pcujel.o< ..,.,;ais 11$>«· ...,.-, poc ~ e ..,.õd.dc. iDcc,r..,,tc> cio S1S1cma ~renci"1o N.:,ioul. • par,,r cw difc<riz.c• e ailtri<n uubc~ petc DEPEN ~ 1,t,ençjo de m:v.- 4o ftJNDO l"ENr.ENCÁRIO NACIO ~Al - fliNPEN. r,u< n,ao d. c,;leAlé->çlo d< COG(ffllOI e con~io<.
ÁNGELO RONCAU.l 0€ lt .••• MOS BARROS
<Of ti n• 1~7-01:.1'1'.NI
Minist&io da Previdência e Assistência Social
SECRETARIA EXECU1WA POÍlTAJU"- N• l1J. PE 15 DE MAIO DE 20<l2
() SilCIU!TÁJUO EXECUTIVO oo MINISTÉR.IO DA ~ il ~CIA SOCIAL. na ""° do 1trlbuiçlo - ••• ~ o -1iao l• lla Pc.n.,ri;, MPASIGM/N'" 1.672. !"'· blic»á - Dia.i,o Oíiáá de 17 de fcveceito o: 2000. n:sol=
~" e<>o<ar dc )0{"2002. o ..,.,idoc TARCISO RÔ lo41JLO .MELO.~ AI.MEIDA. marfcul& n• 1293300. do -~ em ~ 4.: ~ cOc1i,o DAS-132..2, ó& Suto.c=taria de PI•· ~~e Adli,ü,...,._Jo d.e.lo M""•ttna .•••• •mude de-~ •••• -.,.,..,.
IOHANESS ECK
(O( EJ. ti' J49J
(!IIStnVfO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL ~ DE ARRECADAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FlSCALlZAÇÃO l'OIITAJUA k" J:S, DE J.ol DE Al!RIL DE Jetl
Processo nº:
1
W - ~ 01 ,conlJI~ eotn ~ Ccrtnci.u-E-.o..;:ut'vas "'' ..,,do 00 de,loc:amenLo do CO<tlijlCnlC (~ l>«:C~O pano ,iabúiz. a execuçi<: doo p,ojcto&. OIMdo o COO<denado< d• RegiJo P,oc, li:
V - manter-te ufa;ulado com °" eoof'denadon:, 16crJc°' do 1cvpos de trab4lbo cooatituíd&K cm outru n:s.il'lc.1ri fiJ1iCais oe un1rJôdc': d,. (~. ClõpOcialma,,c cm rc~ b "111,-ÕCI fo.c.aii. ~oh.ad..~ p:ir. bl°""" oo i$UPO& ecO<IÕ<ni<o< que •• i:=ndc,n por mai. de wn. clclu;
Vl •. coavocar ~ .woi,~ fo,.c-4:is F4' i,uc:.vM<-m • ~ip.. T6:ni~a. ~~ida () Coordcn.J.o< clu RcJiiu F.M:Jd ([~
Vil - inNnncd.l.at o cn.c•cum.buncnta jo. J>(Ojdo. da Co C<dcn•?O d< ~,o d• Açlo FiMCal p•n w.ntl1oe <lo Co ~T6cn.ico,e ·
Vlll - '''""''""'h.&t os re.ul:adus °"""""aáo< ~lo GT. An. t;" Compae "" Cooroenod<>< Tócnoco: J - i11dicar e. scn"i~ H\tC:.fnl\(C'i: lk Eqúi~ T«t1.ica. fl · ~lit.::ir .._ fWOJCCo< twi."~ d;,i (;oon.k.n~·jo ÓC ('n,•
lt:...CLIUUr..aLO Ja A{lo f"~ ç enc,uni""-'•fos.. 'f"U01U KCCC~O. i.., ~E>.«11tiu., e,wulv.du. "'"' pc-ejuEw da> atribuições Ju Su· pan00<.
lf1 - MteUOC'.C ., ,GgtlJCUt-~VM 110 wmprimcn,to ik ..,.. ""'~ mac,oa>dro> com o objdo ddca Portati.L
IV • .,......;o1u.r ao Supc<ViM>r u ioíocnu..,õe< e: wa ••• a... tt«el,IN.,.,. vi~ AO "P(1t00ntnc11.to doe pcojci.o.._ bc:m como 01. ,....i...iu. oblidoo;
" ~ ~ru.ar • c..-..:tn..tta:i.a pun. a opc:cGC ••• tO.-J;.,..-.ç4,,o d.ui• IUC· dx.la.. ,_-cvh,u ~ pro~"10i J..:m~;
VJ - aco,npaAhat a e,ecuçio doo pn,po,.. dctinir.oo m<· i:.:.1R1-1fn0.S. par.a qQ(!<M'ml2..'Çlo ~ ~,(Oi, Pf'C'COIJ,mcmo. fc,,c.-i,.
VU • ~i.;ar aa ~õc,. C'1'ttt.bc:b.:~a& nw. prujck,n, 1.. .1, otiV>dade> d<oe.tsolvl<lu pcla Eqo,p; Técnic.,_ Além de focne,.-cr " rcspal<lo 16coico lta:<:&&4rio:
Vlll • propo< .., Supcn'u.or •• mod>da.< 4c com""1G t cv,uiu
e • ~,~ ~':; a& kêCUJdadc.s ck c,à..,...,-,.;,u.o PO lm!Ht.o do c;r e a,.:lxnclt,lu ao s.,pc,rv,- po,a ~ e providtnciu qy;an. IU • M t=~ •• 1C (o,- O Cll.>O;
X • orw-.uit e ~ u pe,qu, ••• dcnu.ndad,,a pdo Su pcr<l>O<;
XI - colctoc tuJesl.õc• e in!onnoçõca.. j~oco t,. ~u faoe\llivaa, que ve,,ham • ...t,..idiat no plancjomcnlo <14" aç6a da DimotLa de~;
XJ! • procede< 00< t»<imento1 PGTSIRAJ~ du e~ o!>jc<o de aç1o !IIC.II;
XlO - •~ oiutas aüv~ &Cllu:lt&d.a. pçlar C0otó<:· "~Gcnl de !'llcalw,c;l<l.
An. ,. ~ à Equipe T6co,a: 1 • C.I.O(JJW' IUH a,:ivid.dei ~ coa(urtn..kl&Jc- com o C::t,.·
ubclccido pelo Coord<:mdor ncàico; ll • fioealiu, OII reí..al,.zar •• C:lllf><CS•• QUO lhe (on;m
~ J'l'lo ~Técnico.~~ a e.lé = 1&16rio >em&nal ~ o ud1men<o 4oo tnbalhol;
W - _...., n:1"'64io fiul du ~ de ,cliacaiiuçlo coni • ~ cwa e: iwcu.a do, fwoa ~ cu,i,in.ooa e alo cono~ cai fbcaliuçú<s anu:ria(C$, b,;m oomo do poncdo fi> aJi.u.do. nome e rc.a,,trlcula dois auditorci filiC&ll cn\oUJ\old°'.
l'u{v,lo úaiai. A E.qu lj>C Téc4ic, "' .-..,ottlrl. dln,wnoa,.e .o Coordcnado< Téarico.
An. 6• No que M: ref~ ~ açAcl. que: envolv~m OtJUlb rea,i6ci f"ucau. ou um~ d.a fcdcN6Çlo. a artkul~o c..·utu .u: rcí.4 pccth·.s. C",ct!ac:i.e--Ea.ocufra.~ M:t"1 ~ f>()( in~dio cJu Su pcr,-u.oc.
An 7" Sem pccjufw &, posieti.o< •"':nç4o.-"' ;tlm-, Ju GT saâo d.cx.avoJv~du ll;i. A'lic:,ud~ B de m.&io. n· ll, M"' .nJ...iu-. C.cntru. Rio de hnciro - RJ. com IRÍCIO ~vis.to p&r11 • d.ida dt: pubhcoç'° desa Poctaria.
An r As unO\.l~ÕQ de Supcrv"Ot" Ctcat.1.0 •• o~o do Kr 'W'idor Wattt;r Cc~ Muquc:. No"-QCI,· ~-u•• SiAPE n• L:?j.1..l)O <: u de: Cuod.cn,w:ioc-T«nicu ~clll(.i(.) • C.WiO do i.erw-idof Elder F.iklu Alves, n'WU"K:Ula SLAPE 11• 0.9S4.&49, ambos •. u.:füun:i. fi.w..·.iu• d...i p.n::vi~n:liCK:ial,
A.n r A. Equipe T6cn(ç1e óc: quÇ wal.a o .,.L 2· w:1, COMpui.1.1 pc.106 KtJ~in:CS ffiCfflbro.il·
1 ~ J4rio Cetu, VlC"tro1 Gom,:..,_ m4lrlculil SIAl'E n •• l.H6 240.
U - E1h:.1 S-.mparu Fccm::. fflu(Ócul• SJAPE n• l.~17 067· 111 · Moela f:cm:1r.a G:.u\..1a Bor)c:i., m..uk:1.11a SI .._PC· 11•
1 251.92]; IV - llcowiz Bor\:« H,wcn. 1t>i1'1fcul• SIA?E n' 1.258 SiíS:
• V • LIIICOI~ L,,pc, de Albuqw:niuc. mamcola SIAPE r."
l 140.S2S . AzL 1 O. O.. aavi4oce< u,liK:odo& pera o GT cononu>rlo lo
u.d,o,e cm :ICU.* ~aia de oriaem f: otulo ~ d.iapouçlo da Ocrc:t.orn d< Anu:od.çla pelo pufodo necc-sdno l leal~ de ...., r.ú vuJ,,. da;.
An. U &a Pon.J.n11. ~Rll'V':3 em ._.,,OI' ~ d.6t.a ck J.U" pu blicoçw.
\\<.• °"DE.RLE \' PEII.E!JlA ME;,:::>ES
PORTAlilJAS DE 1• tlE MAIO D~ lOOl
/
728 -72'5$
1 735
1
0002- 9002
-v1cr-
~- ..• , 735 742
SINAIS CONVENCIONAIS
11 1 N I S T ~ R-1 O D A J U S T I Ç A. CJ TBIRA IHllklacl\PEUYT-
Ir COÇA
K)> FeSCII
~ ROÇA
~ =A
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
DIRETORIA OE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - OAF
RODOW\PAW<EHT;lll,\. li .. RÓooWlNIDPAV. PERIWENTE
r- ARARADORIOAMÕNIA 1:.~.~:',.'.'. .... '"""'- 1 16.IIOO lla 6" km
MARECHALTHAUMATURGO l!SCAlA:
1:130.000 DATA!
=---- ~IIAOPAV.PBIIÓQCA- ~
~;=-----;:,.._ -IIIO!'ElllWEN'll!-RIO~
~ -::_-_-_ lAOOOULAOOA - lERRENOSUJBfOÃINUNDAÇ,\O
0 ~ POMTODIOITN.UADO - DIREÇAOOECORllBITE
13/12/2002
SC.18-X-0-11
_,,-. 1.054/2001
;.:., .
_-..:.:.
,;,-...,, '
•,;...._
,_
ANEX03
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO ,...._
,...._
,-- -!.
,.....
,,...
-- ,,...
.-.. r":
~ ...
~ ,.-- .
.-.. ,-
.-..
- -- ,,...
,,-.
,,-.
;,-
,.....
,,...... •. ~ ,-..
,,.....
- ,,......
Arara do Rio Amônia - 2001 (""-
Arara (Identificação Incerta) /
Arara Fora do Rio Amônia /
Esquema Genealógico C. ~ ~~
)
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO - ARARA DO RIO AMÔNIA - 2001
CASA lcoLOCAÇÃO jNOME, 1 PARENTESCO 1 SEXO \ IDADE
1 Macivaldo Oliveira de Almeida FILHO DE 40 M 23 2 Maria Ivanilde Gomes Martins esposa F 24
I Montevidéu 3 Maria Daiane Martins Almeida filha F 6 4 Eulisvaldo Martins Almeida filho M 5 5 Paulina Martins Almeida filha F 1 NI Adelson Martins pai de 2 • NI Sa M ?
6 José Railson Forquilha de Souza FILHO DE 26 M 21 II Montevidéu Nl Antônia Kátia Neves da Silva esposa • NI 6a F ?
7 Glória Forquilha Silva filha F 3 8 Talita Forqulha Silva filha F 1
9 Josimar Forquilha de Souza FILHO DE 26 M 36 10 Fátima Souza de Lima esposa F 34 11 Maria de Fátima Souza de Lima filha F 15 12 Sumara Souza de Lima filha F 14
III Montevidéu 13 Marinaldo Souza de Lima filho M 10 14 Maricildo Souza de Lima filho M 9 15 Marcone Souza de Lima filho M 7 16 Darison Souza de Lima filho M 6 17 Mariscn Souza de Lima filho M 3 18 Railsa Souza de Lima filha F 2
NI Francisco Eugênio Moreira ('Assis') NI - 18a M 49 19 Maria do Perpétuo Socorro Siqueira Lima esposa F 39 20 Sandra Maria Lima Moreira filha F 19 -·
IV Montevideu 21 Antônio Eder Lima Moreira filho M 17 22 Francisco Eugênio Moreira Filho filho M 16 23 Maria Marclis Lima Moreira filha F 13 24 Antônia Alessandra Lima Moreira filha F 10 25 Maria Alessandra Lima Moreira filha F 8
-
\
)
~ ó' :o l:T 5= g 2· w m .. ~ 8
~
jn-~ ~:
l l , f
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO-ARARA DO RIO AMÔNIA~ 2001
CASA í COLOCAÇÃO 1 PARENTESCO j SEXO l IDADE INOME
l.
NI X José Gomes de Souza NI - 25a M 69 26.Y Maria Amélia Forquilha de Souza /'Chiquinha'} esposa F 56 27..Ã Maria Dardê Forquilha de Souza filha F 28?
V Montevideu 28 \ Maria Antônia Forquilha de Souza · filha F 26? 29,1"' Maria Dorimar Forquilha de Souza filha F 22 30 --k" Antônia Luziene Forquilha de Souza filha F 16 3L.-\:' Darlinche Forquilha de Souza filha F 14 32 Marison Forquilha de Souza filho de 29 M 1 NI Márcio de Souza esposo de 29 - NI 32a M ?
33 Francisco Batista ('Chico Bodó') SABINO/NADIR M 31 NI Irene Ferreira de Lima esposa - NI 33a F 23 34 Josifran Siqueira Ferreira de Lima filho M 9
VI Montevideu 35 Maicou Siqueira Ferreira de Lima filho M 7 36 Ricardo Siaueira Ferreira de Lima filho M 6 37 Sávio Siqueira Ferreira de Lima filho M 5 38 Francisco Siqueira Ferreira de Lima filho M 2 39 Jaaueline Siqueira Ferreira de Lima filha F 1
NI Antônio Tavares de Almeida ('A. Bravo'\ Nl - 39a M 59 40 Maria Raimunda Gomes de Oliveira esposa F 50
VII Tetéu 41 Marilene de Oliveira Almeida filha F ? (montante) 42 Macifran de Oliveira Almeida filho M 19
NI Maria Moreira Borges esposa de 42 - NI 42a F ?
43 Isaías dos Santos Brito IG. GRAJAÚ M 20 44 Maria Doceilda de Oliveira Almeida esposa F 18
VIII Tetéu 45 Bruna Almeida Brito filha F 2 (montante) 46 Anincha Caroline Almeida Brito filha F 1
47 Yasmim Almeida Brito filha F 2 meses
)"
) ) \ \
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO-ARARA DO RIO AMÔNIA - 2001
CASA JcoLOCAÇÃO lNOME ~EXO 'IDADE 'PARENTESCO
48 Macildo de Oliveira Almeida FILHO DE 40 M 26 NI Maria Rosália esoosa - NI 48a F . ,. ? 49 Marcílío Almeida filho M 6
IX Tetéu 50 Mafisa Almeida . , 'filha F 5 (montante) 51 Macialdo Almeida filho M 11 meses
NI José Francisco Cordeiro NI - 5 la M ? 52 Antônia Gomes de Souza esposa F 25
Tetéu 53 Darlene Souza Cordeiro filha F 11 X (montante) 54 Darlei Souza Cordeiro filha F 10
55 Francisco Souza Cordeiro filho M 8 56 Getúlio Souza Cordeiro filho M 6 57 José Neri Souza Cordeiro filho M 3 58 Emerson Souza Cordeiro filho M 2
' 59 Antônio Siqueira FILHO DE 157 M .. 29 NI Estelita Felix Nascimento esposa - NI 59a F 31
XI Tetéu 60 Jaíne Nascimento Siqueira filha F 9 (montante) 61 Jaiane Nascimento Siaueira filha F 6
62 Antônio Gomes de Oliveira FILHO DE 157 M 46 NI Maria das Graças Felix Nascimento da Silva Iex-lesposa - NI 62a F 47 e- 63 Flávia Nascimento de Oliveira filha F 22 64 Márcio Nascimento de Oliveira filho M 18 65 Fábio Nascimento de Oliveira filho M 15 66 Adriana Nascimento de Olíveira filha · F 12
XII Tetéu 67 Adriano Nascimento de Oliveira filho M 10 (montante) 68 Andréia Nascimento de Oliveira filha F 7
69 Fabiano Nascimento de Oliveira filho M 5 70 Bruno Nascimento Chama filho de 63 M 5
' 4 71 Patrícia Nascimento Chama filha de 63 F - 72 Natiele Nascimento Chama filha de 63 F 3
X
) ) )
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO - ARARA DO RIO AMÔNIA - 2001 ,.
CASA COLOCAÇÃO Nº NOME PARENTESCO SEXO I IDADE .
73 Salmo Nascimento Chama filho de 63 M 1 :
74 Maria Avelino Macedo HERMÓGEN / CASSIMIRA F 64 75 José Rosildo Avelino Macedo filho M 22
~
76 Maria Ducimare Avelino Macedo filha F 19 XIII Tetéu 77 Antônio José Avelino Macedo filho M 16
(jusante] 78 José Rocizleison Avelino neto M 16 79 Maria Rosilàndia Avelino neta F 12 80 José Macedo Avelino l'Agamede') neto M 10 81 Rosa Maria Avelino neta F 3 82 Gelson Macedo ('Preto') sobrinho M 24 ·
··-
83 José Ângelo Avelino Macedo FILHO DE 74 M 28 84 Amélia Alves Marques esposa F 26 85 Antônia Luciana Marques Avelino filha F 10
l>( XIV Tetéu 86 Antônia Damiana Marques Avelino filha F 8 Ousante) 87 Marcelo Marques Avelino filho M 6
88 Jéssica Marques Avelino filha F 5
' 89 Ângela Marques Avelino filha F 4 90 Charles Marques Avelino filho M 2 91 Michele Marques Avelino filha F 3 meses
92 José Antônio Avelino Macedo ('Zeca') FILHO DE 74 M 34
if /-"- 93 Graciete Nascimento de Oliveira esposa F 25 \" \ \XV} Tetéu 94 Emerson de Oliveira Macedo filho M 10 '~../ (jusante) 95 Everton de· Oliveira Macedo filho. M 7
96 Wellinzton Oliveira Macedo filho M 5
1 97 José Davi Avelino Macedo FILHO DE 74 M 25 98 Beatriz Nascimento de Oliveira esposa F 20
XVI .•. Tetéu José Francisco Oliveira Avelino Macedo M 4 99 filho (jusante] 100 Tiago Oliveira Avelino Macedo filho M 2
•'
---
} ) } >
) ) )
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO - ARARA DO RIO AMÔNIA~ 2001 ---r----.------------ --- ---------
CASA COLOCAÇÃO Nº NOME PARENTESCO SEXO IDADE
101 Gradeia Oliveira Avelino Macedo filha F 9 meses.
102 Flávio Nascimento Oliveira FILHO DE 62 M 23 XVII Tetéu NI Maria Rosinete Silva de Amorim -esooaa NI - 102a F 22
Ousante) 103 Hércules Silva Oliveira filho M 2 .- 104 Í nzride Silva Oliveira filha F 11 meses
' 105 Eduardo Avelino Macedo ·FILHO DE 74 M 44 Nl Ozita Guilhermina Rosa esposa Nl - 105a F 40 106 José Alisson Rosa Macedo filho M 15
XVIII Palmário 107 Maria Ezilene Rosa Macedo filha F 12 108 José Elinilson Rosa Macedo filho M 10 109 Vanusa Rosa Macedo filha F 8 110 Maria Daiane Rosa Macedo filha F 7 111 Maria Débora Rosa Macedo filha F 2 112 José Arden Rosa Macedo filho M 6 meses
113 Francisco Antônio Rosa Macedo FILHO DE 105 M 20 XIX Palmário NI Maria dos Anjos esoosa NI - 113a F ?
~ .. 114 Maria Janaína filha F 1 mês
115 José Macedo HERMÓGEN / CASSIMIRA M 69 116 Ana Rosa Azevedo Macedo esposa F 76
XX Assembléia 117 José Rosa Macedo filho de 124 M 24 .? 118 Maria Rosa Macedo filha de ~24 F 22
~ 119 Valdo Macedo filho de 124- M 20 120 Manoel Macedo filho de 118 M 5 121 Aldínélia Macedo filha de 118 F 2
<e 122 Francisco Rodrigues Pinheiro ('Kaíamano'l LUÍS/LÍGIA M 68 1 XXI 24 t Assembléia 123 Alcides de Azevedo filho M y:.
)
~ti í1 "ti e:: Q.. a O" '::f (') :J~. D>
~ ~ ~ç, o
\ ',
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO - ARARA DO RIO AMÔNIA - 2001
CASA I COLOCAÇÃO .1 Nº I PARENTESCO ~~x~lIDADE /NOME
124 Francisco Macedo ('Neao'l FILHO DE 115 M 46 125 Maria Francisca das Chagas Siqueira Negreiro esposa F 23 126 Josê Rosa Macedo filho M 24 127 Sebastiana Rosa Macedo filho M 20
XXII Assembléia 128 Elivaldo Rosa Macedo filho M 17 129 Francisco Antônio Negreiro Macedo filho M 10 130 Giovane Negreiro Macedo filho M 8
~ .. :J 131 Maria Jeane Negreiro Macedo filha F 6 132 Tatiana Negreiro Macedo filha F 4 ·0 -
M 3 133 Rodrigo Negreiro Macedo filho 134 Maria Francisca Negreiro Macedo filha F 9 meses
~ NI Antônio Moreira Barbosa ('Maior'\ NI - 134a M 45
J 135 Julieta Macedo Azevedo esposa F 45
\r 136 Maria Jesuílda Macedo Barbosa filha F 19 137 Maria Josê Macedo Barbosa filha F 18 138 Emerson Macedo Barbosa filho M 16
XXIII Assemblêia 139 Sebastiana Macedo Barbosa filha F 14 140 Evânzela Macedo Barbosa filha F 11 141 Elizânzela Macedo Barbosa filha F 10 142 Francisco Macedo Barbosa filho M 9 143 Vanessa Macedo Barbosa filha F 5 NI Osírêmio marido de 136 - NI 143a M ? NI Manoel marido de 137 - N( 143b M ?
e 144 Denison Macedo Barbosa FILHO DE 135 21 XXIV Assembleia\$\ Nl Maria Salete esposa NI - 144a ?
145 ? filho ? ..
) }. I l
~ ~ l r.: ~ ~ ::.:r :;;. ~ ~ ;:I .. -~ o
\~\~ \)J ~
\
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO - ARARA DO RIO AMÔNIA - 2001
CASA í COLOCAÇÃO !NOME 1 SEXO I IDADE 1 PARENTESCO
146 Maria Macedo da Silva FILHA 212/213 F 45 147 Maria da Glória Gomes da Silva filha F 18 148 José Gomes da Silva filho M 17
XXV Assembléia 149 Melissa Gomes da Silva filha F 15 (l 150 Maria Gorete Gomes da Silva filha F 13
\.j 151 Daniel Gomes da Silva filho M 11 152 Elizanete Gomes da Silva filha F 8
e 153 Francisco Siqueira de Lima FILHO DE 157 M 31 \:J NI Antônia Alcelina Mourão dos Santos esoosa - NI 153a F 26
XXVI Assembléia 154 Fabrício dos Santos Siqueira filho M 6 155 Francisco Santos Siqueira filho M 4 156 Maria Fabriciana Santos Siqueira filha F 2 157 Ilda Siqueira de Lima Oliveira mãe F 78
158 Bernaldo Silva de Lima FILHO DE 173a M 48 XXVII Timo teu 159 José Cleidimar Siqueira de Lima filho M 15
(montante) 160 Cleidimar Lima da Silva filha F 10
161 Arnaldo Silva de Lima FILHO DE 173a M 31 162 Maria Eunice da Silva Oliveira esposa F 29
XXVIII Timo teu 163 Antônio Ednaldo Silva de Oliveira filho M 6 (montante) 164 Marcilândia Silva de Oliveira filha F 4
165 Francisco Silva de Oliveira ('Tito') filho M 1 166 Marcela Silva de Oliveira filha F 4 meses
167 Reinaldo Silva de Lima FILHO DE 173a M 30 168 Maria Francisca Ferreira da Silva esposa F 29 169 Reinaldo Silva Lima filho M 9
XXIX Timo teu 170 Antônio Sebastião Silva Lima filho M 7 (montante) 171 Maria Rosileide Silva Lima filha F 5
. 172 Antônio Olindo Silva Lima filho M 3
) ) ) 1
! i
"O :X, -n ·::t §: o e. {3' i i •• ~9 (.>
1
=='~
-----------------
) ) ) \ ) ) ) 1 1 1() \ ) ) ) ) \ \ ) ) ' 1 ) D ' ) ) ) ) ) ) ) } ) ) ) ) ) } ) ) 'i \:,; ... !•' •. ,
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO-ARARA DO RIO AMÔNIA- 2001
CASA I COLOCAÇÃO 'NOME 1 PARENTESCO 1 SEXO I IDADE -
173 Rosileide Silva Lima filha F 4 meses NI Maria de Lima mãe de 167 - NI 173a F 78
174 Geraldo Silva de · Lima FILHO DE 173a M 55 175 Mariníse Silva de Lima filha F 22
XXX Timo teu 176 Hernildo Silva de Lima filho M 21 (montante) 177 Marinilsa filha de 175 F 4
178 Leciane Silva de Lima filha de 175 F 2
179 Francisco Lima da Costa (Neao'l IG. TRIUNFO M 20 XXXI Timo teu 180 Marínilsa Silva de Lima esposa F 19
(montante) 181 Francisca Lima enteada F 3 182 ? filho M 1° mês
•• NI Francisco Gonzaga de Oliveira ('Preto') NI - 182a M 23 183 Maria Ivani Siqueira de Lima esposa F 25
XXXII Timo teu 184 Vanilson Siqueira Oliveira filho M 5 (jusante] 185 Camila Siqueira Oliveira filha F 4
186 Francisco Siqueira Oliveira filho M 2 187 Sebastião Siqueira Oliveira filho M 4 meses
188 Edilson Bezerra de Oliveira FILHO DE 195 M 22 XXXIII Timoteu 189 Mercia Rosa Macedo esposa F 22
(jusante) 190 Edileuza Macedo de Oliveira filha F 3 191 Tâmisa Macedo de Oliveira filha F 4 meses
NI Francisco Souza do Vale NI - 191a M 26 XXXIV Timoteu 192 -Edilene Bezerra de Oliveira esposa F 19
Ousante) 193 Miles Marques filho M 3 194 Wilis Oliveira Souza filho M 1
) )
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO- ARARA DO RIO AMÔNIA - 2001
CASA lcoLOCAÇÃO jNOME 1 PARENTESCO r~EXO I IDADE 195 Eduardo Gomes de Oliveira FILHO DE 157 M 43 NI Juraci Maria Alves Bezerra esposa - NI 195a F 40
XXXV Timo teu 196 Edilza Bezerra de Oliveira Filha F 17 ousante) 197 Elison Bezerra de. Oliveira Filho M 16
198 Elilda Bezerra de Oliveira filha F 13
199 Francisco Ferreira da Silva FILHO DE 257 M 30 200 Maria Silva de Lima esposa F 25 201 Antônio Francismar Silva Lima filho M 9
XXXVI Nova Minas 202 Antônio Martel Silva Lima filho M 6 203 Francisco Silva Lima filho M 5 204 José Silva Lima filho M 3 205 Gisela Silva Lima filha F 3 meses
"' 206 Maria Cleuides da Silva Azevedo Basílio FILHA DE 212 F 31 207 Antônio Nelson da Silva Basílio filho M 10
XXXVII Jacamim 208 Alfredo da Silva Basílio filho M 9 'J 209 João da Silva Basílio filho M 6
210 Cleíne da Silva Basílio filha F 3 '\)1
211 Cledison da Silva Basílio filho M 7 meses
212 José do Basílio Francisco Azevedo V. BASÍLIO/ ANA ROSA M 60
9 213 Maria Mercedes da Silva (Paixáo'] esposa F 64
-'1 214 Cleonice da Silva Azevedo Chama filha F 29 215 Clemilda da Silva Chama filha F 25 216 Manoel Cosme da Silva Chama ('Tonho'l filho M 23
XXXVIII Jacamim 217 Ébisson da Silva Chama neto M 19 218 Valcezlison da Silva neto M 17
- 219 Cleissiane da Silva neta F 13 220 Rafaela Silva Piancha ('Andréia Chama') filha de 214 F 8 '' :~ 221 Rafael Vale da Silva filho de 214 M 6 ' ' '''
- 222 Antônio Silva filho de 214 M 3 ·, ,'
)
tl ~ "'O 9,. ti
~ ::,
~ ·~
w ?(? ~11 o
?9
--,,-...-----~-~.----------- .T.J.-r.>w.ttZ,l•l<,oJ•,•>t , <,. /,,, , .-,7
) ) ) ' )
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO-ARARA DO RIO AMÔNIA- 2001
CASA lcoLOCAÇÃO 1 PARENTESCO 1 SEXO I IDADE !NOME
223 Charles Gomes da Silva filho de 215 M 3 224 Francisca Gelânia da Silva filho de 215 M 1
225 Júlio Guerra Huachunza NAUTA F 56 XX.XIX Jacamim g 226 Júlio Guerra da Silva filho M 18 . ·-v 'w 227 Francisco Guerra da Silva filho M 14
228 Elisomar Guerra da Silva filho M 12
. ,l 229 Taumaturgo de Azevedo Dirão JOÃO/MARIA ANITA M 71 . \J XL Pedreira \f 230 Teodoro Pinheiro Azevedo filho M 15
231 Pedro Pinheiro Azevedo filho M 12
~ 232 Odon Rodrigues Alves Chama CHICO TERÔNIO M 42
.t 233 José Antônio Azevedo Chama filho M 17 XLI Pedreira \: 234 Celiane Azevedo Chama filha F 15
235 Elilton Azevedo Chama filho M 13 236 Antônio Jameson Azevedo Chama filho M 10
: '
)· } ) )· )
;o "'11 '"O e 9~ a e, zr M ::ii. ro g ::, i, f. . ç, . ! :.,
. '? 't"1 ~l·lf
~~ -<, " . t
) ) ) .() ) ) ) ) ) y
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO-ARARA DO RIO AMÔNIA (identificação incertaj- 2001
Nº !NOME lsEXO 1 IDADE 1 PARENTESCO NI Áurelino M NI236a ~ --c:f Maria Darclei Forquilha de Souza F 31 FILHA,DE 26
238-245 Filhos e filhas 8 filhos(as\
246 Gustavo Macifem Flores M 42 '
247 Francisca 'Paoito' F ? Irmã de 59a e 62a 248 Francisco Nascimento de Azevedo M 18 filho
249 Nunes Nascimento de Azevedo M 16 filho 250 Nonato Martins Nascimento de Azevedo M 13 filho :
251 José Nascimento de Azevedo M 9 filho
~ ' 252 Antônio Barbosa Neto M 25 FILHO DE 135
NI Derlánzela F ? esposa NI - 252a
253-256 Filhos e filhas wlhos (as) 1
I 257 João da Silva e Souza ('J. Sebádio') M 72 PAI DE 199
,; "ri --0 l ~ ~ • 5l ' . :, 1 .~ o ~ r N ''!;[
~ ~
i
) ) ) ) ) (,) ) ) i .)
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO-· RELAÇÃO DOS ARARA QUE SE ENCONTRAM FORA DO RIO AMÔNIA - 2001
Nº !NOME 1 IDADE 1 LOCALIDADE ATUAL 1 OBSERVAÇÃO
NI Fausto Alves Bezerra NI257a 258 .Jorzina Siqueira esoosa 259 ' Clebeson Siqueira filho 260 Maria das Dores Siqueira filha, · 261 Raimundo esooso de --
262 Maria de Jesus Siqueira neta 263 Carteiane · Siqueira neta Cruzeiro do Sul 264 Fernanda Siqueira neta 265 Richeles Siqueira neta 266 Armanda Siqueira neta 267 Raimunda Gleidiornar Siqueira neta 268 Jesualdo Siqueira neto
"' 269 Maria Clais Forquilha de Souza casa V Mal. Thaumaturao
270 .Jozleide de Oliveira Almeida 29 casa VII filha aldeia Aniwtxa 271 Marcilene de Oliveira Almeida casa VII filha Cruzeiro do Sul 272 Marcos Antônio de Oliveira Almeida 24 casa VII, filho Mal. Thaumaturzo 273 Marcinéia de Oliveira Almeida 20 casa VII filha Cruzeiro do Sul
274 Perpétua Nascimento de Oliveira 16 casa XII, filha Alto Tamava Peru
275 Iria Avelino Macedo casa XIII filha Pucallna. Peru 276 Rosilda Avelino Macedo casa XIII filha seringa! Três de Maio r. Juruá 277 Antônia Marisete Avelino Macedo casa XIII, filha Rio Branco
278 Mércia Francisca Rosa Macedo 22 casa XVIII, filha 279 Maria de Fátima Rosa Macedo 18 casa XVIII, filha .,
280 Antônia Ezánzela Rosa Macedo 16 casa XVIII, filha
') ) ) - . ~
'/ 1
) ) .) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )() ) ) ) ) 1 ) ) T'". ') L•_ •.• ,,
) l ) ) ) . ) . ) ) .) )
LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO - RELAÇÃO DOS ARARA QUE SE ENCONTRAM FORA DO RIO AMÓNIA - 2001
Nº f NOME 1 LOCALIDADE ATUAL 1 fDADE 1 OBSERVAÇÃO
\ 281 Paulito Valdivino Batista 38 SABINO/NADIR 282 Laurinda de Azevedo Pinheiro 36 esposa
I 283 Paulo Vito Valdivino Azevedo 12 filho 284 Francisca Azevedo Valdivino 9 filha TI Jamináwa do Igarapé Preto 285 Lauriene Azevedo Valdivino 8 filha 286 Lauriete Azevedo Valdivino 5 filha
\
\ 287 Lauricia Azevedo Valdivino 4 filha \ 288 Antônio Jarisson Valdivino 6 filho
' 289 Claricia Valdivino 1 filha a
290 Rosánzela Macedo Barbosa casa XXIII Rio Branco
291 Francisco Gomes da Silva casa XXV 292 Antônio Gomes da Silva casa XXV •• 293 Juliana Gomes da Silva casa XXV Guajará/AM .. 294 Getúlio Gomes de Oliveira casa XXVI Manaus/AM
/ 295 Antonilda Gomes de Oliveira casa XXVI Manaus/AM
296 Maria Laura casa XXXVIII igarapé Noaia Peru
297 Maria Ema Azevedo 18 casa XL Aldeia Apiwtxa 298 Azrinaldo Macedo casa XL Icuitos Peru 299 Taumaturgo Pinheiro de Azevedo casa XL Peru
//?!
) ) l) ),'.)
::u ó' "'O
t. ! D ~ :-~
! :::, 1 .,
l°t IN õt °'o
f ~·,,.n1r~r~, ·• ·, ····"717'.-..,,.....,