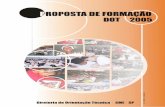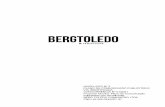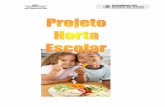vila guaíra - Secretaria da Educação e do Esporte
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of vila guaíra - Secretaria da Educação e do Esporte
1
VILA GUAÍRA: CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL, EDUCACIONAL E
AS CONTRADIÇÕES SOCIOECONÔMICAS
Francisca Francisneide Alves Avancini1 Prof. Victor da Assunção Borsato2
RESUMO
Na contextualização histórica e econômica brasileira, um longo período de modernização produtiva da agricultura foi trazendo à luz, através das mais diversas manifestações, a crítica a esse modelo e o debate sobre a modernização social que não se realizou no âmbito desse processo de transformações. As profundas transformações por que passaram a agricultura e o espaço rural no Brasil, no período compreendido entre fins do ano de 1970 e início dos anos 1980, traduziram-se em uma intensa, mas parcial e setorizada modernização produtiva, no esvaziamento populacional relativo deste espaço e em novas dinâmicas sociais, econômicas e ambientais. A Geografia, enquanto ciência, ao longo de sua história sempre se reocupou com as relações entre o homem e o ambiente e, enquanto disciplina também se preocupa em formar alunos críticos, conscientes e éticos, que efetivem a reflexão e o questionamento para que a aprendizagem se materialize significativamente. Nesse sentido, o presente estudo se propôs a estudar os aspectos socioeconômicos da Vila Guaíra, localizada no município de Goioerê-PR, a partir da comunidade e por meio da análise das contradições sócio espacial e realidade atual dos moradores do bairro. Procurou-se envolver os alunos na proposta e produzir um material pedagógico, utilizando-se de acervo histórico e pesquisas com os moradores da Vila Guaíra, através de entrevistas orais e escritas sobre suas trajetórias e atividades econômicas. Concomitantemente, buscou-se compreender as transformações no espaço geográfico a partir da década de 1970 tendo a Vila Guaíra como um referencial, foi para esse bairro que muitos trabalhadores expulsos do campo se fixaram. Palavras-chave: Modernização da agricultura; Êxodo Rural; Superação.
1 INTRODUÇÃO
A sociedade brasileira assiste, a partir da década de 1960, um processo de
modernização da agricultura do país. Emergem novos objetivos e formas de exploração
agrícola originando transformações tanto na pecuária, quanto na agricultura. Como
consequências do processo são apontados, além da acirrada concorrência no que diz respeito à
produção, os efeitos sociais e econômicos sofridos pela população envolvida com atividades
rurais. 1 Professora PDE 2012.� 2 Orientador PDE 2012.�
2
Segundo Graziano Neto (1985), essa modernização altera a composição e a utilização
do trabalho, aumentando o uso do trabalhador bóia-fria3,assim como o pagamento pela força
de trabalho (que é o assalariamento); os pequenos produtores são expropriados , dando lugar
aos moldes empresariais de organização da produção. O autor complementa também outras
consequências, em que a propriedade tornou-se mais concentrada, as disparidades de renda
aumentaram, o êxodo rural acentuou-se, aumentou a taxa de exploração da força de trabalho
nas atividades agrícolas, cresceu a taxa de auto-exploração nas propriedades menores, piorou
a qualidade de vida da população trabalhadora do campo.
Assim, a modernização da agricultura brasileira, vai além do processo técnico na
agricultura, modifica também a organização, e consequentemente, as relações sociais de
produção. Se por um lado, esse processo gerou o aumento da produtividade, por outro
provocou a exclusão social de milhares de trabalhadores que não se beneficiaram do processo
de modernização agrícola, gerando grande êxodo do campo para a cidade.
No município de Goioerê vivenciou-se também esse panorama, em que trabalhadores
permanentes, os meeiros, arrendatários, que antes de 1970 desenvolviam suas atividades na
grande propriedade rural, sob a forma de colono ou morador, foram então sendo substituídos
por uma mão-de-obra especializada em certas tarefas empresarias e por uma mão-de-obra
temporária. Assim, muitos tiveram suas vidas direcionadas para a cidade, em busca de
condições para sua sobrevivência.
Diante da realidade vivenciada, o presente estudo objetiva estudar os aspectos
socioeconômicos da Vila Guaíra a partir da comunidade e por meio da análise das
contradições sócio espacial e realidade atual dos moradores do bairro. Em termos específicos,
objetiva-se envolver os alunos na proposta e produzir um material pedagógico, utilizando-se
de acervo histórico e pesquisas com os moradores da Vila Guaíra, através de entrevistas orais
e escritas sobre suas trajetórias e atividades econômicas; e compreender as transformações no
espaço geográfico a partir da década de 1970 tendo a Vila Guaíra como um referencial, pois
foi nesse bairro que muitos trabalhadores expulsos do campo se fixaram.
Em relação a justificativa para a realização do estudo, as Diretrizes Curriculares do
ensino de Geografia (2008) estabelecem que seja utilizada metodologia para que os alunos
entendam o seu espaço econômico e geográfico partindo da comunidade em que vivem. Para
que isso ocorra, é necessário fazer inter-relações entre seu local de vivência e no seu
3 O boia-friaou asslariado rural é o trabalhador que, expulso do campo, vai constituir uma massa de trabalhadores temporários (volantes) residindo nas periferias urbanas. São agricultores em diversas lavouras mas não possuem suas próprias terras.�
3
município. Partindo da história local e do Brasil, relacionando e comparando com a história
geral, por meio desse processo pedagógico se desenvolve a consciência histórica do aluno.
Nas Diretrizes Curriculares, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico,
entendido como o espaço produzido e apropriado pela sociedade, composto pela inter-relação
entre sistemas de objetos-naturais, culturais e técnicos – e sistemas de ações – relações
sociais, culturais, políticas e econômicas.
Os estudos geográficos de um determinado lugar ou espaço observado a partir de um
olhar social e econômico tem contribuído significativamente para a produção do
conhecimento histórico da comunidade que ali vivem. Para se entender o processo de relação
de trabalho e relação de poder que marcam a comunidade do bairro Vila Guaíra, localizada no
município de Goioerê, escolhem-se realizar um recorte a partir das décadas de 1970 a 2010,
para evidenciar as transformações que a modernização da agricultura ocasionou na cidade de
Goioerê (Vila Guaíra) e no campo.
Schmidt e Cainelli (2004) destacam as possibilidades do trabalho com a história local
para que o aluno seja inserido na comunidade na qual ele faz parte, criar a sua história e a sua
identidade. O estudo com a história local ajuda a gerar atitudes investigativas, criadas com
base no cotidiano do aluno, além de ajudá-lo a cerca do sentido da realidade social.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A MODERNIZAÇÃO AGRÁRIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS
A realidade das atividades do campo reflete atualmente a transição do modelo
econômico do país agro-exportador para o subdesenvolvido industrializado. Conforme a
indústria se tornava o eixo principal da economia brasileira – processo consolidado a partir da
década de 1950, quando a economia do país era cada vez mais controlada pelas
transnacionais, a agricultura ficava mais dependente e subordinada a indústria e aos interesses
econômicos de grupos brasileiros e internacionais.
Wanderleiy (1995) explicita que no Brasil, a história agrícola está ligada à história do
processo de colonização no qual a dominação social, a política e a econômica da grande
propriedade foram privilegiadas. Assim, a grande propriedade impôs-se como modelo
socialmente reconhecido e recebeu estímulos expressos na política agrícola que procurou
4
modernizar e assegurar sua reprodução, podendo-se concluir que a agricultura familiar sempre
ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira.
Assim, a estrutura fundiária no Brasil foi marcada pela concentração de terras, os
conflitos pela posse da terra e as relações desiguais de trabalho, cuja característica principal é
o predomínio de grandes propriedades. Almeida e Rigolin (2011) evidenciam que as
transformações no campo decorrentes da evolução do sistema capitalista não aconteceram de
forma homogênea no tempo e espaço, mas atenderam as especificidades de cada região ou
período.
Em meados da década de 1960, como salienta Martine e Garcia (1987), foram
lançadas as bases de um projeto para a agricultura brasileira, onde deveria alterar-se a
estrutura de produção agrícola, equiparando-se à agricultura dos países desenvolvidos, em
matéria de produtividade e rentabilidade. Estimulados pelos preços internacionais favoráveis,
pelo pacote tecnológico denominado de Revolução Verde, associado às forças que reprimiam
qualquer oposição às mudanças, empreendia-se uma profunda transformação na estrutura da
produção agrícola tradicional.
A partir da década de 1970, a agricultura brasileira moldava-se ao capitalismo. Muller
(1989) afirma que as agroindústrias cresceram como consumidoras dos produtos da
agropecuária, ao tempo que se remodelavam, surgiam novas agroindústrias, de grande porte,
ligadas ao exigente mercado internacional. Complementando, Martine e Garcia (1987)
expressam que na década de 1970 assistiu-se a um aumento no uso da força mecânica, e em
contrapartida, a uma relativa estagnação no uso da força animal. Esse processo que ora visava
o aumento da produção teve como principal consequência a substituição do homem do campo
pela máquina.
As mudanças não atingiram, somente, a base técnica, mas também, econômica e social
da agricultura, provocando profundas transformações no meio rural brasileiro. Nesse
contexto, se por um lado, esse processo gerou o aumento da produtividade, por outro
provocou a exclusão social de milhares de trabalhadores que não se beneficiaram do processo
de modernização agrícola.
Silva (1981) afirma que, a transformação capitalista da agricultura brasileira foi
referenciada a política do estado, que sem sombra de dúvidas, criou mecanismos que
favoreceram a capitalização da grande propriedade. Constata-se que os grandes proprietários
tinham mais facilidade em obter créditos agrícolas, uma vez que tem a terra como garantia
dos financiamentos. Entretanto, as avaliações realizadas sobre a política de credito rural,
5
indicam que grande parte desses recursos foram investidos pelas grandes propriedades em
reserva de valor, principalmente na compra de mais terras.
A análise da modernização agrícola brasileira evidencia que a mesma apresentou
objetivos que não levaram, necessariamente, ao desenvolvimento rural, ocasionando impactos
como: êxodo rural, diferenças estruturais, processo de especialização, concentração fundiária,
concentração de renda, exploração da mão-de-obra, problemas ambientais, entre outros.
2.1.1 Consequências Sócio-Ambientais
A modernização da agricultura brasileira que impôs um novo padrão de
desenvolvimento econômico, ocasionou também exclusão do homem do campo, da geração
de emprego, diminuição da renda, entre outros, ocasionando consequentemente, desordem no
espaço rural, decorrente da competitividade do capitalismo. Silva (2000) analisa que, dentro
de uma ótica global, a modernização agrícola revela que a propriedade da terra foi sendo
subordinada ao capital. O progresso técnico não está uniformemente difundido, ocorrendo
concentração espacial e setorial. Nesse enfoque, de acordo com Graziano Neto (1982), a
desigualdade da modernização ocorre entre as regiões do país, entre as atividades
agropecuárias e entre os produtores rurais. O autor acrescenta que em termos regionais, é o
Sudeste e o Sul do país que mais se têm modernizado, particularmente os Estados de São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Verifica-se que o estilo de desenvolvimento adotado provocou resultados sociais que
ameaçam a capacidade de sobrevivência da sociedade.
O custo social das mudanças ocorridas agudiza o questionamento das suas vantagens econômicas. Sem dúvida a produção e a produtividade aumentaram, mas não no ritmo esperado. A agroindústria se expandiu rapidamente, mas a produção per capita de alimentos básicos é menor do que no início da modernização. O número de postos de trabalho no campo aparentemente aumentou, mas grande parte deles são de natureza instável e mal remunerados. O campo se industrializou, se eletrificou e se urbanizou parcialmente, entretanto o êxodo rural também se multiplicou, levando ao inchamento das cidades. (MARTINE, 1987, p. 10)
As alterações no modo de produzir e organizar a produção agrícola provocaram uma
reorganização do espaço geográfico, adequando-o às novas condições de produção
determinadas, em geral, pelos interesses do Estado e dos grupos econômicos capitalistas.
6
Com a especialização de alguns produtos e de algumas áreas, as monoculturas
crescem, principalmente devido às economias externas. Gliessman (2000) enfatiza que esse
processo ocasiona uma fragilidade ambiental, econômica e social. De acordo com Silva
(2000), as condições econômicas, sociais e políticas brasileiras indicam disparidade entre
diferentes classes sociais que marginaliza diretamente as classes menos favorecidas, como os
agricultores com baixo poder aquisitivo, pequenos proprietários e agricultores familiares com
área restrita. A modernização da agricultura brasileira tendeu a favorecer o aumento da
participação relativa das camadas mais ricas na apropriação da renda total.
Silva (2000) analisa que o aumento generalizado da pobreza no campo pode ser visto
como resultado do processo de modernização, pois a expansão da grande propriedade com a
mecanização e utilização de agroquímicos diminui a necessidade de mão-de-obra permanente,
ao mesmo tempo em que os trabalhadores volantes (bóias-frias) vêem sua oferta de trabalho
diminuir cada vez mais e acabam se sujeitando a duros turnos no campo por diárias cada vez
mais irrisórias.
A pobreza se intensificou pela distribuição desigual da terra e de outros bens, com a
manutenção e reforço da estrutura agrária concentrada, sendo isso e o favorecimento às
propriedades patronais que deram origem à expressão “modernização conservadora” para
referir-se a este processo.
2.1.2 Expropriação do Campesinato
Com a modernização da agricultura, e estrutura fundiária evolui em um sentido
concentrador e excludente, dificultando, qualquer tipo de acesso à terra, aos trabalhadores
rurais brasileiros. Silva (2000) pondera que além da propriedade privada da terra estar
concentrada nas mãos de poucos proprietários, o acesso a ela também é restrito, pois, além da
minoria deter a maior porção de terras rurais, detém também a exploração das mesmas.
Assim, o rápido processo de mecanização e o aumento da concentração fundiária da
agricultura brasileira contribuíram para o intenso processo do êxodo rural e,
consequentemente, para a concentração populacional nos centros urbanos.
Diante desse cenário, nas últimas quatro décadas, o perfil da distribuição espacial da
população brasileira sofreu profunda alteração. De acordo com Palmeira (2012), entre 1940 e
1980, inverteram-se os percentuais das populações rural e urbana, a primeira caindo de
aproximadamente 70% da população total para cerca de 30%, enquanto a segunda aumentava
7
de 30% para 70%. As migrações internas foram as grandes responsáveis pelo crescimento
urbano e o IBGE estima que, em 1970, de 30 milhões de migrantes, total acumulado de
residentes em municípios distintos daqueles em que nasceram, 21 milhões se dirigiram para as
áreas urbanas.
O forte êxodo rural se iniciou nas regiões de maior desenvolvimento, onde o processo de
capitalização e mecanização ocorreu primeiro e de forma mais intensa. Martine e Garcia (1987)
enfatizam que o descompasso entre o ritmo de reprodução da força de trabalho e a expansão da
oferta de emprego no campo produziu, durante a década de 1970, o maior êxodo rural visto no
Brasil.
2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Iniciando a explanação, Paz Júnior (2003) relata que, no município de Goioerê, os
trabalhadores permanentes, os meeiros, arrendatários, que antes de 1970 desenvolviam suas
atividades na grande propriedade rural, sob a forma de colono ou morador, foram então sendo
substituídos por uma mão-de-obra especializada em certas tarefas empresarias (o motorista, o
contador, o tratorista e outros) e por uma mão-de-obra temporária.
Percebe-se, assim, que a expulsão nas últimas quatro décadas, dos moradores, dos
colonos, dos parceiros, dos posseiros das propriedades rurais formou-se diferentes relações de
trabalho, sendo que uma delas foi um proletariado rural, a qual recebe varias denominações,
sendo que no Estado do Paraná, especificamente no município de Goioerê, denominados
“bóias-frias ou trabalhadores volantes”, submetidos as duras condições de trabalho. Ainda nas
décadas de 1970 e 1980, período em que a legislação não era tão fiscalizada, esses
trabalhadores, para melhorar a sua renda levava consigo, na maioria das vezes que iam para o
campo de trabalho, a esposas e filhos menores para ajudar na tarefa e consequentemente na
renda, já que o pagamento por dia de trabalho era por tarefa diária ou empreita.
Para Coelho (2011), na década de 1970 o Município de Goioerê se destacou como
grande produtor de café, juntamente com a hortelã e o algodão, esses produtos “era o carro
chefe” da economia municipal e responsável pelo grande fluxo migratório de mineiros,
paulistas, nordestinos e catarinenses para a região.
Em 1975 o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), estimou a população
do município em 100.360 habitantes (IBGE 2011), esse grande número, vindos de outras
regiões para trabalharem nas lavouras de café, da hortelã e do algodão, que empregava um
8
grande número de mão de obra. Umas séries de fatores contribuíram para a decadência da
população a partir do final dessa década. A mecanização da agricultura que diminui a
ocupação da mão de obra no campo, o declínio da hortelã (Mentha piperita), com o
surgimento de outros países produtores e a diminuição dos cafezais não só na região como em
todo estado do Paraná foram os principais. O êxodo da população rural para as cidades
maiores ou para outras regiões do país, principalmente para o Centro-Oeste, justifica a brusca
diminuição da população de Goioerê. A queda na população foi intensa, o Censo do IBGE de
1980 apontou uma população total de 48.798 habitantes para o município.
Um grande número de produtores rurais e também de trabalhadores do campo
deixaram a região em busca de novas fronteiras agrícolas que estavam sendo abertas em Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, em um processo registrado em quase todos os
municípios do Noroeste do Paraná. Ainda em 1975, as pequenas e médias propriedades da
região foram gradativamente sendo incorporadas por fazendas de soja, pastagens ou
plantações de algodão.
De acordo com Paz Junior (2003), em 1980 a população rural ainda somava 80% do
total de habitantes do município vinte anos depois, no ano 2000 apenas 20% se encontram na
zona rural. Com o declínio da atividade cafeeira, a principal atividade agrícola foi o cultivo do
algodão, que atingiu seu auge na década de 1990, período em que Goioerê foi considerado o
maior produtor do Brasil, com 44 mil hectares cultivados.
O aparecimento de pragas, principalmente o “bicudo” (Anthonomus grandis), políticas
agrícolas que não subsidiavam a cultura, o aumento da produção de área plantada no cerrado
brasileiro e os preços desestimulantes fizeram que a partir de 1993 o algodão sofresse também
o declínio e praticamente foi erradicado no município.
Assim em 1991 o município contava com um total 45.104 habitantes, esse número foi
reduzido para 31.634 em 1996, em 2000 a população registrada foi de 29.742 habitantes e no
último Censo (IBGE – 2011), a população foi de 29.018 habitantes.
Segundo Neto (2011), a fundação da Vila Guaíra ocorreu no mesmo período da
fundação de Goioerê, no ano de 1955, não havia área demarcada ou planejada para ser um
bairro, todo espaço fazia parte da área central da cidade. O surgimento da comunidade se deu
por meio da oralidade, os próprios moradores demarcaram a área através de uma antiga
avenida chamada Rua Guaíra (hoje denominada Avenida Dário Moreira de Castilho),
próximo a um arroio, o Schimidt, que serve de limite entre a comunidade e a região central da
cidade.
9
Sendo o bairro Vila Guairá, o maior fornecedor de mão de obra temporária ou “bóias
frias” no período entre as décadas de 1970 a 2010, houve um empobrecimento e um débil
desenvolvimento nessa comunidade, como também uma área de dispersão da população para
as médias e grandes cidades.
As transformações ocorridas no campo a partir da década de 1970, com o processo
tecnológico na agricultura, ocasionou o impacto sócio-econômico na população rural,
especificamente os pequenos proprietários, arrendatários e meeiros que eram em grande
número na região de Goioerê. Esses trabalhadores tiravam da terra o seu sustento, e
produziam gêneros alimentícios de primeira necessidade. Com a modernização, alavancada
com a mecanização, esses trabalhadores foram “expulso” do campo.
Essas mudanças alteraram profundamente a concentração da população do campo e a
estrutura fundiária do município, diminuindo o número de pequenas propriedades. Os
pequenos produtores e os trabalhadores rurais deixam o campo em busca de novas fronteiras
agrícolas ou outros postos de trabalhos na cidade.
3 METODOLOGIA
A necessidade de sistematização na elaboração de pesquisas científicas torna
necessária a utilização de metodologias para a realização das mesmas. Gil (1999), define
pesquisa como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico,
cujo objetivo principal é descobrir respostas para problemas mediante emprego de
procedimentos científicos. Ressalta ainda que, pesquisa social é o processo utilizado na
metodologia científica, que permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da
realidade social.
Richardson (1999) afirma que apesar de ser muito comum a realização de pesquisas
para o próprio pesquisador não se deve esquecer de que a pesquisa social deve contribuir para
o desenvolvimento humano, porém seu objetivo imediato é aquisição de conhecimento.
Com relação ao propósito da teoria, a presente pesquisa pode ser caracterizada como
descritiva. Segundo Gil (1999), o objetivo primordial da pesquisa descritiva é descrever
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Richardson (1999, p.71) salientam que “os estudos de natureza descritiva propõem-
se investigar o que é, ou seja, a descobrir as características do fenômeno como tal.”
10
No presente trabalho, pretende-se estudar os aspectos socioeconômicos da Vila
Guaíra, localizada no município de Goioerê-PR, a partir da comunidade e através da análise
das contradições sócio espacial e realidade atual dos moradores do bairro.
No delineamento da pesquisa, o pesquisador define qual o melhor método a ser
utilizado para a realização do trabalho cientifico. Diante das classificações expostas por Gil
(1999), foi adotado como método para realização deste trabalho o estudo de caso ex-post-
facto. Opta-se pelo estudo de caso por ser mais adequado aos objetivos deste estudo,
considerando que:
Pode-se definir pesquisa ex-post-facto como uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis (GIL, 1990, p.69).
A análise qualitativa permite ao pesquisador chegar à descoberta de ideias e intuições
com o objetivo de ampliar o conhecimento. O estudo de caso é uma vertente da abordagem
qualitativa e se enquadra perfeitamente neste trabalho.
A Unidade Didática foi produzida com a participação do aluno que vivencia o
processo de modernização de agricultura, fator que o faz compreender a realidade. A
modernização da agricultura no município de Goioerê e as alterações nas relações de trabalho
foram investigadas e debatidas em sala de aula e através de pesquisa de campo.
Os textos selecionados para que o aluno compreenda o processo de transformação
ocorrido com a modernização no campo foram: A Agricultura, a Pecuária e o Sistemas
Agrários; a Agricultura e a Pecuária no Brasil: estrutura fundiária; As relações de trabalho no
campo: Trabalho familiar, Arrendamento, e Parceria. (ALMEIDA e RIGON, 2011).
A presente Proposta foi desenvolvida com os alunos do 2° ano do período noturno do
Ensino Médio do Colégio Estadual Vila Guaíra, com idade média entre 16 a 20 anos, cujo
número de alunos em sala é de 25, os quais foram divididos em 5 grupos, contendo 5 alunos
cada, e cada grupo foi responsável pelo desenvolvimento de uma Unidade Didática.
4 RELATO DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DE RESULTADOS
Seguindo a concepção das Diretrizes Curriculares do ensino de Geografia (2008), que
apregoam a importância dos alunos entenderem o seu espaço econômico e geográfico
11
partindo da comunidade em que vivem, através de inter-relações entre seu local de vivência,
relacionando e comparando com a história geral, proporcionando por meio desse processo
pedagógico o desenvolvimento de consciência histórica do aluno, foi desenvolvido o presente
estudo.
Segundo Morin (2001), é consenso que o processo educativo caracteriza-se como um
campo considerável de complexidade, exigindo (re)visão e (re)construção constante de
saberes, através de uma prática reflexiva e investigativa. Para o autor, há complexidade
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o
político, o sociológico, o afetivo e o mitológico), por isso a complexidade é a união entre a
unidade e a multiplicidade.
Buscar a aprendizagem efetiva dos alunos, onde os mesmos apreendam os significados
dos conteúdos, extrapolando o ensino superficial, onde o aluno apenas decora sem conseguir
aplicar a nenhum conhecimento é o desafio desse estudo. Conforme Vygotsky (1991), é
preciso que o desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível
para que o aluno possa absorver um conceito científico correlato, em que os seus conceitos
geográficos e sociológicos devem se desenvolver a partir do esquema simples 'aqui e em outro
lugar’. Nesse sentido, o estudo do meio permite que o conteúdo ensinado não seja meramente
teórico e sim, ligado a vida das pessoas. A geografia ensinada então passa a ter sentido e
interesse para o educando.
Diante desse enfoque, no âmbito da Geografia, faz-se necessário haver uma
aproximação entre o que é ensinado e o que é vivido e consequentemente o que é aprendido
pelos alunos. Deve ser enfatizada a compreensão do saber geográfico, facilitando aos alunos o
acesso à visão da Geografia real, vivenciada no seu cotidiano e tão necessária para melhorar
as relações entre o homem, a natureza e o entendimento do espaço geográfico como uma
extensão humana e física.
Callai (2003) ressalta que a geografia como ciência social, necessariamente precisa
considerar o aluno e a sociedade em que vive. Essa disciplina não pode ser uma coisa alheia,
distante, desligada da realidade, nem um amontoado de assuntos, ou lugares (partes do
espaço), onde os temas são soltos, defasados ou de difícil compreensão pelos alunos e não
pode ser feita apenas de descrição de lugares distantes ou de fragmentos do espaço. A autora
argumenta que a geografia deve permitir que o aluno se perceba como participante do espaço
que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos
homens e estão inseridos em um processo de desenvolvimento. Não é uma geografia
descritiva, enciclopédica e artificial, em que o espaço ensinado é fracionado e parcial e, onde
12
o aluno é um ser neutro, sem vida, sem cultura e sem história. O aluno deve estar dentro
daquilo que está estudando e não fora, deslocado e ausente daquele espaço.
Nesse contexto, a proposta de implementação buscou estudar os aspectos
socioeconômicos da Vila Guaíra a partir da comunidade e por meio da análise das
contradições sócio espacial e realidade atual dos moradores do bairro. O principal objetivo foi
envolver os alunos na proposta e produzir um material pedagógico, utilizando-se de acervo
histórico e pesquisas com os moradores da Vila Guaíra, através de entrevistas orais e escritas
sobre suas trajetórias e atividades econômicas. Buscou-se também compreender as
transformações no espaço geográfico a partir da década de 1970 tendo a Vila Guaíra como um
referencial, visto que foi para esse bairro que muitos trabalhadores expulsos do campo se
fixaram.
A pesquisa nasceu do desejo e da necessidade de melhor compreender-se a construção
do saber escolar, partindo da análise dos conteúdos geográficos, das formas populares de
saberes locais, do lugar onde o aluno está inserido, das relações sócio-espaciais estabelecidas
com o entorno e a comunidade em geral, produzindo assim um saber geográfico escolar.
Buscou-se propor reflexões para contribuir com a construção de um material
produzido com os professores e alunos do Colégio Estadual Vila Guaíra, para compreenderem
na prática as relações de trabalho existentes na comunidade e no município de Goioerê nas
décadas de 1970 a 2010. Os alunos do Colégio são em grande maioria filhos dos
trabalhadores rurais que viveram as transformações do campo no período. Assim, procurou-se
envolver os alunos na produção de narrativas históricas junto a sua comunidade, bem como a
análise das transformações sócio-econômicas ocorridas no município, e também a montagem
de um portifólio com fotografia de época e atuais que materializam as transformações na Vila
Guaíra, documento que poderá ser utilizado como material didático, sendo mais um acervo
para o estudo das transformações no campo.
Segundo Priori (1994), nos municípios de pequeno porte, há muitas dificuldades em
encontrar registros históricos sistematizados. Com raras exceções, são encontrados arquivos
estruturados, documentos organizados ou catalogados. Assim, para se organizar um arquivo, o
pesquisador precisa optar por fontes orais e material trazidos pela própria comunidade.
Para desenvolver a proposta de trabalho, foi dividido o estudo em cinco unidades
distintas, abordando: o conhecimento da história de Goioerê; a modernização agrária e as suas
consequências; as transformações sociais e econômicas ocorridas na comunidade do Colégio
Estadual Vila Guaíra; o Sindicato do Trabalhador Rural; e a história da comunidade da Vila
Guaíra e o acervo histórico.
13
Na primeira etapa da proposta, foram realizadas atividades buscando evidenciar o
conhecimento da história de Goioerê. Para que o aluno compreenda a sua localização dentro
do espaço em que vive, foi trabalhado o mapa do município de Goioerê individualmente,
sendo realizada a localização dos pontos cardeais, colaterais e a posição do Colégio no mapa.
Complementando a atividade, foram realizados os seguintes questionamentos para
verificar o pré-conhecimento dos alunos em relação ao seu espaço e sua história: Conhece ou
já ouviu falar da história da Vila Guaíra? Como ele está organizado: em quadras,
pavimentação asfáltica, rede de esgoto, iluminação pública, lotes vagos...? Quais foram as
principais mudanças nos últimos 20 anos? Quem estabeleceu esta organização: comunidade
ou setores públicos? Há como mudá-lo? Descreva as características físicas e sócio-
econômicas da comunidade em que vive.
As respostas que apresentaram argumentos mais fundamentados e com maior
conhecimento, foram selecionadas e apresentadas em sala de aula. Graziano Neto (1986)
argumenta que pela dificuldade encontrada em localizar fontes de pesquisa, o pesquisador
pode optar por fontes orais. Nesse enfoque, procurou-se organizar um acervo pesquisado e
produzido pelos alunos, que no decorrer das aulas possibilitarão debates em torno das relações
de trabalho local como também partir da realidade vivida na comunidade.
Constatou-se desde o início da atividade proposta o interesse dos alunos, em que os
mesmos demonstraram possuir informações sobre a realidade do município e comunidade
local, as quais passaram a ser sistematizadas e organizadas, ampliando substancialmente o
conhecimento.
A Geografia, enquanto ciência, assume um enfoque conceitual sobre o homem
enquanto sujeito construtor e transformador do espaço, um homem social e cultural, situado
em uma dimensão econômico e política que imprime seus valores ao processo de construção e
reconstrução do lugar em que vive, mas que também é marcado por este mesmo lugar.
O espaço vivido pode ser entendido como uma rede de manifestações da cotidianidade desse sistema em torno das intersubjetividades que são, por sua vez, as redes nas quais se constituem as exigências individuais, no trabalho, na escola, na família, nas outras diversas formas da vida societária (REGO, 2000, p. 7, 8).
Baseado nessa visão é possível analisar a relação entre os saberes produzidos no
cotidiano de uma comunidade e a produção do saber escolar, focalizando o conhecimento
geográfico de seus moradores. Com este objetivo, é válido apreender o conjunto de
14
percepções construídas a partir das relações estabelecidas entre os indivíduos e o lugar onde
vivem.
Na segunda atividade, foi abordada a modernização agrária e as suas conseqüências.
A realidade das atividades do campo reflete atualmente a transição do modelo econômico do
país agro-exportador para o subdesenvolvido industrializado. Conforme a indústria se tornava
o eixo principal da economia brasileira, processo consolidado a partir da década de 1950,
quando a economia do país era cada vez mais controlada pelas transnacionais, a agricultura
ficava mais dependente e subordinada a indústria e aos interesses econômicos de grupos
brasileiros e internacionais.
Muller (1989) afirma que a partir da década de 1970, a agricultura brasileira moldou-
se ao capitalismo. As agroindústrias cresceram como consumidoras dos produtos da
agropecuária, ao tempo que se remodelavam, surgiam novas agroindústrias, de grande porte,
ligadas ao exigente mercado internacional. Nesse período, Martine e Garcia (1987) relatam
que ocorreu um aumento no uso da força mecânica, e em contrapartida, a uma relativa
estagnação no uso da força animal. Esse processo que ora visava o aumento da produção teve
como principal conseqüência a substituição do homem do campo pela máquina.
Após ser realizada explanação sobre o tema, buscou-se contextualizar a teoria com a
prática, sendo proposta análise das tabelas do IBGE da população rural e urbana do município
de Goioerê entre as décadas de 1970 e 2010. Os alunos realizaram pesquisas sobre a
população rural e urbana do município de Goioere dos últimos 40 anos, buscando
informações no site do IBGE e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem
escritório regional dentro da prefeitura do município. Após o trabalho de pesquisa, eles
apresentaram tabela com a explicação das mudanças da população para os demais alunos da
sala.
Objetivando ampliar a compreensão do processo de transformação ocorrida no
ambiente em que estão inseridos, foi montado um questionário para as entrevistas com
moradores da comunidade. Assim, foi organizado um grupo de cinco alunos, tendo como
objetivo o levantamento das informações junto com os moradores, sendo pesquisados dez
moradores, sendo os resultados dos trabalhos apresentados em sala de aula. As questões da
entrevista apresentam-se expostas no Apêndice 1.
A aplicação das atividades apresentou-se resultados positivos, verificando-se que os
alunos participaram e interagiram com o tema, em que o fato de estarem utilizando material
coletado por eles mesmos, tornou as aulas mais atrativas e proporcionou melhores resultados.
15
Segundo Freire (1996), adquire importância a concepção sobre o saber do educando e
o conceito geográfico escolar, vislumbrando-se uma escola capaz de articular elementos do
conhecimento científico, mas que também valorize elementos da cultura e do saber popular.
Verifica-se a importância de uma escola onde seja questionada a sua função como veículo de
reprodução do conhecimento descontextualizado culturalmente, mas que também possa
antever a possibilidade de ser lugar de construção de cidadania, mediada por diversos
contextos. Nessa perspectiva, Freire (1996) aponta caminhos para uma educação dialógica,
problematizadora e em consonância com a própria vida do aluno. Nesse sentido, ao falar
sobre o universo do educando, de sua maneira de ver, de ler o mundo, o autor valoriza o saber
geográfico construído na relação entre as classes sociais.
A atividade oportunizou conhecer um pouco mais sobre a realidade da comunidade da
Vila Guaíra, em que a pesquisa de campo através de análises de gráficos, tabelas e coleta de
informações fez com que o resultado fosse mais interessante, havendo interação dos
educandos e do corpo docente. Albuquerque (2004) ressalta que a ideia do educador é
incorporar o mundo do educando ao processo educativo, uma vez que ele propõe uma
educação que pense o cidadão a partir das condições sócio-econômicas da sua vida, do seu
trabalho e do seu universo familiar e cultural.
O estudo dos alunos constatou que na década de 1970 ocorreu no município de
Goioerê expressivo êxodo rural – migração do campo para a cidade em larga escala. Esse
movimento populacional teve como principal causa a modernização da agricultura e teve
como consequência o crescimento populacional da cidade. Os proprietários dos pequenos
lotes de terras venderam os mesmos para grandes proprietários, migrando para as cidades,
tornando-se na maioria das vezes bóias-frias devido à falta de emprego nos setores
secundários e terciários. Com a aceleração da modernização a mão-de-obra agrícola foi
substituída pelas máquinas, ficando em extinção o trabalho no campo, gerando desemprego
rural e urbano.
O resultado desse processo foi o inchaço das cidades, aumentado também as vilas,
onde se estabelecia a população vinda do campo que não possuía mão-de-obra especializada e
nem nível educacional suficiente para ingressar no mercado de trabalho. Esse cenário foi
percebido também em Goioerê com a Vila Guaíra, sendo comprovado pelos alunos com as
análises dos dados do IBGE e nas entrevistas realizadas com moradores. Um dos
entrevistados relatou: “Lembro dos bons tempos da época do ciclo do algodão, não havia
desemprego”.
16
Constatou-se com as atividades da segunda unidade do estudo, o envolvimento dos
alunos/professora e o trabalho interdisciplinar em matemática através da montagem e análise
das tabelas e gráficos, estando os educando motivados na realização do estudo. Os alunos
tornaram-se sujeitos do seu processo de aprendizagem, coletando dados, montando gráficos e
tabelas, obtendo conhecimento e acompanhando as transformações que ocorreram em seu
município.
Complementando o estudo, foi abordada na terceira unidade, as transformações sociais
e econômicas ocorridas na comunidade do Colégio Estadual Vila Guaíra. Para contemplar a
proposta, optou-se por trabalhar com fotografias coletadas pelos alunos na própria família ou
com moradores antigos, e também utilizar fotografias do Acervo Público do município, sendo
também produzidas fotografias do bairro hoje para serem comparadas com as anteriores,
buscando evidenciar a evolução verificada nas análises e da paisagem. Foram observados
aspectos inerentes ao vestuário, as moradias, os instrumentos de trabalho que apareceram
nessas fotografias, sendo observado também de que o espaço era ocupado, ou seja, se haviam
espaços vazios, vegetação, como eram as ruas, se continham asfaltos ou não.
Simultaneamente, foram sendo registradas fotos recentes da comunidade da Vila Guaíra,
realizando-se comparação das mudanças ocorridas com o decorrer do tempo. Esse acervo foi
catalogado e identificado, sendo montado um painel apresentado à comunidade.
Complementando a atividade, os alunos elaboraram um texto descrevendo a paisagem,
seu lugar de vivencia, destacando as marcas do passado e a configuração atual.
Percebeu-se nas atividades da unidade a interação dos alunos com o tema proposto, em
que houve grande empenho para realizar o resgate histórico da comunidade, sendo
conseguidas diversas fotografias que retrataram a vivencia da época. Nesse contexto, as
atividades realizadas estão de acordo com as concepções de Vygotsky (1991), em que em sua
teoria sócio - histórico - cultural, apregoa que a base da aprendizagem está na interação do
educando com o meio social. Para o autor, o ser humano, desde que nasce, está em interação
com o seu grupo social, inserido em uma determinada cultura. Em sua abordagem sócio-
histórica os mecanismos psicológicos não são inatos, originam-se e se desenvolvem na
relação entre os indivíduos e o contexto sócio-histórico.
Na quarta atividade, foi enfocado o Sindicato do Trabalhador Rural: Representação de
Classe. Com a modernização no campo, não somente em nível de Brasil, estado do Paraná e
direcionada ao município de Goioere, já havia uma organização de Sindicato Rural
estabelecida. Silva (1981), os camponeses se reagruparam em pequenos proprietários,
arrendatários, parceiros e camponeses sem terra, pouco a pouco, o termo camponês começou
17
a perder espaço para uma expressão mais abrangente: o trabalhador rural. Mas sem conhecer a
legislação trabalhista, embora se organizassem, foram sendo “retirados” das terras que
trabalhavam e moravam. Isso fez com que fossem para as pequenas, médias e grandes
cidades, onde uma parcela conseguiu se colocar no mercado de trabalho e outra tiveram que
retornar ao campo como trabalhador temporário, ou “bóia-fria”, gerando assim uma nova
classe trabalhadora.
Mesmo havendo legislação que assegurasse os seus direitos, como registro em carteira
e indenização por tempo de serviço, ficaram as margens dos grandes produtores rurais: ou
seja, o que restou a essa classe trabalhadora foi vender sua força de trabalho. Antunes (2007)
chama a atenção para o capitalismo contemporâneo que vem assumindo nas últimas décadas a
sua lógica destrutiva. A Agricultura canavieira é um grande exemplo disso. No caso do
município de Goioere houve um aumento das áreas de produção de cana-de-açúcar, onde o
bairro Vila Guaíra tornou-se uma grande fornecedora de mão-de-obra para o corte da cana,
onde o mecanismo da exploração é o pagamento por produção diária per capita.
Diante da explanação, a atividade desta unidade foi organizada com mais um grupo de
cinco alunos, tendo como proposta uma pesquisa no sindicato dos trabalhadores rurais no
município de Goioere, buscando investigar inicialmente como era a legislação trabalhista nas
épocas recortadas na presente proposta. Foram questionados se de fato era cumprida a
legislação vigente e de que forma se fiscalizavam e quais os benefícios ou consequências para
o trabalhador rural, que benefícios eram ofertados aos mesmos através dos sindicatos.
Como a comunidade, em sua grande maioria, trabalhadores agrícolas ofertam mão de
obra ao corte da cana de açúcar, que atualmente configura-se como a atividade econômica
mais importante para o município, os alunos pesquisaram a legislação a respeito da atividade
canavieira, enfocando a como é estabelecida a remuneração dos trabalhadores. Todos os
dados foram registrados e apresentados para o grande grupo.
Os alunos realizaram pesquisas sobre o tema, trazendo para a sala de aula inúmeras
informações, discutindo se as informações teóricas apresentadas são vivenciadas na prática da
comunidade em que estão inseridos.
Vygotsky (1991) construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo
como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da
aprendizagem nesse desenvolvimento, sendo essa teoria considerada histórico-social. Sua
questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio.
Finalizando a abordagem pedagógica, na quinta unidade foi enfatizada a história da
comunidade da Vila Guaíra e o acervo histórico. A atividade teve como objetivo apresentar os
18
resultados obtidos com os trabalhos descritos nas unidades anteriores, em forma de seminário,
no formato PowerPoint da Microsoft. Para isso se efetivar, o grupo participou da apresentação
dos demais grupos para se interarem de todas as pesquisas e registros efetuados. Todo o
material produzido foi apresentado em forma de painel no pátio da escola para a comunidade
e ficando exposto por um período.
Através do questionário da pesquisa que foram tabulados em forma de gráficos, foram
separados os moradores que vieram do campo, daqueles que vieram de outras localidades ou
região e também para os que moravam no bairro (Vila Guaíra) antes da década de 1970. Foi
realizado trabalho de análise das fotografias e textos produzidos nas unidades. Fundamentado
nos resultados obtidos nos gráficos e textos, os alunos trabalharam com desenhos que retratam
a realidade da comunidade, sendo montado um portifólio disponibilizado como suporte
educacional e cultural. Esse material foi apresentado para a comunidade.
Evidencia-se a necessidade de uma educação que contemple os anseios e necessidades
da comunidade. Nesse contexto, compartilhando às idéias de Freire (1987), que concebe a
escola como espaço de construção de saberes, advindos tanto nos saberes populares quanto
científicos. Esses saberes devem entrelaçar-se para que o saber escolar seja verdadeiramente
significativo para o educando. Tal concepção só poderá ser efetivada levando-se em
consideração que: o respeito aos saberes do educando se insere no horizonte maior em que
eles se geram – o horizonte do contexto cultural, então o respeito ao saber popular implica,
necessariamente, o respeito ao contexto cultural. Assim, a escola deve ser um espaço de
diálogo entre os saberes.
A referida proposta de trabalho se propôs a investigar como ocorre o entrelaçamento
dos saberes da comunidade e o escolar, reportando-se aos saberes populares, construídos
cotidianamente no espaço vivido e aqueles sistematizados, ministrados nas salas de aula,
visualizando uma junção profícua, a fim de gerar aprendizagens significativas para a vida do
aluno. As percepções apreendidas a partir das representações do aluno sobre o seu entorno
inscrevem-se na singularidade das experiências cotidianas vividas por cada um no seu
contexto. É imprescindível considerar que o aluno é parte do lugar, ele o identifica segundo a
sua subjetividade, sua própria leitura, trazendo essa leitura para embasar a sua aprendizagem.
Albuquerque (2004) analisa que a produção do saber escolar não se constitui fora da escola, o
saber do educando deve compor a elaboração do saber escolar, pois que deve ser o ponto de
partida para o processo que desencadeará o acesso a outras formas de saberes e que,
posteriormente, permite ao educando fazer uma nova leitura do mundo.
19
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa tomou como ponto de reflexão e investigação o ensino de Geografia, sua
importância para a vida do aluno e as possibilidades de existência de um ensino
contextualizado, partindo e retornando ao lugar como base de construção do saber escolar
Geográfico. Nesse contexto, a Unidade Didática foi produzida com a participação do aluno
que vivencia o processo de modernização de agricultura, possibilitando-o compreender a
realidade. Assim, a modernização da agricultura no município de Goioerê e as alterações nas
relações de trabalho foram investigados e debatidos em sala de aula e através de pesquisa de
campo.
Cada indivíduo possui uma relação com o espaço que o cerca, percebe de maneira
diferente, de forma singular. Isto está ligado a sua compreensão em relação à sociedade, ao
trabalho, à natureza e aos próprios homens, fazendo com que o espaço experimentado
apresente diferentes significados e provoque diferentes reflexões. Assim o ser humano deve
tomar consciência de que faz parte de uma sociedade, de um espaço, no qual está inserido e
que deverá gerenciar seu espaço geográfico de maneira satisfatória e tendo consciência de sua
importância neste. Desse modo, muitas questões, no processo da investigação do estudo do
meio, exigem pensamentos e olhares geográficos que contextualizem sua interação e
compreensão espacial total.
Nesse sentido, o estudo permitiu que o conteúdo ensinado não seja meramente teórico
e sim, ligado a vida das pessoas. A geografia ensinada então passa a ter sentido e interesse
para o educando. Nas relações do homem com o meio estão inseridos objetos de significados
variados, e por meio da experiência, da investigação, da pesquisa, da conscientização, o
conhecimento se materializa e auxilia na identificação e na apreensão das complexidades
destas relações. O estudo sobre os entornos da escola contribuem para que a aprendizagem
deixe de ser uma “ilha” dentro da comunidade e do bairro e colaborar para que o educando
faça uma leitura consciente do meio. O saber do aluno é o reflexo dessa comunidade.
Valorizar e aprender como os alunos contextualizam seu meio pode contribuir para que a
escola tenha uma função ativa, enquanto porte da comunidade em que está inserida.
Dentro de um ensino significativo, os estudos sobre o meio possibilitam que os alunos
tenham acesso ao conhecimento escolar e científico da ciência geográfica, ampliando suas
reflexões sobre o espaço em que vivem. A escola é uma instituição imbuída também de
evidenciar o ensino-aprendizagem contextualizando o meio que o cerca e o mundo,
20
possibilitando ao aluno compreender as inter-relações existentes entre ela e seu entorno. É
indispensável que a escola permita aos educandos a apropriação das múltiplas linguagens que
irão promover o diálogo dos mesmos com o mundo, pois no processo de estudo do meio das
crianças é imprescindível mais que informações e conceitos, uma compreensão de realidade
que vai desenvolvendo-se ao longo da vida. Deste modo à escola pode e deve contribuir para
que o aluno amplie sua visão de mundo e compreenda com nitidez as relações desenvolvidas
no seu meio.
As atividades propostas na produção didático-pedagógica contribuíram para mudanças
na realidade social da escola pública, pois através das atividades o indivíduo se apropria dos
conhecimentos necessários, interagindo com a comunidade na qual está inserido. O resgate
histórico através das pesquisas e entrevistas com moradores antigos, tornou o trabalho
interessante, fazendo do aluno um agente integrado à comunidade, atuante, capaz de produzir
um acervo, organizar painéis com imagens e fotografias, construir gráficos e tabelas,
possibilitando uma análise e discussão, envolvendo o passado e o presente da comunidade
estudada e assim contribuir para a compreensão da realidade socioeconômica e cultural atual,
para que se torne um cidadão crítico e atuante, capaz de transformar o meio em que vive.
Finalizando o estudo, evidencia-se que quando o aluno participa do processo como
agente do mesmo, aumenta a oportunidade de aprendizagem, pois torna-se possível a analogia
entre os conteúdos estudados e a vivencia, sendo portanto o trabalho de campo o ponto inicial
para o processo de aprendizagem, somado à leitura e pesquisa bibliográfica. Assim, a
proposta pedagógica contribuiu para mudanças relevantes na realidade social da escola e a
produção de material didático é de suma importância para todas as disciplinas como fonte de
pesquisa.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins. Lugar: Conceito Geográfico nos Currículos Préativos – Relação entre saber acadêmico e saber escolar. São Paulo: Tese de Doutorado da área de Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares. Faculdade de Educação/Universidade de São Paulo, 2004. ALMEIDA, L. M. A. RIGOLIN, T. B. Geografia Geral e do Brasil. Volume Único: São Paulo: Editora Ática, 2011. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre a metamorfose e a centralidade do mundo do trabalho. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
21
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/ . Acesso em: 02 de maio de 2011. CALLAI, Helena Copetti. O ensino de Geografia: recortes espaciais para análise. In: CASTROGIOVANI, Antonio Carlos et al. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 4 ed. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. ______. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2000. GRAZIANO NETO, Francisco. Questão agrária e ecologia. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. ______. Questão Agrária e ecologia crítica da moderna agricultura. São Paulo: Brasiliense, 1986. IBGE. População. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 2011. MARTINE, George; GARCIA, Ronaldo Coutinho. Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: Cortez, 1987. MORIM, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2001. MÜLLER, Geraldo. Complexo agroindustrial e modernização agrária. São Paulo: Hucitec, 1989. OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento - um processo sócio-histórico. 4 ed. São Paulo: Scipione, 1997. PALMEIRA, Moacir. Modernização, Estado e questão agrária. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141989000300006&script=sci_arttext. Acesso em: 2012. PARANÁ, Secretaria de Educação do. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Geografia no Estado do Paraná. SEED, 2008. PAZ JUNIOR, Antonio Correia. Memórias de minha Terra. Goioere: Sensação, 2003. PRIORI, Ângelo. História Regional e Local: métodos e fontes. Assis: UNESP, 1994. REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 10 ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
22
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1999. SHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004. SILVA, José Graziano. A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1981. ______. O novo mundo rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 2000. WANDERLEY, M. de N. B. O camponês: um trabalhador para o capital. Cadernos de Difusão de Tecnologia, Brasília: Embrapa, v.2, n.1. p.13 -78, jan./abr.1995. VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins, 1991. Fonte Oral: COELHO, João Roberto. Produtor Rural. Entrevista realizada no dia 15 de Abril de 2011. NETO, Antonio Bernardino Sena. Advogado e Escritor. Entrevista em 20 de Abril de 2011.
23
APÊNDICE 1 – QUESTÕES PARA ENTREVISTA. Identificação do entrevistado: ( ) Aluno ( ) Pai ou Mãe ( ) Professor ( ) Morador da década de ( ) 1970, ( ) 1980, ( ) 1990, ( ) 2000 e ( )2010
1. Vieram de qual estado, região ou município?
2. Foi morar no campo ou na cidade?
3. O que atraiu para esse município?
4. Em que atividade econômica trabalhavam naquela época?
5. As mudanças ocorridas no campo os afetaram? (de que forma?
6. Qual atividade econômica exerce hoje?
7. Conhece ou conheceu a história do bairro Vila Guaíra?
8. Há alguma razão especifica em escolherem o bairro para morarem?
9. Quais as mudanças ocorridas no bairro a partir de 1970?