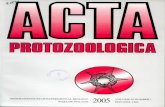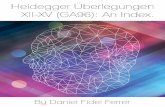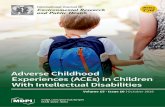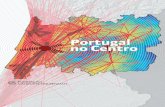Untitled - Sigarra
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Untitled - Sigarra
UMA EXPOSIÇÃO. MEDICINA LUÍS DE PINA
O DIAGNÓSTICO MÉDICO E A ESPECIALIZAÇÃO DA MEDICINA DO SÉCULO XIX OS MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
A SANGRIA E O CLISTER
OS MÉTODOS FÍSICOS DE HEMÓSTASE
AS TRANSFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NA CIRURGIA OS INSTRUMENTOS DE EMBRIOTOMIAO FÓRCEPS OBSTÉTRICOO LITOTRITOR
A CADEIRA DE PARTO
A INCUBADORA
OS INSTRUMENTOS DE SUTURA DIGESTIVA
LUÍS DE PINAOS ESTUDOS MÉDICO-HISTÓRICOS NA OBRA DO PROFESSOR LUÍS DE PINA
05
08
10
20
24
30
34
34
36
42
44
46
50
52
ÍNDICE
Para a segunda exposição do ciclo “Aventureiros, Naturalistas e Co-leccionadores”, pretendemos apresentar mais um dos núcleos mu-seológicos da Universidade do Porto através de uma abordagem por três vectores: uma colecção, uma personagem, um evento.
Sabíamos de antemão que o trabalho nos iria ser grandemente facilitado: ao contrário de outros núcleos museológicos univer-sitários, que perderam parte da sua relevância para um ensino universitário em permanente actualização, o Museu de História da Medicina é um museu didáctico em ligação com a disciplina de História da Medicina, sendo a direcção do museu assegurada pelo regente da cadeira.
O nosso projecto, explicitamente dirigido ao público jovem, en-controu na Prof.ª Doutora Amélia Ricon Ferraz, directora do museu, um apoio entusiástico e empenhado. Como comissária, concretizou o nosso pedido genérico – explicitar alguns dos mo-mentos de evolução do conhecimento e da tecnologia médica – or-ganizando e seleccionando objectos e ilustrações segundo duas grandes unidades temáticas, explicitadas com textos da sua auto-ria: o diagnóstico médico e a especialização na medicina do século XIX e, também, as transformações científi cas e tecnológicas que decorreram paralelamente (e em interdependência) na cirurgia. Outros subgrupos temáticos elucidarão o visitante sobre este pro-cesso, mas também revelarão a perduração anacrónica de algumas práticas médicas, como a sangria e o clister.
UMA EXPOSIÇÃOMEDICINA LUÍS DE PINA
A personagem em evidência nesta exposição não poderia deixar de ser o Prof. Luís de Pina, fundador do Museu de História da Medicina, cujo percurso tentamos caracterizar em palavras ne-cessariamente breves. Finalmente, é dado relevo ao evento que despoletou o processo de instalação do museu: a exposição co-memorativa do 1.º centenário da fundação da Real Escola de Ci-rurgia, que teve lugar em 1925 e cujas peças – muitas doadas por particulares – constituíram o núcleo inicial do museu.
Resta-nos agradecer aos intervenientes, muito especifi camente à Prof.ª Amélia Ricon Ferraz, mas também sem esquecer o apoio que o Departamento de Botânica da Faculdade de Ciências, nas pessoas do seu presidente cessante, Prof. Francisco Barreto Cal-das, e do actual, Prof. José Pissarra, nos prestou. Last but not least, queremos agradecer a cooperação da direcção da Faculdade de Ciências, que tornou este projecto possível.
JOSÉ FERREIRA GOMES
VICE-REITOR
A ESCOLA MÉDICA NO 1.º CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO DA REAL ESCOLA DE CIRURGIA PALÁCIO DE CRISTAL. 1925
No século XIX assiste-se à evolução da ciência em geral, fruto da difusão dos princípios de liberdade da palavra e do pensamento, e consequente descentralização da infl uência religiosa e política na Universidade. Auguste Comte (1798-1857), ao investigar as leis que regem os fenómenos, considera os factos reais como funda-mento de métodos exactos e objectivos, fundando o positivismo. A medicina passou a depender em grande parte da ciência, o la-boratório assumiu um estatuto relevante na resolução das situa-ções de doença. O médico partilha da tendência positiva do tem-po, aceitando os resultados fundamentados em factos objectivos. Vai caminhar no sentido do diagnóstico clínico-laboratorial e da especialização, munido de sólidos princípios científi cos, de instru-mentos e de fármacos, colaborando com outros profi ssionais não médicos indispensáveis no âmbito da investigação em medicina e da actividade médica assistencial. Os instrumentos de diagnósti-co, muitos decorrentes de investigações anteriores a este período, adquirem neste século uma qualidade ímpar, ditada pelas novas exigências clínicas e possível graças aos sucessivos avanços cien-tífi cos e tecnológicos. A dimensão do saber daí decorrente carecia, contudo, de uma sistematização, que culminará com a organiza-ção das diferentes especialidades médicas.
O D
IAG
NÓ
ST
ICO
MÉ
DIC
O E
A E
SP
EC
IAL
IZA
ÇÃ
O N
A M
ED
ICIN
A D
O S
ÉC
UL
O X
IX
ESTETOSCÓPIO DE LAËNNEC. SÉC. XIX
10
O ESTETOSCÓPIO
O estetoscópio foi o primeiro instrumento de diagnóstico não invasivo na história da medicina. Data de 1816 a sua invenção pelo Doutor René Theóphile Hyacinthe Laënnec (1781-1826). A palavra “estetoscópio” foi introduzida na terminologia médica pelo seu inventor. Deriva das palavras “stethos”, peito, e “skopein”, observar. A este estetoscópio rígido monoauricular sucederam outros do género que foram idealizados com formas e materiais diferentes: as madeiras de cedro e pinho eram as mais resistentes e as menos frias ao tacto; as de cedro e ébano ampliavam a in-tensidade das vibrações. Paralelamente, surgiram os estetoscópios fl exíveis monoauriculares. O estetoscópio biauricular de George Cammann (1852, Nova Iorque) constituiu o protótipo de todos quantos o sucederam. Os materiais utilizados na manufactura da extremidade torácica destes estetoscópios, a campânula, foram a madeira, o marfi m, os metais e a cerâmica. A câmpanula não permitia a audição de alguns sons de alta-frequência, situação re-solvida com o diafragma, dispositivo que possuía uma membrana capaz de vibrar como o tímpano humano.
O ESFIGMOMANÓMETRO
O primeiro grande avanço instrumental na determinação da pres-são sanguínea surgiu em 1876 com o Professor Samuel von Basch, de Viena. Riva-Ricci utilizou o mecanismo deste manómetro de mercúrio mas introduziu o braçal, um saco de borracha que envol-via o braço e instaurava uma compressão arterial completa (1895). Em 1905, Korotkow introduziu a auscultação com o estetoscópio na determinação da pressão arterial com o esfi gmomanómetro, em vez da palpação do pulso arterial.O esfi gmomanómetro tipo relógio de Friedrich von Reklinghau-sen (1908) usava uma bomba de bicicleta para insufl ar o braçal e uma mola de Bourdon, um tubo metálico fi no e curvo, fi xo numa das extremidades, que se ajustava à pressão do ar, alteração essa que movimentava o indicador.O esfi gmomanómetro de Pachon (1909) utilizava um mecanismo diferente de funcionamento, o dos barómetros aneróides.
O MARTELO DE REFLEXOS TENDINOSOS
Em 1875, Wilhelm Erb apresentou a sua teoria sobre o refl exo tendinoso. Afi rmava que um arco nervoso transmitia um impulso desde um tendão estimulado até à espinal-medula e de volta para o tendão muscular, de forma a produzir uma contracção instantâ-nea. Os estudos experimentais ulteriores confi rmaram a teoria de Erb. Tornava-se possível na prática clínica identifi car o nível da do-ença ou da lesão na espinal-medula. A microscopia permitiu iden-tifi car os nervos sensitivos e motores envolvidos nos refl exos.
O QUERATOSCÓPIO E O OFTALMOSCÓPIO DE PLÁCIDO
O novo instrumento explorador da córnea foi designado pelo seu inventor – o Professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto Antó-nio Plácido da Costa (1849-1916) – de astigmatoscópio explorador, sendo conhecido internacionalmente por queratoscópio de Pláci-do. Nos fi nais de 1879, Plácido da Costa publica no Periódico de Oftalmologia Prática, dirigido pelo médico-oculista Van der Laan, sete artigos dedicados à apresentação dos seus inventos: o astig-matoscópio explorador, o binoscópio ortopédico, a cápsula higro-térmica e a bateria galvanoterapêutica. Nas suas publicações inclui esquemas dos referidos instrumentos e fotografi as de imagens vi-suais corneanas resultantes da aplicação do queratoscópio.Em 1850, o médico alemão Hermann von Helmholtz (1821-1894) construiu o primeiro oftalmoscópio da história ao associar algu-mas lentes côncavas a três vidros refl ectores da luz. Era possível iluminar a câmara posterior do globo ocular através da pupila e obter uma imagem global dos elementos da retina. O oftalmoscó-pio de Plácido da Costa constituiu “o primeiro systema portuguez e o primeiro oftalmoscópio fabricado em Portugal. 1880.”, conso-ante a nota manuscrita que o Professor deixou apensa a um dos exemplares deste modelo.
O D
IAG
NÓ
STIC
O M
ÉDIC
O E
A E
SPEC
IALI
ZA
ÇÃ
O D
A M
EDIC
INA
DO
SÉC
ULO
XIX
OS
ME
IOS
AU
XIL
IAR
ES
DE
DIA
GN
ÓS
TIC
O
14
O TERMÓMETRO
A avaliação da temperatura corporal fazia parte integrante do exa-me objectivo do doente desde a mais remota Antiguidade. Contu-do, a ciência e a tecnologia do tempo não favoreciam a idealização e a manufactura de um instrumento susceptível de quantifi car a temperatura corporal. Atribui-se a Galileu Galilei (1564-1642) o conhecimento e a utilização de um instrumento para quantifi car o calor. Era um instrumento sem escala ou pontos fi xos, um ter-moscópio aberto de ar. Os resultados que este instrumento forne-cia dependiam das oscilações do calor e das variações da pressão atmosférica. Por volta de 1610, Cornelius Drebbel (1572-1634) apareceu com a sua “experiência de Héron”, na qual demonstrou a acção dilatadora do calor sobre o ar. O seu termómetro fi cou conhecido pelo nome de perpetuum mobile. Em 1614, Santorio Santorio (1561-1636) apresenta o seu instrumentum temperamen-torum, que orientou para fi ns clínicos. Como requisitos prioritá-rios, considerou que o termómetro deveria ser aplicado numa de-terminada região do corpo durante um tempo determinado e por várias vezes no decurso de cada doença. O seu cumprimento faria deste instrumento um valioso auxiliar de diagnóstico. Contudo, os seus objectivos não foram atingidos. Os primeiros registos re-lativos aos primeiros termómetros fechados de “espírito de vinho” pertencem à Academia del Cimento (Florença, 1657). Em 1665, Robert Boyle (1626-1691) propôs como ponto fi xo a temperatu-ra de congelação do óleo de anis. Christian Huygens (1629-1695) propõe, pela primeira vez, os índices de congelação e de ebulição da água como pontos fi xos. Testou-se uma diversidade de substân-cias, tais como o óleo de linhaça, o ar, o espírito de vinho, o mer-cúrio, entre outras. A calibração dos tubos com uma gota de mer-cúrio representou um progresso considerável no aperfeiçoamento do termómetro. O tipo de divisões que ainda hoje se praticam nas escalas termométricas ligam-se aos nomes de G. Fahrenheit (1686-1736), Réaumur (1683-1757) e Anders Celsius (1701-1744).O termómetro de Immisch diferencia-se dos demais pelas reduzi-das dimensões que possui. O sistema de funcionamento baseia-se no pressuposto da dilatação de líquidos num tubo metálico por acção do calor (1889).
O MICROSCÓPIO
O microscópio simples é constituído por uma lente biconvexa, nada mais que uma lupa comum fi xa num suporte. Quando os raios paralelos do sol atravessam o vidro, convergem para um ponto comum, o foco principal. Sempre que um objecto é colo-cado entre a lente e o seu foco principal observa-se uma imagem ampliada “virtual”. Quanto maior a superfície da lente, maior a ampliação. Atribui-se a Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) o fabrico dos primeiros microscópios simples constituídos por uma placa metálica (de latão, prata ou ouro) perfurada onde se alojava uma lente esférica. Era um instrumento útil quando não se torna-va necessária uma grande ampliação.No início do século XVII já se tinha constatado que uma maior ampliação do objecto acontecia com a associação de uma segunda lente (a objectiva) à do microscópio simples – o microscópio com-posto. Para obter uma imagem “real”, o objecto a estudar devia ser colocado a uma distância maior das lentes do que a sua distância focal. A aplicação de um diafragma com uma pequena abertura central reduziu as aberrações cromáticas e esféricas de forma po-sitiva, mas limitava a luz proveniente do objecto. Somente cerca de 1820, com a introdução do microscópio de lentes acromáticas, o diafragma se tornou obsoleto, mas, dez anos mais tarde, regres-saria com a introdução do condensador acromático, dispositivo que ao acabar com a distorção da imagem e a defi ciente ilumina-ção constituiu um importante avanço tecnológico, determinante de importantes avanços científi cos.
O D
IAG
NÓ
STIC
O M
ÉDIC
O E
A E
SPEC
IALI
ZA
ÇÃ
O D
A M
EDIC
INA
DO
SÉC
ULO
XIX
OS
ME
IOS
AU
XIL
IAR
ES
DE
DIA
GN
ÓS
TIC
O
MICROSCÓPIOSALFRED METZ. CATALOGUE LLLUSTRÉ. 1906
16
OS ESPÉCULOS
“Espéculo” é uma palavra latina que signifi ca espelho. O espéculo visa dilatar a entrada de certas cavidades de forma a facilitar a visualização directa ou refl ectida do estado de um órgão. Até 1800 a cura das doenças fundamentava-se na natureza dos sintomas e sinais identifi cados. Não se sentia a necessidade de instrumentos complementares de diagnóstico. O espéculo era uma excepção. A sua utilização remonta à medicina grega e romana e, desde esse tempo, a sua forma evidenciou uma alteração constante, visando salvaguardar o bem-estar do paciente e uma melhor visualização. A ideia científi ca do espéculo vaginal cilíndrico era antiga mas concretizou-se com Joseph Recámier (1774-1852), em 1801. A esta forma introduziram-se várias e sucessivas alterações, bem como diversos foram os materiais empregues (metal, marfi m, vidro, porcelana, madeira, borracha). As formas valvulares, da preferên-cia dos gregos e romanos, possuíam um princípio comum subja-cente a mecanismos díspares. Espéculos de duas, três ou mais val-vas, manufacturados em diferentes épocas, visaram uma melhor exposição e uma menor ofensa corporal.O espéculo anal sofreu uma evolução paralela à do espéculo va-ginal em termos de forma e dos materiais utilizados na sua ma-nufactura.
O D
IAG
NÓ
STIC
O M
ÉDIC
O E
A E
SPEC
IALI
ZA
ÇÃ
O D
A M
EDIC
INA
DO
SÉC
ULO
XIX
OS
ME
IOS
AU
XIL
IAR
ES
DE
DIA
GN
ÓS
TIC
O
ESPÉCULO VAGINAL DE MARC COLUMBATS MODIFICADO POR GUILLON. SÉX XIXESPÉCULO VAGINAL TRIVALVE. SÉC XIX
18
CÓPIA DO MICROSCÓPIO DE LEEUWENHOEK
De autoria do Professor Luís de Pina (1901-1972)Latão. Séc. XX. 8 x 2,8 x 4 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DISCO DE PLÁCIDO
Pertenceu ao Professor Plácido da Costa (1849-1916) Aço e papel. Séc. XIX. 33 x 28,5 x 3,5 cmPLÁCIDO DA COSTA. OFERTA DO SERVIÇO DE FISIOLOGIA
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
PELO PROFESSOR PINA CABRAL EM 1991.
CÍRCULOS CONCÊNTRICOS APAGADOS
ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR COMBINADO
Aço, borracha e plástico. Séc. XX. 64,5 x9 x 2,7 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR COM DIAFRAGMA
E APOIO DIGITAL
Aço, borracha e plástico. Séc. XX. 55,5 x 12,6 x 4,5 cmTONO. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR DE ALISON
Marfim, latão, aço, ebonite e tecido. Séc. XIX. 40 x 16 x 4,7 cm WEISS, LONDON. OFERTA DO PROFESSOR AMÂNDIO TAVARES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTETOSCÓPIO DE LAËNNEC
Madeira e marfim. 1823. 25 x 3,7 x 3,7 cmGRUMBRIDGE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTETOSCÓPIO RÍGIDO MONOAURICULAR
DE PIORRY
Madeira e marfim. Séc. XIX. 18,6 x 4,5 x 4,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE AÇO FORRADO
A FLANELA VERMELHA
Pertenceu ao Professor José de Andrade Gramaxo (1826-1921). Contém um termómetro de Immischs. Metal e vidro. Séc. XIX. 4 x 2,8 x 1 cm3,2 X 3,2 X 1,3 CM. OFERTA DO DOUTOR CASTRO LOPES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE COURO
Contém um fonendoscópio de Bazzi & Bianchi.Aço, vidro, borracha e plástico. Séc. XX. 80 x 6,2 x 6,2 cm10,5 X 9,2 X 2 CM. G. BOULITTE, PARIS.
MODERADO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E LATÃO,
FORRADO A PERGAMÓIDE E FLANELA VERMELHA
Contém o oscilómetro esfigmométrico do Dr. Pachon. Apresenta a inscrição: “Bréveté S.G.D.Gg – G. Boulitte ing. R Const. R 7, rue Linné, Paris, n.º 2”.Aço niquelado, vidro, borracha, couro e tecido.Séc. XX. 7 x 15 x 15 cm13 X 20,5 X 17,5 CM. ENTREGUE À DOUTORA MANUELA FRADA
PELO PROFESSOR FERRAZ JÚNIOR E POSTERIORMENTE OFERECIDO
AO MUSEU. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE METAL, PLÁSTICO E PELE
Contém um esfigmomanómetro do Dr. H. von Recklinghausen. Aço, vidro, borracha e tecido. Séc. XX. Braçal. Metal, tecido e borracha. Séc. XX. 13,8 x 135 x 2 cm7,2 X 28,7 X 16 CM. OFERTA DO PROFESSOR CASTRO TAVARES
EM 1973. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MARTELO PERCUSSOR DE DÉJERINE
Madeira, latão, aço e borracha. Séc. XIX. 7,3 x 20,5 x 3 cmCOLLIN. MODERADO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MARTELO PERCUSSOR DE NIEMAYER
Aço e borracha. Séc. XIX. 5 x 19 x 1,5 cmOFERTA DO DOUTOR CASTRO HENRIQUES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
OFTALMOSCÓPIO DE PLÁCIDO DA COSTA
Pertenceu ao Professor Plácido da Costa (1849-1916). Apresenta uma nota manuscrita “Oftalmoscópio A. Plácido. O primeiro systema portuguez e o primeiro oftalmoscópio fabricado em Portugal. 1880”Tartaruga, latão e vidro. Séc. XIX. 6 x 4 x 2,1 cmPLÁCIDO DA COSTA. OFERTA DO SERVIÇO DE FISIOLOGIA
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
PELO PROFESSOR PINA CABRAL EM 1991.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO ANAL TIPO MATHIEU
Aço. Séc. XIX. 19 x 11 x 10 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO DE CURLING
Estanho. Séc. XIX. 12,5 x 7,5 x 3 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO FENESTRADO DE SIDEREY
Aço. Séc. XIX. 5 x 12 x 3,3 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO INTRA-UTERINO
Madeira, aço e baquelite. Séc. XIX. 1,6 x 27,7 x 1,8 cmCOLLIN. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO INTRA-UTERINO
Prata alemã e aço. Séc. XIX. 1,7 x 27,9 x 4,3 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO RECTAL BIVALVE
Aço. Séc. XVIII. 22,3 x 10,3 x 10,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL
Estanho. Séc. XIX. 16,7 x 4,2 x 11,9 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL
4 exemplaresMadeira e aço cromado. Séc. XIX. 9,4 x 18,5 x 4,3 cm, 9,7 x 18,7 x 4,5 cm,10 x 19,5 x 4,7 cm, 10,7 x 19,7 x 5,2 cmCOLLIN. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL BIVALVE
COM ESPELHO REFLECTOR
Prata alemã e aço. Séc. XIX. 11 x 20 x 5 cmGALANTE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL DE FERGUSON
Vidro. Séc. XIX. 4,7 x 14,7 x 4,7 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL DE FERGUSON
Vidro. Séc. XIX. 4 x 9,8 x 4 cmMODERADO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL DE FERGUSON
Vidro. Séc. XIX. 4 x 9,8 x 4 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL DE MARC COLUMBATS
MODIFICADO POR GUILLON
Aço. Séc. XIX. 19,7 x 8 x 19 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL TRIVALVE
Prata. 1843-61. 9 x 16 x 6,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESPÉCULO VAGINAL TRIVALVE DE PETIT
Madeira e aço. Séc. XVIII. 26,7 x 12 x 8,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
A medicina hipocrática, assim designada por ter tido como grande mentor Hipócrates de Cós (séc. V – IV a.C.), constituiu a primeira grande doutrina médica científi ca do mundo. Numa Europa in-fl uenciada pelas diversas escolas fi losófi cas gregas, com Hipócra-tes e a sua escola nasceu a medicina clássica ocidental. Tudo o que existia na natureza era composto de quatro elementos e quatro qualidades: terra, água, fogo e ar – quente, húmido, seco e frio. O estado de saúde dependia do equilíbrio dos humores ou líquidos corporais (eucrasia) e da força curativa da natureza, a physis. O desiquilíbrio da combinação da bile negra, do fl egma, do sangue e da bile amarela entre si e destes humores com as partes sólidas gerava a doença (discrasia). Na evolução da doença existiam os estados de crueza (apepsia), cocção (pepsia) e eliminação (crise) da matéria mórbida por intercepção da physis. A terapêutica li-mitava-se a auxiliar a physis de forma a obter o efeito contrário da doença. Consistia no emprego de métodos e práticas que se tornaram universais nos diferentes períodos da história da huma-nidade. As práticas da sangria e do clister encontram aqui os seus mais ancestrais fundamentos científi cos.
A S
AN
GR
IA E
O C
LIS
TE
R
ESTOJO DE SEDA E VELUDO VERMELHO BORDADO A OURO. SÉC XVIII/ XIXTesoura. Navalha. Estilete. Pinça. Pinça de depilação e colher auricular. Pinça de dissecção. Depressor lingual. Escalpelo
22
BACIA DE BARBEIRO SANGRADOR
Latão. Séc. XVIII. 10 x 35 x 35 cmOFERTA DA DOUTORA LÍDIA RODRIGUES FERREIRA.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESCARIFICADOR DE DEZ LÂMINAS
Aço dourado. Séc. XVIII. 5,7 x 5 x 4,5 cmSAVIGNY. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESCARIFICADOR DE DOZE LÂMINAS
Aço e aço cromado. Séc. XIX. 5,5 x 5,2 x 4,7 cmPASTEUR. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESCARIFICADOR DE OITO LÂMINAS
Aço. Séc. XVIII. 6,7 x 2,5 x 1,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESCARIFICADOR DE OITO LÂMINAS
Marfim, prata e aço. Séc. XIX. 3,5 x 3,7 x 14,5 cmCHARRIÈRE, PARIS. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E LATÃO
FORRADO A VELUDO CASTANHO
Pertenceu ao Doutor Pedro de Sousa (f. 1934).Contém uma seringa de clister e três acessórios.Osso, latão e borracha. Séc. XIX. 5 x 18,5 x 2,8 cm, 2,2 x 7,5 x 2,2 cm, 7,7 x 7,5 x 1,7 cm e 1,4 x 8,7 x 1,4 cm3,5 X 21,7 X 10,5 CM. CASA J. LAUNDY. OFERTA DE ARMANDO MONIZ.
BORRACHA DANIFICADA,
RESTANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E METAL
FORRADO A VELUDO BEIJE
Contém uma sanguessuga artificial de Lüer.Metal dourado, vidro e cortiça. Séc. XIX. 13 x 3 x 3,2 cm e 15 x 4 x 2,8 cm4 X 15,7 X 8,4 CM. OFERTA DO PROFESSOR AMÂNDIO TAVARES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA
FORRADO A FLANELA VERMELHA
Contém: Ventosa. Latão, aço e vidro. Séc. XX. 14,5 x 7,5 x 7,5 cm.Ventosa. Aço e vidro. Séc. XX. 13,5 x 7,5 x 7,5 cm.Ventosa. Latão, aço e vidro. Séc. XX. 13,7 x 5 x 7,5 cm.Ventosa. Latão, aço e vidro. Séc. XX. 12,5 x 6,5 x 6,5 cm.Escarificador, latão e aço. Séc. XX. 5 x 4,5 x 4,5 cm.Bombas de pressão de ar. Aço. Séc. XX. 17 x 2,5 x 2,5 cm9,5 X 25 X 15,5 CM. APRESENTA A INSCRIÇÃO ILEGÍVEL
ONDE SE IDENTIFICA A MARCA D. SIMAL.
OFERTA DO DOUTOR ANTÓNIO PEREIRA BARBOSA.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE PELE DE PEIXE
Pertenceu ao Professor Manuel Maria da Costa Leite (1813-1896). Contém seis lancetas para sangria.Tartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1,2 x 9,1 x 0,3 cm 9 X
4,5 X 1,5 CM. CHARRIÈRE ET GALANTE. OFERTA DE SEU FILHO GASPAR
DA COSTA LEITE. TAMPA DO ESTOJO SEPARADA DO CORPO.
RESTANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE SEDA E VELUDO VERMELHO
BORDADO A OURO
Contém oito instrumentos:Tesoura. Aço. Séc. XVIII/XIX. 4,5 x 14,5 x 0,8 cm.Navalha. Marfim e aço. Séc. XVIII. Eclipse Shefield. 1,7 x 25 x 0,7 cm.Estilete. Aço. Séc. XIX. 0,2 x 12,7 x 0,2 cm.Pinça. Aço. Séc. XIX. 5 x 15,7 x 0,7 cm.Pinça de depilação e colher auricular. Aço. Séc. XVIII. 7,5 x 1,4 x 0,8 cm.Pinça de dissecção. Aço. Séc. XIX. 11,2 x 5 x 1,2 cm. Charrière.Depressor lingual. Aço. Séc. XVIII. 0,1 x 15 x 1,8 cm.Escalpelo. Tartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1,4 x 14,6 x 0,5 cm.35,5 X 28,5 X 1 CM. STOFART. MODERADO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
LANCETA DE MOLA
Latão e aço. Séc. XVIII. 2,5 x 5,8 x 1,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
SERINGA DE CLISTER
Madeira e estanho. Séc. XVIII. 7 x 47 x 7 cmOFERTA DO DOUTOR RUSSEL CORTEZ. SECCIONADA
A EXTREMIDADE PROXIMAL DE MADEIRA DESTA SERINGA
O CLISTERJOANNIS SCULTETI. ARMAMENTARIUM CHIRURGIE. 1693
Os métodos físicos de hemóstase foram utilizados em simultâneo ou de forma sequencial desde os primórdios da sua introdução na prática cirúrgica, de acordo com a situação clínica e a preferência do cirurgião: o cautério, a laqueação vascular, a compressão mecâ-nica e as pinças hemostáticas.A hemóstase por métodos físicos foi com frequência um processo desumano.A aplicação do cautério, sob a forma de metal em brasa ou de lí-quido fervente, não carecia de conhecimento ou técnica operatória diferenciada. Foi, por este motivo, preferencialmente escolhido. A intensa dor despertada no doente gerava movimentos de repulsa, facto que impunha a presença de ajudantes opulentos de forma a fi xar a sua posição e facilitar a intervenção do cirurgião.O galvanocautério de Middledorpf é constituído por um fi o fi no de platina, acoplado a uma agulha isolante, por sua vez associada a uma bateria galvânica. A menor hemorragia local e a menor agressivida-de para o doente criou rapidamente adeptos. Porém, as limitações impostas na construção da bateria galvânica condicionaram o seu uso. Em 1875, o Dr. Paquelin cria o termocautério, aperfeiçoado mais tarde, em 1891. Baseia-se na propriedade da platina aquecer conden-sando certos gases e vapores, particularmente os carbonetos voláteis de essência mineral.Na laqueação vascular eram necessários uma agulha, um fi o e uma pinça para tracção do vaso. Estas pinças começaram por ter as extremidades distais quadradas e largas. Progressivamente so-freram um adelgaçamento e curvatura. O fi o na laqueação come-çou por abarcar o vaso e as estruturas vizinhas. As extremidades deste mantinham-se longas após o nó, prática que, de forma em-pírica, facilitava a drenagem da supuração resultante da perma-nência deste corpo estranho. Durante muito tempo, a formação de pus foi tida como um fenómeno fundamental no processo de cicatrização. Com a introdução da antissépsia por Joseph Lister (1827-1912) a laqueação vascular conquistou um lugar de desta-que entre os métodos físicos de hemóstase. Passou a restringir-se à compressão vascular, sendo a secção do fi o feita junto ao nó.
OS
MÉ
TO
DO
S F
ÍSIC
OS
DE
HE
MÓ
ST
AS
E
CONJUNTO DE OITO CAUTÉRIOS. SÉC XVIII/ XIX
26
A compressão digital ou mecânica é contemporânea da vida. Esta natural simplicidade explica a sua ampla aceitação através do tempo. Nos fi nais do século XVII assiste-se à generalização da prática do garrote e, de seguida, do torniquete e da compressão com agulha (acupressão).As pinças foram instrumentos com larga aplicação na prática ci-rúrgica. Só de forma esporádica se associaram à hemóstase como método de compressão vascular. O processo teve várias denomi-nações. Em 1875, Verneuil apresenta-o à Sociedade de Cirurgia com a designação de forcipressure. Parece ter sido de Koeberlé a autoria do nome pinces hemostatiques (1868). A pinça hemostáti-ca difere da pinça vulgar porque se mantém fechada por um artifí-cio especial. Vários foram os mecanismos idealizados no decurso do século XIX: em anel, com ranhura, vários anéis e ranhuras, braços cruzados, em parafuso…, entre os principais. O primeiro grande contributo coube a Joseph F. Charrière (1803-1876), pres-tigiado fabricante de instrumentos cirúrgicos, que idealizou em 1858 uma pinça de pressão contínua de anel. Considerando o mé-todo hemostático em geral, independentemente do tipo de vaso sanguíneo ou cirurgia efectuada, o processo associou-se a três situ-ações distintas: no decurso de uma intervenção determinava uma hemóstase temporária; quando condicionava a permanência das pinças após a cirurgia até à obliteração completa do vaso era uma hemóstase defi nitiva; se dirigido a tecidos de pequena espessura de forma a obstruir o fl uxo de sangue durante o acto operatório, consistia numa hemóstase preventiva.
TERMOCAUTÉRIOSALFRED METZ. CATALOGUE LLLUSTRÉ. 1906
CLAMP
Madeira, marfim, latão, prata alemã e aço. Séc. XIX. 3 x 25,5 x 6 cmCOLLIN ET C.IE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
CONJUNTO DE OITO CAUTÉRIOS
Aço. Séc. XVIII/XIX. 27,2 x 0,8 x 6 cm,27,3 x 0,8 x 5,5 cm, 27 x 1,5 x 5,8 cm,27,5 x 2,3 x 5,3 cm, 26,8 x 3,2 x 4,5 cm,29 x 2,8 x 7,7 cm, 27,7 x 0,9 x 5,7 cm, 2 x 2 x 27,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ENVÓLUCRO DE VIDRO
Contém catgut n.º 1. Apresenta a inscrição: “Catgut n.º1/ Les Laboratoires Bruneau et C.ie Succ.”.Material orgânico. Séc. XIX/XX. 19 X 2 X 2 CM. LES LABORATOIRES BRUNEAU ET C.IE SUCC..
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ENVÓLUCRO DE VIDRO
Contém crinas de Florença. Apresenta a inscrição: “Crinas – G28257”.Material orgânico. Séc. XIX/XX18 X 2 X 2 CM. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ENVÓLUCRO DE VIDRO
Contém seda n.º 1. Apresenta a inscrição: “Soie Plate tressé n.º 1/ Les Laboratoires Bruneau et C.ie Succ.”.Material orgânico. Séc. XX13 X 1,8 X 1,8 CM. LABORATOIRES BRUNEAU ET C.IE SUCC..
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ENVÓLUCRO DE VIDRO, MADEIRA E CORTIÇA
Contém seda n.º 2 em suporte metálico. Apresenta a inscrição: “Seda phenicada para soturas n.º 2/ Preparada segundo o processo de Lister/ Pharmacia Pfigueiredo – R. Cedofeita, 43 – Porto”. Material orgânico. Séc. XX7,4 X 2,3 X 2,4 CM. FARMÁCIA FIGUEIREDO.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PINÇAS HEMOSTÁTICAS. SÉC XIX
ESTOJO DE MADEIRA FORRADO A PELE,
FLANELA E SEDA VERMELHA
Contém um galvano-cautério. Braço de cautério universal de Schech. Madeira, marfim e aço niquelado. Séc. XIX. 7 x 16 x 2 cm. C. Chardin, Paris.Condutor. Marfim, latão e aço. Séc. XIX. 1,4 x 16,5 x 3,5 cm. Condutor. Madeira, marfim e aço. Séc. XIX. 3 x 15 x 2,5 cm. C. Chardin, Paris.Dez pontas de cautério. Marfim, latão, platina e vidro. Séc. XIX. 5,5 X 21 X 11,5 CM. VÁRIA. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA FORRADO A VELUDO
E CAMURÇA LILÁS
Contém um termocautério de Paquelin.Madeira, marfim, cortiça, aço, platina, vidro, borracha, fio e algodão. Séc. XIX12,5 X 21,2 X 14,5 CM. CHARRIÈRE COLLIN, PARIS. OFERTA DO
PROFESSOR AMARANTE JÚNIOR. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
GARROTE
Pele, tecido e latão. Séc. XVIII/XIX. 7,5 x 86,7 x 2,2 cmOFERTA DO DOUTOR PEDRO VITORINO.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
GARROTE
Tecido e latão. Séc. XVIII/XIX. 4,7 x 80,7 x 2,7 cmOFERTA DO DOUTOR PEDRO VITORINO.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PINÇA HEMOSTÁTICA
Aço. Séc. XIX. 2,1 x 14,2 x 5 cmGALANTE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PINÇA HEMOSTÁTICA
Aço. Séc. XIX. 2 x 13,3 x 5,7 cmGALANTE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PINÇA PARA LAQUEAÇÃO ARTIFICIAL
(TIPO BRAMBILLA)
Aço. Séc. XVIII. 20 x 13 x 2 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
TENÁCULO
Tartaruga e aço. Séc. XIX. 1,1 x 14 x 0,6 cmRICHARDSON. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
TORNIQUETE
Aço. Séc. XIX. 13,5 x 13,2 x 4,3 cmMATHIEU À PARIS. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
TORNIQUETE
Latão, aço e camurça. Séc. XIX. 35 x 16,5 x 11,5 cmCHARRIÈRE À PARIS. MODERADO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
TORNIQUETE DE PETIT
Latão e aço. Séc. XVIII. 12,3 x 5,3 x 3,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
TORNIQUETE DE PETIT
Latão e tecido. Séc. XIX. 11 x 6 x 3,5 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
A palavra “cirurgia” deriva do grego kheir (mão) e ergon (traba-lho), signifi cando “obra de mãos”. Os instrumentos cirúrgicos constituem extensões da mão. Muitas vezes é somente o estudo pormenorizado dos instrumentos cirúrgicos que nos fornece im-portantes achegas para o conhecimento da cirurgia de diferentes períodos cronológicos. A noção da existência de microrganismos como agentes etiopatogénicos evidenciada por Louis Pasteur (1822-1895) e a introdução da antissepsia na cirurgia por Jose-ph Lister (1827-1912) determinaram uma profunda revolução no instrumental cirúrgico. Até aí, em termos de materiais predomi-navam os de natureza orgânica (marfi m, tartaruga, osso, ébano, entre outros), os metais não ferrosos (ouro, prata, estanho, latão, platina, entre outros) e os metais ferrosos (ferro forjado e o aço). A forma dos instrumentos era muito elaborada, em particular nos cabos. A riqueza dos materiais e da forma prendia-se com as pos-ses do cirurgião e, em algumas situações históricas, com a impor-tância social do doente. Existiam instrumentos dirigidos à peque-na cirurgia, que seguramente representavam a percentagem mais signifi cativa dos actos cirúrgicos, e instrumentos para interven-ções de maior amplitude, tais como a amputação dos membros, a trepanação craniana, a operação de litotomia, a embriotomia, a traqueotomia, entre as mais frequentes.No decurso do século XIX assistimos à confl uência de conheci-mentos científi cos e tecnológicos que contribuíram para diminuir a morbimortabilidade per e pós-operatória e estiveram também na génese das diferentes especialidades em medicina. No âmbito da cirurgia os avanços manifestaram-se ao nível do controlo da dor, da hemorragia e da infecção. O poder anestésico do protóxido de azoto havia sido observado por Sir Humphry Davy em 1800, mas aplicado com insucesso em extracções dentárias por Horace Wells (1815-1848). Coube a William Morton (1819-1868) o êxito da introdução clínica do éter (1846) e a Sir James Young Simp-son (1811-1870) do clorofórmio (1847). A introdução das pinças hemostáticas neste século veio melhorar as condições e minorar os riscos operatórios. Com o doente sob anestesia, o trabalho do cirurgião estava facilitado.
AS
TR
AN
SF
OR
MA
ÇÕ
ES
CIE
NT
ÍFIC
AS
E T
EC
NO
LÓ
GIC
AS
NA
CIR
UR
GIA
32
ESTOJO DE MADEIRA E LATÃO. SÉC XIXAbre-boca. Afastador de costelas. Basiotribo de Tarnier. Cabo. Cabo. Cateter. Costótomo. Dez velas olivares. Embriótomo raquidiano de Tarnier. Espéculo nasal fenestrado. Estojo forrado a pergamóide e veludo lilás com um termocautério do Dr. Paquelin. Insuflador. Lanceta. Martelo. Pinça para exérese de corpos estranhos auditivo. Pinça tira-língua. Pinça tira-língua de Berger. Porta agulhas. Quatro pinças curvas longas. Quatro pinças hemostáticas. Serra-nó. Três cinzéis graduados de Mac Ewen
Solucionadas as limitações provocadas pela dor e pela hemorra-gia, faltava a justifi cação para a supuração que complicava a maio-ria das cirurgias. Um esclarecimento defi nitivo adviria de investi-gações várias que culminariam com os trabalhos de Pasteur. Estes condicionariam toda a prática cirúrgica, impondo uma profunda revolução que se traduziu em novas exigências no que diz respei-to a instalações, equipamentos, instrumentos e indumentária.Quando, em 1865, Joseph Lister (1827-1912) aplicou o ácido carbó-lico, de forma sistemática, nas feridas e, em 1871, estendeu esta prá-tica às mãos do cirurgião, aos instrumentos, ao ar adjacente à ferida – por intermédio de um spray – e às roupas, iniciou uma nova era na luta contra a infecção. Não era a primeira vez que esta profi laxia química se efectuava, nem era o primeiro uso do ácido carbólico em cirurgia. Novos eram a metodologia e o rigor adoptados.O desmoronar da crença na geração espontânea levara Louis Pas-teur (1822-1895) a aconselhar a assepsia, processo que exigia uma profi laxia térmica. Em 1874, Pasteur chega a afi rmar que se fosse cirurgião nunca introduziria no corpo humano um instrumento se este não tivesse sido fervido ou passado sobre uma chama an-tes de operar. Em 1878, aconselhava também processos de desin-fecção para as mãos e roupas do cirurgião.A inserção destes conceitos no meio cirúrgico foi um processo lento e controverso que levou dez anos a afi rmar-se. Contudo, a esteriliza-ção térmica levantava problemas cuja solução implicava uma inten-sa revolução instrumental: a laminação dos instrumentos cirúrgi-cos; o desmembramento nas suas partes constituintes; o fabrico de formas simples sem irregularidades ou fendas e a substituição dos materiais orgânicos, componentes dos cabos dos instrumentos.
BISTURIS. SÉC XVIII/ XIXAPARELHO ANESTÉSICO DE OMBREDANE. SÉC XX
AS
TRA
NSF
ORM
AÇ
ÕES
CIE
NTÍ
FIC
AS
E TE
CN
OLÓ
GIC
AS
NA
CIR
URG
IA
34
OS INSTRUMENTOS DE EMBRIOTOMIA
Os instrumentos de embriotomia tiveram uma larga utilização ao longo da história, perdurando até ao século XIX, dado que não se dispunha de outra solução que melhor salvaguardasse a sobrevi-vência materna em caso de morte fetal. Somente a partir do sécu-lo XVIII se começou a realizar a cesariana com certa regularidade no vivo, visando o bem-estar fetal. O perigo da extracção fetal por laparotomia determinava o recurso à via vaginal, situação facili-tada quando se estabelecia o diagnóstico de morte fetal. Partindo desta certeza, o maior obstáculo à saída do feto por esta via cons-tituía o pólo cefálico, por ser o seu maior diâmetro. Impunha-se a utilização de meios que reduzissem as suas dimensões, fosse por esmagamento (cranioclasto de Simpson), fosse por perfura-ção seguida da exteriorização do encéfalo (perfurador craniano de Smellie), fosse por perfuração seguida de tracção (perfurador de colher de Hubert).
O FÓRCEPS OBSTÉTRICO
O fórceps obstétrico foi inventado no século XVII. Peter Chamber-len, o velho (1560-1631), possuía o segredo destes fórceps, o qual foi conservado pela sua família até à sua divulgação por Hugh Chamberlen em 1672, aquando da tradução inglesa que efectuou da obra de François Mauriceau (1637-1709). Coube a Jan Palfyn (1655-1733), professor de Cirurgia em Génova, a apresentação do seu fórceps obstétrico à Academia de Paris. A introdução das cur-vaturas cefálica e pélvica no instrumento associou-se a uma maior funcionalidade. Como instrumento cirúrgico auxiliar do parto, o fórceps sofreu as transformações impostas pelo progresso cientí-fi co e tecnológico.
AS
TRA
NSF
ORM
AÇ
ÕES
CIE
NTÍ
FIC
AS
E TE
CN
OLÓ
GIC
AS
NA
CIR
URG
IA O
S I
NS
TR
UM
EN
TO
S D
E E
MB
RIO
TO
MIA
| O
FÓ
RC
EP
S O
BS
TÉ
TR
ICO
AS POSIÇÕES FETAIS E AS MANOBRAS OBSTÉTRICAS. A CADEIRA DE PARTO. A ALAVANCA E OS GANCHOS OBSTÉTRICOSLAURENTII HEISTERI. INSTITUTIONES CHIRURGICAE. 1739
36
O LITOTRITOR
A litotrícia consiste numa fragmentação dos cálculos vesicais de forma a garantir a sua exteriorização através da uretra. Franz von Gruithuizen (1774-1852) foi o autor do princípio científi co (1813); Leroy d’Étiolles inventou vários modelos de instrumentos desti-nados à aplicação em humanos; Jean Civiale (1792-1867) efectuou a primeira intervenção com êxito em humanos. Os instrumentos manufacturados eram lineares ou curvos, animados de mecanis-mos diferentes. A litotrícia constituiu o primeiro método endos-cópico com indicação terapêutica.
AS
TRA
NSF
ORM
AÇ
ÕES
CIE
NTÍ
FIC
AS
E TE
CN
OLÓ
GIC
AS
NA
CIR
URG
IA O
LIT
OT
RIT
OR
ASPIRADOR DE CÁLCULOS DE THOMPSON. SÉC XIXLITOTRITORESALFRED METZ. CATALOGUE LLLUSTRÉ. 1906
38
AGULHA COM CABO DE PEASLEE-WHITEHEAD
EM ESPIRAL PONTEAGUDA
PARA SUTURA PERINEAL
Madeira e aço. Séc. XIX. 1,5 x 20,7 x 0,8 cmCOLLIN. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
AGULHA COM CABO RECTO PONTEAGUDA
Madeira, prata alemã e aço. Séc. XIX. 1 x 27 x 1,7 cmCHARRIÈRE. OFERTA DO PROFESSOR AMÂNDIO TAVARES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
AGULHA COM CABO TIPO COOPER
Madeira, latão e aço. Séc. XIX. 1,3 x 17,8 x 0,6 cmDARAN À PARIS. OFERTA DO PROFESSOR AMÂNDIO TAVARES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI
Aplicação na correcção da Hérnia inguinalTartaruga, latão e aço. Séc. XVIII. 0,9 x 16,5 x 0,4 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI
Aplicação na correcção da Hérnia inguinalTartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1 x 16,5 x 0,7 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI
Aplicação na correcção da Hérnia inguinalTartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1 x 16,5 x 0,7 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI
Tartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 0,8 x 16,5 x 0,3 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI (TIPO ESCALPELO)
Tartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1 x 16,3 x 0,6 cmCLULEY. CABO DANIFICADO.
BISTURI DUPLO
Tartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1 x 19 x 0,6 cmGALANTE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI DUPLO
Tartaruga, latão e aço. Séc. XVIII/XIX. 1,2 x 18,5 x 1,3 cmWEISS. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BISTURI GENGIVAL
Tartaruga, latão e aço. Séc. XVIII/XIX. 1,2 x 14,5 x 0,4 cmSTODART. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA FORRADO A PELE DE PEIXE
E FLANELA VERMELHA
Pertenceu ao Cirurgião José Marcelino Peres Pinto Contém:Serra de amputação com duas lâminas. Madeira e aço. Séc. XVIII. 1,2 x 45 x 13,5 cm.Pinça hemostática. Aço. Séc. XVIII. 1 x 14,5 x 6,2 cm.Duas facas de amputação. Madeira e aço. Séc. XVIII. 3 x 36 x 4 cm.Agulha de sedenho. Aço. Séc. XVIII. 1 x 15 x 1,3 cm. Chave. Aço. Séc. XVIII. 1 x 9,2 x 2 cm7 X 50 X 26 CM. RESTAURO EFECTUADO POR D.ª BENILDE LETRA
E D.ª MARIA AMÉLIA MATIAS. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE TREPANAÇÃO CRANIANA
FORRADO A SEDA E VELUDO VERDE
Apensa a fotografia do seu antigo possuidorContém:Quatro coroas de trépano. Aço. Séc. XVIII. 2 x 7,2 x 2 cm e 2 x 7,5 x 2 cm.Cabo de trépano. Madeira e aço. Séc. XVIII. 6 x 13 x 2,5 cm.Rugina e faca lenticular. Madeira e aço. Séc. XVIII. 2,5 x 17,5 x 2,5 cm.Perfurador. Aço. Séc. XVIII. 0,4 x 8,5 x 1,4 cm.Pinça. Aço. Séc. XVIII. 4 x 13,5 x 4 cm.Elevador duplo. Aço. Séc. XVIII. 1,5 x 17 x 4 cm.Escova. Marfim e cerdas. Séc. XVIII. 1 x 7 x 2,1 cm. Chave. Aço. Séc. XVIII. 0,6 x 4 x 1,7 cm5 X 20,5 X 18,5 CM. DESENCAIXE DAS PARTES DO ESTOJO,
INSTRUMENTOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PORTA-AGULHAS
Madeira, prata alemã e aço. Séc. XIX. 2,2 x 21 x 2,2 cmCHARRIÈRE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PORTA-AGULHAS COLLIN
Aço. Séc. XIX. 3,3 x 19,7 x 1,3 cmCOLLIN. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PORTA-AGULHAS DE GALEZOWSKI
Aço e alumínio. Séc. XX. 3,4 x 13,4 x 1 cmCOLLIN. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
UMA ANÁLISE DOS MATERIAIS
DOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
Trocarte e respectiva cânula. Marfim, prata e aço. Séc. XIX. 2,4 x 13,7 x 2,4 cm.Trocarte e respectiva cânula. Madeira, prata, prata alemã e aço. Séc. XIX. 1 x 14,3 x 2,2 cm. Charrière.Estojo de prata contendo quatro trocartes e respectivas cânulas. Prata e aço. Séc. XIX. 1,2 x 13 x 1,2 cm.Estojo de aço niquelado contendo quatro trocartes e respectivas cânulas. Prata e aço. Séc. XIX. 1,4 x 13 x 2,6 cm.Estojo de aço inoxidável contendo quatro trocartes e respectivas cânulas. Aço inoxidável. Séc. XIX. 1,5 x 13 x 2,5 cm. Medicon.Trocarte. Aço inoxidável e plástico. Séc. XX. 5,8 x 19,7 x 4,5 cm.AUTO SUTURE SURGIPORT. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
A TREPANAÇÃO CRANIANAJOANNIS SCULTETI. ARMAMENTARIUM CHIRURGIE. 1693
ESTOJO DE MADEIRA FORRADO A PELE,
VELUDO VERMELHO, SEDA VERMELHA E ALGODÃO
Pertenceu ao Professor Plácido da Costa (1849-1916) Contém:Gancho. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,7 x 12,5 x 0,5 cm. Robert et Collin.Gancho. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,5 x 11,7 x 0,5 cm. Lüer.Agulha e sonda para paracentese de Desmarres. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,6 x 13,5 x 0,6 cm, Weiss.Pinça-tesoura para iridectomia de Weecker. Aço. Séc. XIX. 1,8 x 12,3 x 1,2 cm. Collin.Sete facas de Weber para o canal lacrimal. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,6 x 13,4 x 0,5 cm. Lüer. 0,6 x 13,5 x 0,5 cm. Lüer. 0,7 x 14,2 x 0,5 cm. Lüer. 0,6 x 13,7 x 0,5 cm, Weiss. 0,6 x 14,1 x 0,5 cm. Lüer. Duas pinças para entrópio de Snellen. Aço niquelado. Séc. XIX. 9,5 x 3,8 x 2 cm. Collin.Três escarificadores de Graefe. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,6 x 13,2 x 0,6 cm. Lüer. Escarificador de Graefe. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,6 x 12,7 x 0,6 cm. Charrière.Agulha para abaixamento. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,5 x 12 x 0,5 cm. Lüer.Agulha para abaixamento. Marfim e aço. Séc. XIX. 0,5 x 11,9 x 0,5 cm. Collin. 4,2 X 18,5 X 11 CM. OFERTA DO PROFESSOR AMÂNDIO TAVARES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
FÓRCEPS OBSTÉTRICO
Madeira e aço. Séc. XVIII/XIX. 4,5 x 29,5 x 7 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
FÓRCEPS OBSTÉTRICO DE SAVIGNY
Madeira e aço. Séc. XVIII. 5,5 x 30 x 6,5 cmSAVIGNY. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MÁSCARA DE CLOROFÓRMIO DE SCHIMMELBUSCH
Aço niquelado. Séc. XIX. 17,5 x 10,5 x 6,2 cmOFERTA DO DOUTOR EDUARDO VEIGA DE OLIVEIRA.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
CRANIOCLASTO DE SIMPSON
Madeira, latão e aço. Séc. XIX. 7,5 x 38,5 x 2,7 cmCHARRIÈRE À PARIS. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E LATÃO
FORRADO A VELUDO LILÁS
Contém: Litotritor. Aço. Séc. XIX. 4,1 x 39,5 x 4 cm.Três sondas. Aço. Séc. XIX. 26, 27 e 27.Aspirador de cálculos de Thompson. Metal, vidro e borracha. Séc. XIX. 16 x 7,3 x 4,5 cm, 8 x 20,7 x 6 cm e 39,3 x 2,8 x 2,8 cm.9,5 X 43,2 X 24,5 CM. S. MAW, SON & THOMPSON, LONDON.
OFERTA DO PROFESSOR AMÂNDIO TAVARES.
ESTOJO DE MADEIRA E METAL
Contém um aparelho de Ombredane.Material orgânico, aço e borracha. Séc. XX. 25,5 x 30 x 18,5 cm17 X 31,3 X 17,5 CM. AESCULAP. OFERTA DO PROFESSOR LUÍS
PEREIRA LEITE. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E METAL
FORRADO A PELE E VELUDO LILÁS
Contém instrumentos usados na cirurgia da correcção da fenda palatina. Ébano e aço. Séc. XIX3,5 X 26,4 X 9,5 CM. MATHIEU. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE PRATA CONTENDO QUATRO TROCARTES E RESPECTIVAS CÂNULAS. SÉC XIX
MÁSCARA PARA NARCOSE
Latão, aço e borracha. Séc. XX. 14 x 9,5 x 11 cmGARTH & CO.. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PERFURADOR E EXTRACTOR DE CABEÇA
EM CRUZ DE BAQUIER
Madeira e aço. Séc. XIX. 5,8 x 40,5 x 6 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E LATÃO
Contém:Abre-boca. Aço niquelado. Séc. XIX. 14 x 7 x 11 cm. Collin.Afastador de costelas. Aço. Séc. XIX. 1,7 x 18 x 6,6 cm. Collin.Basiotribo de Tarnier (mod. Collin). Osso e aço. Séc. XIX. 18,5 x 41 x 7 cm. Collin Breveté.Cabo. Séc. XIX. 3 x 13 x 3 cm.Cabo. Madeira e latão. Séc. XIX. 3 x 11,5 x 1,7 cm.Cateter. Prata. Séc. XIX. 4,5 x 13,5 x 1 cm.Costótomo. Aço. Séc. XIX. 1,7 x 19 x 3 cm. Collin.Dez velas olivares. Marfim e latão. Séc. XIX. Vária.Embriótomo raquidiano de Tarnier (mod. Collin). Osso e aço. Séc. XIX. 3,5 x 41,5 x 10 cm. Collin.Espéculo nasal fenestrado. Aço. Séc. XIX. 2,5 x 6,5 x 2,5 cm. Collin.ESTOJO (NO INTERIOR) FORRADO A PERGAMÓIDE E VELUDO
LILÁS COM UM TERMOCAUTÉRIO DO DR. PAQUELIN
Aço e vidro. Séc. XIX. Vária, Charrière à Paris. Contém:Insuflador, aço e borracha. Séc. XIX. 8,5 x 5 x 5 cm.Lanceta. Tartaruga, latão e aço. Séc. XIX. 1 x 16,5 x 0,5 cm. Collin.Martelo. Madeira, latão e chumbo. Séc. XIX. 8 x 29 x 6,5 cm. Collin.Pinça para exérese de corpos estranhos auditivo. Madeira, latão e aço. Séc. XIX. 1,7 x 17 x 1 cm. Collin.Pinça tira-língua. Aço. Séc. XIX. 7,5 x 26 x 1 cm. Collin.Pinça tira-língua de Berger (mod. Collin). Aço. Séc. XIX. 5 x 14 x 1 cm. Collin. Porta agulhas. Aço. Séc. XIX. 1,2 x 16,2 x 2,5 cm. Collin.Quatro pinças curvas longas. Aço niquelado. Séc. XIX. Vária, Collin Breveté.Quatro pinças hemostáticas. Aço. Séc. XIX. Vária, Collin.Serra-nó. Madeira e aço. Séc. XIX. 1,6 x 18,5 x 0,6 cm. Collin.Três cinzéis graduados de Mac Ewen. Aço. Séc. XIX. Três espessuras. Collin.17,5 X 59,5 X 35 CM. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,
ESTOJO CHARRIÈRE COLLIN INCOMPLETO
No antigo Egipto a assistência ao parto era da competência de determinadas mulheres. Na Bíblia encontramos testemunhos da existência do trabalho diferenciado das parteiras. Durante o parto, a mulher estava sentada ou “de cócoras”. Pela primeira vez surge a descrição de uma poltrona especial, cuja forma mais primitiva remonta a 5000 a.C. e se reduzia a dois ladrilhos ou pedras.Entre os hebreus, segundo a Bíblia e o Talmud, a mulher no parto adoptava a posição sentada ou de joelhos, sobre uma poltrona, no regaço de uma mulher ou de um homem. As mulheres mexicanas ou peruanas da era pré-colombiana adop-tavam a posição “de cócoras”, sentando-se apoiadas nos calcanha-res e também nos joelhos. Algumas mulheres da civilização maia tinham os partos de pé.Na Grécia, o parto ocorria com a mulher de joelhos. Em Atenas eram conhecidos os médicos parteiros. Com Sorano de Éfeso (séc. I d.C.), a obstetrícia da Antiguidade atinge o seu exponente má-ximo. Nos seus escritos fala-nos da cadeira de parto. Durante a Idade Média, o Ocidente seguiu os preceitos dos gregos.Nos séculos seguintes, as posições verticais “de cócoras”, de joelhos e de pé continuaram a ser frequentemente utilizadas pelas partu-rientes. A partir do século XVIII, a posição deitada, semi-deitada ou semi-sentada passou a ser recomendada pelos médicos da Eu-ropa. Já Ambroise Paré (1510-1592) apontara as vantagens destas posições e do emprego de uma cadeira com o espaldar inclinado para trás e o assento perfurado, em forma de ferradura, sobre o qual se colocava uma travesseira, por vezes ricamente adornada. Depois de Paré vários modelos de cadeiras de parto foram pro-duzidos na Europa; as cadeiras coexistiam com o mobiliário das casas, passavam de pais a fi lhos ou pertenciam a parteiras e a ci-rurgiões que as transportavam até à parturiente.Esta cadeira de partos, outrora pertencente à Igreja de Nossa Se-nhora da Vitória do Porto, à semelhança de outras cadeiras congé-neres, era um bem acessível à comunidade sempre que solicitado.
A C
AD
EIR
A D
E P
AR
TO
44
CADEIRA OBSTÉTRICA
Pertenceu à Igreja de Nossa Senhora da Vitória, do PortoMadeira e damasco. Séc. XIX. 94 x 73 x 52 cmRESTAURO EFECTUADO POR D.ª BENILDE LETRA
E D.ª MARIA AMÉLIA MATIAS. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
A Stéphane Tarnier (1828-1897) coube a idealização da primeira incubadora (1878), ulteriormente aperfeiçoada por Pierre Budin (1846-1907) em termos de controlo térmico, de limpeza, de higiene e de nutrição do recém-nascido. Este invento foi divulgado na Euro-pa por Martin Couney (1870-1950), responsável ainda pela criação da primeira unidade de cuidados intensivos de recém-nascidos.
A I
NC
UB
AD
OR
A
INCUBADORA DE TRANSPORTE
Apresenta a inscrição: “Presented on behalf of members of the British Community and British Companies in the North of Portugal to the Neo-natal Unit of the Hospital São João by the Majesty Queen Elizabeth II on the occasion of her official visit to Oporto on 29 March 1985”Metal, vidro, borracha e plástico. Séc. XX. 110 x 106 x 48 cmVICKERS MEDICAL. OFERTA DA RAINHA ISABEL II DE INGLATERRA
A 29.03.1985 AO SERVIÇO DE NEONATOLOGIA
DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL DE S. JOÃO
E POSTERIORMENTE OFERECIDA AO MUSEU DE HISTÓRIA DA
MEDICINA “MAXIMIANO LEMOS” DA FACULDADE
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
PELA DIRECTORA DO SERVIÇO PROFESSORA HERCÍLIA GUIMARÃES.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
46
Até ao século XVIII encontramos referências bibliográfi cas a qua-tro métodos de sutura aplicados à estrutura tubular dos órgãos digestivos: a sutura simples de Celso, a sutura sobre uma endo-prótese vegetal ou animal dos mestres salernitanos, a adesão do intestino lesado à parede abdominal por Palfyn (1655-1733), De la Peyronie (séc. XVIII), Le Dran (1685-1770) e Bell (1749-1806) e a invaginação na transecção segundo Ramdohr (séc. XVIII). Só em 1887, com Halsted (1852-1922), se estabeleceu o papel da submu-cosa na cicatrização das lesões digestivas. Os insucessos da sutura digestiva decorriam da inexistência de uma metodologia específi -ca, que compreendia a técnica cirúrgica, o instrumental adoptado, o conhecimento da natureza do processo de cicatrização, da infec-ção e da qualidade biológica do material de sutura. Na literatura portuguesa encontramos materiais de natureza orgânica (íntima de intestino de carneiro, tendões, crina, cabelo, seda, algodão, li-nho) e metais na composição dos fi os de sutura. Depois das expe-riências de Lister estes materiais foram preparados segundo o mé-todo antisséptico. Paralelamente à sutura digestiva manual, houve diversas tentativas de introduzir a sutura digestiva automática. O primeiro aparelho de sutura automática a possibilitar a realização de anastomoses digestivas circulares de forma mais efi caz e rápi-da que a sutura manual foi o botão de Murphy.
OS
IN
ST
RU
ME
NT
OS
DE
SU
TU
RA
DIG
ES
TIV
A
BOTÃO DE MURPHY. SÉC XX
48
BOTÃO DE MURPHY
Aço niquelado. Séc. XX. 2,1 x 2,3 x 2,3 cmBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE ESFEROVITE
Contém uma máquina de sutura digestiva automática. Apresenta a inscrição: “Instrument for applying circular anastomoses on digestive tract organs, Universal CMTY, Mode 249”.Pistola. Aço inoxidável. Séc. XX. 16 x 34,5 x 3,2 cm. CMTY.Sete estojos de plástico. 14,2 x 3,6 x 3,6 cm. Com discos fenestrados de plástico.Dois estojos de plástico. 2,2 x 4,5 x 2,2 cm. Com agrafos metálicos.Um estojo de plástico. 1,5 x 6,9 x 4 cm. Com agrafos metálicos e dezoito acessórios metálicos. 9 X 49,5 X 30 CM. OFERTA DO PROFESSOR AMARANTE JÚNIOR.
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTOJO DE MADEIRA E METAL
Contém uma máquina de sutura digestiva linear.Aço inoxidável. Séc. XX. 1,3 x 47 x 15 cm15,5 X 50,5 X 12 CM. AESCULAP. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MÁQUINA DE SUTURA DIGESTIVA LINEAR
Aço, titânio e plástico. Séc. XX. 7 x 28,5 x 1,8 cmAUTO SUTURE MULTIFIRE GIA 80. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MÁQUINA DE SUTURA DIGESTIVA LINEAR
Aço, titânio e plástico. Séc. XX. 18 x 28 x 2 cmMULTIFIRE TA TM 55. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
LAURENTII HEISTERI. INSTITUTIONES CHIRURGICAE. 1739
Luís de Pina Guimarães nasce em Lisboa em 1901. Licencia-se em Medici-na pela Universidade do Porto em 1927, sendo convidado no mesmo ano para assistente do Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina. Em 1930, conclui o seu doutoramento com a apresentação da dissertação “Vimaranes. Materiais para a História da Medicina Portuguesa”. A partir de 1933, e até dois anos antes da sua morte, em 1972, Luís de Pina assegura a docência da disciplina de História da Medicina e Deontologia Profissional na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, de que será professor catedrático em 1944.Personalidade intensa e inquieta, de interesses diversos, Luís de Pina não dei-xou de impressionar aqueles que o conheceram.Apaixonado por etnologia, história e arqueologia – e também pela história das ciências – a abordagem que Luís de Pina fez da história da medicina compreendeu uma ampla dispersão espacial e temporal: medicina popular portuguesa, medicina da Antiguidade, medicina e sistemas assistenciais portu-gueses da Idade Média à contemporaneidade, medicina tropical e dos Desco-brimentos – com monografias específicas sobre diversas regiões, do Japão ao Brasil, passando por Índia e África – biografias de médicos e cirurgiões lusos, relações ibéricas, história da higiene, historiografia da medicina…Também se deve ao seu empenho a criação, em 1933, do Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos”, com base na tradição centenária de ensi-no desta disciplina na escola médica do Porto (e que Luís de Pina sublinha, baptizando este espaço museológico único no País com o nome de um dos professores que o antecedera na docência da cadeira).Outra das vertentes a que Luís de Pina atribuirá particular atenção será a antropologia – a que dedicará numerosos estudos –, nomeadamente a antro-pologia criminal. Já em 1929, por proposta da Faculdade de Medicina, Luís de Pina trabalhara em serviços do Ministério da Justiça relacionados com a antro-pologia e a psicologia criminal, tendo seguidamente estudado no estrangeiro matérias de antropologia física e anatomia e, em 1937, assumido a direcção do Instituto de Criminologia do Porto.Deputado à Assembleia Nacional em 1938 e 1942, Luís de Pina será nomeado presidente da câmara do Porto em 1945, abandonando o cargo em 1949.Finalmente, refira-se o papel crucial deste “humanista por convicção” na cria-ção do Centro de Estudos Humanísticos em 1947, cuja existência foi funda-mental para a restauração, em 1961, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, de que Luís de Pina será o primeiro director.
A obra do Professor Luís de Pina é vasta e dispersa pelos diversos ramos do saber. Contudo, a medicina está no cerne das suas inves-tigações. Todas as questões com ela relacionadas mereceram a sua dedicação e pesquisa, demonstrando uma completa intemporali-dade no seu equacionamento. Na história encontrou os exemplos e os ensinamentos do presente e futuro. Na história da medicina o Professor Luís de Pina procurou essas potencialidades forma-tivas. Parafraseando os autores do passado, analisou a evolução do pensamento científi co humano e, neste, fundamentalmente o médico. A história da medicina, como cultura do espírito, depen-de da história da ciência e esta integra-se na história universal da civilização. As achegas à medicina provenientes das demais ciências soube identifi car e cultivar, tendo inclusivamente sido convidado pela Academia Internacional de História das Ciências para organizar as Tábuas Cronológicas da História das Ciências em Portugal no século XVI (1934). A fl ora, a fauna, a botânica ou a zoologia, bem como a arqueologia ou a antropologia foram temas que adquiriram suma importância na sua obra. Assim, apela para a necessidade da criação de centros de investigação nestas áreas e a sua integração nos programas liceais e do ensino superior. Faz a apologia da cultura e da história portuguesas num contínuo e ajus-tado paralelismo com o estrangeiro. Nos seus escritos, o Professor deixa transparecer a nobreza dos seus sentimentos e ideias, sem-pre dirigidos em apoteose ao seu País, à organização familiar da sociedade e ao bem-estar público. Todos os temas se prestam para historiar. Desta forma, os temas a expor adquirem um realismo e força únicos dada a precisão e exaustão da bibliografi a que aponta e a universalidade e imparcialidade que evidencia. Os momentos de maior apogeu histórico nacional, tais como a epopeia dos des-cobrimentos marítimos portugueses, o ultramar, a reforma do en-sino universitário setecentista são incessantemente apontados em diferentes perspectivas. Se canta o grandioso, o belo, a justiça e a verdade, logo reforça estes qualifi cativos pela sucessão de factos sinónimos da decadência nacional. Trabalhos tais como o Abrégé de l’ Histoire de la Médicine, Portugal e as Ciências na sua Epopeia Marítima, ou A Expansão Hospitalar Portuguesa Ultramarina são exemplos de cristianização, civilização, cultura e progresso das
OS
ES
TU
DO
S M
ÉD
ICO
-HIS
TÓ
RIC
OS
NA
OB
RA
DO
PR
OF
ES
SO
R L
UÍS
DE
PIN
A
54
ciências dirigidos pela vontade e labor portugueses. À exposição teórica exaustiva dos temas alia a experiência na busca incessante da veracidade dos factos, sempre persuadido que a tenacidade dos seus esforços dissolveria a indiferença geral. Sensível à vivência e actividade de vultos nacionais ligados às Letras, Ciências e Artes, presta-lhes a sua reconhecida homenagem nas datas evocativas do início ou fi m da sua existência, da publicação de um livro ou de uma festividade. Neste contexto, deu uma importante achega his-tórica ao romance policial científi co. Além dos homens, prestigia instituições voltadas para a educação, a cultura, o humanismo e o cristianismo, tais como os centros de assistência aos enfermos ou desamparados e a Universidade. A defesa da criança ou a educa-ção e o papel da mulher portuguesa na cura das enfermidades ou na arte de boticário encontraram nos escritos do Professor fortes raízes médico-históricas. Como membro integrante do corpo do-cente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, soube prestigiar ao mais alto nível essa escola médica de pouco mais de um século. Embora curto fosse o tempo decorrido desde a génese da Régia Escola de Cirurgia desta cidade (1825), vultos de nome-ada, actos de coragem ou sinais de progresso científi co, cultural e humano foram registados tendo sempre em consideração, para cada caso, as difi culdades impostas pelos contextos políticos e so-ciais vigentes. O ensino pré e pós graduado cedo mereceu a sua atenção. Ansiava ver elevarem-se os estudos médicos nacionais. Propunha uma reforma da educação médica, mas com humildade e profunda admiração lembrava semelhantes tentativas organiza-das por antigos cultores da medicina pátria. A Universidade foi o tipo de organização de ensino superior que abraçou e as razões históricas do seu aparecimento e vicissitudes enalteceu. Destacou o papel da cultura universitária portuguesa no estrangeiro e ex-pôs um ideário para a Universidade nova. No dizer do Professor, a Universidade deve ser um exemplo de “Humanismo no saber, na transmissão do saber, na aplicação do saber, aplicação total ao bem de todos do saber de alguns”. Se a história das universida-des europeias e nacionais compreende uma vasta paginação da sua escrita, a vida estudantil nessas universidades foi igualmente desenvolvida. O Professor Luís de Pina acompanhou de perto as
transformações crescentes da sua universidade. O exemplo de es-tudante que ditou foi o único que conhecia, seguramente aquele que viveu. A admiração e estima que sentia pelos seus mestres transmitia-as historiando os pontos mais relevantes das suas vi-das: testemunhos de fé, ciência e cristianismo. Muito cedo, como o comprova a dedicatória da sua tese de doutoramento (Vimaranes, 1929), escolheu alguns mestres espirituais. Seriam uma verdadei-ra profecia aquelas palavras “À memória/ dos Mestres e Historia-dores de Medicina/ José Fructuoso Gouveia Osório/ Maximiano Lemos/ João de Meira/ oferece, dedica e consagra/ o Autor”. Uns anos mais tarde, em 1933, atribuiria ao Museu de História da Me-dicina que fundou o nome de Maximiano de Lemos, primeiro pro-fessor catedrático de História da Medicina em Portugal, a quem chamou “o cauto e douto historiador da Medicina pátria”, e a cada sala do museu o nome dos outros historiadores.Mas a importância da sua obra na valorização dos estudos médi-co-históricos nacionais não se limitou aos escritos que nos deixou acerca desta temática. Como docente da disciplina de História de Medicina e Deontologia Profi ssional, procurou sensibilizar a sua faculdade e a universidade para o valor da história da medicina no curriculum médico, como se de uma embriologia espiritual do médico se tratasse. A formação do estudante de Medicina foi para si uma exigência que cumpriu através da estruturação de um elaborado programa da disciplina, desenvolvido nos textos do serviço que dirigia ou apoiado na vasta bibliografi a médico-histó-rica aí existente. Esta sofreu um crescimento progressivo graças aos donativos de muitos e sobretudo à sua incansável e particular habilidade para reproduzir os escritos dos antigos. Durante as vi-sitas de estudo que efectuou pela Europa contactou com institu-tos e museus de história da medicina. Aí encontrou as fontes de inspiração que serviriam de molde à estruturação do Museu de História da Medicina a partir de um primitivo núcleo de peças provenientes da exposição comemorativa do centenário da Régia Escola de Cirurgia. O profi ssionalismo que impôs a este género de estudos explica o elevado número de teses de licenciatura relativas à história da medicina defendidas na Faculdade de Medicina. Nas folhas introdutórias multiplicam-se as palavras de reconhecimen-
OS
ESTU
DO
S M
ÉDIC
O-H
ISTÓ
RIC
OS
NA
OBR
A D
O P
ROFE
SSO
R LU
ÍS D
E PI
NA
56
to e consideração pelo Mestre. Com a transferência da Faculdade de Medicina para o edifício conjunto com o Hospital Escolar de S. João, uma maior área iria ser destinada ao museu. Cumprir-se-ia assim uma das vontades do professor: aliar a museologia à medi-cina em prole de uma nova pedagogia. A actividade artística do Professor, traduzida em esculturas e desenhos, serviria de apoio às ideias ou aos objectos expostos. O alargamento do quadro docente do serviço no tempo da transferência do museu constituiu uma prova das necessidades do serviço e o refl exo da sua dinâmica e importância. Na sua sucessora, a Professora Doutora Maria Olívia Rúber de Meneses (1932-1990), viu o concretizar das suas aspira-ções de continuidade do ensino e da investigação da história da medicina na sua faculdade.O Professor Luís de Pina mantinha estreitas relações científi cas e culturais, nacionais e estrangeiras, através de uma participação activa nos principais encontros de história da medicina e uma correspondência permanente com instituições e individualidades. Viu os seus trabalhos publicados nos mais conceituados periódi-cos do tempo ou nas actas dos congressos e boletins ou arquivos de destacadas sociedades. Foi agraciado com inúmeras distinções e premiado por alguns dos seus trabalhos. Pertenceu às mais pres-tigiadas academias e sociedades de história da medicina.
AMÉLIA RICON FERRAZ
DIRECTORA DO MUSEU DE HISTÓRIA DA MEDICINA
“MAXIMIANO LEMOS” DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO
COORDENAÇÃO REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTOCOLECÇÕESMUSEU DE HISTÓRIA DA MEDICINA “MAXIMIANO LEMOS”FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTOCOMISSÁRIAAMÉLIA RICON FERRAZDESIGN RUI MENDONÇAFOTOGRAFIA JORGE COELHODATA E LOCALFEVEREIRO > MARÇO DE 2006JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DO PORTO
APOIO CMP – PORTO CIDADE DE CIÊNCIA
UMA INICIATIVA UNIVERSIDADE JÚNIOR
EXPOSIÇÃO SEGUINTE
ABRIL 2006: BOTÂNICA – GONÇALO SAMPAIO