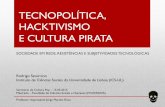UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS CURSO...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS CURSO...
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ROBSON GILNEY DA SILVA NASCIMENTO
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO POR
UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM
MOSSORÓ-RN
2011
ROBSON GILNEY DA SILVA NASCIMENTO
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO POR
UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM
MOSSORÓ-RN
2011
ROBSON GILNEY DA SILVA NASCIMENTO
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO POR
UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM
Monografia apresentada à Universidade
Federal Rural do Semiárido – UFERSA,
Departamento de Ciências Ambientais e
Tecnológicas para obtenção do título de
Bacharel em Ciência e Tecnologia.
Orientadora: Prof.ª D.Sc. Halane Maria Braga
Fernandes Brito - UFERSA
MOSSORÓ-RN
2011
ROBSON GILNEY DA SILVA NASCIMENTO
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO POR
UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM
Data de Defesa:_____/_____/_____
BANCA EXAMINADORA
________________________________________________
Prof.ª D.Sc. Halane Maria Braga Fernandes Brito - UFERSA
Orientadora
________________________________________________
Prof.ª D.Sc. Marília Pereira de Oliveira - UFERSA
Primeiro Membro
________________________________________________
Prof.ª D.Sc. Marineide Jussara Diniz - UFERSA
Segundo Membro
DEDICATÓRIA
Ao meu pai, José Gildo do Nascimento
(in memorian) e ao meu avô, João
Anízio do Nascimento (in memorian),
pelo que fizeram por mim enquanto
presentes nesse mundo.
AGRADECIMENTOS
À Deus, que me deu o dom da vida, e dentre muitas outras bênçãos, me permite ser seu servo.
À minha amada avó, Mãe Maria, meus agradecimentos pelo o que fez por mim desde
pequeno, me dando todo apoio necessário e investindo fortemente na minha educação.
Aos meus queridos tios (segundos pais), Gilberkennedy José e Maria Evaneide, por tudo que
fizeram por mim e faz desde que moro perto de vocês, sempre me apoiando com conselhos,
fazendo ser o que sou.
À minha querida namorada, Vanessa Maria, por estar sempre ao meu lado, tanto nos
momentos difíceis como nas horas felizes. Pela paciência, por dedicar maior parte da sua vida
a mim e, sobretudo, pelo grande amor que tem por mim. Futuramente, Deus se encarregará de
recompensá-la.
A toda minha família, minha mãe Livânia, meu irmão Wdysson, meus primos Saymom e
Kimberly, e aos demais que contribuíram de alguma forma para este trabalho.
A Prof.ª D.Sc. Halane Maria Braga Fernandes Brito, pela orientação, incentivo, paciência e
amizade no decorrer deste trabalho. Apesar de estar indo embora, aproveito para agradecer a
boa formação recebida na área de estruturas. Muito obrigado.
Às Professoras, Marília Pereira de Oliveira e Marineide Jussara Diniz, por terem aceitado
participar da banca examinadora, desde já fico honrado pela presença de vocês.
Aos meus considerados irmãos, Gilton Alves e Arthur Carvalho, pelo companheirismo e
convivência durante este curso, e, principalmente, por fornecer seus computadores para
realização do meu trabalho, muito obrigado mesmo.
Ao meu velho amigo Medeiros, por tudo que faz e já fez por mim, desde quando cheguei a
Mossoró. Valeu amigo.
Aos amigos da segunda turma do BCT da UFERSA (2009.1), sobretudo aqueles da minha
maior convivência: Carlos Kleber, Edmilson Alves, Dênnys Santos e Ailton Nestor, pelas
brincadeiras e orientações nos estudos.
Aos meus colegas Renan Bragança e Andreza Mendes, por ceder material para o meu
trabalho.
Finalmente, a todos os amigos, colegas e familiares que me apoiaram nesta caminhada.
RESUMO
Uma das maneiras de estimar a resistência à compressão axial (fck) do concreto é através da
ruptura dos corpos-de-prova. Com o resultado desse ensaio, pode-se avaliar e fazer a
comparação com os dados fornecidos pelo fabricante do concreto. Porém, os valores
resultantes desses ensaios podem apresentar diferenças consideráveis, devido aos processos de
fabricação dos elementos, como, por exemplo, adensamento e cura, os quais prejudicam a
resistência do concreto. Além disso, pode ocorrer, nos ensaios, a destruição parcial das
estruturas. Por isso, nos últimos anos, novas técnicas vêm sendo difundidas, as quais
apresentam pouco ou nenhum dano estrutural. A essas técnicas dá-se o nome de ensaios não
destrutivos (END). O presente trabalho apresenta e caracteriza tipos de ensaios destrutivos e
END, comparando-os, bem como apresentando suas vantagens e aplicações em estruturas de
concreto. Os ensaios não destrutivos apresentam, em certas condições, certa vantagem sobre
os destrutivos, pois não inutilizam a estrutura. Assim, o trabalho apresenta a utilização desses
END para avaliar a resistência e a qualidade de elementos de concreto, procurando favorecer
a certificação necessitada pelos profissionais da engenharia civil. Os resultados obtidos
demonstram que para certos trabalhos torna-se mais viável utilizar os END, os quais estão
sendo cada vez mais difundidos.
Palavras-chave: Ensaios não destrutivos. Ensaios destrutivos. Concreto. Ultrassom.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Canal de concreto para transporte de água. .......................................................... 16
Figura 2 – Barragem do Castanhão (CE). ............................................................................. 17
Figura 3 – Elementos de concreto de forma não usual. ......................................................... 17
Figura 4 – Brita reciclada da demolição de um prédio. ......................................................... 18
Figura 5 – Esclerômetro de impacto ..................................................................................... 30
Figura 6 – Sequência de execução do ensaio da esclerometria. ............................................. 31
Figura 7 – Penetrômetro de Windsor para ensaio de dureza superficial. ................................ 32
Figura 8 – Ilustração do método Pull Off, mostrando os dois procedimentos ........................ 33
Figura 9 – Ilustração do método Pull Out. ............................................................................ 33
Figura 10 – Ilustração do equipamento para o método Break Off. ........................................ 34
Figura 11 – Ilustração do equipamento ultrassom. ................................................................ 35
Figura 12 – Máquina universal de ensaios. ........................................................................... 37
Figura 13 – Ensaio por flexão em elementos pré-moldados. ................................................. 38
Figura 14 – Ensaio por cisalhamento. ................................................................................... 39
Figura 15 – Ensaio por compressão. ..................................................................................... 40
Figura 16 – Medição direta com ultrassom. .......................................................................... 43
Figura 17 – Medição indireta com ultrassom. ....................................................................... 44
Figura 18 – Medição semidireta com ultrassom. ................................................................... 45
Figura 19 – Influência do tipo de agregado na relação entre V e resistência à compressão. ... 47
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Diagrama tensão-deformação convencional e real para material dúctil (aço). ..... 37
Gráfico 2 – Gráfico distância versus tempo da onda ............................................................. 44
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Número de camadas para moldagem de corpos-de-prova 1)
................................... 21
Tabela 2: Fator de correção h/d ............................................................................................ 22
Tabela 3: Tolerância para a idade de ensaio .......................................................................... 23
Tabela 4: Relações fcj/fck28 .................................................................................................... 27
LISTA DE SIGLAS
ABENDI Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção
END Ensaio Não Destrutivo
IE Índice esclerométrico
NBR Norma Brasileira
NM Norma MERCOSUL
CPs Corpos-de-prova
fcj Resistência à compressão axial
fck Resistência característica à compressão do concreto
fck28 Resistência à compressão aos 28 dias de cura
UFERSA Universidade Federal Rural do Semiárido
UNP Universidade Potiguar
12
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13
1.1 JUSTIFICATIVA........................................................................................................... 14
1.2 OBJETIVO .................................................................................................................... 14
2 METODOLOGIA ........................................................................................................... 15
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................. 16
3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS16
3.2 GENERALIDADES SOBRE A RESISTÊNCIA DO CONCRETO ................................ 20
3.2.1 Preparo, adensamento e cura dos corpos-de-prova ................................................. 20
3.2.2 Geometria dos corpos-de-prova para ensaios .......................................................... 22
3.2.3 Resistência à compressão axial – fcj .......................................................................... 23
3.2.4 Fatores que afetam a resistência à compressão axial ............................................... 24
3.2.5 Resistência característica à compressão do concreto – fck ....................................... 25
3.2.6 Umidade dos corpos-de-prova .................................................................................. 28
3.2.7 Ganho da resistência do concreto ............................................................................. 28
3.3 ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (END) E A RESISTÊNCIA DO CONCRETO.......... 29
3.3.1 Conceitos fundamentais ............................................................................................ 29
3.3.2 Tipos de ensaios não destrutivos ............................................................................... 30
3.3.2.1 Método da esclerometria ou de dureza superficial ..................................................... 30
3.3.2.2 Método de resistência à penetração ........................................................................... 31
3.3.2.3 Método de arrancamento .......................................................................................... 32
3.3.2.4 Método da maturidade .............................................................................................. 34
3.3.2.5 Método do ultrassom ................................................................................................ 35
3.3.3 Tipos de ensaios destrutivos ...................................................................................... 36
3.3.3.1 Ensaio por tração ...................................................................................................... 36
3.3.3.2 Ensaio por flexão ...................................................................................................... 38
3.3.3.3 Ensaio por cisalhamento ........................................................................................... 38
3.3.3.4 Ensaio por compressão ............................................................................................. 39
3.3.4 Comparação com ensaios destrutivos ....................................................................... 40
3.3.4.1 Limitações dos END................................................................................................. 40
3.3.4.2 Vantagens dos END ................................................................................................. 41
3.4 O ENSAIO POR ULTRASSOM .................................................................................... 42
3.4.1 Descrição do método ................................................................................................. 42
3.4.2 Aplicações .................................................................................................................. 45
3.4.3 Acurácia ..................................................................................................................... 45
13
3.4.4 Fatores que influenciam os resultados ...................................................................... 46
4 CONCLUSÕES ............................................................................................................... 49
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 50
13
1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o concreto está cada vez mais sendo utilizado em diferentes tipos de
construções dentre elas, as barragens, aeroportos, edifícios, etc. No Brasil, a utilização desse
tipo de material é de fundamental importância já que a urbanização das cidades está cada vez
mais sendo difundida, onde prédios e fábricas de grande porte ganham destaque. Em meio a
este espaço de intensa construção, é necessário o aumento das técnicas e tecnologias para
elevação desses objetos arquitetônicos, para garantir a segurança e seu tempo de vida. Assim
métodos de análises foram criados a fim de garantir a execução desses projetos.
Segundo a ABENDI, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção
(1999), ensaios não destrutivos “são definidos como testes para o controle de qualidade,
realizados sobre peças acabadas ou semi-acabadas, para a detecção de falta de homogeneidade
ou defeitos, sem prejudicar a posterior utilização dos produtos inspecionados”.
São considerados um dos principais meios de análises em estruturas feitas de concreto,
a fim de analisar as propriedades mecânicas desse tipo de material, principalmente a
resistência à compressão.
BOTTEGA (2010) afirma que o concreto tradicional é composto, basicamente, por um
aglomerante (cimento), um agregado graúdo (seixo ou pedra britada), um agregado miúdo
(areia) e água. A partir da mistura desses quatro elementos é formado um composto bastante
pastoso chamado concreto fresco. Após as reações químicas que acontecem com o contato da
água com o cimento, inicia-se o período chamado „pega‟, onde o concreto fresco vai
ganhando consistência. Após a completa hidratação do cimento, o concreto vai ganhando
rigidez e vai se transformando em um material sólido. É nesse estado que é possível avaliar
uma das principais propriedades do concreto: a resistência à compressão. Essa análise é de
suma importância para garantir a segurança das estruturas de concreto, sendo necessário
averiguar tal condição com um alto nível de precisão e detalhe.
Muitas vezes a análise da resistência do concreto em estruturas é necessária para
esclarecer dúvidas e ajudar os engenheiros na tomada de decisões. Essa precisão é notória
quando, por exemplo, se deseja estabelecer a data de retirada dos escoramentos de uma
estrutura, avaliar a homogeneidade da dureza superficial de estruturas novas e antigas, quando
se realiza uma perícia, etc.
Para a análise da resistência, a maneira mais usual de se fazer inspeção e diagnósticos
é a extração de testemunhos da estrutura. Contudo, tal procedimento, possivelmente, pode
14
acarretar danos ao elemento estudado. Outra desvantagem é que nem sempre a geometria dos
elementos estruturais permite extrair testemunhos com as dimensões necessárias para o
ensaio.
1.1 JUSTIFICATIVA
A utilização de ensaios não destrutivos (END), apesar de não substituir os ensaios de
resistência à compressão, passa a ser uma boa alternativa para o estudo, em conjunto, da
resistência em estrutura de concreto, pois não oferecem danos relevantes aos elementos, além
de aumentar a certificação dos resultados a partir da combinação de vários métodos.
1.2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é apresentar e caracterizar métodos de ensaios não
destrutivos para avaliar a resistência do concreto, bem como compará-los com os métodos
destrutivos, buscando compreender seus detalhes de aplicação e por fim, torná-los mais
aceitos pelos profissionais da área da engenharia civil.
15
2 METODOLOGIA
Com esse trabalho procurou-se exemplificar os END e os ensaios destrutivos, de
forma a compará-los e obter relações entre os mesmos, bem como estabelecer a confiabilidade
da utilização em diferentes condições.
A teoria, tanto dos ensaios destrutivos como dos END, necessária para a abordagem do
trabalho se deu na forma de revisão de literatura, principalmente, em normas da ABNT.
Foram também buscadas informações adicionais em livros, artigos científicos, dissertação de
mestrado, teses de doutorado, disponíveis em meios eletrônicos e nas bibliotecas da UFERSA
(Universidade Federal Rural do Semiárido) e UNP (Universidade Potiguar).
16
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
Há certas questões que definem por que o concreto é um dos materiais mais usados na
engenharia, pois o concreto nem é muito resistente nem tão pouco tenaz. Segundo Mehta
(2003), o primeiro fator relevante que comprova o grande uso do concreto, no caso o concreto
de cimento Portland, é que ele possui excelente resistência à água, diferentemente da madeira
e do aço comum, os quais podem apresentar deterioração séria. Isso faz com que o concreto
seja um material ideal para estruturas destinadas a controlar, estocar e transportar água, como
canais (Fig. 1), barragens (Fig. 2) e tanques para armazenamento.
Figura 1 – Canal de concreto para transporte de água.
Fonte: http://www.fscconcretagem.com.br em 14/11/2011
17
Figura 2 – Barragem do Castanhão (CE).
Fonte: http://www.diariodonordeste.globo.com em 14/11/2011
Outra vantagem que o concreto apresenta é a grande facilidade de fabricação de
elementos estruturais, numa variedade de formas e tamanhos (Fig.3). O concreto, quando
fresco, admite uma consistência plástica, permitindo que haja uma fluência do material nos
moldes destinados à fabricação de elementos estruturais.
Figura 3 – Elementos de concreto de forma não usual.
Fonte: http://www.tuboscopel.com.br em 14/11/2011
18
Mehta e Monteiro (2003) afirmam que, outra grande razão para utilização do concreto
é que ele normalmente é um material barato e facilmente disponível no canteiro. Os principais
ingredientes para execução de concreto – cimento Portland e agregados – são relativamente
baratos e comumente disponíveis na maior parte do mundo. Além disso, podem-se reciclar
certos tipos de agregados para sua posterior utilização (Fig. 4).
Figura 4 – Brita reciclada da demolição de um prédio.
Fonte: http://www.andredefariasbraz.blogspot.com em 14/11/2011
Assim, em comparação com outros materiais de construção, na fabricação de concreto
utiliza menor consumo de energia. Além disso, materiais alternativos podem ser usados no
concreto, diminuindo a quantidade de cimento ou dos agregados.
O concreto estrutural, utilizado na maioria das obras de engenharia civil, é o termo
referente à totalidade de aplicações do concreto como material estrutural e pode ser
exemplificado, principalmente, apresentando-se das seguintes formas:
Elementos de concreto simples estrutural: são elementos que não possuem
qualquer tipo de armadura em sua composição, ou que possuem quantidade
inferior à quantidade mínima exigida para o concreto armado, de acordo com o
item 17.3.5.3.1 da Norma Brasileira (NBR) 6118 (2003) da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), a qual estabelece condições para o projeto de
estruturas de concreto.
Elementos de concreto armado: são elementos que possuem quantidade
significativa de armadura em sua composição, de acordo com o item acima
19
citado. Seu comportamento estrutural se dá por meio da aderência entre a
armadura sem alongamento inicial e o concreto.
Elementos de concreto protendido: são elementos cuja armadura, utilizada na
sua construção, é previamente alongada por equipamentos especiais de
protensão. Essa característica torna, em condições de trabalho, a estrutura
bastante resistente a fissuras e deslocamentos.
A NBR 12655 (2006) estabelece as condições necessárias para o preparo, controle e
recebimento do concreto destinado à execução de estruturas de concreto simples, armado e
protendido. Dentre as generalidades, a norma divide as etapas de execução do concreto,
fazendo com que o profissional ou a empresa se disponha das condições pré-estabelecidas de
fabricação. Primeiramente, os materiais que compõe o concreto devem ser caracterizados e
controlados tecnologicamente. Seguindo o procedimento, a norma prescreve a realização do
estudo da dosagem do concreto, ajustando e comprovando o traço do mesmo e, por fim, é
feito o seu preparo. Conforme o item 4.2 da NBR 12655 (2006), o preparo do concreto:
“consiste nas operações de execução do concreto, desde o armazenamento dos materiais, sua
medida e mistura, bem como na verificação das quantidades utilizadas desses materiais.”
Essas quantidades são verificadas a fim de comprovar se o traço desejado atende às
especificações pré-estabelecidas.
A NBR 12655 (2006) indica que, para fins estruturais, todas as características e
propriedades do concreto devem ser estabelecidas antes do início da fabricação, cabendo ao
profissional responsável pelo projeto:
Registrar a resistência característica do concreto em todos os desenhos que
descrevem o projeto;
Especificar, quando necessário, os valores da resistência característica para as
etapas construtivas;
Especificar os requisitos correspondentes à durabilidade da estrutura e de
propriedades especiais do concreto.
Dentro desse contexto, a NBR 6118 (2003) determina o procedimento para o projeto
de estruturas de concreto, estabelecendo os requisitos básicos para tal finalidade, sendo que as
condições gerais e específicas da qualidade da estrutura devem ser seguidas segundo as suas
prescrições. A fabricação de elementos de concreto deve atender a todas as restrições básicas
e adicionais, seguindo o item 5 da norma citada acima: as estruturas de concreto devem
atender aos requisitos mínimos de qualidade classificados em 5.1.2 [capacidade resistente,
20
desempenho em serviço e durabilidade], durante sua construção e serviço, e aos requisitos
adicionais estabelecidos em conjunto entre o autor do projeto estrutural e o contratante.
3.2 GENERALIDADES SOBRE A RESISTÊNCIA DO CONCRETO
3.2.1 Preparo, adensamento e cura dos corpos-de-prova
O uso de corpos-de-prova é bastante importante, pois através deles é possível verificar
o comportamento dos elementos de concreto que irão compor as estruturas das construções. A
NBR 5738 (2008) tem por finalidade prescrever o procedimento para a moldagem e cura dos
corpos-de-prova de concreto e estabelece, para a moldagem, de acordo com o item 7.1, que:
“A dimensão básica do corpo-de-prova deve ser no mínimo quatro vezes maior que
a dimensão nominal máxima do agregado graúdo do concreto. As partículas de
dimensão superior à máxima nominal, que ocasionalmente sejam encontradas na
moldagem de corpos-de-prova, devem ser eliminadas por peneiramento do concreto,
de acordo com a NM [Norma Mercosul] 36 [Concreto fresco - Separação de
agregados grandes por peneiramento]”
Essa dimensão básica é definida, segundo a NBR 5738 (2008), como sendo uma
dimensão de referência, sendo utilizado o diâmetro para os corpos cilíndricos e a menor aresta
para os prismáticos.
Como a NBR 5738 (2008) não traz a definição de “dimensão nominal”, seu
significado foi encontrado na NBR 7225 (1993), definindo-se: “dimensão nominal de
agregados são as aberturas nominais das peneiras de malhas quadradas, correspondentes às
dimensões reais dos agregados”. Assim, a dimensão nominal máxima seria a peneira de
menor malha onde todos os agregados graúdos conseguem ultrapassar.
Além de definir a dimensão dos corpos-de-prova, a NBR 5738 (2008) prescreve a
preparação dos moldes que, de acordo com o item 7.2.1, estabelece que: “antes de proceder à
moldagem dos corpos-de-prova, os moldes e sua base devem ser convenientemente revestidos
internamente com uma fina camada de óleo mineral”. Ainda com relação à moldagem, a
superfície que servirá para apoiar os moldes deve ser rígida, horizontal e livre de
perturbações. Isso se deve ao fato de que pode haver modificações na forma e nas
21
propriedades do concreto durante a moldagem e o início da pega. Na moldagem dos corpos-
de-prova deve-se proceder a uma prévia remistura da amostra para garantir a uniformidade. O
concreto é colocado dentro dos moldes em um número de camadas determinadas pela Tabela
1, utilizando uma concha em U.
Tabela 1: Número de camadas para moldagem de corpos-de-prova 1)
Tipos de corpos-
de-prova
Dimensão básica
(d)
Mm
Número de camadas em função do tipo
de adensamento
Número de
golpes para
adensamento
manual Mecânico Manual
Cilíndrico
100
150
200
250
300
450
1
2
2
3
3
5
2
3
4
5
6
9
12
25
50
75
100
225
Prismático
150
250
400
1
2
3
2
3
--
75
200
--
1) Para concretos com abatimento superior a 106 mm a quantidade de camadas deve ser reduzida a metade da estabelecida
nesta tabela. Caso o número de camadas resulte fracionário arredondar para o inteiro superior mais próximo.
Fonte: NBR 5738 (2008)
A escolha do tipo de adensamento dos corpos-de-prova deve ser realizada de acordo
com o abatimento do concreto (cuja NM 67 (1996) determina o procedimento) e de condições
prescritas no item 7.4.1 da NBR 5738 (2008): para abatimento entre 10 mm e 30 mm, os
concretos devem ser adensados por vibração; para abatimento entre 30 mm e 150 mm os
concretos devem ser adensados manualmente ou por vibração; para abatimento maior que 150
mm, os concretos devem ser adensados manualmente. O procedimento para os tipos de
adensamento estão todos detalhados nesta norma.
22
Com relação à cura, Mehta e Monteiro (2003) afirmam que: “a cura trata dos
procedimentos destinados a promover a hidratação do cimento, consistindo do controle do
tempo, temperatura e condições de umidade, imediatamente após a colocação do concreto nas
fôrmas”. Após a colocação do concreto e tendo passados 24 horas, no caso de corpos-de-
prova cilíndricos, estes devem ficar armazenados em locais protegidos de intempéries. Este
procedimento refere-se à etapa de cura inicial. Segundo a NBR 5738 (2008), para realizar o
transporte dos corpos-de-prova, os mesmos devem estar devidamente embalados de maneira
adequada que evite golpes, choques, exposição direta ao sol ou outra fonte de calor, para não
haver perda de umidade, em consequência de temperaturas elevadas. Após a retirada dos
corpos-de-prova dos moldes, é necessária a identificação dos mesmos e imediatamente devem
ser armazenados, até o momento do ensaio, em solução saturada de hidróxido de cálcio a
(23±2) ºC ou em câmara úmida à temperatura de (23±2) ºC e umidade relativa do ar superior a
95%. Antes de realizar ensaios nos corpos-de-prova, as bases dos mesmos devem ser
preparadas, tornando-a superfícies lisas e perpendiculares ao seu eixo longitudinal.
3.2.2 Geometria dos corpos-de-prova para ensaios
Atualmente no Brasil, a NBR 5739 (2007) estabelece a geometria dos corpos-de-
prova, CPs, além de disponibilizar fatores de correção para elementos que não atendam as
dimensões exigidas. Segundo Giongo apud Bottega (2010), em outros países outras formas
geométricas são adotadas, como por exemplo, a forma cúbica, com a vantagem de não
necessitar de retificação das faces para melhorar o acoplamento ao prato da prensa.
A NBR 5739 (2007) indica que a relação altura/diâmetro (h/d) nunca deve ser maior
do que 2,02. Caso essa relação seja menor que 1,94, é preciso efetuar as correlações de acordo
com a Tabela 2.
Tabela 2: Fator de correção h/d Relação h/d 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00
Fator de correção 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87
NOTA Os índices correspondentes à relação h/d não indicada podem ser obtidos por
interpolação linear, com aproximação de centésimos.
Fonte: NBR 5739 (2007)
23
3.2.3 Resistência à compressão axial – fcj
Apesar de existirem diversos fatores que determinam como as estruturas de concreto
são projetadas, a característica mais importante para o projeto é a propriedade que elas têm de
resistir à compressão axial. Com a sua determinação é possível saber sua qualidade, ou seja, o
estado estrutural em que um elemento se encontra. Tal resistência mecânica é influenciada por
diversos fatores, tendo como principais a preparação e a cura do concreto.
No Brasil, geralmente, a resistência do concreto à compressão é estudada por meio de
ruptura de corpos-de-prova cilíndricos, em ensaios de curta duração realizados em
laboratórios. Com os corpos-de-prova dentro das condições da NBR 5738 (2008), o ensaio de
compressão pode ser realizado de acordo com a NBR 5739 (2007).
A NBR 5739 (2007) prescreve um método de ensaio onde corpos-de-prova cilíndricos
de concreto são submetidos à compressão. É necessário que essa capacidade de resposta tenha
de estar de acordo com as especificações dos critérios de projeto.
Para a verificação da resistência à compressão é necessário que se tenham passados 28
dias de concretagem, onde esta é aceita, universalmente, como índice geral da resistência do
concreto. Na entrega do concreto não é possível realizar o ensaio para verificar se o mesmo
atende à resistência especificada. (METHA e MONTEIRO, 2008) afirmam que, no
recebimento do concreto, ou seja, quando ele ainda não adquiriu a consistência necessária
para o ensaio da resistência, pode-se realizar o ensaio de abatimento do tronco de cone ou
slump. Este ensaio indica o estado de trabalhabilidade do concreto, podendo destacar
mudanças no consumo de água, de cimento ou aditivo, bem como nas características dos
agregados. A resistência deve ser verificada em uma data especificada, sendo as tolerâncias
indicadas na Tabela 3.
Tabela 3: Tolerância para a idade de ensaio Idade de ensaio Tolerância permitida (horas)
24 h 0,5
3 dias 2
7 dias 6
28 dias 24
63 dias 36
91 dias 48
NOTA – Para outras idades de ensaio, a tolerância deve ser obtida por interpolação. Fonte: NBR 5739 (2007)
24
De acordo com a NBR 5739 (2007) a resistência à compressão deve ser calculada
através da seguinte fórmula e deve ser expresso em MPa (com três algarismos significativos):
fcj =
(1)
Onde:
fcj é a resistência à compressão, em MPa;
F é a força máxima alcançada, em N;
D é o diâmetro do corpo-de-prova, em mm.
3.2.4 Fatores que afetam a resistência à compressão axial
Mehta e Monteiro (2003) comentam que: “a resposta do concreto às tensões aplicadas
não dependem somente do tipo de solicitação, mas também de como a combinação de vários
fatores afeta a porosidade dos diferentes componentes estruturais do concreto”. A resposta, ou
seja, a resistência real que o concreto apresenta às tensões aplicadas é resultado de interações
entre vários fatores. Tais fatores são divididos em três principais categorias: características e
proporções dos materiais, condições de cura e parâmetros de ensaios.
Para realizar uma mistura para que o concreto apresente a resistência especificada, é
necessário conhecer bastante os materiais que compõem e a quantidade que se deve utilizar de
cada constituinte. Dentre as condições iniciais para obtenção do concreto destacam-se as
principais:
Fator água/cimento: A resistência do concreto depende basicamente do fator
água/cimento utilizado. A resistência varia de forma inversa com o fator
água/cimento. Quanto mais seco for o concreto maior sua resistência.
Ar incorporado: Quando acontece o aparecimento de vazios em forma de ar no
sistema, decorrente do mau adensamento ou uso de aditivo incorporado de ar.
Isso pode diminuir a resistência do concreto;
25
Tipo de cimento: Os diferentes tipos de cimentos existentes podem influenciar
bastante na porosidade do concreto, consequentemente na resistência, devido
ao grau de hidratação;
Agregado: Apesar de a resistência do agregado não influenciar na resistência
do concreto, outros fatores podem ser importantes para sua determinação, tais
como, o tamanho, a forma, a textura da superfície e a mineralogia das
partículas;
Água de amassamento: Esta possui influência na resistência quando em sua
composição encontram-se impurezas em excesso. Não afeta somente a
resistência como também o tempo de pega, o depósito de sais na superfície e a
corrosão das armaduras passivas ou protendidas.
A respeito da cura, já foi comentado no item 3.2.1 do presente trabalho.
Os parâmetros dos corpos-de-prova podem influenciar a resistência, devido ao
tamanho, geometria e estado de umidade do concreto. Devido ao carregamento, os corpos-de-
prova podem responder diferentemente ao nível e duração da tensão e a velocidade de
aplicação.
3.2.5 Resistência característica à compressão do concreto – fck
Para realizar cálculos de estruturas de concreto armado é preciso basear-se no valor da
resistência característica do concreto, fck. O item 12.3.3 da NBR 6118 (2003) define que é
preciso que haja a verificação para a totalidade de cargas aplicadas aos 28 dias. Assim, é
preciso realizar o controle da resistência em t dias qualquer e aos 28 dias, de forma a
confirmar os valores de projeto. BOTTEGA (2010) afirma que essa verificação é importante
porque comprova se o fck do concreto entregue (ou produzido) na obra se iguala ou supera o
fck de projeto, o que é importante para a segurança da edificação.
O fck de um lote ou uma estrutura pode ser calculado de acordo com o tipo de controle
do concreto. Por amostragem parcial, o concreto é coletado em algumas betonadas ou por
amostragem total, em que o concreto é coletado de todas as betonadas. A NM 33 (1998) fixa
os requisitos sobre a coleta do concreto nas betonadas. Com esse material recolhido, é feita a
moldagem e cura dos corpos-de-prova de acordo com a NBR 5738 (2008). Por fim realiza-se
o ensaio de compressão aos 28 dias seguindo a NBR 5739 (2007), sendo que cada corpo-de-
26
prova fornecerá um valor fcj. Com esses valores, calcula-se, pela NBR 12655 (2006), o valor
estatístico de fck, chamado desse modo por se tratar de uma estimativa.
É observado que há três fcks de interesse maior, o fck de projeto definido pelo
engenheiro e utilizado no dimensionamento estrutural, o fck,est calculado com os corpos-de-
prova normatizados e o fck da estrutura, onde testemunhos são extraídos da mesma e calcula-
se o fck através do fcj. Algumas variações da resistência “in situ” podem ocorrer devido
diferenças na compactação e cura ou devido a não uniformidade do concreto fornecido.
A obtenção fck da estrutura não é simples. É necessário escolher locais genéricos da
estrutura, sempre considerando as mudanças de valores da resistência em todo o elemento
estrutural, bem como o estado em que se encontra (danos visuais). De fato, a resistência do
concreto para corpos-de-prova fabricados dentro das normas é, geralmente, superior ao do
concreto da própria estrutura. Isto é devido às diferentes condições iniciais de lançamento,
adensamento e cura do concreto
A NBR 7680 (2007) determina os locais específicos e a forma de como os
testemunhos podem ser extraídos de um lote de concreto. A estrutura que deve ser examinada
pode ser dividida no número de lotes identificados durante a concretagem ou em função das
partes que as compõem. Quando isso não for atendido os lotes podem ser identificados através
de ensaios não destrutivos. A norma aceita extração de testemunhos que contenham barras de
aço, mas, sempre que possível, convém utilizar um detector de metais a fim de evitar extrair
pedaços da armadura ou reduzir a altura dos corpos-de-prova.
De acordo com a extração de testemunhos a NBR 7680 (2007) relata:
“Sempre que possível os testemunhos devem ser extraídos de locais próximos ao
centro do elemento estrutural e nunca a uma distância menor do que um diâmetro do
testemunho com relação às bordas ou juntas de concretagem. A distância mínima entre as bordas das perfurações não deve ser inferior a um, diâmetro do testemunho.
NOTA – Em colunas, pilares, paredes cortina e elementos passíveis de sofre
fortemente o fenômeno de exsudação, é conveniente a extração dos testemunhos de
seções situadas 30 cm abaixo da superfície (topo) de concretagem do componente
estrutural. (NBR 7680, 2007, p. 7)”.
Quando se obtém a resistência à compressão para idades diferentes de 28 dias é
necessária a correção do mesmo, pois o fck desejado é nessa idade. Os fatores que afetam o
crescimento da resistência do concreto são, geralmente, as condições climáticas e as
condições de carregamento. Como fica difícil analisar essas variáveis, uma estimativa do
crescimento da resistência do concreto pode ser feita. Conhecendo o tipo de cimento, pode-se
estimar a resistência do concreto de acordo com o item 12.3.3 da NBR 6118 (2003):
27
fck28=
, sendo = exp {s[1 – (28/t)
1/2]} (2)
Onde:
t é a idade efetiva do concreto, em dias;
s = 0,38 para concreto de cimento CPIII e IV;
s = 0,25 para concreto de cimento CPI e II;
s = 0,20 para concreto de cimento CPV-ARI;
fck28 é a resistência aos 28 dias de idade;
fcj é a resistência a qualquer idade.
Da aplicação das fórmulas anteriores, resulta a Tabela 4.
Tabela 4: Relações fcj/fck28
CIMENTO IDADE EM DIAS
3 7 14 28 60 90 120 240 360 10.000
CPIII e CPIV 0,46 0,68 0,85 1 1,13 1,18 1,21 1,28 1,31 1,43
CPI e CPII 0,59 0,78 0,9 1 1,08 1,12 1,14 1,18 1,20 1,27
CPV 0,66 0,82 0,92 1 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,21
Fonte: CARVALHO e FIGUEIREDO (2007)
Pode-se estimar a resistência do concreto através de outra fórmula, a Lei de Abrams.
Esta leva em consideração parâmetros de dosagem para os componentes do concreto, sendo
por sua vez mais confiável e precisa. Os parâmetros A e B que se encontram na fórmula são
difíceis de serem calculados, sendo necessário bastante conhecimento nos materiais utilizados
na fabricação do concreto. Outros fatores que dificulta o comportamento dos materiais
constituintes são as condições climáticas, como umidade e temperatura. A resistência é
calculada da seguinte maneira:
28
fcj =
(3)
Onde:
fcj é a resistência a qualquer idade.
A e B são parâmetros dos materiais utilizados.
a/c é a relação água/cimento
3.2.6 Umidade dos corpos-de-prova
A NBR 5739 (2007) preconiza que no controle de recebimento do concreto, os corpos-
de-prova devem seguir a normatização, onde devem ser retirados da água ou da estufa
padronizada e imediatamente ensaiados. De acordo com a NBR 5738 (2008), se os corpos-
de-prova forem extraídos da estrutura e ensaiados somente aos 28 dias, devem permanecer,
pelo menos 21 dias, no mesmo local e expostos às mesmas condições climáticas que as
estruturas. Ao chegar ao laboratório, devem ser mantidos em câmara úmida até o momento do
ensaio. (METHA e MONTEIRO, 2003) afirmam que depois de 180 dias, mantendo um dado
fator água/cimento, a resistência do concreto curado sob condições continuamente úmidas foi
três vezes maior que do que a resistência do concreto curado continuamente ao ar.
3.2.7 Ganho da resistência do concreto
O ganho de resistência do concreto é função da evolução da sua consistência. Segundo
Bottega (2010), as quatro etapas características da consistência do concreto são:
Enrijecimento: período entre a mistura dos componentes e início da pega;
Início da pega: acaba a trabalhabilidade do concreto e passa a ser sólido;
Fim da pega: concreto solidificado;
Endurecimento: começa o ganho da resistência.
29
Esses pontos são bastante importantes para a resistência do concreto e estão
relacionados com cura e a temperatura de cura do concreto. Na faixa de temperatura de 4ºC a
46ºC, quando o concreto é lançado e curado numa temperatura específica e constante, é
geralmente observado que, até os 28 dias, quanto maior a temperatura mais rápida é a
hidratação do cimento e o ganho da resistência resultante. (METHA e MONTEIRO).
3.3 ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (END) E A RESISTÊNCIA DO CONCRETO
3.3.1 Conceitos fundamentais
O ensaio de compressão de corpos-de-prova extraídos da estrutura é a maneira mais
confiável de estabelecer a resistência à carga axial. Porém, essa maneira de estudo não se
torna aplicável quando há muitas armaduras ou quando a sua geometria apresenta-se de forma
que não se podem extrair os testemunhos. Outra limitação é que em peças pré-moldadas a
extração de testemunhos pode inviabilizá-las. Porém, essa propriedade pode ser estimada
através de outros métodos, onde outras propriedades servem como auxílio na sua
determinação.
O estudo de estruturas sem que ocorra a sua destruição é uma ferramenta que evoluiu e
se tornou um método bastante aceitável para analisar os materiais. Com boa certificação e
resultados confiáveis, a utilização de ensaios não destrutivos (END) passa a ser uma boa
alternativa para o estudo da resistência em estrutura de concreto, já que podem ser utilizados
paralelamente com outros métodos.
Marques e Junior (2006) afirmam que: “classicamente, são considerados ensaios não
destrutivos aqueles que quando realizados em peças acabadas ou semiacabadas não interferem
nem prejudicam seu uso futuro ou processamento posterior”. Estes tipos de ensaios podem ser
utilizados na detecção de falhas ou fraturas nos elementos, bem como na determinação de
várias propriedades físicas dos materiais.
Esses métodos indiretos possuem uma vasta aplicação, já que podem ser utilizados
tanto em estruturas novas como antigas. Segundo Evangelista (2002), para estruturas novas,
eles são empregados para saber a evolução da resistência e a qualidade do concreto e, para as
existentes, eles fornecem a avaliação da integridade e a capacidade de resistir. De maneira
30
geral, alguns END permitem a determinação de propriedades como módulo de elasticidade e
massa específica, como também a homogeneidade das estruturas, auxiliando na detecção da
região certa para a extração de testemunhos para a determinação da resistência à compressão.
3.3.2 Tipos de ensaios não destrutivos
3.3.2.1 Método da esclerometria ou de dureza superficial
Como o próprio nome diz, este tipo de ensaio realiza a avaliação da dureza superficial
de estruturas. Baseia-se em condições propostas para o elemento a ser analisado e como este
responde a tais imposições. Segundo Evangelista (2002), o método mais utilizado para a
realização do ensaio é o “princípio do ricochette”, onde a superfície da estrutura de concreto é
submetida a um impacto, com padrões pré-definidos, usando uma massa com uma dada
energia. Por fim, mede-se o valor do ricochette, ou seja, o índice esclerométrico (I.E.).
O instrumento utilizado para o ensaio de dureza superficial chama-se Esclerômetro de
Reflexão de Schmidt Hammer (Fig. 5). É um equipamento bastante leve, barato e de fácil
operação, o que torna este tipo de ensaio um dos mais executados. A sequência de execução
do ensaio da esclerometria é mostrada na Fig. 6.
Figura 5 – Esclerômetro de impacto
Fonte: http://www.peritos.eng.br em 14/11/2011
31
Figura 6 – Sequência de execução do ensaio da esclerometria.
Fonte: http://www.revistatechne.com em 14/11/2011
Após a realização do ensaio, é possível estimar a resistência e a rigidez do concreto.
Porém, os valores obtidos não são totalmente precisos, pois há certa influência do tipo e
quantidade de cimento bem como teor de umidade. Além de apresentar danos praticamente
nulos na superfície, o ensaio apresenta vantagem, pois relaciona o ganho de resistência da
estrutura ao longo do tempo.
3.3.2.2 Método de resistência à penetração
Este tipo de ensaio avalia a resistência e a qualidade da estrutura de concreto à
penetração através da profundidade que pinos conseguem atingir. O método pode ser utilizado
tanto em campo como em laboratório e o instrumento utilizado para sua execução é chamado
“penetrômetro de Windsor”. Basicamente, o ensaio consiste no disparo de um pino contra a
estrutura, através de uma pistola (Fig. 7). Como o pino possui uma elevada dureza, a
tendência é que ocorra a penetração do mesmo no elemento de concreto, onde ocorre a
completa absorção da energia cinética inicial. Essa energia é dividida entre a fricção do pino
com o concreto e a fratura propriamente dita. Com isso pode-se estimar a resistência do
concreto através das curvas de correlação. O comprimento do pino que fica exposto é que dá
ideia de quanto a estrutura é resistente à penetração.
32
Figura 7 – Penetrômetro de Windsor para ensaio de dureza superficial.
Fonte: http://www.laboratoriorta.it em 14/11/2011
Evangelista (2002) afirma que uma limitação do ensaio é que, apesar de não ser
relevante, a execução e a futura retirada dos pinos deixam danos à superfície. Em
compensação, o método apresenta grande utilidade no monitoramento da resistência do
concreto nas primeiras idades do concreto.
3.3.2.3 Método de arrancamento
Os métodos de ensaios de arrancamento se dividem em três: Pull Off, Pull Out e break
off.
Segundo Evangelista (2002) o método do Pull Off consiste no rompimento de parte do
concreto. Um disco circular metálico é inicialmente colocado na superfície do concreto (Fig.
8). Uma força de tração é posteriormente aplicada a este disco, usando-se um sistema
mecânico portátil, até o concreto a ele colado romper. Há duas formas de realização do
ensaio: pode ser feito um corte, superficialmente, seguindo a borda do disco ou não. Tal corte
evita, por exemplo, que superfícies carbonatadas influenciem no corte.
Sua limitação é que reparos precisam ser feitos nas zonas onde acontece o
arrancamento do concreto pelo disco. Dentre as vantagens podem ser citadas mão-de-obra
pouco especializada e a rapidez de execução.
33
Figura 8 – Ilustração do método Pull Off, mostrando os dois procedimentos
Fonte: http://www.revistatechne.com.br em 14/11/2011
Muito similar ao Pull Off, o método Pull Out (Fig. 9) consiste no rompimento do
concreto através do arrancamento de um disco metálico no interior da peça a ser ensaiada.
Existem duas maneiras de instalação do disco. Quando o disco é instalado antes da
concretagem o sistema é “lok-test” e quando é inserido após a concretagem o sistema é “capo-
test” (BOTTEGA, 2010).
Feita a instalação do disco, pode-se instalar o equipamento que irá tracioná-lo até o
arrancamento, juntamente com uma porção de concreto. Uma vantagem deste teste é que ele
produz apenas danos superficiais às estruturas. Com a força aplicada gradativamente pode-se
obter a leitura no equipamento de tração e por fim convertê-la em resistência a compressão
por meio de correlações.
Figura 9 – Ilustração do método Pull Out.
Fonte: http://www.revistatechne.com.br em 14/11/2011
34
O método de ensaio Break Off (Fig. 10) consiste no rompimento de um elemento
cilíndrico no plano paralelo à superfície do elemento de concreto. Consistindo de uma célula
de carga, um manômetro e uma bomba hidráulica manual, o equipamento obtém amostras por
meio de uma luva plástica inserida no concreto fresco e removida em um tempo pré-
estabelecido.
Figura 10 – Ilustração do equipamento para o método Break Off.
Fonte: http://www.revistatechne.com.br em 14/11/2011
3.3.2.4 Método da maturidade
O método da maturidade consiste na estimativa da resistência do concreto baseada na
temperatura de cura do material. Segundo Bottega (2010): “a avaliação da resistência do
concreto pelo método da maturidade se baseia no fato de que a resistência do concreto será
tanto maior quanto maior for o produto temperatura versus tempo”. Para isso é necessário que
haja um monitoramento interno da temperatura e a utilização de funções matemáticas que
forneça uma estimativa da resistência.
Para Evangelista (2002) este método é importante para o monitoramento do
desenvolvimento da resistência, especialmente no caso de construções em condições
ambientais adversas que influenciam na cura do concreto.
Uma das aplicações desse método é como a resistência do concreto se desenvolve nas
idades iniciais, possibilitando assim, o tempo certo para a retirada das fôrmas e das escoras.
35
Dentre as limitações, encontra-se, principalmente, o fato de que as medições estão
relacionadas a ensaios pontuais, podendo encarecer o ensaio.
3.3.2.5 Método do ultrassom
O método do ultrassom (Fig. 11) é o END baseado no conceito de que a velocidade
com que ondas ultrassônicas, longitudinais, atravessam a estrutura está relacionada com as
propriedades do material analisado. Este tipo de ensaio é muito usado na detecção de defeitos
na estrutura, profundidade de trincas, bem como alterações nas propriedades físicas da
estrutura. Outra possibilidade de uso é na estimativa da resistência à compressão.
Figura 11 – Ilustração do equipamento ultrassom.
Fonte: Autoria própria.
Como este trabalho tem por base o ensaio por ultrassom, maiores detalhes sobre o
ensaio serão tratados no item 3.4.1.
36
3.3.3 Tipos de ensaios destrutivos
Ensaios destrutivos são aqueles que deixam marcas ou sinais na peça ou no corpo-de-
prova submetido ao ensaio. Existem vários tipos de ensaios destrutivos, dentre eles destacam-
se os principais, que servem para calcular a resistência que o concreto possui de suportar
diferentes tipos de carregamento.
3.3.3.1 Ensaio por tração
Consiste, basicamente, em colocar o material em uma situação de esforço axial,
tendendo a alongá-lo até a ruptura. A partir desse esforço, é possível saber como os materiais
se comportam, indicando os limites de tração que suportam e a partir de que momento eles se
rompem. O ensaio é realizado em uma máquina universal de ensaios (Fig. 12), onde esta faz
com que um corpo-de-prova seja alongado em uma taxa muito lenta e constante, até que
ocorra a deformação até a ruptura do elemento. Segundo Hibbeler (2010), com os dados
obtidos no ensaio, é possível construir um determinado gráfico para cada material. O traçado
da curva pelos pontos do gráfico resulta no Diagrama Tensão-Deformação, podendo analisá-
lo de forma a obter propriedades como alongamento, estricção, deformação elástica,
deformação plástica, limite de proporcionalidade e limite elástico, conforme Graf. 1.
37
Figura 12 – Máquina universal de ensaios.
Fonte: www.engenhariacivil.up.com.br em 14/11/2011
Gráfico 1 – Diagrama tensão-deformação convencional e real para material dúctil (aço).
Fonte: HIBBELER (2010)
38
3.3.3.2 Ensaio por flexão
Este ensaio consiste no dobramento de um corpo-de-prova de eixo retilíneo e seção
transversal conhecida. O elemento é colocado sobre dois apoios separados por uma distância
especificada. Assim, é aplicado um esforço perpendicular ao eixo do elemento até que seja
atingido um ângulo desejado. Na metade do elemento é colocado um extensômetro, abaixo do
corpo-de-prova, para indicar a medida de deformação, chamada flecha, conforme Fig. 13. A
tensão de flexão avaliada neste ensaio é baseada no momento fletor, momento de inércia e o
módulo de resistência da seção transversal.
Figura 13 – Ensaio por flexão em elementos pré-moldados.
Fonte: http://www.joinville.udesc.br em 14/11/2011
3.3.3.3 Ensaio por cisalhamento
No ensaio por cisalhamento, uma força é aplicada ao material numa direção
perpendicular ao eixo longitudinal. Essa força cortante, atuante no plano da seção transversal,
provoca o cisalhamento, que nada mais é que a separação das partes, deslizando-as, uma sobre
a outra, paralelamente (Fig. 14). Portanto, o material reage a esta força cortante, no mesmo
plano da seção transversal onde é aplicado o cisalhamento e tal reação é chamada resistência
ao cisalhamento. Este ensaio é usado, geralmente, em produtos acabados, pois a forma do
39
produto final afeta a resistência. O ensaio também é realizado na máquina universal,
adaptando-a com alguns dispositivos.
Figura 14 – Ensaio por cisalhamento.
Fonte: http://www.scielo.com.br em 14/11/2011
3.3.3.4 Ensaio por compressão
Muito semelhante ao ensaio de tração, esse tipo de ensaio tem por finalidade submeter
os corpos-de-prova a uma força axial para dentro, distribuída uniformemente em toda sua
seção transversal. O ensaio também pode ser executado na máquina universal de ensaios (Fig.
15). O elemento é colocado entre duas placas lisas, uma fixa e outra móvel, e só então é
aplicada uma compressão no mesmo. O objetivo do ensaio é medir a resistência que o corpo
possui em relação à compressão.
A resistência à compressão axial, quando comparada com as outras propriedades, é
muito fácil de ser ensaiada. Todavia, a maioria das propriedades pode ser diretamente
relacionada com a resistência à compressão e podem, portanto, ser deduzidas dos dados da
resistência (MEHTA e MONTEIRO, 2003). A resistência à compressão, na maioria das
vezes, maior que os outros tipos de resistência. Assim, peças são projetadas levando em
consideração a vantagem da alta resistência à compressão do material.
40
Figura 15 – Ensaio por compressão.
Fonte: http://www.cimentoitambe.com em 14/11/2011
3.3.4 Comparação com ensaios destrutivos
Muitas vezes, os END são vistos como uma forma de concorrência com os ensaios
destrutivos. Apesar de, na maioria das vezes, resultarem em propriedades comuns, as duas
formas de ensaio podem ser vistas como complementares. Marques e Junior (2006) comentam
que se podem utilizar ambos os tipos de ensaio para verificar as suposições implícitas no
outro método. Os ensaios destrutivos podem, por exemplo, fazer a correlação existente entre a
propriedade de interesse e a propriedade medida nos END. Abaixo, encontra-se uma
comparação entre as duas formas de ensaio, apresentando vantagens e limitações.
3.3.4.1 Limitações dos END
Nos ensaios destrutivos, geralmente são medidas, quantitativamente, cargas de
falhas, quantidade de distorção ou dano ou tempo de vida, ou seja, os resultados podem ser
usados diretamente no projeto. Nesse tipo de ensaio podem ser simuladas mais de uma
condição de serviço, fazendo com que haja a medição direta da propriedade de interesse,
aumentando a confiabilidade. Outra vantagem é que, com relação às medições, pode-se
41
correlacioná-las, diretamente, com a propriedade de interesse, auxiliando na concordância por
diversos observadores.
Já nos END, os testes são, geralmente, qualitativos, podendo, somente, apresentar
danos ou falhas. Neste ensaio, são feitas medidas indiretas das propriedades, não podendo
relacioná-las, de forma confiável, com as condições de serviço. Uma das grandes limitações
dos END é que, para a interpretação dos resultados, são necessárias pessoas capacitadas ou
que contenham bastante experiência. Caso isso não seja satisfeito, poderá haver erro nos
resultados.
3.3.4.2 Vantagens dos END
Os testes realizados pelos END são feitos utilizando peças que posteriormente podem
ser colocadas em serviço e podem, dependendo do valor econômico, realizar em todas elas,
garantindo a verificação de uso. Este tipo de ensaio permite que os testes sejam realizados em
peças durante o serviço, eliminando assim a possível perda da peça ou da sua condição de
serviço. Pelo END é possível fazer várias repetições de teste em uma peça, configurando uma
evolução do desgaste ou dano, como também da sua resistência. São rápidos e, geralmente,
não necessitam de muita mão-de-obra, reduzindo os custos.
Já nos ensaios destrutivos, as peças ensaiadas não podem ser mais usadas, sendo que
a correlação com as que vão ser utilizadas é feita por outros meios. Assim, os testes só podem
ser feitos em uma parte das peças, diminuindo a confiabilidade, devido à imprevisível
variação da propriedade de uma peça para outra. Nesse tipo de ensaio os testes não podem ser
realizados em peças durante o serviço, sendo necessário o desmonte ou remoção da peça a ser
ensaiada. Não é permitida a realização de vários testes em uma mesma peça, pois os efeitos
cumulativos não serão os mesmos no decorrer do tempo. Assim, é necessário estabelecer e
provar, previamente, as condições de serviço de cada peça. Outra desvantagem existente é que
o tempo e a mão-de-obra para este tipo de ensaio são altos, aumentando os custos e produção.
42
3.4 O ENSAIO POR ULTRASSOM
O ensaio por ultrassom é analisado segundo o estudo das ondas, ou seja, perturbações
que se propagam através de um meio. No caso desse estudo, o meio é o concreto. Assim a
velocidade dessas ondas será relacionada com as propriedades dos materiais utilizados na
fabricação do concreto.
Segundo Bauer (2008) o ensaio por ultrassom “tem, nos últimos anos, obtido destaque
crescente, dentre os testes não destrutivos, para a determinação de várias propriedades dos
concretos”. Trata-se de um teste não destrutivo, apresentando grandes aplicações no estudo da
patologia do concreto e no controle de qualidade.
3.4.1 Descrição do método
Uma forma de estimar a velocidade de ondas ultrassônicas que atravessam um
material sólido, no caso o concreto, é relacionando sua densidade e as suas propriedades
elásticas.
O método é bastante simples baseia-se no fato de que a velocidade é influenciada
pelos parâmetros dos materiais do concreto. Através da distância entre o transdutor emissor e
o receptor, ou seja, a dimensão do material analisado, e o tempo medido eletronicamente,
pode-se estimar a velocidade média com que essas ondas demoram ao atravessar. Segundo
Malhotra apud Evangelista (2002) essa velocidade depende principalmente do coeficiente de
Poisson, módulo de elasticidade, massa específica do concreto e a presença de armaduras.
Segundo Bungey apud Evangelista(2002), a equação para calcular a velocidade que ondas
atravessam um material sólido é mostrada abaixo.
43
V = ((KEd)/ρ)1/2
(4)
Com K =
Onde:
V é a velocidade da onda, em Km/s;
Ed é o módulo de elasticidade dinâmico, KN/mm2;
ρ é a massa específica, Kg/m3,
ν é o coeficiente de Poisson dinâmico.
De acordo com a NBR 8802 (1994) existem três tipos de medição utilizando o
aparelho de ultrassom. Abaixo, encontram-se figuras ilustrando cada tipo de medição.
Na medição direta (Fig. 16), os transdutores se encontram alinhados, posicionados em
faces oposta. É a melhor forma de determinar a velocidade de propagação de ondas, pois estas
são recebidas com melhor intensidade de sinal.
Figura 16 – Medição direta com ultrassom.
Fonte: NBR 8802 (1994)
A transmissão indireta (Fig. 17) é realizada quando somente uma face do material a
ser analisado está disponível e que este se encontre em tamanho suficiente para realizar o
deslocamento do transdutor-receptor. A NBR 8802 (1994) indica que a velocidade é dada pela
44
inclinação da reta no gráfico que relaciona o tempo e a distância entre os transdutores, em
vários pontos equidistantes, entre si, do elemento. O Graf. 2 indica esses pontos.
Figura 17 – Medição indireta com ultrassom.
Fonte: NBR 8802 (1994)
Gráfico 2 – Gráfico distância versus tempo da onda
Fonte: NBR 8802 (1994)
Na transmissão semidireta (Fig. 18) é realizada quando o elemento não apresenta
acesso a duas faces opostas e a face disponível não apresenta propriedades para realizar a
transmissão indireta.
45
Figura 18 – Medição semidireta com ultrassom.
Fonte: NBR 8802 (1994)
3.4.2 Aplicações
Além de ser um método bastante simples, o método do ultrassom possui uma vasta
aplicação em estruturas de concreto. Segundo Bauer (2008) este método pode ser usado na
detecção dos defeitos encontrados no interior da estrutura, assim como investigação de danos
causados por outros fatores como gelo, ambiente agressivo e fogo. Outra propriedade que
pode ser investigada pelo método do ultrassom é a resistência à compressão axial, porém esta
estimativa não é muito confiável. Para a determinação da resistência é necessário que se faça
uma correlação prévia, ou seja, uma curva de correlação entre a velocidade da onda e a
resistência do concreto. Porém, para idades avançadas, as curvas de correlação para idades
iniciais não são aplicadas, devido a fatores tais como, composição (dimensão, agregados e
granulometria), cura, geometria da peça e armadura.
3.4.3 Acurácia
Em comparação com os demais ensaios não destrutivos o ultrassom é o método que
apresenta as menores variações. Segundo Facaoaru apud (EVANGELISTA, 2002), a variação
a acurácia é determinada da seguinte maneira:
12 a 16 % - quando disponíveis corpos-de-prova ou testemunhos, conhecendo
a composição do concreto;
46
14 a 18 % - quando disponíveis somente corpos-de-prova ou testemunhos;
18 a 25 % - quando disponível apenas a composição do concreto;
Acima de 30 % - quando não estão disponíveis corpos-de-prova ou
testemunhos e nem se conhece a composição do concreto, dependendo apenas
da experiência do profissional e da existência de dados auxiliares.
O uso do ultrassom, quando o aparelho é calibrado corretamente, a acurácia aumenta,
ficando em torno de 20 % (MALHOTRA apud EVANGELISTA, 2002). Assim a acurácia do
método também depende do profissional que executa o ensaio.
3.4.4 Fatores que influenciam os resultados
Além de explicar, detalhadamente, o funcionamento do aparelho do ultrassom, o
manual da Pundit (2010) comenta os fatores que influenciam os resultados do ensaio. Para a
estimativa da resistência, diversos fatores podem influenciar nos resultados. Dependendo do
tipo de agregado, ou mesmo da quantidade utilizada, na composição do concreto, gráficos
relacionando resistência à compressão e velocidade das ondas, apresentando determinadas
discrepâncias. Sturrup et al apud Evangelista(2002) realizou ensaios e verificou diferenças
entre resistências utilizando diferentes tipos de agregados: brita e seixo (agregados
convencionais), cinza volante sinterizada (agregado leve) e ilmenita (agregado pesado).
Quando analisa o concreto leve a diferença entre a velocidade de propagação é maior do que
os outros tipos (figura 19). Outro fator importante é que a velocidade de propagação é maior
quando são usados agregados, graúdos e miúdos, com massas específicas maiores.
47
Figura 19 – Influência do tipo de agregado na relação entre V e resistência à compressão.
Fonte: EVANGELISTA (2002)
De acordo com a NBR 8802 (1994), as superfícies dos corpos-de-prova analisados
pelos ensaios de ultrassom devem ter superfícies planas, lisas e com ausência de sujeira.
Segundo o item 4.1.2 da norma acima citada, quando os corpos-de-prova a serem ensaiados
que não estejam suficientemente lisos, devem ter suas superfícies adaptadas através de
processos mecânicos ou com camadas de pasta de cimento, gesso ou resina epóxi, facilitando
o acoplamento com os transdutores. Segundo Evangelista (2002), quando existir superfícies
com acabamento, deve-se evitar, pois pode haver diferenças entre o concreto no restante da
peça.
Outro fator que influencia na determinação da velocidade de propagação das ondas é a
presença de armaduras, fissuras ou vazios na composição do concreto. Quando há ausência
desses elementos as ondas percorrem o caminho menor entre os transdutores. Se existirem
armaduras no interior, localizadas paralelamente à propagação das ondas, parte destas podem
se movimentar em meio às armaduras. Dessa forma, o pulso que chega ao transdutor receptor
realiza um percurso onde sua velocidade é aumentada no interior do aço, aumentando assim a
velocidade total de propagação. Para casos específicos onde não se pode evitar a presença das
armaduras, é feito uma correção para a estimativa da velocidade. Nas fissuras, as ondas se
comportam de forma a contorná-las, aumentando o tempo de propagação. Este fato ainda
depende se as fissuras estão preenchidas com ar ou água, havendo diferença na velocidade.
48
Com relação ao comprimento de propagação das ondas, é estabelecida uma distância
mínima a fim de evitar a alta proximidade dos transdutores, onde haveria influência
significativa nos resultados. A maioria dos transdutores utilizados possui frequência de 54 Hz,
mas existem em faixas de frequência entre 20 e 150 Hz. A escolha da frequência dos
transdutores é escolhida pelo tamanho do elemento a ser investigado, sendo que a distância a
ser percorrida não deve ser menor que o comprimento de onda. A dimensão máxima dos
agregados graúdos também deve ser menor que o comprimento de onda, para não haver perda
de energia e possível perda do sinal receptor (EVANGELISTA, 2002). Outros fatores
influenciáveis na velocidade de propagação são a temperatura e o teor de umidade.
49
4 CONCLUSÕES
É notável que os END estejam sendo cada vez mais utilizados, isto é devido a sua
grande variedade de aplicações, bem como a não inutilização das peças ensaiadas, que é o
grande problema dos ensaios destrutivos. Como, em alguns casos, não apresentam alta
confiabilidade como os ensaios destrutivos, os END auxiliam, de certa forma, na
determinação da resistência à compressão, que é a propriedade mais importante para
utilização de estruturas de concreto. Outro grande fator relevante no uso dos END é que estes
podem relacionar os resultados diretamente com as propriedades de interesse.
Como nos ensaios destrutivos, existem vários tipos de ensaios não destrutivos. É de
suma importância que o executor da análise seja capacitado para realização, para que não haja
erros, e que, principalmente, conheça o ensaio adequado para cada tipo de situação, para que
não ocorram gastos com procedimentos que não sejam apropriados.
Assim, o profissional da área de engenharia civil saberá incorporar a utilização desses
dois métodos de ensaios, garantindo a segurança e a qualidade das construções, assim como
reduzindo os gastos com inspeção no decorrer da vida das estruturas.
50
REFERÊNCIAS
ANDREUCCI, R. Aplicação industrial – Ensaio por ultrassom. São Paulo: [s.n], 2011. 98
p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: Concreto – Preparo,
controle e recebimento. Rio de Janeiro, 1996, 7p.
______. NBR 5738: Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio
de Janeiro, 2008, 12p.
______. NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão em corpos-de-prova cilíndricos. Rio
de Janeiro, 2007, 14p.
______. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2003,
223p.
______. NBR 7225: Materiais de pedra e agregados naturais. Rio de janeiro, 1993, 4p
______. NBR 7680: Concreto – Extração, preparo e ensaio de testemunhos de concreto. Rio
de Janeiro, 2007, 16p.
______. NBR 8802: Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de
onda ultrassônica. Rio de Janeiro, 1994, 8p.
BAUER, F. L. A. Materiais de Construção. 5. ed. revisada. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
471p.
BOTTEGA, F. Análise do ensaio esclerométrico, um ensaio não destrutivo, nas
estruturas de concreto. 2010. 136f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Engenharia Civil) – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Universidade do Extremo Sul
Catarinense, Criciúma – SC, 2010.
CARVALHO, R. C.; FILHO, J. R. F. Cálculo de detalhamento de estruturas usuais de
concreto armado. 3 ed. São Carlos: Edufspar, 2007.
COMITÉ MERCOSUR DE NORMALIZACION. NM 33: Concreto – Amostragem de
concreto fresco. Uruguai, 1998. 5p.
51
______. NM 36: Concreto fresco – Separação de agregados grandes por peneiramento.
Uruguai, 1995. 7p.
______. NM 67: Concreto – Determinação da consistência do concreto pelo abatimento do
tronco de cone. Uruguai, 1996. 11p.
COSTA, R. M. Ultra-sonografia – Um aliado poderoso. Minas gerais: [s.n], 2008, 1p.
ENSAIOS não destrutivos: Novas ferramentas para inspeção de obras públicas. Pernambuco:
TCE, 2001. 26 slides, color.
EVANGELISTA, A. C. J. Avaliação da resistência do concreto usando diferentes ensaios
não destrutivos. 2002. 239f. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia Civil) –
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação COPPE, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, 2002.
GIONGO, J. S. Introdução e propriedades dos materiais. Apostila de aula. USP. São
Paulo, 2009.
HAMASSAKI, L. T. Aspectos de aplicabilidade de ensaio de ultrassom em concreto. São
Paulo: Departamento de engenharia de construção civil, EPUSP, 1997. 16p.
HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
641p.
MARQUES, P. V; JUNIOR, S. F. da S. Ensaios não destrutivos. Belo Horizonte: [s.n],
2006, 96p.
MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M.. Concreto, Estrutura, propriedades e materiais. 1
ed. São Paulo: Pini, 2008.
PUNDIT: Instruções de operação – Instrumento ultrassônico. Suiça, 2010, 16p.