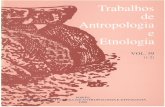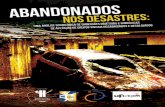Trabalho de Licenciatura (Expressões Rituais e Simbólicas na Pré e Proto-História)
Transcript of Trabalho de Licenciatura (Expressões Rituais e Simbólicas na Pré e Proto-História)
Universidade de Coimbra
Faculdade de Letras
Arqueologia e História
2012/2013
Deposições em meios húmidos na Idade do Bronze
Disciplina: Expressões Rituais e Simbólicas na Pré e Proto-História
Docente: Raquel Maria Rosa Vilaça
Aluno: Rui Miguel das Neves Santo
Email: [email protected]
1
Introdução
No âmbito da disciplina de Expressões Rituais e Simbólicas na Pré e Proto-
História escolhi realizar um pequeno trabalho sobre as deposições em meio aquático.
Esta escolha vem um pouco ao encontro da vontade de querer saber, de que forma é que
o humano interage com a água e vice-versa, obviamente poderíamos falar muito sobre
esta problemática, no entanto, e tendo em conta a disciplina irei centrar-me mais na
questão das deposições e das suas razões, tendo sempre em consideração que elas eram
feitas por pessoas que habitavam e se movimentavam no território.
O presente trabalho foi dividido em três partes essenciais para a compreensão e
início do estudo sobre os depósitos em meios húmidos, não aprofundei demasiado a
temática no sentido em que optei por não colocar as diferentes concepções de vários
autores, mas apenas uma ideia que de forma geral vai de encontro aos trabalhos que
estão a ser produzidos actualmente. Dividi-o em três partes, sendo que a primeira e a
segunda se ocupam da definição de depósito em meio húmido, no entanto diferem de
uma para a outra porque ao paço que a primeira se ocupa da real definição, a segunda
parte tem como objectivo apresentar os vários tipos de depósito e as suas possíveis
razões. Na terceira e última parte apresento alguns casos de estudo.
O que são depósitos em meios húmidos?
O conceito de depósito não é muito consensual: tanto poderíamos falar de um
espaço próprio, fisicamente, semelhante a uma fossa ou silo mas com uma utilização
completamente diferente; ou simplesmente o acto de depositar algo num espaço menos
circunscrito. A deposição de artefactos independentemente da sua intenção é transversal
no tempo. Parte-se do princípio que o depósito teria uma intenção específica, desde a
demarcação territorial até ao ritual funerário tudo é especulado.
Sabemos que todo o animal independentemente do espaço ou tempo, para
sobreviver tem de consumir água. A sua importância obriga grupos de animais a
deslocarem-se durante vários quilómetros para matarem a sede, as comunidades
2
humanas tentam quase sempre instalar-se o mais perto possível deste recurso, pois, além
do papel fundamental que representa para a sobrevivência física, ela também é
necessária para o cultivo e pode ter um papel de delimitação do território. A escassez e a
contaminação da água teriam efeitos devastadores numa comunidade, por essa razão era
necessário fazer uma escolha apropriada e geri-la o melhor possível. Muitos autores
interpretam-na como símbolo de regeneração, fertilidade, pureza e ao mesmo tempo tem
uma conotação ritual.
Falar de depósitos em meios aquáticos é mais complicado do que aquilo que se
possa pensar á partida. Uma vez que muitos achados são classificados como aquáticos
quando na verdade no momento da descoberta nem sequer estão na água, e pode
acontecer estarem bastante longe. Assim sendo, opta-se por falar nos depósitos em
meios húmidos. Esta alteração na nomenclatura advém do facto de o território estar em
constante alteração, o que pode fazer com que um artefacto que foi depositado no centro
de um rio, hoje esteja na sua margem ou o inverso.
De uma forma geral as deposições em meio terrestre entram em contraste com as
deposições em meio húmido, os primeiros são interpretados como depósitos profanos e
os segundos como depósitos sagrados (Vilaça, 2007, 47), mas esta não é uma
interpretação rígida, porque podem existir depósitos terrestres com intenção sagrada ou
depósitos em meio aquático com uma intenção meramente profana. No entanto a
irrecuperabilidade dos objectos é o principal factor de distinção.
Não esquecendo o facto, que as redes hidrográficas vão sofrendo alterações ao
longo do tempo, as conclusões tiradas sobre um local são com base naquilo que se
analisa á época da escavação. Ora assim sendo, importa referir outros sítios que se
inserem no estudo dos meios aquáticos mas que na realidade não se encontram dentro
de água. Estamos a falar dos “depósitos de margem” e dos “depósitos á beira-mar”,
sobre os quais me debruçarei mais no próximo tópico:
1. Nos “depósitos de margem” o artefacto pode estar depositado numa zona
seca, mas devido á subida do caudal das águas, pode ficar dentro da área
inundada. Mas aquilo que se vai ter em conta na hora de fazer um estudo
sobre a escavação, é o contexto arqueológico em que as peças se
encontravam. A maioria dos artefactos depositados são machados existindo
3
em menor quantidade locais com armas, como exemplo: a espada de
Cacilhas e o conjunto de Solveira (Montalegre).
2. Os “depósitos de beira-mar”, também são depósitos de fronteira entre o
molhado e o seco. Mas neste caso a sua proximidade é ao mar e não ao rio.
Em Pontevedra, no sítio da Samieira foram encontrados 170 machados a
cerca de 45m do mar.
Considerações e Interpretações
O contexto em que um sítio é encontrado é fundamental para o percebermos,
mas ao mesmo tempo é necessário tentar recriar o próprio sítio ao longo dos tempos e
perceber a sua evolução ao longo dos milénios.
A deposição de artefactos em meios aquáticos certamente será transversal a toda
a história humana, basta por exemplo pensarmos no caso de Coimbra, actualmente,
onde os estudantes todos os anos colocam carros de compras no Rio Mondego. Na
Idade do Bronze, e tendo em conta aquilo que já foi encontrado até agora, a maioria dos
artefactos depositados seriam utensílios, maioritariamente machados, e algumas armas.
A dualidade existente entre os depósitos terrestres e os depósitos aquáticos leva-
nos a tentar perceber que tipos de factores poderiam ditar esta diferenciação no local de
deposição. A compreensão desta diferença por enquanto só pode ser especulada, e é o
que farei mais adiante.
Antes de tentarmos perceber as razões é preciso identificar algumas
transformações. No caso dos “depósitos de margem”, é consensual, que o sítio onde os
encontramos hoje em dia (em muitos casos) não seria o mesmo que na altura em que foi
depositado, ou seja, os artefactos podem ter sido depositados no centro de um rio mas
devido a processos variados, e completamente alheios ao Homem, os artefactos
poderiam ter acabado por ficar na margem. Margem que em alguns casos ainda é
alagada, em época de cheias, ou por outro lado poderá estar a vários metros do leito do
rio actual. Quanto aos “depósitos de beira-mar” a situação é em tudo idêntica aquilo
que acontece nos rios, uma vez que o mar também é influenciado por factores externos
4
que vão alterando a sua zona de afectação no terreno, ou seja, se hoje o mar está a uma
determinada distância da costa à mil anos poderia estar cinquenta metros mais para
diante ou para atrás. Mas se recuarmos mais mil anos as oscilações do mar tornam-se
maiores, quer com isto dizer que é difícil definir uma área de “beira-mar”, se por
exemplo encontrarmos um machado de bronze a 500 metros da costa iremos dizer que é
uma deposição ligada ao rio, ou irá ser interpretado como achado isolado sem uma
razão aparente, sendo o descuido do seu proprietário a própria razão. Obviamente estas
conclusões dependem do sítio estudado, se for num local com grande propensão a
inundar e com características de baía certamente será interpretado como “depósito de
beira-mar”, mas se estas características não forem tão evidentes torna-se mais difícil
perceber o achado.
Outro tipo de deposições que devemos considerar, e que se inserem nas
anteriores, é os artefactos colocados nas fendas das rochas. Este tipo de deposição
mostra uma clara intenção da pessoa ou comunidade em colocar naquele local o
artefacto, uma vez que eles estariam limitados aos espaços que tivessem aquelas
características, já referi anteriormente o caso de Viana do Castelo.
Resta agora falar sobre algumas das interpretações mais frequentes para perceber
estes locais:
1. Oferendas a determinadas divindades relacionadas com a água, com o
objectivo de pedir ou agradecer algo;
2. Poderiam estar em locais de passagem habitual, como cruzamentos ou locais
de passagem a vau. Sítios relacionados com um certo misticismo, aventura,
perigo ou como locais de transição entre o mundo dos vivos e dos mortos, as
oferendas poderiam ser concedidas por habitantes da região ou por meros
viajantes. No caso dos romanos as deposições eram feitas aos Lares Viales, e
um dos objectivos seria valorizar as vias de comunicação;
3. A água também poderia ser vista como zona de fronteira, entre a área
habitada e o espaço desconhecido, e os artefactos poderiam ter como
objectivo delimitar essa fronteira;
4. Poderiam ser deposições relacionadas com rituais funerários, com o
objectivo de louvar um marinheiro ou um pescador. Mas esta poderá ser uma
conclusão controversa, devido ao tipo de materiais encontrados;
5
5. Depósitos relacionados com trocas comerciais, esta conclusão tem como
base a descoberta de um conjunto de machados ainda com cone de fundição,
o que indica que não foram utilizados.
Outras interpretações podiam ser feitas sobre este tipo de deposições, mas estas
parecem-me ser as mais expressivas.
No entanto ao ler o livro de Ana M. Bettencourt, surgiu-me uma nova ideia que
não encontrei expressa em nenhum lado. É certo que as comunidades humanas viveriam
num determinado território e tinham de o percorrer, tanto para o explorar, como para o
experienciar. Uma forma de experienciar o território poderia passar por fazer gravuras e
pinturas rupestres na margem dos rios, mas será que elas não poderiam estar
relacionadas com algum tipo de deposições feitas no centro, ou na própria margem dos
rios junto às pinturas/gravuras. Arqueologicamente é difícil relacionar estes dois
factores, mas esta relação poderia dar um cunho mais comunitário á arte que teria como
objectivo homenagear determinada pessoa, desenhando-a e depositando um material
relacionado com a vida ou profissão do defunto.
Alguns exemplos
Os exemplos a ser apresentados de seguida são apenas uma pequena amostra de
todo o leque existente, têm a particularidade de terem sido todos encontrados por leigos
da arqueologia que depois os forneceram a alguém mais capacitado, quero com isto
dizer que não foram realizadas as devidas escavações, nem tão pouco se conhece o
“verdadeiro” sítio da deposição, aspectos que poderiam ajudar a perceber melhor os
locais e a retirar conclusões. Importa referir que um local seja ele qual for, tem uma
envolvência específica e boas conclusões só podem ser conseguidas tendo esse aspecto
em conta, nem sempre é possível ter esse tipo de informação quando estudamos estes
depósitos. Neste tópico não pretendo retirar conclusões específicas sobre os exemplos,
mas sim apresenta-los e questioná-los.
Na margem direita do rio Ceira, junto á foz do rio Arouce foram descobertos em
Barca (Lousã) um machado de talão [Fig. 1] e dois anéis. O mau estado de conservação
6
de todo o espólio não permitiu identificar uma possível nervura central no machado, que
tem 21 cm de comprimento. Exaltar o facto de estar entre rios num possível local de
passagem (Vilaça, 2012). O facto de neste local terem sido encontrados objectos de
adorno pode levar-nos a pensar que existiria aqui uma deposição com um sentido mais
individual, ou seja, estes anéis poderiam ter sido pertença de alguém que falecera á
pouco tempo. Por outro lado o aparecimento do machado, e tendo em conta que ele é o
objecto mais banal nestas deposições dá-nos uma ideia completamente contrária à que
acabei de expor, assim sendo, poderia ter um significado mais comunitário ligado á
produção agrícola e às boas colheitas.
Quando se procedia á abertura de um rego para aí instalar um caminho em Vale
Branquinho (Castelo Branco), surgiu um machado de apêndices laterais possivelmente
da Idade do Bronze final [Fig. 2]. Relativamente próximo do local da descoberta mas a
uma cota altimétrica mais baixa, encontramos o local onde a ribeira do Seixo desagua
no rio Tripeiro, que por sua vez é um afluente do Ponsul. Além desta descoberta,
prospecções posteriores revelaram um cista (com uma cronologia anterior) num sítio
conhecido como Risca do Cuco, e também um possível local de habitat denominado
Cabeço dos Queijos ou Vale das Casinhas (Vilaça e Gabriel, 1999). A identificação de
um possível local de habitat contemporâneo e próximo da deposição, vai de encontro
aquilo que referi anteriormente, deixando antever que existiria uma circulação constante
de pessoas naquela área e portanto a deposição poderia ser feita num local específico
que já era conhecido das pessoas locais.
Por outro lado a existência de uma cista mesmo sendo de épocas mais recuadas,
certamente seria conhecida dos indígenas, isto leva-me a fazer uma questão: será que o
facto de depositarem artefactos ali tão perto estaria relacionado com estes
“monumentos”, como forma de louvar a memória de quem ali estava? Ou será que a
zona onde a cista e o depósito se encontram pertence a uma zona sagrada onde uma
procura mais atenta irá revelar novos locais de culto? Já para não falar que o sítio onde
foi depositado o machado está relativamente mais alto que o caudal do rio, que tipo de
significado pode isto ter, a que cota estaria o rio na época da deposição?
Em Solveira (Montalegre) foram descobertos quatro artefactos: um machado de
talão, com duplo anel, de 24 cm de comprimento; duas pontas de lança com cerca de
14,5 cm de comprimento cada; e um instrumento com uma forma parecida á de um
7
garfo [Fig. 3]. O seu local de descoberta foi em Vale Travesso, estava a 1,30 metros de
profundidade e a 6 metros de distância “ […] e na margem direita de um regato que
corta de Sul para Norte o Vale Travesso e se vai depois lançar no rio da Assureira, que
corre de Poente para Nascente a Sul de Solveira.” (Costa, 1963, p.121), entre o local do
achado e o regato foi identificado um pequeno rego subterrâneo coberto com lajes
líticas. Neste local assistimos a uma riqueza de artefactos que dificulta qualquer tipo de
conclusão, em primeiro lugar acho que se deveria apurar se existiu algum e ritual de
comensalidade, assumindo que aquele garfo poderia ter um uso ligado á alimentação,
mas isto são conclusões impossíveis de tirar neste momento, restando-nos apenas a
especulação. Quero salientar também o facto de existir um rego com lajes por cima, a
sua colocação implicaria uma de duas coisas, ou não existiria um grande caudal e era
possível colocar as lajes de forma estruturada e possivelmente durante algum ritual, ou
então se o regato afinal não era assim tão pequeno de que forma é que foram ali
colocadas, aparentemente com uma certa ordem? Raquel Vilaça pergunta “Que caudal
teria o regato há cerca de 3000 anos?” (Vilaça, 2007, p.50),
O último sítio a ser apresentado é proveniente da zona do Alqueva e fica na
margem direita do rio Guadiana, tem a particularidade de ter sido depositado numa
fenda da rocha. Aqui foi encontrada uma ponta de lança tipo alvado, e dois contos de
lança [Fig. 4]. Na margem do lado esquerdo existia o castro dos Ratinhos (Cardoso et
alli, 1992). Na minha opinião o facto de um depósito ser colocado numa fenda da rocha,
demonstra um conhecimento prévio do sítio, ao invés de ter sido depositado poderá ter
sido guardado e posteriormente esquecido, o objectivo poderia ser simplesmente
esconder. Na realidade podia tal como todos os outros exemplos anteriores, no entanto
em termos práticos é mais fácil encontrar algo num buraco de uma rocha do que no
chão. Contudo a abundância de deposições em fendas da rocha, mostra que era uma
prática comum e dificilmente todos quereriam esconder temporariamente.
De uma forma mais geral é de ressalvar o facto de serem todos depósitos de
margem, e os três primeiros casos aqui apresentados têm em comum o facto de terem
sido encontrados em locais relativamente próximos ao desagúe de canais de água, com
certeza esta semelhança não é apenas coincidência e portanto acho que podemos
assumir esta proximidade como algo ritual.
8
Conclusão
Apesar de o tema abordado ser bastante complexo e estar intimamente ligado a
uma esfera mais pessoal e possivelmente da área do sagrado, dificulta o nossa
interpretação porque não existem outros indícios no local que nos possam dar mais
informação, assim sendo é imperativo tentar conjugar o máximo de factores possíveis e
perceber como é que se processavam estas deposições.
Concluo dizendo que apesar da enorme dificuldade de retirar conclusões, mais
ainda, no caso de um estudante que não possui a bagagem necessária, este tipo de
trabalhos revela-se de extrema importância para nos fazer pensar e relacionar todos os
dados que nos são transmitidos.
Bibliografia
BETTENCOURT, A. M.; ALVES, L., eds. (2009) – Dos montes, das pedras e da água.
Formas de interacção com o espaço natural da pré-história à actualidade. Braga:
CITCEM, APEQ. 206 p.
CARDOSO, J. L.; GUERRA, M. F; BRAGANÇA, F. (1992) – O depósito do Bronze
Final de Alqueva e a tipologia das lanças do Bronze Final português. Mediterrâneo.
Lisboa, 1. p. 231-250.
COSTA, J. G. (1963) – Achado arqueológico encontrado em Solveira, concelho de
Montalegre, em Abril 1961. Lucerna. Porto, III. p. 119-125.
VILAÇA, R. (2007) – Depósitos de bronze do território português: um debate em
aberto. Coimbra: Instituto de Arqueologia da FLUC. 148 p.
VILAÇA, R. (2008) – No rasto do Bronze Final do Centro- sul da Beira Litoral:
artefactos metálicos e seus contextos. In Callapez, P. M. et al. eds., A Terra: conflitos e
ordem. Homenagem ao Professor Ferreira Soares. Coimbra. p. 75-88.
9
VILAÇA, R. (2012) – Arqueologia do Bronze no Centro – Sul da Beira Litoral e Alta
Estremadura (II-I milénio a.C.). In Junta de Freguesia de Vila Nova edt., Olhares sobre
a Geologia, a Arqueologia e a História, de Vila Nova, de Miranda do Corvo e da Serra
da Lousã.
VILAÇA, R., GABRIEL, S. (1999) – Nótula sobre um machado de apêndices
encontrado em Vale Branquinho (Sobral do Campo, Castelo Branco). Revista
Portuguesa de Arqueologia. Lisboa, vol. 2, 1. p. 127-142.
FONTIJN, D.R. (2002) – Sacrificial landscapes: cultural biographies of persons,
objects and “natural” places in the bronze age of the Southern Netherlands, C. 2300-
600 BC. Leiden: University of Leiden. 392 p.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M., ed. (1995) – Ritos de paso y puntos de paso: la ría de
Huelva en el mundo del Bronce Final Europeo. Madrid: Universidad Complutense. 250
p.
Anexos
Figura 1 – Machado da Barca (Lousã) (Vilaça, 2007)