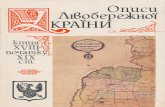Teoria da Arquitectura no Ocidente, Sécs XIX-XX - Das Teorias do Séc. XIX, Princípios do...
Transcript of Teoria da Arquitectura no Ocidente, Sécs XIX-XX - Das Teorias do Séc. XIX, Princípios do...
1
TEORIA DA ARQUITECTURA NO OCIDENTE: SÉCS. XIX-XX
Das Teorias do Séc. XIX, Princípios do Urbanismo, Movimento Moderno, e
International Style, aos Novos Rumos do Pós-Guerra e da Pós-Modernidade
J. M. Simões Ferreira
Curso Livre de História da Teoria da Arquitectura: 28 Janeiro a 27 Fevereiro de 2014
Instituto de História da Arte – Centro de Investigação – Faculdade de Letras da Univ. de Lisboa
3
Índice 1. As Teorias do Séc. XIX – França: O Eclectismo Historicista de Durand a Guadet........................5 2. As Teorias do Séc. XIX – Mitteleurope: Do Historicismo de Stieglitz a Springer.......................17 3. As Teorias do Séc. XIX – Grã-Bretanha: Do Eclectismo à Arquitectura do Ferro.......................33 4. Paradigmas da Modernidade – O Tempo das Rupturas: De Ruskin a Otto Wagner.....................51 5. Do(s) Princípio(s) do Urbanismo e Cidades do Futuro ao Planning e Urban Design..................69 6. Dos Protomodernistas, Movimento Moderno e Ismos ao International Style...............................87 7. A Teoria da Arquitectura fora da Europa Ocidental: EUA, URSS, e países periféricos...............99 8. Do Pós-Guerra à Pós-Modernidade (1945-1980): Das New Towns aos Five..............................113 9. A Pós-Modernidade (1981-2000): Do Pósmodernismo ao crash da bolha imobiliária...............137 10. Resumo (In)conclusivo e (In)conclusão Final...........................................................................145
Bibliografia...............................................................................................................................155
5
1. Teorias do Século XIX – França: O Eclectismo Historicista de Durand e Dubut; A École
des Beaux-Arts e a Polytechnique; A Questão da Policromia; O Gosto Gótico; Os Teóricos da
Arquitectura do Ferro; L’Architecture Privée; As Grandes Sínteses de Choisy e Guadet.
No Séc. XIX dá-se uma viragem na mentalidade do Ocidente, impondo-se o primado da prática, da
positividade, do realismo, e do naturalismo, que se irão reflectir nos tratados de Jean-Nicolas-Louis
Durand (1760-1834), Précis des leçons d’architecture1, 2 vols., 1802-1805, e de Louis-Ambroise
Dubut (1760-1846), Architecture Civile2, 1803. – Os Précis de leçons, de Durand, professor na
École Polytechnique, destinavam-se a engenheiros; apresenta o primado da planta, chegando a propor
para a mesma planta quatro diferentes tipos de fachada; para Durand, L’architecture a pour objet,
la composition et l’execution tant des édifices publics que des édifices particuliers3. – Conjugada com
o primado da planta, a composição é o seu contributo mais original para a Teoria da Arquitectura;
dada a infinidade dos tipos de edifícios refuta o método tipológico baseado na função, opondo-lhe
outro baseado no tipo formal, que tem analogias com a teoria de tipos orgânicos de G. Saint-Hilaire
(1772-1846). O método de Durand consiste numa composição baseada nos elementos de constru-
ção: colunas, pilares, lintéis, arcos, paredes, coberturas, etc., conjugados organicamente para compor
qualquer edifício; é um método duplamente marcado por uma visão atomística-aditiva (os elemen-
tos) e a organicidade da sua análoga ou homóloga, como se diria hoje, composição em tipologias
formais, com que se obtinha totalidades definidas. – O tratado de Dubut, L’architecture civile, 1803,
é um característico manual, baseado quase só em desenhos. No parco texto de introdução, além de
justificar o objectivo, en offrant au Public un recueil de projets de Maisons variées, nous avons cru
lui être de quelque utilité4, expõe algumas ideias sobre arquitectura, em que avultam a disposition
du plan, como o essencial da composição, e a nature des matériaux, como indiferente, podendo ser
vários. La décoration extérieure nait de [ces] deux choses principales.
O Précis, de Durand, tinha sido precedido de Recueil et Parallèle des Édifices de tout genre Anciens
et Modernes, 1799-1801, 2 vols., que apresenta, como introdução, um texto de Jacques-Guillaume
Legrand (1743-1808), Extrait de l’Histoire générale de l’Architecture5, onde, como ostenta e expli-
cita o subtítulo, se procede a uma comparaison des Monumens de tous les âges chez les différens
Peuples, et théorie de cet Art puisée dans ces exemples comme dans les grands effets de la Nature6.
A Natureza, o grande contentor das teorias do Séc. XVIII, e seus grands effets, na qual e nos quais
a Arquitectura e sua Teoria deviam ser puisée (extraídas, como de uma fonte). 1 Durand, J.-N.-L., Précis des leçons d’architecture, Paris, 1802-1805. 2 Dubut, L.-A., L’architecture civile, Paris, 1803. 3 Durand, ob. cit. (1802-1805), 2 vols., Vol. 1, p. 1. 4 Dubut, ob. cit. (1803), p. 1. 5 Legrand, J.-G., Extrait de l’Histoire générale de l’Architecture, in Durand, J.-N.-L., Recueil et Parallèle
des Édifices de tout genre Anciens et Modernes, Paris, 1799-1800, 2 vols., Vol. 1, p. 1-52. 6 Legrand, ob. cit., in Durand, ob. cit. (1799-1800), Vol. 1, p. 4.
6
Também do início do século é o Traité théorique et pratique de l’art de bâtir7, 1802, de Jean-
Baptiste Rondelet (1734-1829), fundador da École Polytechnique, e, a partir de 1806, professor na
École de Beaux-Arts. Afirma o primado da distribution, construction et économie, mas o que singu-
lariza a sua obra é a teoria dos materiais, e a importância dos problemas de construção, sendo dos
primeiros a sistematizar a utilização do ferro e a estudar a sua estática, nomeadamente, os esforços
de tracção e compressão dos materiais, expondo os resultados em quadros sinópticos.
No total, com Durand, Dubut e Rondelet expressa-se um protofuncionalismo que viria a ter amplo
desenvolvimento a partir de meados do século. No imediato, porém, os autores mais tradicionais,
como os que se verão a seguir, seriam os de maior êxito.
A École des Beaux-Arts e a École Polytechnique: Institucionalizada no dealbar do Séc. XIX a
École des Beaux-Arts formou-se incorporando, em 1819, a Académie Royale de Peinture et de
Sculpture e a Académie Royale d’Architecture. A École Polytechnique forma-se em 1794, como
escola de engenheiros. Estas escolas, a que pertenceram Dubut e Durand, foram decisivas para a
formação da prática e da teoria da arquitectura do Séc. XIX; uma mais voltada para o ensino tradi-
cional da arquitectura, vista como uma das três Belas Artes, ou uma das três artes do desenho na
tradição renascentista (Vasari), outra direccionada para uma visão da arquitectura, essencialmente
como art de bien bastir (Alberti / Jean Martin).
As obras de Charles Percier (1764-1838) e Pierre François Léonard Fontaine (1762-1853), Pa-
lais, Maisons, et autres édifices modernes dessinés à Rome8, 1798, Recueil de Décorations intérieu-
res9, 1801, 1812, e Résidences de Souverains10, 1833, expressam bem o gosto tradicional, derivado
do renascimento italiano e do classicisme francês.
A esta tendência, prolongando a tradição renascentista, ou vitruviana, pertencem as obras de Charles-
Pierre-Joseph Normand (1765-1840), Recueil varié de plans et de façades des maisons de ville et
campagne11, 1815, de Giuseppe Valadier (1762-1839), L’architettura pratica dettata nella... Aca-
demia di San Luca12, 5 vols., 1828-38, e a de Julien-David Le Roy (1724-1803), Ruines des plus
beaux monuments de la Gréce13, 1758, 1770, pioneira do gosto neoclássico, que era o dominante na
Académie Royale d’Architecture, onde foi professor até fins do Séc. XVIII.
7 Rondelet, J.-B., Traité théorique et pratique de l’art de bâtir, Paris, 1802. 8 Percier, Ch., et Fontaine, P. F. L., Palais, Maisons, et autres édifices modernes dessinés à Rome, Paris, 1798.
9 Percier, Ch., et Fontaine, P. F. L., Recueil de Décorations intérieures, Paris, 1801, 1812. 10 Percier, Ch., et Fontaine, P. F. L., Résidences de Souverains, Paris, 1833. 11 Normand, Ch.-P.-J., Recueil varié de plans et de façades des maisons de ville et campagne, Paris, 1815. 12 Valadier, G., L’architettura pratica dettata nella... Academia di San Luca, Roma, 1828-38, 5 vols.. 13 Le Roy, J.-D., Ruines des plus beaux monuments de la Gréce, Paris, 1758, 1770. – Estas obras, anteriores
ao Séc. XX, são, na maioria, acessíveis através da Net, e em Freedownload, bastando, para as localizar, lançar o nome do autor e o título da obra no motor de busca Google. Na Bibliografia indicam-se os sites onde é se encontram digitalizadas.
7
Mas o principal representante do classicismo de Beaux-Arts viria a ser Antoine-Chrysostome Qua-
tremère de Quincy (1755-1849), autor de vasta obra, em que avulta o Dictionnaire d’Architecture I
e II14, 1789, 1832, e Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes15, 2 vols., 1830,
onde explana uma concepção historicista da arquitectura, que tivera as suas origens na Grécia, fora
divulgada pelos romanos, e se tornara património do mundo civilizado. O gótico é simplesmente
ignorado, devindo o grande coriféu do Neoclassicismo. – Na sua obra, Essai sur la nature, le but et
les moyens de l’imitation dans les Beaux-Arts16, 1823, propõe a imitação da Antiguidade no quadro
de uma teoria geral da imitação, que teria fundamento na Natureza.
A Questão da Policromia dos Monumentos Antigos: No seio da École de Beaux-Arts desponta a
polémica em torno da policromia dos monumentos antigos, indiciada pelas viagens arqueológicas
ao Egipto, à Grécia e ao Sul de Itália, e alimentada pela obra de Quatremére de Quincy, Jupiter
olympien17, 1815, cujas ilustrações eram coloridas à mão. Na polémica distinguiu-se Jakob Ignaz
Hittorff (1792-1867) com um conjunto de obras, a principal, Restitution du Temple d’Empédocle à
Sélinonte ou l’Architecture polychrome chez les Grecs18, 1851, e Henri Labrouste (1801-75), com
Temples de Paestum... Restaurations des monuments antiques19, 1828-29, só publicado em 1877. Hi-
ttorff justifica o revestimento colorido como um meio de protecção dos materiais, face à agressão
ambiental, e como maneira de realçar as formas arquitectónicas, o que se justificava ainda mais no
Paris de então, muito mais agressivo e sombrio. Labrouste considerava a policromia como uma ques-
tão complexa, derivada de condicionamentos regionais, ambientais e culturais. O uso do estuque
colorido era resposta ao emprego de diferentes materiais de construção, visando a uniformidade. –
A esse propósito são bem reveladores os últimos desenhos do Atlas de Ilustrações da obra de Hittorff,
de duas edificações em estilo Neoclássico: o Cirque National e a Dom Subinvs Vincentha Paulo,
que seriam para edificar em Paris, cujo ambiente agressivo e clima sombrio, mais justificariam o
revestimento protector e o colorido realçador das formas arquitectónicas.
O Gosto Gótico na Intelectualidade Francesa: A reflexão literária sobre o Gótico começa por se
detectar na obra de François René Chateaubriand (1786-1848), Génie du Christianisme20, 1802,
14 Quatremère de Quincy, A.-Ch., Dictionnaire d’Architecture I e II, Paris, 1789, 1832. 15 Quatremère de Quincy, A.-Ch., Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, Paris,
1830, 2 vols.. 16 Quatremère de Quincy, A.-Ch., Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les Beaux-Arts,
Paris, 1823. 17 Quatremère de Quincy, A.-Ch., Jupiter olympien, Paris, 1815. 18 Hittorff, J.-I., Restitution du Temple d’Empédocle à Sélinonte ou l’Architecture polychrome chez les Grecs,
Paris, 1851. 19 Labrouste, H., Temples de Paestum... Restaurations des monuments antiques, 1828-1829, só publicado em
Paris, 1877. 20 Chateaubriand, F. R., Génie du Christianisme, Paris, 1802. – Ed. portuguesa, O Génio do Cristianismo,
trad. de C. C. Branco, revista por A. Soromenho, Porto, 1860, 2 vols..
8
traduzida para português por Camilo Castelo Branco, em meados de Oitocentos, e onde se postula a
origem do gótico nas florestas gaulesas. – Veja-se:
As florestas foram os primeiros templos da divindade, e lá hauriram os homens a primeira ideia arquitectó-
nica (...) As florestas gaulesas passaram aos templos de nossos pais, e as nossas carvalheiras mantiveram
assim a sagrada origem delas. Essas abóbadas cinzeladas na folhagem (...), a frescura dos tectos, as trevas
do santuário, as naves obscuras, os passadiços secretos, as portadas profundas, tudo simula os labirintos
das selvas na igreja gótica, tudo nos insinua o religioso terror, os mistérios e a divindade desses bosques21.
Além dessa origem na Natureza, vê no Gótico as verdadeiras proporções, onde imperava o belo e
o bom gosto por excelência. – Veja-se:
O Cristianismo instituiu na arquitectura, como nas outras artes, as verdadeiras proporções. Os nossos tem-
plos, maiores que os de Atenas, e menos agigantados que os de Memphis, estão naquela ilustre mediania
onde impera o belo e o bom gosto por excelência. Com o auxílio do zimbório, desconhecido dos antigos, a
religião fez uma feliz mistura do que há de mais arrojado na ordem gótica, e do que as ordens clássicas e o
gótico têm de mais simples e gracioso22.
A valorização literária do gótico atinge um ponto alto no romance de Victor Hugo (1802-1885),
Notre Dame de Paris23, 1831, onde uma catedral gótica é a “personagem” central do livro, e em
que se faz uma descrição-evocação, romântica e apaixonada, da Catedral de Notre Dame, sua cons-
trução, as edificações envolventes, o ambiente social de enquadramento, etc. A acção decorre no
fim do Séc. XV, e numa passagem comenta-se o aparecimento da imprensa de Gutenberg, pronun-
ciando-se a célebre frase: ceci tuera cela, ou seja, isto (a imprensa, o livro) matará aquilo (a cate-
dral). Queria dizer Victor Hugo que o tipo de cultura criado com o livro iria sobrepor-se à cultura
dos livros de pedra que eram as catedrais. Equaciona-se aqui a separação entre uma arte e activida-
de eminentemente prática e construtiva, como era a das catedrais, e uma outra representativa e
eminentemente teórica, logo indirecta, que são os livros. O tempo da ingénua confiança nas virtu-
des da razão e da ilustração, que tinham levado à produção da Encyclopédie, estavam longe, e o
romantismo de Hugo apontava noutra direcção. Uma interpretação mística e filosófica do gótico
aparece na obra de Jules Michelet (1798-1874), Histoire de France, publicada a partir de 1833.
Animado por um certo hegelianismo interpreta a Arte e Arquitectura como manifestações do Zei-
tgeist e de uma Weltanschauung, cabendo ao gótico a analogia com a filosofia escolástica, qual
silogismo de pedra. – Esta postura prefigura visões que do gótico tiveram Gottfried Semper, que o
refere como escolástica de pedra, e mais próximo, Erwin Panofsky, em Gothic Architecture and
Scholasticism24, e nos seus estudos sobre o Abade Suger e a construção da Abadia de S. Dinis25.
21 Chateaubriand, ob. cit. (1860), Vol. 1, p. 18-19. 22 Chateaubriand, ob. cit. (1860), Vol. 1, p. 15. 23 Hugo, V., Notre Dame de Paris. 1482, Paris, 1831 – Há várias edições em português. 24 Panofsky, E., Gothic Architecture and Scholasticism, New York, 1957.
9
A reapreciação do Gótico, e o papel dos literatos nisso, encontra consagração na nomeação de
Prosper Mérimée (1803-70) Inspecteur général des monuments historiques, cargo que desempe-
nhou entre 1835-53, e onde criou as estruturas administrativas nas quais se puderam desenvolver
os trabalhos de restauro do seu amigo Viollet-le-Duc, personagem maior a ver noutra rubrica. Mas
o estudo científico do Gótico, verdadeiramente, só iria começar com Arcisse de Caumont (1801-
73), fundador da Société Française d’Archéologie, e editor do Bulletin Monumental, e suas obras
Sur l’architecture du Moyen-Âge26, 1824, em que traça a história evolutiva do Gótico, e Cours
d’antiquités monumentales27, obra em vários tomos, que desenvolve o tema mais extensamente.
Os Teóricos da Arquitectura do Ferro: Embora se considere que a arquitectura do ferro surgiu
pela iniciativa de engenheiros mais do que pela de arquitectos, na Teoria da Arquitectura, será con-
templada na obra de Léonce Reynaud, Traité d’architecture, 1850-58, 4 vols., onde é dito: Or le
fer, comme le bois, et même mieux que lui, se prête à toutes les formes28. Todavia, Reynaud não se
apercebe da potencial autonomia expressiva do ferro, e todas as ilustrações que apresenta de cons-
truções de ferro seguem o padrão duma linguagem de formas dentro dos moldes clássicos. Assim, a
teoria da arquitectura do ferro, que já tivera as suas primícias com Rondelet, teria de esperar por Viol-
let-le-Duc e o seu postulado que o ferro deveria parecer ferro, derivado do princípio geral da verdade
em relação à natureza de cada material, como se verá depois. Note-se que, embora a arquitectura do
ferro tenha sido mais negócio de engenheiros do que de arquitectos, deve-se a um, Louis-Auguste
Boileau (1812-96), o curioso tratado, Principes et Exemples d’Architecture Ferronnière29, 1881, e
a outro, Henri Labrouste, uma das suas mais brilhantes realizações: a Biblioteca de Paris. Boileau,
na esteira de Viollet-le-Duc, interessara-se pela aplicação do ferro às novas construções e publicara
Nouvelle Forme Architecturale30, 1853, descrevendo as suas ideias e desenhando-as num projecto
de igreja, meio gótica meio bizantina, cujas abóbadas fazem lembrar as especiais abóbadas da Ópera
de Sidney. Essas ideias vieram a materializar-se na construção da Église de St. Eugène et Ste. Cécile,
Paris, 1854-55, um pastiche neogótico, muito mal recebido por Viollet-le-Duc. Depois, publicou
Débat sur l’application du métal à la construction des églises31, 1855, e Le fer, principal élément
constructif de la nouvelle architecture32, 1871. – Assim, o assunto estaria amadurecido, na Teoria e
na Prática, quando publica a obra que se referiu antes, onde intentará definir os princípios e mostrar
exemplos de l’architecture ferronière. – Voilá:
25 Panofsky, E., Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its Art Treasures, New York, 1946. 26 Caumont, A. de, Sur l’architecture du Moyen-Âge, 1824 27 Caumont, A. de, Cours d’antiquités monumentales, Paris, 1830. 28 Reynaud, L., Traité d’architecture, Paris, 1850-58, 4 vols., Vol. I, p. 446. 29 Boileau, L.-A., Principes et Exemples d’Architecture Ferronnière, Paris, 1881. 30 Boileau, L.-A., Nouvelle Forme Architecturale, Paris, 1853. 31 Boileau, L.-A., Débat sur l’application du métal à la construction des églises, Paris, 1855. 32 Boileau, L.-A., Le fer, principal élément constructif de la nouvelle architecture, Paris, 1871.
10
O fito de Boileau é promover a construção duma Halle-Basilique, do tipo des grandes constructions
édilitaires en fer, que já se faziam por toda a França, e começa:
33
Esse estilo característico da arquitectura contemporânea, deveria dar conta des progrés inouïs des
sciences physiques et de l’industrie, nomeadamente do ferro, pois como dirá:
L’architecture distintive du XIXe siècle, en voie de formation, est celle dont le fer est le principal élément, e
conduziria logiquement à la modification des formes primitives conservées dans l’architecture monumentale34.
O ferro tinha enormes vantagens em termos de resistência, peso, volume e preço, apresentando um
quadro comparativo com a pedra, madeira e tijolo. Depois, os exemplos, desenhados, da nova arqui-
tectura, a materializar na Halle-Basilique, e toda uma justificação das suas múltiplas vantagens
através de cálculos matemáticos. – De resto, a nova arquitectura já teria começado nas nos maisons
de ville, aquilo a que os ingleses chamam de domestic architecture, como se verá:
35
L’Architecture Privée, de César Daly, um Caso Singular: César Daly (1811-94), arquitecto, teó-
rico, publicista, editor, dirigente e fundador de associações de arquitectos e artistas, é na verdade
um caso deveras singular no âmbito da Teoria da Arquitectura do Séc. XIX, para a qual contribuiu
de modo prolixo e profícuo. – Da sua vasta obra, e demais actividades relativas, constam:
–– Secretário da Société centrale des architectes français, 1840-94;
–– Fundador e dirigente da Société d’artistes décorateurs et industrieles, 1848;
–– Director-fundador de La Semaine des constructeurs, 1877-94;
–– Idem, da Revue générale de l’architecture et des travaux publics, 1839-88;
Ainda, membro da Société de Géographie de Paris, Estocolmo, Grã-Bretanha, S. Petersburgo, Bél-
gica, América, Amsterdão, e pelo que nos toca, correspondant de l’Association des architectes ci-
vils portugais a Lisbonne. – Como autor, e na impossibilidade de referir toda a sua vasta obra, vai-
33 Boileau, ob. cit. (1881), p. 7. 34 Boileau, ob. cit. (1881), p. 8 e p. 10. 35 Boileau, ob. cit. (1881), p. 7.
11
se considerar apenas as mais significativas e acessíveis, comentando, depois, a ciclópica série de
L’Architecture Privée, 1864-74, 8 vols.:
–– Nos doctrines. Réponse a deux objections, Paris, 1863, opúsculo de 17 pgs.;
–– L’Architecture Privée au XIXe siècle sous Napoléon III, Paris, 1864, Iª série, 3 vols.;
–– Architecture contemporaine. Les Théâtres de la place Châtelet, Paris, 1865;
–– Motifs historiques d’architecture et de sculpture d’ornement Paris, 1869;
–– Architecture funéraire contemporaine. Spécimens de Tombeaux, Paris, 1871;
–– L’Architecture Privée au XIXe siècle, 1872, IIª série, 3 vols.; Idem, 1874, IIIe série, 2 vols..
Nos doctrines é uma defesa do éclectisme, argumentando com a liberté de l’artiste e la liberté [que]
naît de la science, ou seja, do conhecimento dos vários estilos; considera a arquitectura uma lingua-
gem, e l’architecte, apenas conhecedor da sua língua materna, um artista limitado; acaba exprimindo
a sua fé em que do éclectisme nasceria l’art futur! – E na realidade, como já se disse, o arquitecto
do futuro, seria um arquitecto com aptidão [with fitness] para projectar em todas as línguas!
36
No ano seguinte, 1864, sai a Iª série de l’architecture privée, 3 vols., ouvrage (...) consacré à l’étude
des habitations urbaines et suburbaines, na tradição da Art de bien bastir, parco de texto, e muito
ilustrado, cujo objectivo ou universo era:
les habitations parisienses de tous les classes, depuis les hotels luxueux de nos riches financiers jusqu’aux modestes
logements des petits employés et des ouvriers, passent, chacune dans son genre et suivant son importance,
s’harmoniser avec les besoins de la population, les convenances sociales et les ressources de notre époque37.
As Grandes Sínteses de Auguste Choisy e de Julien Guadet: Com os teóricos que se vão apresentar
a Teoria Clássica da Arquitectura, de matriz vitruviana, atinge uma culminância, epígonal que seja, e
presta-se a transformações e novos desenvolvimentos, como já foi reconhecido (Banham, 196038).
Auguste Choisy (1841-1909), engenheiro de formação, em Histoire de l’architecture39, de 1899,
apresenta uma concepção da arquitectura em que esta seria essencialmente determinada por factores
tecnológicos. Da sua história da arquitectura se pode dizer que é a história das diversas técnicas de
construção. Choisy não deixa de fazer referência aos factores climáticos, às formas de vida, aos
contextos sociais e aos costumes, mas o decisivo seria sempre a técnica construtiva, sendo sua lei
36 Daly, ob. cit. (1863), p. 6. 37 Daly, C., ob. cit. (1864), Vol. I, p. 5. 38 Banham, R., Theory and Design in the First Machine Age, New York, 1960. 39 Choisy, A., Histoire de l’architecture, Paris, 1899, 2 vols..
12
que a forma arquitectónica é determinada pelo sistema de construção, o que já se observaria desde
a pré-história: Chez tous les peuples, l’art passera par les mésmes alternatives, obéira aux mésmes
lois: l’art préhistorique semble contenir tous les autres en genre40. Cada um dos resumos da Histoire
de Choisy começa com a descrição dos materiais e das técnicas de construção, que seriam os factores
mais determinantes. Um similar processo unificador se observa nas ilustrações, cingidas à geometria
da construção, representada sempre do mesmo modo: planta, alçado, corte, por vezes, uma axono-
metria, único tipo de perspectiva consentido, muito usada no desenho de máquinas. No relativo às
proporções e à escala as suas posições são originais, refutando ce vague sentiment de l’harmonie
qu’on nome le goût, e procurando procédés de tracé définis et méthodiques41. E mais uma vez os ma-
teriais lhe dão a resposta: o tamanho do ladrilho seria o elemento modular dos egípcios, para os
gregos seria o diâmetro da coluna. No entanto, com o gótico, as proporções e as dimensões modulares
submetem-se à escala humana, pois la hauteur d’une porte n’aurait d’autre mesure que la hauteur
de l’homme auquel elle donnera passage42, prefigurando-se assim o princípio que Le Corbusier virá
a desenvolver no Modulor. – O Gótico sai bastante valorizado por Choisy, que nele vê o triomphe de
la logique, além da organicidade (l’édifice devient un être organisé ou chaque partie constitue un
membre43), e da funcionalidade (forme réglée non plus sur des modéles tradicionnels mais sur sa
fonction, et seulement sur sa fonction44). A Revolução Francesa estabelecera uma ruptura, criando
une société nouvelle que exigia un art nouveau45, que deveria ser a arquitectura do ferro, onde Choisy
vê un systéme nouveau de proportions, em que les lois harmoniques ne seront autres que celles de la
stabilité46, prolongando e desenvolvendo o funcionalismo estrutural já divisado por Laugier, Lodoli,
e Schopenhauer, e, ao mesmo tempo, anunciando o primado da função que, como alibi, marcaria o
Movimento Moderno, que elegeria a sua Histoire como a única a ensinar (Bauhaus, 1919-33).
Além da Histoire de l’architecture, Choisy é autor de um conjunto de obras intituladas L’art de batir
chez les romains, Paris, 1878; L’art de batir chez les byzantins, Paris, 1883; L’art de batir chez le
egyptiens, Paris, 1904. – O título comum, l’art de batir, é bem significativo das intenções e da
perspectiva que as anima: a arquitectura vista como arte da construção, o que não andaria muito
distanciado das intenções de Vitrúvio, cujo tratado traduziu e comentou exaustivamente47. – Com
Auguste Choisy, engenheiro, a Teoria da Arquitectura do Séc. XIX e inícios do Séc. XX envereda
pelo predomínio da função e dos aspectos construtivos, o que teria largo futuro.
40 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. I, p. 1. 41 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. I, p. 51. 42 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. I, p. 401. 43 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. I, p. 141. 44 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. I, p. 141. 45 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. II, p. 762. 46 Choisy, ob. cit. (1899), Vol. II, p. 764. 47 Choisy, A., Vitruve, Paris, 1909, 5 Tomes. – Talvez a melhor edição de Vitrúvio antes da edição crítica de CUF / Les Belles Lettres.
13
A Teoria da Arquitectura, própria da École des Beaux-Arts, atinge a culminância na obra de Julien
Guadet (1834-1908), Eléments et théorie de l’architecture48, 1901-1904, 4 vols., reeds. sucessivas.
– A obra, que resume as suas lições na École, é organizada como um manual; as ideias expressas
sintetizam-se em algumas frases:
As construções são o fim da arquitectura, a construção é o meio; a arquitectura é o estudo artístico da cons-
trutibilidade49.
As leis da construção são as leis primeiras da arquitectura, e todos os que, num espírito de revolta, tentaram
subtrair-lhe, falsificar essas leis, aí se derrearam50.
A arquitectura é a montagem em obra, para satisfazer necessidades materiais e morais, dos elementos da
construção. Sem construção, não há arquitectura51.
A construção é uma arte e uma ciência. Arte pela invenção, combinação, previsão; ciência pelo controle e o
rigor de verificação52.
Deste conjunto extrai-se a ideia de que a arquitectura seria como que um algo mais, que elevaria a
construção ao nível do artístico, ou seja, da Arte. – Nesse algo mais, tinha papel de relevo a pro-
porção, da qual afirma:
A palavra proporção é emprestada dos matemáticos, onde ela é sinónimo de igualdade de relações: em sen-
tido absoluto, a relação é o quociente da divisão de uma quantidade por outra; em sentido relativo, a pro-
porção que resulta da justeza das relações, é a harmonia entre as diversas partes de um todo53.
A proporção era decisiva, pois o que não está em proporção, choca o nosso instinto de harmonia,
porque soa a falso, e chega a apresentar como conclusão: o verdadeiro é a regra das proporções54.
Este apelo à verdade desempenhada pelos elementos de construção nas construções, e ao seu justo
dimensionamento, entendido já não em termos antropomórficos segundo a teoria das ordens, mas
em termos de verdade matemática e estática das construções, é o que Guadet entende por verdadei-
ra proporção, e foi uma “sensibilidade” característica dos primeiros modernistas que, por vezes, a
enfatizaram movidos pelo desafio à tectonicidade tradicional dos elementos de construção. – Com
Guadet encerra-se esta parte considerada como a “evolução na continuidade” de uma certa Teoria
da Arquitectura que, todavia, apresenta grandes diferenças nas suas várias formulações. Isolou-se
Viollet-le-Duc, assim como se isolará Ruskin, Morris e Semper, dada a importância destes, ainda
hoje, no debate arquitectónico, optando-se, assim, por os integrar nos “Paradigmas da Modernidade”,
48 Guadet, J., Eléments et théorie de l’architecture, Paris, 1901-1904, 4 vols.. 49 Guadet, ob. cit. (1901-1904), Vol. 1, p. 194. 50 Guadet, ob. cit. (1901-1904), Vol. 1, p. 171-174. 51 Guadet, ob. cit. (1901-1904), Vol. 1, p. 174. 52 Guadet, ob. cit. (1901-1904), Vol. 1, p. 194. 53 Guadet, ob. cit. (1901-1904), Vol. 1, p. 137. 54 Guadet, ob. cit. (1901-1904), Vol. 1, Epígrafe do Cap. V, Sobre Proporções.
14
bem como os “Socialistas Utópicos”, das cidades, falanstérios e familistérios ideais, que não sendo
já tão modernos como isso, no Movimento Moderno tiveram grande impacto.
Com Julien Guadet, e o autor que o precedeu, Auguste Choisy, consuma-se a dimensão clássico-
vitruviana da Teoria da Arquitectura do Ocidente e, ao mesmo tempo, abrem-se vias para as formu-
lações teóricas que viriam a caracterizar o Movimento Moderno. É curioso verificar que um,
Choisy, era engenheiro e via a arquitectura, essencialmente, como l’art de batir; o outro, Guadet,
era arquitecto, mas reconhecia a importância da construção, reivindicando para a arquitectura o
estudo artístico da construtibilidade, e a sensibilidade às proporções. – E com isto se fina a apre-
sentação relativa ao Séc. XIX, em França, não deixando, todavia, de apresentar algunas imagens da
Arquitectura, que então se concebeu, no plano teórico, e construiu, na prática.
Durand, Leçons d’architecture, 1802; Dubut, Architecture Civile, 1803
Embora mantendo-se dentro do Neoclassicismo (Durand) ou, indiferentemente, apresentando dois desenhos
de fachada, um de tipo Neogótico e outro Neoclássico, para a mesma planta (Dubut), em ambos se denota o
primado da disposição em planta e o protagonismo da habitação modesta.
Rondelet, a teoria e prática do ferro na arquitectura, 1802; Le Roy, monuments de la Gréce, 1754.
15
Quatremére de Quincy, 1815, e Hittorff, 1851: a policromia dos monumentos antigos
Boileau, Nouvelle Forme Architecturale, 1853, e Église de St. Eugène et Ste. Cécile, Paris, 1854.
Mercado de Les Halles, Paris, arq. Victor Baltard (1805-74), inaugurado 1866, demolido 1970
16
O Neoclassicismo e o Neogótico: Église de La Madeleine, Paris, 1806-1842, G.-M. Couture (1732-1799); Église de St. Eugène-Ste. Cécile, Paris, 1854-1856, L.-A. Boileau (1812-96) e A.-L. Lusson (1788-1864)
Arquitectura Civil: Edifício Habitação, Paris, arq. Ch. Garnier; Cirque d’Hiver, Paris, arq. J. I. Hittorff; Gare du Nord, Paris, arq. L. Reynaud
Ópera de Paris, arq. Ch. Garnier, 1861-75; Torre Eiffel, 1887-89
17
2. As Teorias do Século XIX – Mitteleurope: Do Classicismo ao Eclectismo Historicista em
Stieglitz, Hirt e outros; Emergência dos Estudos Góticos; O Eclectismo Nacional e Romântico
de Schinkel; A Polémica Schnaase / Kugler; Leo von Klenze e o Neogrego; A Concepção Histó-
rico-Evolutiva de Bunsen, Hübsch, e o Maximilianstil; Do Neogótico de Reichensperger ao
realismo de Springer
Do Classicismo ao Eclectismo Historicista em Stieglitz, Hirt e outros: No Séc. XIX a Teoria da
Arquitectura na Mitteleurope acusa influências variadas, de que no ciclo anterior, sobre o Séc.
XVIII, e inícios do Séc. XIX, já se identificaram algumas, nomeadamente, a dos historiadores da
Arte (Winckelmann, Sülzer), a dos teóricos da Estética (Baumgarten), a dos filósofos (Schelling,
Hegel, Schopenhauer, além de acusar a recepção dos teóricos franceses do Iluminismo, da Revolu-
ção, e, sobretudo, as primeiras fornadas das École des Beaux-Arts e École Polytechnique, Dubut e
Durand, cujos Précis foram traduzidos em alemão, 1831. Para além disso, e também porque o Zei-
tgeist lhe seria propício, o Classicismo foi a primeira corrente estilística a ser contemplada, o que
começa por se observar na obra de Christian Ludwig Stieglitz (1756-1836), Geschichte der
Baukunst der Alten55, de 1792, a que se somou Archaeologie der Baukunst der Greichen und
Römer56, 1801, e outras obra menores, cujo fito comum é das Studium der Alten (o estudo dos anti-
gos), designadamente, dos gregos e sua arquitectura:
Os povos mais antigos que cultivaram a arquitectura (...) nunca puderam superar a mediocridade nem alcan-
çar a beleza (...) Somente os gregos podem reclamar para si o prestígio de ter desenvolvido a arquitectura
desde o seu nível mais baixo até à perfeição mais elevada, tê-la transformado em arte e ter criado regras
nesta arte que até agora não foram substituídas por outras, e que manterão o seu valor enquanto a beleza e
o bom gosto contem entre o essencial da arquitectura. (Die ältesten Völker, welche die Baukunst ausübten
(...) konnten sich nie über das Mittelmässige erheben und nie zur Schönheit gelangen (...) Die Griechen allein
können auf den Ruhm Anspruch machen, die Baukunst von der niedrigsten Stufe an bis zu der höchsten Vo-
llkommenheit geführt, sie zu einer Kunst erhoben uns solche Regeln in dieser Kunst hinterlassen zu haben,
die noch bis jetzt von kleinen andern verdrängt wurden, und die ihren Werth so lange behalten werden, als
man Schönheit und guten Geschmack zu dem Wesentlichen der hohern Baukunst rechnen wird 57).
A arquitectura romana, neste contexto, é vista como decadência da grega, apesar de alguma evolução
na decoração e nos aspectos técnicos. A linha teórica de Stieglitz mantém-se, sem variações de relevo,
em Zeichnungen aus der Schönen Baukunst58, 1798, publicado depois em fascículos e traduzido em
francês, Le beau dans l’architecture59, 1798-1800, até às obras da sua fase final, Von altdeutscher
55 Stieglitz, Ch.-L., Geschichte der Baukunst der Alten, Leipzig, 1792. 56 Stieglitz, Ch.-L., Archaeologie der Baukunst der Greichen und Römer, Weimar, 1801, 3 Bde. 57 Stieglitz, ob. cit. (1792), S. 173. 58 Stieglitz, Ch.-L., Zeichnungen aus der Schönen Baukunst, Leipzig, 1798. 59
Stieglitz, Ch.-L., Plans et dessins tire �s de la belle architecture: ou representations d'edifices execute �s ou
18
Baukunst60, 1820, e Geschichte vom frühesten Alterthum bis in neuere Zeiten61, 1827, onde admite
outros estilos para além do Clássico, chegando mesmo, na sua última obra, Beiträgen zur Geschi-
chte der Ausbildung der Baukunst62, 1834, a interrogar-se sobre que modo de construir se deve se-
guir agora (Welche Bauart jetzt zu befolgen), reconhecendo no Neoclassicismo apenas imitação da
forma, da construção, do adorno (Nachahmung der Form, der Construction, der Zierde); assim, so-
mente, um jogo com formas arquitectónicas, sem ter em conta a utilidade... e o carácter dos edifí-
cios (ein Spiel mit architektonischen Formen, ohne die Zweckmässigkeit zu beatchen, ohne die Bes-
timmung und den Charakter der Gebäude vor dem Auge zu haben63). Nesta obra Stieglitz propõe
uma teoria baseada em três estilos: grego, bizantino e o estilo alemão antigo ou ogival, considera-
dos, respectivamente, racional, pictórico e romântico (Verstand, Malerisch und Romantisch).
Qualquer deles se podia utilizar,
segundo o que satisfaça melhor em cada caso as exigências do edifício a construir e não contradiga o seu
carácter (je nachdem dieses oder jenes den Forderungen des anzulegenden Bauwerkes genügt und seinen
Charakter nicht widersprechend ist64).
Consuma-se assim o caminho do Classicismo para um Eclectismo Historicista, que será a corrente
estilística dominante no Séc. XIX na Mitteleurope, embora Stieglitz chegue a formulações mais
arrojadas, quando afirma:
A construção por si só, as formas dos principais elementos, o corpo do edifício na sua totalidade conduzem à
beleza arquitectónica e constituem as bases para ela (Die Construction allein, die Formen der Haupttheile,
der Körper des ganzen Bauwerks führt schon zur architektonischen Schönheit und legt den Grund zu ihr65).
A arquitectura moderna, reduzida aos seus elementos constitutivos, despojada de ornatos, parece
anunciar-se nesta tirada, onde também se prefigura a nova forma de esteticismo em que a decoração
deveria corresponder à totalidade do edifício, e não ser apenas casual, ou um acréscimo. A edição
alemã dos Précis, de Durand, 1831, terá influenciado as posições de Stieglitz nos Beiträge, além de
ter ressoado em toda uma série de personagens como Clemens Wenceslaw Coudray (1775-1845),
Carl Friedrich Anton von Conta (1778-1850), Carl Friedrich von Wiebeking (1762-1842), autor
de Theoretisch-practische Bürgerliche Baukunde66, 1826, e Friedrich zu Oettingen-Wallerstein
(1787-1840), Ueber die Grundsätze der Bau-Oekonomie67, 1835. Em conjunto estes autores advo-
projette �s en 115 planches; avec les explications ne �cessaires; le tout accompagne� d'un traite � abre �ge � sur le beau dans l'architecture, Leipzig, 1798-1800.
60 Stieglitz, Ch.-L., Von altdeutscher Baukunst, Leipzig, 1820, 2 Bde. 61 Stieglitz, Ch.-L., Geschichte vom frühesten Alterthum bis in neuere Zeiten, Nürnberg, 1827. 62 Stieglitz, Ch.-L., Beiträgen zur Geschichte der Ausbildung der Baukunst, Leipzig, 1834, 2 Bde. 63 Stieglitz, ob. cit. (1834), II. Bd., S. 178. 64 Stieglitz, ob. cit. (1834), II. Bd., S. 179. 65 Stieglitz, ob. cit. (1834), II. Bd., S. 189. 66 Von Wiebeking, C. F., Theoretisch-practische Bürgerliche Baukunde, München, 1826. 67 Oettingen-Wallerstein, F. zu, Ueber die Grundsätze der Bau-Oekonomie, Praga, 1835.
19
gam uma arquitectura marcada pela utilidade, a funcionalidade, e a rentabilidade, demarcando-se
de alguns aspectos da tradicional Teoria da Arquitectura de matriz vitruviana.
Aloys Hirt (1759-1837), em Baukunst nach den Grundsätzen der Alten68, 1809, defende um siste-
ma, um ideal de arquitectura (ein System, ein Ideal der Baukunst selbst69), que se encontraria na
arquitectura antiga, postulando que:
Arquitectura é a doutrina ou, em substancia, a soma daqueles conhecimentos e habilidades que nos permi-
tem projectar e levar a cabo adequadamente qualquer tipo de construção (Die Baukunst ist die Lehre, oder
der Inbegriff derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, durch welche man in Stand gesetz wird, jede Art von
Bau zweckmässige zu entwurfen und Einrichtung70).
Hirt defende que uma distribuição e disposição em função da finalidade (eine der Bestimmung
entsprechende Anordnung und Einrichtung) são o principal objectivo de cada obra (Hauptzweck
bey jedem Bau71), e advoga que a essência da beleza deve resultar duma construção e uma distribui-
ção adequadas (dauerhafte Constructionsweise und die Schönheit gleichsam nur [als] begleitende
Zwecke dieses Hauptzweckes72). Demarca-se da teoria da imitação da natureza, opondo-lhe as leis
duma Mechanik que teria começado com as construções de madeira e passara às de pedra. Assim, o
fundamento da arquitectura só podia ser histórico, ou seja, a arquitectura antiga:
Para as exigências fundamentais da construção, seja de madeira ou de pedra, os escritos e em parte os monu-
mentos dos gregos e dos romanos proporcionam-nos os preceitos e os modelos necessários. Por isso, quem
construa correctamente construirá como os gregos (Für alles, was die Construction, sey es in Holz, sey es in
Stein, wesentlich erheischt, liefern uns theils die Schriften, theils die Denkmäler der Griechen und Römer die
erforderlichen Vorschriften und Muster. Wer demnach richtig construirt, baut eben dadurch griechisch73).
Para Hirt a arquitectura grega constituía o ideal da arquitectura (das Ideal der Baukunst selbst),
pois nela se achava a essência da construção adequada a cada tipo de material (das Wesen einer
richtigen Construction in jeder Art von Material erschöpft)74.
Neste conjunto de proposições desvenda-se o fito de Hirt: um Classicismo funcional, com funda-
mento e legitimação na História Antiga, designadamente na dos Gregos. A teoria de Hirt teve con-
tinuadores e opositores: Entre os primeiros destaca-se Carl Boetticher (1806-1889), cuja Tektonik
der Hellenen75, 1844, reformula e amplia a tese da Mechanik de Hirt, considerando a Tektonik um
68 Hirt, A., Baukunst nach den Grundsätzen der Alten, Berlin, 1809, 2 Bde.. 69 Hirt, ob. cit. (1809), p. IV. 70 Hirt, ob. cit. (1809), p. I. 71 Hirt, ob. cit. (1809), p. II. 72 Hirt, ob. cit. (1809), p. II. 73 Hirt, ob. cit. (1809), I Bd., S. 38. 74 Hirt, ob. cit. (1809), I Bd., S. 38. 75 Boetticher, C., Tektonik der Hellenen, Potsdam, 1844-1852, 2 Bde..
20
princípio criador, que diferencia a forma construtiva (Werkform) das estruturas, da forma artística
(Kunstform); dos segundos singulariza-se Ben David que já em 1795, num artigo, questionara:
A comodidade dos edifícios parece referir-se mais à utilidade que à beleza: uma casa rústica pode ter um
equipamento cómodo sem jamais aspirar a ser bela (Bequemlichkeit des Gebäudes scheint mehr die Brauch-
barkeit als die Schönheit desselben zu betreffen: ein Bauernhaus kann sher bequem eingerichtet sein, ohne
sich beykommen zu lassen, auf Schönheit Ansprüche zu machen76).
Além destes autores, dados ao aprofundamento das questões teorético-especulativas da arquitectura,
houve uma pleiade doutros autores que deram prioridade aos aspectos práticos e didácticos, como:
David Gilly, Handbuch der Land-Bau-Kunst…, Berlin, 1797-1811, 3 Bde.;
Heinrich Gentz, Elementar Zeichenwerk…, Berlin, 1803-1806;
Ch. P. W. Beuth (Hrsg.), Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker, Berlin, 1821-1837, obra em
que colaborou Schinkel;
Leo Bergmann, Schule der Baukunst. Ein Handbuch für Architekten, Leipzig, 1853, 2 Bde., e,
ainda, Zehn Tafeln Säulen-Ordnungen, Leipzig, 1853;
B. Harres, Schule der Baukunst. Ein Handbuch für Architekten, Bau- und Gewerbschule, 1868;
Deste conjunto salienta-se Friedrich Weinbrenner (1766-1826), cujos Denkwürdigkeiten aus seinen
Leben77, 1829, Architektonisches Lehrbuch78, 1810-1819, e Ausgeführte und Projectirte Gebäude79,
1822-1835, aportam um contributo original, advogando que a utilidade mesma está determinada
pelo conceito da forma (Die Zweckmässigkeit selbst wird durch den Begriff der Gestalt bestimmt80).
Emergência dos Estudos Góticos: Moller, Schlegel, Von Rumohr: É com estas personagens que
se desenvolve o estudo do gótico, e intensifica o seu gosto, que levaria ao estilo Neogótico. Georg
Moller (1784-1852), em Denkmäler der deutschen Baukunst81, 1815-1849, apresenta uma série de
gravuras da arquitectura gótica alemã, que justifica por razões nacionais, e no intuito de promover a
conservação daqueles monumentos, embora considere que era um tipo de arquitectura não aprovei-
tável, como modelo, nos tempos que decorriam. – É a Moller que se deve a descoberta do projecto
da inacabada Catedral de Köln, que publicou em 181882, tendo, a partir daí, surgido a ideia de a
acabar, erigindo-a como o grande monumento nacional da Alemanha.
76 David, B., «Über griechische und gothische Baukunst», in Die Horen, III. Bde., 8. Kap., 1795, S. 87-102. 77 Weinbrenner, F., Denkwürdigkeiten aus seinen Leben, Heidelberg, 1829. 78 Weinbrenner, F., Architektonisches Lehrbuch, Tübingen, 1810-1819. 79 Weinbrenner, F., Ausgeführte und Projectirte Gebäude, Karlsruhe, 1822-1835. 80 Weinbrenner, ob. cit. (1810-1819), Teil III., Heft 1 (1819), S. 6. 81 Moller, G., Denkmäler der deutschen Baukunst, Darmstadt, 1815-1849. 82 Moller, G., Bemerkungen über die einzelne Originalzeichnungen des Domes zu Köln…, Stuttgart, 1823.
21
Friedrich Schlegel (1772-1829), nas suas revistas, Europa (1803-05) e Deutsches Museum (1812-
13), e em Briefen auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen
Teil von Frankreich83, de 1806, divulgou uma visão romântica e intuitiva do gótico, destacando:
a beleza das proporções, a simplicidade, a simetria nos detalhes, a ligeireza na grandeza (die Schönheit der
Verhältnisse, die Einfalt, das Ebenmass bei der Zierlichkeit, die Leichtigkeit bei der Grösse84).
Assim, assiste-se à situação, algo caricata, de fazer a elegia do gótico com o vocabulário estético
que se usava para caracterizar a arquitectura clássica.
Foi numa das revistas de Schlegel, Deutsches Museum que C. F. von Rumohr (1785-1843) publicou
Fragmente einer Geschichte der Baukunst im Mittelalter85, 1813, onde expõe as várias teorias sobre
as origens do gótico sem as submeter a qualquer juízo crítico, como se todas fossem aceitáveis.
O Eclectismo Nacional e Romântico de Schinkel: A obra de Karl Friedrich Schinkel (1781-
1841), como teórico, teve de esperar algum tempo para ser plenamente conhecida, pois o seu Das
Architektonische Lehrbuch86, que deixou inacabado, só veio a ter uma edição capaz em 1979. Nessa
obra, de registo dos seus pensamentos sobre a arquitectura, acompanhados de esboços e de projectos,
detectam-se três fases distintas no pensamento de Schinkel:
1) Fase de atracção pelo gótico (1803-1815): Schinkel viaja por Itália e manifesta a sua atracção
pela arquitectura medieval, em especial o gótico, ao mesmo tempo que vai estudando a filosofia de
Fichte, de tão grande importância no despertar da consciência nacional dos alemães; em Paris,
1805, interessa-se por Durand e por Dubut, que estão presentes no primeiro projecto do seu manual,
onde é dada prioridade aos conceitos de utilidade, carácter e simetria, numa síntese marcada pelo
gosto gótico; este gosto, ao voltar à Alemanha, manifestar-se-á numa versão nacional e romântica
do gótico, vendo na arquitectura um prolongamento da actividade da natureza:
A arquitectura é a continuação da natureza na sua actividade construtiva (Die Architektur ist die For-
tsetzung der Natur in ihrer constructiven Thätigkeit87).
Thätigkeit (actividade) ou Thathandlung (acto-acção) era um dos conceitos chaves da filosofia de
Fichte88, para quem o Espírito se revelava na livre actividade, a começar pelo acto-acção com que o
Ich se punha em marcha e, voluntariamente, iniciava o processo cognitivo. Nesta fase, em que a
83 Schlegel, F., «Briefe auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen Teil
von Frankreich», in Poetisches Tagebuch für das Jahr 1806, S. 257-390. 84 Schlegel, «ob. cit.» (1806), agora in Schlegel, F., Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst, Hrsg. H.
Eichner, Padeborn-München-Wien, 1959, S. 177. 85 Von Rumohr, C. F., Fragmente einer Geschichte der Baukunst im Mittelalter, in Schlegel, F. (Hrsg.),
Deutsche Museum, III. Bd., Wien, 1813, S. 224-245, 316-385, 468-502. 86 Schinkel, K. F., Das Architektonische Lehrbuch, ed. póstuma G. Peschken (Hrsg.), München-Berlin, 1979. 87 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 35. 88
Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, Jena, 1794-95. – Há ed. portuguesa, trad. de D. Ferrer.
22
arquitectura é vista como veículo de ideias, Schinkel chega a identificar a Arquitectura Antiga com
a matéria, e a Gótica com o espírito, dizendo:
O antigo manifesta-se com mais habilidade através das massas materiais, o gótico mediante o espírito. Portan-
to é audaz e produz um grande efeito com pouca massa material. O antigo é vaidoso, faustoso, porque o seu
adorno é algo casual; é pura obra da razão com adornos (...) o gótico aborrece o fausto sem significado;
nele tudo parte duma ideia pura e portanto tem o carácter imperiosamente sério da dignidade e da sublima-
ção (Das Antike wirkt in seiner grösseren Kunstfertigkeit in den Materiellen Massen, das Gotische durch den
Geist. Daher ist es kühn mit wenig materieller Masse viel bewirkt. Das Antike ist Eitel, Prunkvoll, weil die
Verzierung daran ein Zufälliges ist, es ist das reine Verstandeswerk ausgeziert daher das phisische Leben
mehr vorwiegend. Das Gotische verschmäht den bedeutungslosem Prunk, alles in ihm geht aus der eine Idee
hervorund desshalb hat es den Character der Nothwendigkeit des Ernstes der Würde und Erhebung89).
E isto marca o momento de maior afastamento de Schinkel em relação ao Classicismo, que, no en-
tanto, iria predominar na fase seguinte.
2) Fase de atracção pelo clássico (1816-1825): o convívio com Goethe, a estética de Karl W. F.
Solger, e o contexto da Restauração, consideram-se determinantes desta fase, que é marcada por
Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker90, 1821-1830, em colaboração com Peter Beuth; nesta
fase Schinkel dá primazia a factores funcionais e formais, como se denota na comparação entre as
proporções góticas e as clássicas:
Na arquitectura ogival da Idade Média, as proporções se vão gestando ante os nossos olhos. Na arquitectura
antiga aparecem como algo predeterminado pelas leis da razão, algo duradouro, persistente, que deste modo
produz calma (In der Mittelalter Sptizbogen Baukunst ist das Verhältnis als ein Werbendes betrachtet es
entsteht noch vor uns. Im Antiken Bau ist es als ein bestehendes in Vernunftgesetzen Haltbares Ausdauerndes
hingestellt u wirkt so mit wolhthuender Ruhe91).
De resto, seria tarefa da arquitectura converter o útil, o prático, em algo belo (Ein gebrauchsfähi-
ges Nützliches Zweckmässiges schön zu machen ist Aufgabe der Architektur92); assim, o adorno sai
subordinado, dando primazia ao aspecto funcional, e ao cumprimento das leis da estática, o que
valorizaria o carácter do edifício.
3) Fase de síntese superadora, entre o clássico e o gótico (1826-41): a viagem a Inglaterra, 1826, ao
tempo o país mais industrializado do mundo, empreendida juntamente com Beuth, terá sido decisiva;
é a fase em que considera a arquitectura europeia equivalente à continuação da arquitectura grega
(Europäische Baukunst gleichbedeutend mit Griechischer Baukunst in ihrer Fortsetzung93), mas
89 Schinkel, K. F., Das architektonische Lehrbuch, Hrsg. G. Peschken, Berlin-München, 1979, S. 35. 90 Schinkel, K. F., Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker, Berlin, 1821-1830. 91 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 45. 92 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 58. 93 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 45.
23
também a medieval podia ser uma arte perdurável e aplicável no futuro através de um processo
de análise à luz do espírito grego (durch Läuterung im griechischen Geiste uns zu fortbestehender
forthin anwendbaret Kunst werden94). Nesta fase, Schinkel procura um novo estilo, que resultaria
de uma síntese entre os materiais e a construção, que deveria transparecer de forma visível, o que
se podia conseguir utilizando um só material, ou através do uso de vários tipos de material, pedra,
madeira, ferro, ladrilhos mas cada um de acordo com a sua especificidade (jedes auf die ihm eigen-
thümliche Art sichtbar characterisiert wird95). – É a fase em que Schinkel questiona que se tenha
de construir sempre segundo o estilo de outra época, e busca um novo estilo ou estilo puro (reinen
Styl), que seria, antes de mais, derivado da ordem constructiva, o que terá conduzido a formas abs-
tractas e rigídas, carecentes de liberdade, e excluíndo dois elementos fundamentais: o histórico e o
poético (das Historische und das Poetische gans ausschloss96).
E neste apelo ao histórico e poético desvenda-se o romantismo que percorre toda a obra teórica (e
prática, também) de Schinkel, que, para o fim da sua vida, terá reconhecido que afinal a essência da
arquitectura se encontrava no sentimento. Esse sentimento virá a marcar todas as obras que divul-
gará, a partir de 1819, nos 28 cadernos da Sammlung architektonischer Entwürfe97, 1819-40; deste
modo, podendo designar-se o seu eclectismo nacional e romântico como eclectismo do sentimento.
A Polémica Schnaase versus Kugler: As obras de Franz Kugler (1808-58), Handbuch der Kunst-
geschichte98, 1842, e de Carl Schnaase (1798-1875), Geschichte der bildenden Künste99, 1843-64,
9 Bde., expressam visões da arquitectura opostas: para Schnaase, as leis matemáticas e a utilidade
eram a essência da arquitectura; Kugler critica tal concepção, relevando a importância da articula-
ção, que seria um organismo para o desenvolvimento do processo vital (Gliederung, Organismus
zur Entwicklung des Lebensprocesses100). – Shnaase respondeu com Über das Organische in der
Baukunst101, 1844, criticando esta concepção e chamando a atenção para que o orgânico, palavra
na moda, era coincidente com o conceito de funcionalismo:
Se em geral nos empenhamos unicamente no “orgânico” (não só como ideia, mas também no seu aspecto ex-
terior), no valor útil e coerência dos elementos, e se como consequência deste ponto de vista temos uma ati-
tude cada vez mais severa contra a ornamentação, finalmente não acabaremos muito longe duma deficiente
concepção da arquitectura posta em função da sua utilidade (Denn wenn man überall nur auf das “Organis-
che”, auf die Zweckbestimmung und den Zusammenhang der Glieder (nicht blos durch den innern Gedanken,
94 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 45. 95 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 117. 96 Schinkel, ob. cit. (ed. Peschken 1979), S. 150. 97 Schinkel, K. F., Sammlung architektonischer Entwürfe, Berlin, 1819-40, Potsdam, 1841-66, 28 Hefte. 98 Kugler, F., Handbuch der Kunstgeschichte, Stuttgart, 1842. 99 Schnaase, C., Geschichte der bildenden Künste99, 1843-64, 9 Bde. 100 Kugler, F., Kunstblatt 17 ff., 1844, agora in Kugler, F., Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte,
Stuttgart, 1854, II. Bd., S. 436 ff. 101 Schnaase, C., «Über das Organische in der Baukunst», in Kunstblatt 58, 1844, 245-247.
24
sondern in äusserer Erscheidung), dringt, und in consequenter Entwicklung dieser Ansicht gegen das Orna-
ment immer strenger wird, so wird man zuletzt von der dürftigen Auffassung der Architektur unter dem Ge-
sichtspunkte der Zweckmässige nicht gar weit entfernt sein102).
Perfila-se aqui o debate que, sobre os imprecisos conceitos de organismo e funcionalismo, só apa-
rentmente antagónicos, dominaria a Teoria da Arquitectura durante os cem anos seguintes. – De
resto, Schnaase chega a pressagiar a monotonia e o internacionalismo (International Style) que já
se ensaiava nas versões estereotipadas, preten-didamente orgânicas e funcionais, do Ecleticismo
Neoclássico e Neogótico do tempo:
Na prática dirigimos-nos a velocidade crescente para uma monotonia que não ousará alhear-se do tipo con-
sensual do orgânico e desde um ponto de vista histórico seremos cada vez mais insensíveis em relação à
multitude de criações individuais de muitos povos (In der Praxis wird man immer in eine Monotonie gera-
then, welche nicht wagt, sich von dem angenommenen Typus des Organischen zu entfernen, in der Geschi-
chte immer spröder gegen die mannigfaltigen individuellen Gestaltungen vieler Völker werden103).
Kugler, no seu Handbuch, de 1842, explica a origem e a essência da arquitectura a partir do monu-
mento (Denkmal); na sua História104, 1856 ff., continuada por J. Burckhardt e W. Lübke, renuncia
ao histórico-evolutivo e ao axiomático, assim criando bases para a posterior historiografia da arqui-
tectura, tal como o seu antagonista, Schnaase, as criara (mesmo sem o pretender) para o futuro de-
bate teórico e prático da arquitectura.
Leo von Klenze e o Neogrego: Contemporâneo de Schinkel, e tão importante para a arquitectura
de Munique como o outro para a de Berlim, Leo von Klenze (1784-1864), começou por expressar
suas ideias teóricas em Versuch einer Wiederherstellung des toskanischen Temples nach seinen
historischen und technischen Analogien105, 1821, onde evoca o espírito da arte antiga (Geist der
antiker Kunst), entendendo por tal a arquitectura grega. Em Anweisung zur Architektur des christli-
chen Cultus106, 1822, propunha-se recuperar valores antigos, e que a obra servisse como um pilar
de suporte de ideias imprecisas (Grundstein zu einem allgemeinen Stützpunkte der schwankenden
Ideen107). Defende a regulamentação da arquitectura pelo Estado, que daria às tendências do seu
tempo uma orientação, se possível homogénea (dem Streben der Zeit eine und wo möglich dieselbe
Richtung geben108). A arquitectura religiosa teria primazia sobre a civil, pois era a autêntica arqui-
tectura, servidora da religião, do estado e da sociedade no mais alto sentido da palavra (Dienerin 102 Schnaase, «ob. cit.» (1844), S. 247. 103 Schnaase, «ob. cit.» (1844), S. 247. 104 Kugler, F., Geschichte der Baukunst, Stuttgart, 1856 ff.. 105
Von Klenze, L., «Versuch einer Wiederherstellung des toskanischen Temples nach seinen historischen und technischen Analogien», in Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für die Jahre 1821 und 1822, VIII. Bd., München, 1821, S. 1-86.
106 Von Klenze, L., Anweisung zur Architektur des christlichen Cultus, München, 1822. 107 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. IV. 108 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. II.
25
der Religion, der Staatwesens und der Gesellschaft im höheren Sinne des Wortes109), e só nela se
podia estudar a beleza e a forma arquitectónica num sentido elevado (architektonische Schönheit
und Form im höheren110). Para lá destes aspectos ideológicos, conexionados com a Restauração,
Klenze intenta fundamentar a sua teoria num princípio universal da arquitectura (allgemein gülti-
gen Grundsätze der Architektur), no que parece influenciado por Durand e Hirt:
arquitectura no sentido ético é a arte de conformar e fundir produtos da natureza para o uso e as necessidades
da sociedade humana, de tal modo que a forma em que se desenvolve este processo de acordo com as leis da
conservação, da constância e da utilidade, proporcione a máxima solidez e durabilidade com o menor empre-
go possível de material e de forças (Architektur im ethischen Sinne ist die Kunst, Naturstoffe zu Zwecken der
menschlichen Gesellschaft und ihrer Bedürfnisse so zu formen und zu vereinigen, das die Art, wie die Gesetze
der Erhaltung, Stetigkeit und Zweckmässigkeit bey dieser Vereinigung befolgt werden, ihren Hervorbringun-
gen die möglichste Festigkeit und Dauer, bey dem geringsten Aufwande von Stoffen und Kräften gewährt111).
Tudo isto se encontrava na arquitectura grega, que satisfazia plenamente a correlação entre estática,
materiais e construção, assim havia que reconhecê-la como,
arquitectura de todos os tempos e de todos os países, em especial como verdadeira, essencial e positiva e
também como a arquitectura do Cristianismo verdadeiro, essencial e positivo (Architektur aller Zeiten und
Länder, besonders aber als durchaus wahr, wesentlich und positiv, auch als die Architektur des wahren, we-
sentlichen und positiven Christenthums anzuerkennen112).
Durante algum tempo classificado, equivocadamente, de classicista dogmático, a obra construída
de Klenze mostra uma grande flexibilidade, incorporando formas que fogem à sua dogmática neo-
grega, o que justifica a propósito de uma catedral:
Na forma exterior intentámos alcançar a ligeireza e transparência das torres medievais, justamente tão ad-
miradas pela sua adequação, na medida que o permite a arquitectura clássica, onde sempre se tem de evitar
qualquer excesso (Am Aeussern haben wir gesucht, die an den Türmen des Mittelalters so oft, und zwar we-
gen ihrer Zweckmässigkeit mit Recht gerühmte Leichtigkeit und Durchsichtigkeit in so weit zu erreichen, als
es der klassischen Architektur, welche sich immer vor jedem Zuviel hüthen muss, erlaubt ist113).
Assim, mais do que como um repertório de formas mimetizáveis, a teoria de Klenze sobre arquitec-
tura grega deve ser vista como reconhecendo nela um princípio estável para todos os tempos (festes
Princip für alle Zeiten). – E este será o princípio do Classicismo, visto, não como categoria histórica,
mas sim um princípio ou conjunto de princípios (uma doutrina!) de validade suprahistórica, a que
sempre se remetem os grandes criadores de todas as artes.
109 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. II. 110 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. II. 111 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. 6 ff.. 112 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. 7. 113 Von Klenze, ob. cit. (1822), S. 32, Tafel XXIV.
26
A Concepção Histórico-Evolutiva de Bunsen, Hübsch, e o Maximilianstil: Christian C. J. von
Busen (1791-1860), em Die Basiliken des christlichen Roms nach ihrem Zusammenhange mit Idee
und Geschichte der Kirchenbaukunst114, 1842-44, persegue os mesmos objectivos de Klenze, do esti-
lo ideal para as igrejas cristãs, neste caso, as protestantes, vendo-o numa linha histórico-evolutiva,
indo da arquitectura grega para a romana até à medieval – em especial a arquitectura germânica da
Idade Média, que relaciona com a da Antiguidade –, rechaçando a arquitectura do Séc. XV ao Séc.
XVIII. – Em especial, persegue a ideia de considerar a forma basilical como a mais universal e a que
se emprega de forma unânime no Ocidente (die Basilikenform als die allgemeinste christliche, und,
im Abendlande, als die fast ausschliesslich gebräuchliche ansehen115). De resto, a finalidade da sua
obra, é recuperar e revitalizar a forma basilical, pois seria a mais adequada ao culto e aos tempos
modernos, o que o leva a postular: o conhecimento das basílicas antigas é fundamental para uma
compreensão viva da arquitectura germânica, e em consequência para a sua possível revitalização
(für ein Lebendiges Verständniss der germanischen Baukunst und für die daran genüpfte Möglichkeit
ihrer fruchtbaren Neubelebung ist eine solche Kenntniss der alten Basiliken anerkanntermassen
von der grössten Bedeutung116). – De resto, as teses de Bunsen são coevas do grande debate sobre a
basílica, e vieram a reflectir-se nos projectos para a Catedral de Berlim, no reino de Friedrich Wi-
lhelm IV. No essencial, pode-se classificar as teses de Bunsen como uma espécie de critica operan-
te, que se desloca ao passado para legitimar preferências e escolhas do presente.
Terá sido essa questão que moveu Heinrich Hübsch (1795-1863) a publicar In welchem Style sollen
wir bauen?117, 1828, obra onde é posta em causa a validade universal da arquitectura antiga, princi-
palmente a sua utilização no presente, lembrando que os factores da criação arquitectónica de hoje
são, portanto, muito distintos dos do estilo grego, inclusive opostos (die heutigen Gestaltungsmomen-
te sind demnach von jeden des griechischen Styls durchaus verschieden, ja geradezu entgegenge-
setzt118), pois os materiais (a qualidade das pedras) eram diferentes, bem como as exigências de espa-
ço (grandes vãos e poucas colunas), de iluminação e de ventilação, e o número de pisos. Enfim, no
total havia grandes diferenças, contudo era de reter os princípios de simplicidade e veracidade da
arquitectura grega, que se faziam observar na exteriorização das forças construtivas. Mas a cons-
trução em arcos e abóbadas era mais apropriada para os tempos presentes, pois permitia maiores
vãos, maior desfogo espacial, assim, apontando para a arquitectura medieval, em especial a do arco
de meia volta. Todavia, e embora reconheça valor à arquitectura gótica, é a românica que lhe está
114 Von Bunsen, Ch. C. J., Die Basiliken des christlichen Roms nach ihrem Zusammenhange mit Idee und
Geschichte der Kirchenbaukunst, München, 1842-1844, 2 Bde.. 115 Von Bunsen, ob. cit. (1842), I. Bd., S. 37. 116 Von Bunsen, ob. cit. (1842), I. Bd., S. VI. 117 Hübsch, H., In welchem Style sollen wir bauen?, Karlsruhe, 1828. 118 Hübsch, H., ob. cit. (1828), S. 17.
27
na mira, pois o novo estilo (der neue Styl), com o qual “nós devemos construir”, era um esqueleto
objectivo (objectives Skelett), chegando a afirmar que a semelhança com o estilo do arco de meia
volta é resultado da sua própria natureza e não da influência de autoridades nem de preferências
individuais (Rundbogen-Style ergibt sich aus der Natur der Sache, und wurde nicht durch den Ein-
fluss von Autoritäten oder individueller Vorliebe herbeigeführt119). – Assim, o novo estilo, aquele em
que wir sollen bauen, seria derivado de um sistema construtivo e funcionalista, o que foi o grande
alibi da Modernidade, e no caso de Hübsch terá legitimado a adesão ao Neo-românico, que inter-
preta com maestria na Neue Trinkhalle de Baden-Baden.
Reflexões similares às de Hübsch encontram-se na obra de G. Palm, Von welchen Prinzipien soll
die Wahl des Baustyls, insbesondere des Kirchenbaustyls geleitet werdem?120, 1845, que postula
um eclectismo baseado na aplicação do estilo grego-romano, do gótico e do modernen. Todas estas
questões do estilo em que se devia construir se irão reflectir no concurso promovido por Maximilian
II, através da Königliche Akademie der Bildenden Kunst, Munique, cujo objectivo era um Ateneu e
uma Instituição para a Cultura e o Ensino, onde o rei procuraria um Ideal der Baukunst, para o que
tinha contactado Schinkel e Leo von Klenze, e estabelecera um programa de concurso onde se
afirma querer um estilo no qual o carácter da época encontrasse a sua expressão, o que se admitia
conseguir combinando a forma rectilínea grega com a tendencia para a altura do gótico. Partindo
destas premissas esperava-se uma obra que na sua totalidade fosse original, bela e orgânica (ein
originelles, schönes und organisches Ganzes121). O projecto vencedor não foi realizado dado o seu
elevado custo, mas o rei encarregou o arquitecto Friedrich Bürklein de projectar o que depois foi
construído, dando origem ao chamado Estilo Maximiliano (Maximilianstils), uma das muitas formas
de que o Eclectismo Historicista, dominante ao tempo, se revestiu.
Do Neogótico de Reichensperger ao realismo de Springer: Optou-se por não tratar Gottfried
Semper (1803-79), deslocando-o para o quadro dos Paradigmas da Modernidade, dada a importân-
cia e actualidade relativa das suas ideias, comparáveis às de Ruskin e Morris, na Grã-Bretanha, ou
Viollet-le-Duc, em França. De resto, e ainda no quadro do Séc. XIX, na Mitteleurope, o mesmo
acontecerá com Camillo Sitte e Otto Wagner, dada a sua actualidade ou modernidade. Assim, para
completar esta digressão sobre a Teoria da Arquitectura no Séc. XIX, na Mitteleurope, a exposição
vai contemplar August Reichensperger (1808-95), grande coriféu alemão do Neogótico, cuja dou-
trina expõe em Fingerzeige auf dem Gebiet der kirchlichen Kunst122, 1854, onde começa por se referir
119 Hübsch, H., ob. cit. (1828), S. 51. 120 Palm, G., Von welchen Prinzipien soll die Wahl des Baustyls, insbesondere des Kirchenbaustyls geleitet
werdem?, Hamburg, 1845. 121 Drüeke, E., Der Maximilianstil. Zum Stilbegriff der Architektur im 19. Jahrhundert, Mittenwald, 1981, S.
99 ff.. 122 Reichensperger, A., Fingerzeige auf dem Gebiet der kirchlichen Kunst, Leipzig, 1854.
28
à Idade Média como uma época dourada em que houve plena unidade entre igreja, religiosidade e
arte, sendo o gótico a expressão mais elaborada dessa unidade, que se perdera com o Renascimen-
to, e que urgia restaurar ou, como argumentará, era necessário tornar a tomar consciência das leis e
tradições da grande arte medieval, e materializá-las, partindo do século XIII (die Gesetze und
Traditionen der grossen mittelalterlichen Kunst wieder zu unserem Bewusstsein zu bringen und zu
verkörpern, indem man das 13. Jahrhundert als Ausgangspunkt nimmt123).
Reichensperger, teve grande actividade como político da Restauração Católica, que percorreu toda
a Europa, na sequência dos acontecimentos revolucionários de 1848; a sua doutrina em prol do Ne-
ogótico, até certo ponto, pertence a essa conjuntura, em que lamenta ter a arte se alheado do seu
contexto orgânico, ter-se deslocado da vida do povo para as cortes dos príncipes. – De resto, para
Reichensperger, o gótico seria:
Apto para qualquer tarefa em qualquer material, este estilo tem ainda a vantagem de ser relativamente mais
económico, sobretudo desde que a sua aplicação se espalhe... A precisão e harmonia das proporções não
custam nada; a este respeito é de particular importância que o estilo gótico, pelas suas características, re-
queira, em relação aos outros estilos, menos massa para abarcar e cobrir um espaço determinado (Jeder
Aufgabe in jedwedem Materiale gewachsen, bietet der Stil auch noch den Vorteil relativ grösserer Wohlfei-
lheit da, zumal wenn er einmal allgemein zu praktischer Geltung gekommen sein wird... Die Richtigkeit und
Harmonie der Verhältnisse kosten nichts von entscheidendem Gewichte in dieser Hinsicht ist, dass der go-
thische Styl, seinem Wesen nach, verhältnissmässig am wenigsten Masse zur Einschliessung und Überde-
ckung einer gegebenen Räumlichkeit erfordert124).
Sintetizando, Reichensperger, que refuta a utilização do ferro, acha o estilo gótico, simultaneamente
cristão, nacional, funcional, e apto, por natureza, para o futuro.
Com ideias similares surgem as obras de Friedrich Hoffstadt (1802-46), Gothisches A-B-C Buch,
1840, um manual de regras de construção para artistas e operários, que dá prioridade à geometria,
cujas formas deduz das dos cristais (com o que poderá ter influenciado G. Semper, como se verá),
as mais elementares da natureza, chegando a estabelecer a equação seguinte: geométrico = conforme
com a natureza = cristão = gótico = alemão. – Einfach, nicht wahr?
Os arquitectos G. G. Ungewitter (1820-64) e o seu discípulo Carl Schäfer (1844-1908), publicaram
várias obras, do tipo mostruários, sobre arquitectura, construção e, sobretudo, com motivos de or-
namentação gótica. – E apenas referindo estes autores encerra-se a exposição sobre as teorias rela-
tivas ao Neogótico, movimento que teve o seu auge na Grã-Bretanha, donde irradiou para todo o
Ocidente, tendo os germanos acrescentado-lhe uma componente política de tipo nacionalista. A
Grã-Bretanha, então a região do mundo mais industrializada, influenciará ainda os teóricos que se
123 Reichensperger, ob. cit. (1854), S. 26. 124 Reichensperger, ob. cit. (1854), S. 23.
29
verão a seguir, com os quais se encerrará este capítulo, e que reflectem os problemas colocados
pelos novos tempos industriais à Arquitectura e sua Teoria.
Com efeito, o interesse pela nova arte e arquitectura britânica já se iniciara através da obra de
Hermann Schwabe, Die Förderung der Kunstindustrie in England und der Stand dieser Frage in
Deutschland125, 1866, quando Anton Springer (1825-91), em «Die Wege und Ziele der gegen-
wärtigen Kunst»126, nas páginas finais de Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, 1867, expondo
uma nova visão da arquitectura, descreve:
Primeiro levanta-se um complexo industrial, as chaminés fumegam, as rodas retumbam, às modestas casas
dos trabalhadores se unem pouco a pouco as casas dos lojistas, dos comerciantes endinheirados, a escola e
o hospital juntam-se com a taberna, não falta a sumptuosa casa do burguês independente junto ao palácio do
dono da fábrica. Porém, até se construir uma igreja monumental passa em geral muito tempo... [e afirma] Uma
arquitectura viva tem de se ater de preferência às edificações profanas, dar bom resultado neste contexto,
livrá-lo de tudo que não tenha forma ou a contradiga, intentar a transfiguração artística deste âmbito. (Zuerst
erhebt sich eine industrielle Anlage, es dampfen die Schlote, es schnurren die Räder), an dürftige Arbeiterwo-
hnungen schliessen sich allmählich die Häuser der Krämer, der wohl-habenden Händler an, zum Wirtshause
gesellt sich die Schule, das Hospital, es bleibt das stattliche Haus des unabhängigen Bürgers nicht aus, es
folgt der Palat des reichen Fabrikherrn. Ehe aber eine monumentale Kirche in die Höhe steigt, vergeht
gewöhnlich eine lange Zeit... Eine lebendige Architektur muss vorzugsweise den Profanbau im Auge behal-
ten, im Kreise des letzteren sich bewähren, aus diesem das Formleere und Formwidrige verbannen, eine
künstlerische Verklärung desselben versuchen127).
É descrito todo um novo contexto ou habitat, que implicaria uma nova arquitectura, embora a audá-
cia prescritiva de Springer, não seja equivalente à sua capacidade de reconhecimento da nova situa-
ção, e das questões implícitas, acabando por afirmar:
E quando se procura a qual dos estilos precedentes temos de nos ater, com o qual entroncar, a mirada re-
trospectiva julgará se o modelo pode ou não ser utilizado no edifício profano. Numerosos indícios sugerem
que o estilo renascentista é o mais adequado a este fim. (Und hält man dann Umschau, an welchen der ver-
gangenen Stile man sich anlehen, an welchen anknüpfen soll, so wird die Rücksicht entscheiden, ob sich das
Vorbild im Profanbau verwerthen lasse oder nicht. Mannigfache Anzeichen lassen darauf schliessen, dass
der Renaissancestil uns in dieser Hinsicht am nächsten steht128).
Assim, não seria fácil libertar-se da carga dos estilos do passado, que nas suas várias formas, clás-
sico, gótico, românico e outros iriam preencher o Eclectismo Historicista da Arquitectura do Séc.
125 Schwabe, H., Die Förderung der Kunstindustrie in England und der Stand dieser Frage in Deutschland, Berlin, 1866. – Ver também, Dohme, R., Das englische Haus..., Braunschweig, 1888, 126 Springer, A., «Die Wege und Ziele der gegenwärtigen Kunst», in Springer, A., Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, Bonn, 1867. 127 Springer, ob. cit. (1867), S. 375. 128 Springer, ob. cit. (1867), S. 375.
30
XIX, adentrando-se pelas primeiras décadas do Séc. XX. – E, realmente, o que tinha a Arquitectura
e sua(s) Teoria(s), no Séc. XIX, a contrapor a esses estilos, que tão notavelmente tinham marcado o
passado, quer o mais remoto, quer, ainda, o mais próximo?
Moller, Denkmäler der deutschen Baukunst, 1815 – Hübsch, In welchem Style sollen wir bauen?, 1828
Schinkel, Sammlung architektonischer Entwürfe, 1819-40, constituído por desenhos dos projectos de Schinkel
Klenze, Versuch... toskanichen Tempels, 1821
31
Friedrich Bürklein, Maximilianeum (1857-74), actual Parlamento da Baviera
Weinbrenner, o Neoclássico - Hübsch, o Neo-românico, catedral de Spyer, reconstruída por Hübsch
Leo von Kenze, Glypotek, München, 1816-1830
32
Schinkel als neogothik, Friedrichswerdersche Kirche, Berlim, 1824, exterior e interior
Schinkel als neoclassizistich, Altes Museum, Berlim, 1824
Schinkel als Romantiker: Römische Bäden, Babelsbergschloss, Potsdam, 1833 e 1834 – Schinkel als Eklektiker?
33
3. Teorias do Séc. XIX – Grã-Bretanha: Do Classicismo ao Eclectismo Historicista em Thomas
Hope e outros; A Tradição dos Manuais; As Revistas e Jornais; Formação do Neogótico até
Pugin; A Policromia de Owen Jones; A Domestic Architecture; As Histórias Universais da
Arquitectura; A Arquitectura do Ferro e do Vidro
Do Classicismo ao Eclectismo Historicista em Th. Hope e outros: Na Grã-Bretanha, de inícios do
Séc. XIX, isenta da Revolução Francesa, a arquitectura e sua teoria não foram sujeitas à turbulência
que agitou o Continente. Mantiveram-se as formulações do Neoclassicismo Paladiano, influencia-
das pelo Picturesque, e assiste-se à emergência do Neogótico, tudo se conjugando no Eclectismo
Historicista, divulgado por todo o Ocidente, e que tanto o veio a caracterizar ou des-caracterizar.
O primeiro teórico notável é Thomas Hope (1769-1831), representante do Neoclassicismo, na moda-
lidade Greek revival, para que contribui em Observations on the Plans and the Elevations designed
by James Wyatt, Architect, for Downing College...129, 1804, obra onde critica a ordem romana-dórica,
em favor do “puro” dórico grego, que provocaria vibrations mais intensas que o dórico romano. A
sua teorização continua em Household Furniture and Interior Decoration executed from Designs
by Thomas Hope130, 1807, manifestando interesse pelas artes aplicadas, e prescrevendo um totally
new style of decoration, baseado na conjugação da beleza intelectual, utilidade e comodidade no
uso de formas e ornamentos antigos, mas adaptados às necessidades e costumes modernos. – A obra
mostra a decoração da sua casa onde se detectam os primeiros sintomas de eclectismo, pois nem tudo
era Greek revival. De resto, é o Eclectismo que predominará na sua obra póstuma, An Historical
Essay on Architecture by the late Thomas Hope131, 1835, 2 vols., onde expõe uma concepção da
arquitectura determinada pelo clima, os materiais, as ferramentas e o contexto social; a obra não se
limita à arquitectura clássica, debruça-se sobre a arquitectura medieval, culminando no gótico, e
denotando grande fascínio perante essa arquitectura, tão distanciada já do seu inicial Greek revival,
que considera ultrapassado por aquilo que designa de eclectismo racional, que consistiria em
tomar de empréstimo tudo aquilo que qualquer dos estilos arquitectónicos precedentes possa oferecer com
algum valor útil, ornamental, científico ou de bom gosto (...) e criar deste modo uma arquitectura que, nas-
cida no nosso país, desenvolvida na nossa terra, em harmonia com o nosso clima, as nossas instituições e
costumes, seja ao mesmo tempo elegante, adequada e original, e mereça realmente ser chamada “tipicamen-
te nossa” (borrowing of every former style of architecture whatever it might present of useful or ornamental,
of scientific or tasteful (...) and thus of composing an architecture which, born in our country, grown in our
129 Hope, Th., Observations on the Plans and the Elevations designed by James Wyatt, Architect, for
Downing College, Cambridge, in a letter to Francis Annesley, London, 1804. 130 Hope, Th., Household Furniture and Interior Decoration executed from Designs by Thomas Hope, Lon-
don, 1807. 131 Hope, Th., An Historical Essay on Architecture by the late Thomas Hope, illustrated by drawings made by
him in Italy and Germany, London, 1835, 2 vols..
34
soil, and in harmony with our climate, institutions ana habits, at once elegant, appropriate, and original,
should truly deserve the appelation of “Our Own”132).
Esta evolução, do Classicismo para o Eclectismo Historicista, é sintomática do tempo, e coeva da
ocorrida na restante Europa, embora, no caso de Hope, se pretenda british.
Entre os autores que, tal como Hope, recorreram à história para encontrar resposta ao estilo de arqui-
tectura a utilizar, há a assinalar, ainda, Th. L. Donaldson (1795-1885), Preliminary Discourse on
Architecture133, 1842, e Alfred Bartholomew (1801-45), Specifications for Practical Architectu-
re134, 1840, onde, estabelecendo analogias entre os esforços das estruturas góticas e a força humana,
postula o gótico como arquitectura racional; não obstante, no fim, acaba por recomendar o eclec-
tismo, o que aconteceria também com Ch. R. Cockerell (1788-63), que em Royal Academy Lectu-
res135, 1841-56, propõe um eclectismo intelectualizado e minucioso, de arqueólogo, sua profissão.
Na passagem de gosto, do clássico para o gótico, teve um percurso singular James Dallaway
(1763-1834), clérigo, que na primeira obra, Constantinople, ancient and modern136, 1797, quase só
mostra interesse nos lugares e ruínas da arquitectura clássica, e três anos depois, em Anedoctes on the
Arts in England or comparative observations on Architecture, Sculpture & Painting137, 1800, embora
comece questionando o gótico: The Goths not the inventors of the style of buildings called Gothic, e
It originated in the ignorance, inability, or caprice, of the Italians architects138, acaba por lhe dar a
primazia nas suas anedoctes or comparative observations, pois é o gótico que ocupa a maior parte do
espaço dedicado à arquitectura, onde a páginas 8-9 se refere à Batalha, e à obra de Murphy. – Veja-se:
139
O interesse de Dallaway (topographer and miscellanous writer, in Dict. Nat. Biography, 1885-
1900, ou Chaplain and Physician of the British Embassy, como se apresenta em Constantinople)
pela arquitectura, manifestar-se-á ainda noutras das muitas obras da sua miscelânica actividade lite-
rária, das quais se destacam: 132 Hope, ob. cit. (1835), Vol. I, p. 561. 133 Donaldson, Th. L., Preliminary Discourse on Architecture, London, 1842. 134 Bartholomew, A., Specifications for Practical Architecture..., London, 1840. 135 Cockerell, Ch. R., Royal Academy Lectures, 1841-1856, extractos in The Builder I, 13.2.1843 ss.; mais
extractos nas revistas The Athenaeum e Civil Engineer and Architect’s Journal. 136 Dallaway, J., Constantinople, ancient and modern, London, 1797. 137 Dallaway, J., Anedoctes on the Arts in England or comparative observations on Architecture, Sculpture &
Painting, London, 1800. 138 Dallaway, ob. cit. (1800), p. XI, e p. 1 ss. 139 Dallaway, ob. cit. (1800), p. 8-9.
35
–– Observations on English Architecture, military, ecclesiastical, and civil, compared with similar
buildings on the Continente, London, 1806, rev. e aumentada, London, 1834;
–– Notices of Ancient Church Architecture in England, Bristol, 1823;
–– A Series of Discourses upon Architecture in England, London, 1833;
No total, nestas obras intenta-se definir as peculiaridades do Gótico Inglês, analizando as seme-
lhanças de género e diferenças específicas em relação ao gótico dos países do Continente, expres-
sando-se uma forte confiança na excelência do Gótico Inglês, e nas suas potencialidades como ar-
quitectura a restabelecer no presente, consumando assim a sua adesão ao Neogótico, chegando até a
propor additions nesse estilo.
A Tradição dos Manuais: Em paralelo aos teóricos que recorreram à história, outros prolongaram
a tradição dos manuais práticos, que privilegiavam a tecnologia e os materiais, como é o caso dos de
Peter Nicholson (1765-1844), The Builder & Workman’s New Director140, de 1824, e Joseph Gwilt
(1784-1863), Rudiments of Architecture, Practical and Theoretical141, 1826. No conjunto, estes ma-
nuais distinguem-se pelo sentido utilitário ou, como diz Nicholson, ser useful in its application to
practice142; decorrente disso a maneira de apresentar as ordens de arquitectura: five pillars of specific
character supporting a roof143; e sobre o specific character, democraticamente, nada é adiantado.
Em An Encyclopedia of Architecture...144, 1842, Gwilt procura conjugar os exemplos históricos
com um funcionalismo construtivo (teoria da aptidão ou fitness), que é inspirado em Durand e
Rondelet, embora se oponha ao uso do ferro na arquitectura.
As Revistas e Jornais de Divulgação da Arquitectura: John Claudius London (1783-1843), notá-
vel jardineiro e pioneiro da arquitectura do ferro, a quem se voltará mais adiante, funda o Architectu-
ral Magazine, em 1834, que se publicaria até 1839, tendo uma vida curta. Mas outras publicações do
género foram mais felizes, como o Civil Engineer and Architect’s Journal, 1837 ss., e com o nome
de The Surveyor, Engineer and Architect, a partir de 1840; mas, sobretudo o Semanário Builder,
que se publicou a partir de 1842. Estas publicações145 tiveram a maior importância na divulgação
da Arquitectura e das suas questões teóricas e práticas, tendo contribuído de modo decisivo para a
democratização dos problemas ligados à arquitectura que, até aí muitas vezes eram segredo de ini-
ciados, divulgando-os junto do público e submetendo-os a discussão e escrutínio.
140 Nicholson, P., The Builder & Workman’s New Director..., London, 1824. 141 Gwilt, J., Rudiments of Architecture, Practical and Theoretical, London, 1826. 142 Nicholson, ob. cit. (1824), Preface. 143 Nicholson, ob. cit. (1824), p. XXXVIII. 144 Gwilt, J., An Encyclopedia of Architecture, Historical, Theoretical and Practical, London, 1842. 145 Estas publicações são acessíveis através de www.archive.org/ (Civil Enginner), www.google.books.com/
(The Surveyor), e www.babel.hathitrust.org/ (Builder, a partir de 1845).
36
Formação do Neogótico até Pugin: A curiosidade pelo gótico, que despontara em meados do século
anterior, de forma um tanto quanto amadoresca e extravagante (Walpole, etc.), pelo fim do Séc.
XVIII, teria desenvolvimento teórico significativo através das obras seguintes:
–– James Cavanah Murphy (1760-1814), architect, Plans, Elevations, Sections and Views of the
Church of Batalha... to wich is prefixed an introductory discourse on the Principles of Gothic
Architecture, London, 1795;
–– Th. Warton, J. Bentham, Cpt. Grose, e J. Milner, Essays on Gothic Architecture, London, 1800;
–– John Sidney Hawkins (1758-1842), antiquário, An History of the Origin and Establishment of
the Gothic Architecture, London, 1813.
Murphy começa por procurar the general proportions of gothic architecture, através da Batalha,
verificando que the module, or datum (...) is the breadth of the church internally (...) In proportioning
the elevated parts, the same datum is taken as before. The height of the cluster colunns (...) is equal
to the breadth of the church146, e acaba, postulando que In order to shew that the above proportions
with those of the human body, e tudo isto mostrava que the procedure of the Anciens, in proportio-
ning their edifices, was not dissimilar to the above147. E ilustra a descrição mostrando um corte trans-
versal com o corpo humano inscrito, explicitando a analogia entre edifício e corpo humano. – A
interpretação de Murphy parece obedecer ao objectivo de mostrar que a arquitectura gótica, afinal,
não era assim tão diferente da clássica, pois obedecia às mesmas regras de proporção.
Os Essays de Warton, Bentham, Grose e Milner, em conjunto, obedecem a um intuito, que se explici-
ta no preface, e que consistiria em mostrar o gótico como a style of building not unequal in grace,
beauty, and ornament, to the most celebrated remains of Greece or Rome, e ainda,que this style of
architecture may properly be called English Architecture, for if it had not its origin in this country,
its certainly at maturity here. A obra surge no último ano do Séc. XVIII, 1800, e parece anunciar
que o Séc. XIX iria ser marcado pelo Neogótico, tal como o anterior o fora pelo Neoclassicismo.
A History de Hawkins, indagando da origem e estabelecimento da arquitectura gótica, e traçando
uma história breve desse estilo, de certo modo, obedece a um objectivo similar ao de Murphy:
mostrar as rules e proportions deste tipo de arquitectura, como sendo análogas às dos antigos, para
o que se serve da passagem de Cesare Cesariano sobre a Catedral Gótica de Milão (ilustrando a
dispositio de Vitrúvio). – Hawkins, onze anos antes, 1802, traduzira o tratado da pintura de Leonardo
da Vinci, assim, parecendo um caso análogo ao de Dallaway, tendo transitado do interesse pelo
clássico para o estudo do gótico, e intentando mostrar que o gótico não era inferior ao clássico.
146 Murphy, ob. cit. (1795), p. 17. 147 Murphy, ob. cit. (1795), p. 17-18.
37
Os estudos sobre arquitectura gótica, com Thomas Rickman (1776-1841), An Attempt to Discri-
minate the Styles of English Architecture148, 1815, começam a tornar-se uma indagação histórica de
rigor, a que se deve a identificação das distintas fases do gótico, ainda em uso: Early, English, Deco-
rated, e Perpendicular. Pretendia com isso apoiar a actividade de restauro e propor modelos a imitar
no presente, a começar pelas múltiplas igrejas que projectou em estilo Neogótico. A seguir surgem
William Whewell (1794-1866), com Architectural Notes on German Churches149, 1830, e Robert
Willis (1800-78), com Remarks on the Architecture of the Middle Age, especialy of Italy150, 1835;
ambos se debruçam sobre o gótico erigido fora de Inglaterra, aumentaram o conhecimento, e con-
tribuiram para a sua divulgação. Willis põe em causa a articulação entre decoração e construção,
pois nem sempre a construção real coincidia com a representada, questionando a propalada funcio-
nalidade do gótico. É, ainda, de referir: M . H. Bloxam (1805-88), Principles of Gothic Architectu-
re151, 1829, obra de grande popularidade, R. Brandon (1817-77) e J. A. Brandon (1822-47), An
Analysis of Gothick Architecture152, 1847, e Ch. L. Eastlake (1836-1906), A History of the Gothic
Revival153, 1872. Em geral estas obras, e muitas outras que não vale a pena referir, são mostruários
da arquitectura gótica, evidenciando as funções, o estilo, os materiais e a ornamentação.No total,
estes autores representam uma situação de transição das teorias do Neoclassicismo para as do
Neogótico, que intentam formular, mas ainda vinculados a Vitrúvio.
A popularidade do Gótico atinge o cume com o concurso para o novo parlamento de Londres, Palace
of Westminster, 1836, ganho pelo arquitecto Charles Barry (1795-1860), com a colaboração de
Augustus Welby Northmore Pugin (1812-52). Já o pai, Augustus Ch. Pugin (1762-1832), se
interessara pelo gótico, publicando Specimens of Gothic Architecture154, 1821-28, um característico
mostruário e inventário, extenso e minucioso, de arquitectura gótica. – Talvez isso tenha sido deter-
minante no interesse fervoroso do filho pelo gótico, que o leva a converter-se ao catolicismo, pois as
igrejas góticas, na maioria, tinham sido erigidas antes da Reforma. A sua primeira obra, Contrasts:
or, A Parallel between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fifteenth Centuries and Similar
Buildings of the Present Day155, 1836, é bem representativa desse fervor, que leva a desvalorizar tudo
que não é gótico e proclamar a superioridade da arquitectura gótica, argumentando deste modo:
a grande prova da beleza arquitectónica é a adequação do projecto aos fins propostos, e o estilo de um edi-
fício deve corresponder ao seu uso, de modo que o observador possa identificar imediatamente o propósito
148 Rickman, Th., An Attempt to Discriminate the Styles of English Architecture..., London, 1815, 1819. 149 Whewell, W., com Architectural Notes on German Churches, Cambridge and London, 1830. 150 Willis, R., Remarks on the Architecture of the Middle Age, especialy of Italy, Cambridge, 1835. 151 Bloxam, M. H., Principles of Gothic Architecture Elucidated by Questions and Answer, London, 1829. 152 Brandon, R. e Brandon, J. A., An Analysis of Gothick Architecture, London, 1847. 153 Eastlake, Ch. L., A History of the Gothic Revival, London, 1872. 154 Augustus Ch. Pugin, A. Ch., Specimens of Gothic Architecture..., London, 1821-28, 2 vols.. 155 Pugin, A. W. N., Contrasts: or, A Parallel between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fifteenth
Centuries and Similar Buildings of the Present Day, Salisbury, 1836, 2. ed. 1841.
38
para o qual este foi erigido (the great test of Architectural beauty is te fitness of design to the purpose for
wich it is intended, and that the style of a building should so correspond with its use that the spectator may at
once perceive the purpose for wich it was erected156).
Esta explicação, aparentemente de teor funcionalista (concessão ao espírito do tempo), contudo, é
falsa, pois o que, verdadeiramente, o determina é o seu fervor religioso, e a homóloga religiosidade
intensa que as igrejas góticas expressariam, o que o leva a ver no verticalismo gótico um emblem of
the resurrection. – Essa religiosidade perdera-se com a Reforma, o Luteranismo e a progressiva
paganização do pensamento, responsáveis da decadência da arquitectura, que urgia restaurar, e para
tal era necessário voltar ao catolicismo puro. O neogótico, tal como se praticava no seu tempo, não
chegava, e era preciso clarificá-lo e depurá-lo, pois como afirma em True Principles of Pointed or
Christian Architecture157, 1841, desenvolvendo o seu “alibi” funcionalista:
1) um edifício não deve apresentar características que não sejam necessárias à conveniência, à construção
ou à adequação; 2) todo o ornamento deve consistir num enriquecimento da construção essencial do edifício
(1st, there should be no features about a building which are not necessary of convenience, construction, or
propriety; 2nd, all ornament should consist of enrichment of the essential construction of the building158).
A estes princípios havia que adicionar os materiais de construção, que eram decisivos na caracteri-
zação duma construção, e assim tinha-se a totalidade dos verdadeiros princípios da arquitectura, só
modificáveis por razões climáticas ou nacionais.
Pugin estabelece uma equação: princípios verdadeiros da arquitectura = arquitectura gótica = reli-
gião cristã, ou seja, catolicismo. E o restauro da verdadeira arquitectura, ou seja, da arquitectura
gótica, implicava restaurar o catolicismo. – De resto, em An Apology for the Revival of Christian
Architecture in England159, 1843, chega a proclamar o gótico como estilo universal, e para o qual
podiam concorrer as máquinas e as novas estruturas de ferro, embora tenha considerado o Crystal
Palace, 1851, a glass monster y crystal humbug. A loucura apoderara-se dele nos últimos anos de
vida, manifestando-se cada vez mais fervoroso e intolerante, chegando a considerar como inimigos
da religião todos os que se opunham às suas ideias, o que terá levado ao descrédito as suas teorias,
e ao afastamento da própria igreja, que dos seus excessos se demarcou. No entanto, John Ruskin e
William Morris – que serão tratados no capítulo dos Paradigmas da Modernidade – é dele que par-
tem, principalmente do seu pressuposto de uma arquitectura verdadeira implicar outro tipo de socie-
dade, que existira na Idade Média, e se perdera com a decadência da religião, e a transformação da
sociedade e da cidade moderna, que chegara a ilustrar, mostrando o seu contraste. O Gótico, isto é,
156 Pugin, ob. cit. (2. ed. 1841), p. 1. 157 Pugin, A. W. N., True Principles of Pointed or Christian Architecture, London, 1841. 158 Pugin, ob. cit. (1841), p. 1. 159 Pugin, A. W. N., An Apology for the Revival of Christian Architecture in England, London, 1843
39
o Neogótico, como “estilo universal”, vencera as eleições para a edificação do Palace of Westmins-
ter, sede da democracia inglesa, e com isso teria a consagração na Prática, e também na Teoria,
após a publicação de Illustrations of the New Palace of Westminster160, 1849, obra da equipa de
projectistas, encimada por Charles Barry.
As ideias de Pugin, apesar de radicais, não estiveram tão isoladas como se pode pensar. Na realidade,
por essa época, houve em Inglaterra um movimento forte para o estudo e restabelecimento da arqui-
tectura gótica, cuja motivação era essencialmente de natureza religiosa, e que conduziu à fundação
de várias sociedades, casos da Oxford Society for Promoting the Study of Gothic Architecture,
da Oxford Architectural and Historical Society, que publicava Transactions of the Oxford Archi-
tectural Society, e da Cambridge Camden Society, mais tarde Ecclesiological late Cambridge
Society, e depois Ecclesiological Society, até 1868, que publicou, entre 1841 e 1868, The Ecclesio-
logist. – É a época do puritanismo vitoriano, o que ajudará a compreender toda esta actividade, que
teve, como epicentro, as principais universidades da Grã-Bretanha. Estas sociedades promoviam
obras como as de John M. Neale (1818-66), A Few Hints on the Practical Study of Ecclesiastical
Antiquities161, 1839, e A Few Words to Church Builders162, 1841, onde se expõem princípios ainda
mais rígidos do que os de Pugin, só admitindo o Decorated Style primitivo para as novas igrejas.
Neale, em conjunto com Benjamim Webb (1819-55), publicou The Symbolism of Churches and
Church Ornaments163, 1843, que é tradução da obra de Guglielmus Durandus (Séc. XIII), Ratio-
nale Divinorum Officiorum, um tratado de simbologia religiosa da arquitectura, que deveria servir
de guia à construção e ornamentação das igrejas a edificar.
Ainda relacionado com estas sociedades George E. Street (1825-81), projectou várias igrejas em
ladrilho policromado, consideradas um exemplo de policromia construtiva, o que resultava feio, mas
essa fealdade foi vista como exemplo consciente de deliberate preference of ugliness164, e assim, sen-
do intencional, uma categoria estética positiva. – A reflexão sobre a policromia na arquitectura,
oriunda do Continente, entretanto, chegara a Inglaterra, via Península Ibérica, como se verá a seguir.
A Policromia de Owen Jones e Grunner: Tendo começado na França e Alemanha, a questão da
policromia estende-se à Grã-Bretanha, e atinge o seu ponto alto através da obra de Owen Jones
(1809-74), The Polychromatic Ornament of Italy165, 1846, e a seguir The Grammar of Ornament166,
160 Barry, Ch., Illustrations of the New Palace of Westminster, London, 1849. 161 Neale, J. M., A Few Hints on the Practical Study of Ecclesiastical Antiquities, Cambridge, 1839. 162 Neale, J. M., A Few Words to Church Builders, Cambridge, 1841. 163 Neale, J. M., and Webb, B., The Symbolism of Churches and Church Ornaments, Cambridge, 1843. 164 Dobai, J., Die Kunstliteratur des Klassizismus und der Romantik in England, Bd. III, 1750-1840, Bern,
1977, S. 845. 165 Jones, O., The Polychromatic Ornament of Italy, London, 1846. 166 Jones, O., The Grammar of Ornament, London, 1856.
40
1856, embora já antes, em Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra167, 1842-1846, o
fascínio perante a policromia da arquitectura mouresque se apresentasse. No essencial, Owen Jones
mostra-se adepto do eclectismo estilístico, combinando-o com uma ornamentação polícroma exube-
rante: para ele todos os estilos eram válidos desde que dessem resposta ao revestimento polícromo,
que sente como natural, e até como necessário e conveniente, valorizando as obras globalmente. De
resto, na sua obra prática, como arquitecto, encarregou-se de realizar essas ideias nos projectos para
a Osler Gallery (famosa galeria comercial do tempo), e no Crystal Palace Bazar (uma secção do
Crystal Palace), ambos em Londres, e ambos já inexistentes, porque, apesar de polícromos e trans-
parentes, demolidos. – Mas Owen Jones não esteve sózinho neste culto da policromia. Em 1867, é
publicado em inglês, sob o nome de Lewis Grunner, a obra de Ludwig Grunner (1801-82), The
Terra-Cotta Architecture of North Italy,168 magnífica recolha de arquitectura em terra cozida (tijo-
los e ladrilhos), pourtrayed as examples for imitation in other countries.
A Domestic Architecture: Embora não seja habitual nos estudos gerais sobre Teoria da Arquitectura,
incluir este género de obras, optou-se nesta exposição por as assinalar, dada a influência que terão
exercido sobre as outras formulações teóricas, mais ligadas aos monumentos, e também pelo contri-
buto para a transformação da linguagem arquitectónica que, com esse tipo de arquitectura, se veio a
operar na transição do Séc. XIX para o Séc. XX. – É de lembrar que a Red House, de Philip Webb
e William Morris, talvez o primeiro exemplo de Arquitectura Moderna (Pevsner, 1936169), é com
essa domestic architecture que está relacionada, mais que com a pregação gótica de John Ruskin.
Edward Buckton Lamb (1806-69), Studies of Ancient Domestic Architecture170, 1846, debruça-se
sobre a Domestic Architecture of medievals periods, considerada um style próprio e válido, sendo
intenção da obra mostrar a possibilidade de proceder à application of Ancient Domestic Architectu-
re to the pictorial composition of modern edifices.171 Este Lamb é o que já se referiu, a propósito da
publicação dum seu projecto para uma Villa em Norman Style, no Architectural Magazine, de J. C.
Loudon, e para a qual se chamou a atenção, devido à modernidade da planta. – Mas a modernidade
de Lamb, no plano teórico é igualmente notável. – Veja-se:
172
167 Jones, O., and Goury, M. J., Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra, London, 1842-1846. 168 Grunner, L., The Terra-Cotta Architecture of North Italy, XIIth-XVth Centuries, pourtrayed as examples
for imitation in other countries London, 1867. 169 Pevsner, N., Pioneers of Modern Design, London, 1936. 170 Lamb, E. B., Studies of Ancient Domestic Architecture, London, 1846. 171 Lamb, ob. cit. (1846), portada (legenda que forma como que um subtítulo). 172 Lamb, ob. cit. (1846), p. 7.
41
Este conhecimento da forma, da harmonia, luz e sombra, parece vir a ressoar no jogo sábio e cor-
recto das formas e volumes, com os seus efeitos de luz e sombra, o qual Le Corbusier, também pin-
tor, enunciará como essência da arquitectura.
Outros autores com contributos importantes para o estudo da Domestic Architecture foram:
–– Th. H. Clarke (Séc. XIX), arquitecto, The Domestic Architecture of the reigns of Queen Eliza-
beth and James the First, London, 1833, profusamente ilustrado;
–– James Hadfield (Séc. XIX), arquitecto, The Ecclesiastical, Castellated and Domestic Architec-
ture of England, London, 1848;
–– J. H. Parker (1806-84), arquitecto e arqueólogo, Some Account of Domestic Architecture in
England, Oxford, 1853, 2 vols.; id., A Concise Dictionary of Architectural Terms, London, 1846,
e A Glossary of Terms used in Grecian, Roman, Italian, and Gothic Architecture, London, 1838.
No conjunto todos estes autores chamaram a atenção para o potencial da arquitectura doméstica,
como referência para o novo estilo de arquitectura que se procurava. – Novo, e British... Mas, já no
princípio do século, uma arquitectura doméstica, conveniente e económica, estaria no cerne das
preocupações de Thomas D. W. Dearn (1777-1853), Sketches in Architecture consisting of origi-
nal designs for Cottages173, 1807, livro de desenhos, com modelos, precedidos por um texto curto
em que o autor chama a atenção para:
174
E lembra a prescrição de Vitrúvio, de responsabilizar o arquitecto pelo cumprimento dos custos
estimados. Depois, apresenta os designs, onde se verá que nem sempre a Domestic Architecture
escapava aos styles of revival. Uma coisa ficou por dizer dos autores dos estudos sobre a Domestic
Architecture: eram todos eles arquitectos. Assim, ao predomínio dos historiadores, com seu conhe-
cimento dos estilos históricos, estes arquitectos contrapuseram o conhecimento daquilo que não
tem história: a vernacular, de certo modo intemporal, arquitectura doméstica, através da qual terão
vislumbrado a possibilidade de fazer uma arquitectura original, desvinculada dos gastos estilos his-
tóricos, mais baseada na norma do que na forma (Gombrich, 1966175).
As Histórias Universais da Arquitectura As histórias parciais da arquitectura já não chegariam
para um mundo que, na sequência da Revolução Industrial e dos Transportes, se estava a expandir, e
em que o Ocidente já chegava a todo o lado. Assim, James Fergusson (1808-86), e seu The Illus-
trated Handbook of Architecture being a concise popular account of the different styles of architec- 173 Dearn, Th. D. W., Sketches in Architecture consisting of original designs for Cottages, London, 1807. 174 Dearn, ob. cit. (1807), p. V. 175 Gombrich, E., Norma and Forma, London, 1966.
42
ture prevailing in all ages and countries176, 1855, 2 vols., parecem querer obter resposta a essa
nova necessidade, e talvez também contribuir para o eclectismo historicista, prevalente na Prática e
Teoria da Arquitectura. Ferguson começara com duas obras sobre arquitectura da Índia, Illustrations
of the rock-cut temples of India177, 1843, e Picturesque illustrations of ancient architecture in Hin-
dustan178, 1847, ambas profusamente ilustradas, e denotando grande respeito e admiração por essas
arquitecturas, aparentemente tão diferentes das reconhecidas pelo Ocidente.Fergusson vivera na
Índia, onde enriquecera a fabricar índigo, corante para tinturaria muito usado ao tempo, e estabe-
lecera contacto com a antiga arquitectura indiana; nos primeiros livros apresenta-se como Esq. (es-
quire, um título de cortesia colocado a seguir ao nome); porém, em An Historical Inquiry into the
True Beauty in Art179, 1848, acrescenta ao Esq. Architect, profissão que consta nunca ter exercido;
todavia, é bem provável que esse estatuto, indiciando interesse pela arquitectura, tenha sido deter-
minante na sua visão da História Universal da Arquitectura, de que foi pioneiro. É nessa obra, publi-
cada no mesmo ano de Seven Lamps of Architecture, de J. Ruskin, que os pressupostos teóricos de
Fergusson se começam a explicitar: a valorização da arquitectura seria uma questão de beleza, e é
daí que parte, pois começa por formular um sistema de estética, em que a beleza tinha três níveis:
1) technical or mere mechanical beauty
2) aesthetic or sensuous beauties
3) phonetic or intellectual beauty
O segundo nível, combinado com o primeiro, era o que dizia respeito às fine arts:
arts180
O terceiro e mais elevado nível, phonetic or intellectual beauty, estaria reservado para as artes da
palavra, dizendo respeito à poesia e à retórica, o que parece tocar nas Vorle-sungen über die Ästhe-
tik, de Hegel, entretanto publicadas, que punha a arquitectura no 1º nível, poesia e retórica no 5º e
mais elevado nível. – Mas, veja-se Fergusson:
181
176 Fergusson, J., The Illustrated Handbook of Architecture being a concise popular account of the different
styles of architecture prevailing in all ages and countries, London, 1855, 2 vols.. 177 Fergusson, J., Illustrations of the rock-cut temples of India177, London, 1843. 178 Fergusson, J., Picturesque illustrations of ancient architecture in Hindustan, London, 1847. 179 Fergusson, J., An Historical Inquiry into the True Beauty in Art, London, 1848. 180 Fergusson, ob. cit. (1848), p. 139. 181 Fergusson, ob. cit. (1848), p. 139.
43
O meramente funcional não ultrapassava o nível mais baixo (assim, dando considerável machadada
nos defensores do puro funcionalismo arquitectónico), mas a arquitectura, quando perfeita,
podia unir os três níveis de beleza, ou como dirá:
Architecture (...) when perfect, unites the thres classes in as nearly as possible equal proportions, which to
my mind is one of its great perfections as an object of artistic study182.
Nestas iguais proporções entre as três classes parece ecoar a clássica tríade vitruviana, de firmitas,
utilitas, venustas, embora Fergusson seja omisso sobre tal. Mas a analogia não deixa de ser plausí-
vel. De resto, Fergusson foi considerado, ainda no seu tempo, o novo Vitrúvio, fornecedor de um
verdadeiro guia para a arquitectura, principalmente, a dominante no tempo, o Eclectismo Histori-
cista, cujos horizontes geográfico-estilísticos resultaram alargados, com a revisão e valorização
das arquitecturas de all countries, a que se procede nas muitas obras deste arquitecto-historiador.
Escala Estética de Fergusson, classificando por pontos as várias actividades consideradas, indo de
13 a 35. – A Arquitectura fica-se pelo meio, mas com a notabilidade de ser a mais equilibrada das
artes, pois todos os três níveis, o technic, aesthetic, e phonetic contribuiam para a classificação
igualmente 4 + 4 x 2 + 4 x 3 = 4 + 8 + 12 = 24:
183
As formulações teóricas de Fergusson estenderam-se ainda pelo Illustrated Handbook of Architectu-
re184, 1855, completado com History of the Modern Styles in Architecture185, 1862, mais tarde reunidos
em A History of Architecture in All Countries186, 1865-76. – No primeiro, começa, interrogando-se:
What is architecture? What are the true principles which ought to guide us in designing or critising architectu-
ral objects?187
182 Fergusson, ob. cit. (1848), p. 140. 183 Fergusson, ob. cit. (1848), p. 140. 184 Fergusson, J., Illustrated Handbook of Architecture, London, 1855. 185 Fergusson, J., A History of the Modern Styles in Architecture, London, 1862. 186 Fergusson, J., A History of Architecture in All Countries, London, 1865-76. 187 Fergusson, ob. cit. (1855), Vol. I, p. XXV.
44
Estabelece uma distinção entre estilos antigos (extra-europeus, clássico e gótico), e os revival-
styles, uma vez que nestes não se observava a coincidência função-ornamento. De resto, a arquitec-
tura era expressão da raça e da sociedade (von Gobineau, Viollet-le-Duc, Taine), assim, irrepetível,
logo, inimitável, o que questiona todos os revival, mas em especial, o Neogótico, na moda ao tem-
po, quase verdadeira panaceia. Para Fergusson havia dois níveis na construção, tanto de obras de
arquitectura como de engenharia: ornamental and ornamented construction – o primeiro seria uma
prosa, o segundo a sua poesia, reconhecendo assim a capacidade expressiva das estruturas, que vê
como objectos estéticos, independentemente de quaisquer ornamentações, aceitando também a
existência de uma beleza da forma, congénita, cujo effect of the disposition podia ser potenciado
pelo ornamento e seu significado.
Como true principles of architecture postula a mass, stability, materials, construction, forms, pro-
portion, ornament, colour, uniformity,188 tentando ser exaustivo, mas acabando numa amálgama
heterógenea, e um tanto quanto heteróclita, embora se sinta o intuito de responder às novas solici-
tações, naquelas categorias de stability, colour, uniformity e mass, que identifica com a dimensão
(size), e que constituíria um critério estético; no referente aos materiais considera as suas proprie-
dades e a sua qualidade. – No entanto, opõe-se à primazia dos materiais e técnicas de construção,
considerando tal apenas instrumentos à disposição dos arquitectos, e que aliás deveriam estar su-
bordinados à ornamentação pois in true architecture the construction is allways subordinate. Em
relação à ancestral teoria da mimesis, admite ser a arquitectura imitação da natureza, mas devia-se
to copy the processes, never the forms of Nature189; retoma a analogia com o corpo humano, que
tinha caído no olvido a partir de Durand, reconhecendo que:
there is no principle involved in the structure of man which may not be taken as the most absolute standard
of excellence in architecture190.
Por fim, manifesta acreditar num new style, expressão do progresso, mas recusa que o Eclectismo,
baseado na imitação dos estilos históricos, seja esse new style:
A new style must be the inevitable result; and if our civilization is what we believe it to be,that style not
only perfectly suited to all our wants and desires, but nalso more beautiful and more perfect than any
has ever existed before191 [!!!] – Como se tal fosse possível...
A História Universal da Arquitectura, de Fergusson, daria origem a toda uma série de histórias da
arquitectura do mesmo género, entre as quais se distinguirá a de Banister Fletcher (1866-1953),
188 Fergusson, ob. cit. (1855), Vol. I, p. XXVI-XLIX. 189 Fergusson, ob. cit. (1855), Vol. I, p. LI. 190 Fergusson, ob. cit. (1855), Vol. I, p. LI. 191 Fergusson, ob. cit. (1855), Vol. I, p. LV.
45
History of Architecture on the Comparative Method192, 1896, que de certo modo a substituiu, pois é
enfocada para uma visão da arquitectura como espaço (Schmarsow, 1893193), sendo a forma dos
vários espaços e o processo da sua moldagem, o que é, antes de tudo o mais, submetido a compara-
ção. Era no espaço que estava a essência da arquitectura ou Architectural Character, como o desi-
gna, e intenta compreender as suas especificidades apresentando os vários Examples of Buildings
de modo Comparative.
194
Como arquitecto, profissão que já era a de seu pai, de nome Banister Fletcher também, especializa-
do em projectos de edifícios industriais, desenvolveu obra considerável, de fins Séc. XIX a meados
Séc. XX, indo do Neogótico do Great Hall, ao modernismo da Gillette Factory – a qual merecerá
de Pevsner a classificação de incongruous, timidly modernistic grandeur. – De resto, sabe-se que
estudou na Architectural Association e na École des Beaux-Arts, em Paris
A Arquitectura do Ferro e Vidro e seus Teóricos Oitocentistas: Embora seja comum considerar
este tipo de arquitectura nas histórias da arquitectura moderna, não acontece o mesmo nas obras,
poucas, que sobre a história da teoria da arquitectura se têm debruçado. Pelo menos nas mais recen-
tes, nem Kruft, 1985, nem Gelernter, 1995, Mallgrave, 2005, ou Simões Ferreira, 2010, se referem
ao assunto. – E a verdade é que a arquitectura do ferro e vidro também teve os seus teóricos, desde
Cordemoy, 1706195, que descreve no seu tratado uma ponte ladeada de casas de ferro e vidro, que
possibilitavam, pela sua transparência, a vista do rio, L.-S. Mercier, L’An 2440. Rêve s’il en fut ja-
mais196, 1771, obra literária, utópica, mas de inegável interesse para a Teoria da Arquitectura, em
que é descrita uma Paris de casas de ferro e vidro, leves, higiénicas, soalheiras e transparentes, há toda
uma série de descrições e reflexões sobre este tipo de arquitectura e as questões que coloca. No
Séc. XIX, na Grã-Bretanha, onde a arquitectura do ferro e vidro teve consagração com o Crystal
192 Fletcher, B., History of Architecture on the Comparative Method, London, 1896. – reeds. sucessivas. 193 Schmarsow, A., Das Wesen der architektonischen Schöpfung, Leipzig, 1894. 194 Fletcher, ob. cit. (1896), p. X. 195 Cordemoy, J.-L., Nouveau tratité de toute l’architecture, Paris, 1706, p. 213-16. 196 Mercier, L.-S., L’An 2440. Rêve s’il en fut jamais, London, 1771.
46
Palace, 1851, projecto de um botânico, jardineiro e arquitecto, Joseph Paxton (1803-1865), que
escreveu várias obras sobre jardinaria e botânica, onde por vezes se encontram, marginalmente,
reflexões sobre arquitectura, nomeadamente a de estufas de vidro, próprias para jardins e viveiros
de plantas e flores, por onde começou a reflexão sobre a nova arquitectura de ferro e vidro.Paxton
era amigo de John Claudius Loudon (1783-1843), o mais notável teórico da arte dos jardins daquele
tempo, que expressou as suas ideias através de publicações várias, começando por A Short Treatise
on Several Improvements, recently made in Hot-Houses197, 1805, onde pela primeira vez aborda a
questão das Hot-Houses (Casas Quentes, ou seja, Estufas), que mais tarde desenvolverá em Remarks
on the Construction of Hot-Houses198, 1817, Sketches of Curvilinear Hot-Houses199 e A comparative
view of the Common and Curvilinear Modes of Roofing Hot-Houses200, ambos de 1818, e The Green-
House Companion201, 1824. – No total, resumindo, Loudon, confrontado com as condições climáticas,
adversas para o cultivo de plantas e flores, da Grã-Bretanha, introduz uma série de melhoramentos
naquilo que chama Hot-Houses e Green-Houses, como aquecimento por caldeiras a fuel – que ser-
via para o resto da casa –, e, principalmente, concebe um novo tipo de construção, de estrutura em
ferro curvilíneo e vidro, tendo ele mesmo, inventado um sistema para curvar o ferro e vidro (he
invented an iron glazing-bar that made curved glazing possible, Curl, 2006202); as reflexões teóricas
que acompanham estas obras têm a ver com um funcionalismo construtivo, devendo cada edifício
apresentar-se tal como é, manifestando sua função para o exterior, prescindindo de ornamentação, e
tudo isso numa síntese de pluralismo estilístico, podendo juntar-se diferentes estilos. Paxton ter-se-á
inspirado nas Hot-Houses e no iron glazing-bar, de Loudon, para o projecto do Crystal Palace,
1851, feito após o falecimento de Loudon, 1843, embora haja construções suas, desse género, feitas
já nos finais da década de 30, como é o caso do Great Conservatory de Chatsworth, 1840. É claro
que os teóricos franceses da arquitectura do ferro, Rondelet e Reynaud, já tinham sido divulgados
na Grã-Bretanha quando Paxton inicia as suas obras, mas o mesmo não acontece em relação a Lou-
don, que se antecipou aos franceses, além de ter considerado a aliança do ferro com o vidro, com
uma possibilidade de fazer construções curvilíneas, fora da tradicional e comum ortogonalidade,
logo, um tanto quanto, atectónicas.
Ainda no domínio da teoria da arquitectura do ferro, não se pode deixar de referenciar William
Vose Pickett (Séc. XIX), e sua obra New system of architecture founded on the forms of nature,
197 Loudon, J. C., A Short Treatise on Several Improvements, recently made in Hot-Houses, London, 1805. 198 Loudon, J. C., Remarks on the Construction of Hot-Houses, London, 1817. 199 Loudon, J. C., Sketches of Curvilinear Hot-Houses, London, 1818. 200 Loudon, J. C., A comparative view of the Common and Curvilinear Modes of Roofing Hot-Houses, Lon-
don, 1818. 201 Loudon, J. C., The Green-House Companion, London, 1824. 202 Curl, J. S., Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Oxford, 2006, p. 454.
47
and developing the properties of metals203, 1845, cujo titulo é bem explícito do conteúdo, princi-
palmente tendo em conta o subtítulo:
by which a higher order of beauty, a larger amount of utility, and various advantages in economy, over the
pre-existent architectures, may be practically attained presenting also, the peculiar and important advantage
of being commercial its productions forming fitting objects for exportation204.
Picket começa por perguntar: How is a really new Architecture to be accomplied?, e enuncia os
seus objectivos como consistindo na beautiful, utilities e variety. – Veja-se:
205
A seguir, postula a beautiful or effect como primary object of a new system, e secondly (...) “utility”
combined with a capability of producing equal and even “variety” in expression or effect206, mas
que o principal objectivo da new architecture seria: the free admission of light, and general conve-
nience and economy of space207. – É de notar a precocidade destes conceitos, admissão de luz e
economia de espaço, ainda hoje de uso no jargão profissional da arquitectura da fachada envidra-
çada e open space. – No domínio dos materiais após enumerar as limitações da pedra, desenrola
uma argumentação, tendente a demonstrar serem os metallic bodies, os mais aptos. – Veja-se:
tecture 208.
203 Pickett, W. V., New system of architecture founded on the forms of nature, and developing the properties
of metals, London, 1845. 204 Pickett, ob. cit. (1845), legenda no frontispício. 205 Pickett, ob. cit. (1845), p. 14. 206 Pickett, ob. cit. (1845), p. 15. 207 Pickett, ob. cit. (1845), p. 16. 208 Pickett, ob. cit. (1845), p. 37-38.
48
Mas a vantagem principal do uso do metal na arquitectura, seria the general economy of the system,
tendo ainda um capítulo em que argumenta com the comercial, professional, and universal advan-
tages of the new or metallic architecture. – Enfim, a economia, já referida por Vitrúvio como cate-
goria consistencial da arquitectura, ganhava novo fôlego na terra de Adam Smith (1723-90) que fez
da οϊκονοµία = distributio, de uma tradição milenar, uma economia baseada no incremento da
produção, logo, no aumento da riqueza209.
E, por fim, tem-se John White (fal. 1850), arquitecto, On cementitious architecture, as applicable
to the construction of bridges... With a prefatory notice of the first introduction of iron as the cons-
tituent material for arches of a large span by Thomas Farnolls Pritchard in 1773210, 1832. – E
veja-se essa notícia prefatória:
211
É esta notícia que interessa, pois tem a ver com a arquitectura do ferro, aplicado como estrutura na
Stourport Bridge, sobre o River Severn, o que White justifica por razões funcionais e de perfor-
mance: permitia um vão com 142 pés (43,28 m) de largura, em somente 18 pés (5,49 m) de altura,
considerados a partir do limite de cheia. A outra ponte, descrita por Withe, seria em cementitious
architecture (arquitectura de cimento?), pelo que não pertence a esta rubrica, nem se vai considerá-
la, pois ainda não chegara a hora das estruturas de cimento e ferro, isto é, de betão armado, tão
marcantes na Teoria e Prática da Arquitectura do Movimento Moderno.
Concluindo, a Teoria da Arquitectura do Séc. XIX, é coeva da Prática do Eclectismo Historicista,
parecendo querer, antes de mais, legitimar o gosto e as opções por esse eclectismo, mormente o
expresso através do Neogótico e o Neoclássico, mas contemplando também uma panóplia doutros
estilos, como se constata na obra de John Foulston (1772-1842), The Public Buildings erected in
209 Como o indica o próprio título da obra principal de Adam Smith, The Wealth of Nations (A Riqueza das
Nações), London, 1776. 210 White, J., On cementitious architecture, as applicable to the construction of bridges... With a prefatory
notice of the first introduction of iron as the constituent material for arches of a large span by Thomas Farnolls Pritchard in 1773, London, 1832.
211 White, ob. cit. (1832), p. 1.
49
the West of England212, 1838, em que, no mesmo espaço urbano, uma praça, competem Greek revi-
val, Roman revival, Gothic / Indian revival, and Egyptian revival. – Finally, all the Eclecticism...
Foulston, J., The Public Buildings erected in the West of England, 1838
Nem sempre há correspondência entre os livros e a realidade, mas aqui há mesmo!
Foulston, ob. cit. (1838), portada, plantas de Lunatic Asilum and Penitentiary, tipo panopticon, uma tipologia
arquitectónica teorizada por Jeremy Bentham, também ensaísta do Gótico, como se referiu.
Barry-Pugin, Palace of Westminster, 1840; Hamilton, desenho para a Royal High School, Edinburgh, 1831.
212 John Foulston, J., The Public Buildings erected in the West of England, London, 1838.
50
Excurso (In)conclusivo sobre a Teoria da Arquitectura do Séc. XIX:
A Teoria da Arquitectura do Séc. XIX, tal como a Arquitectura Prática, ou seja, a que se construiu
por toda essa época, e por todo o Ocidente, e com a qual a teoria não deixa de estar relacionada,
revelam-se, ambas, afectadas pelo relativismo que dominou os sistemas de representação cultural
desse tempo, de que são exemplos característicos os sistemas filosóficos: o Idealismo (de Fichte,
Schelling, Hegel); o Positivismo, de Auguste Comte e seus variados discípulos; o Naturalismo Ide-
alista, de Schopenhauer (para o qual a Arquitectura era objectivação da vontade da Natureza (Ob-
jektivation des Willens der Natur), e vários tipos de Romantismo, Realismo, Materialismo, Utilita-
rismo, Individualismo, Agnosticismo, Esoterismo, etc.
Assim, o Eclectismo da Arquitectura e das suas Teorias deve ser considerado como síntoma de
todo esse relativismo filosófico, pois a partir de Hegel (para quem a filosofia chega sempre tarde
(...), o pássaro de Minerva levanta voo ao anoitecer), já nenhum sistema pretendia uma verdade
absoluta, e apriorística, mesmo que o desejasse e simulasse.
Depois, na segunda metade do século, com as críticas marxista e nietzscheana, as coisas agravar-
se-iam, criando-se as condições de descrença, dissidência e revisão cultural tão propícias à erupção
dos Paradigmas da Modernidade.
51
4. Paradigmas da Modernidade – O Tempo das Rupturas: Ruskin e Morris; A Positividade
de Viollet-le-Duc; O caso Gottfried Semper; Arts and Crafts, Art Nouveau e Teorias de Van de
Velde, Sullivan e Otto Wagner
Na parte que se vai expor, agrupam-se as primeiras manifestações e formulações dum pensamento
teórico que se prende com os ditos Paradigmas da Modernidade, decorrentes das ideias de Ruskin,
Morris, Le-Duc, e Semper; os reflexos dessas ideias nas Arts and Crafts e Art Nouveau, e suas teo-
rias em Van de Velde, Sullivan e Wagner.
Este período é marcado pelo espalhar da Revolução Industrial por todo o mundo ocidental, e por
tudo o que essa revolução provocou nos modos de vida e consciência no Ocidente e, a partir daqui,
no mundo inteiro: a tradicional sociedade de ordens começa a ser substituída por uma sociedade de
classes fortemente antagónicas; o método de produção baseado na agricultura intensiva de pequenos
proprietários complementada com a indústria caseira entra em fase de desmantelamento; as popula-
ções rurais começam o seu êxodo para as cidades, aumentando o exército de mão-de-obra disponí-
vel para os interesses e apetites vorazes da indústria. Com o capitalismo e a proletarização abre-se a
grande ferida na consciência de um Ocidente em que a Cultura Grego-Romana e o Cristianismo
tinham imposto a noção da cidadania e sacralidade da pessoa humana, igualmente digna; com a
emigração em massa para as cidades, estas perdem o seu tradicional equilíbrio, produto dum cres-
cimento lento e reflectido, e entram em crescimento desequilibrado, mais governado por interesses
e premências do momento do que orientado por qualquer noção de futuro.
No campo da arquitectura o Séc. XIX é percorrido por uma corrente onde cabem todas as diferentes
tendências: o Eclectismo Historicista. Todos os estilos eram válidos, desde que tivessem aval histó-
rico: construía-se à maneira grega, romana, bizantina, renascentista, barroca, egípcia, árabe, oriental,
gótica, românica, enfim, de todas as maneiras menos à maneira do Séc. XIX, porque aí parecia não
haver estilo algum. No entanto, se nesta diversidade eliminarmos as divisões supérfluas, pode-se
encontrar dois campos distintos, embora não tão antagónicos como se possa pensar: neo-clássicos e
neo-medievais, i. é, os que, mais por inércia que por atitude consciente e esclarecida, prolongam a
tradição inaugurada pela Renascença e alimentada pelas Beaux-Arts, e os que, mais por saturação,
que por outra coisa, reagem a essa tradição, opondo-lhe outra, mais longínqua, que pretendem fun-
damentada na Idade Média, essencialmente, no Gótico, e que era, além da renascentista, a tradição
que mais à mão estava no stock dos recursos disponíveis.
Porque parece ser desta maneira que com a Revolução Industrial se passa a considerar o mundo:
um armazém de stocks, mais ou menos inesgotáveis, e sempre dispostos à sua conversão industrial.
– É pois pelos que reagem, ainda que nostalgicamente, a esta visão instrumentalizadora, de domí-
nio do mundo, que se vai começar.
52
Ruskin e Morris, ou os “Pioneiros” da Nostalgia: As ideias de John Ruskin (1818-1900), tal
como as expôs em The Seven Lamps of Architecture,213 1849, sua obra principal para a Teoria da
Arquitectura, pode-se começar por as resumir e equacionar nos tópicos ou Lamps seguintes:
Sacrifice: Especificidade da Arquitectura, desligada do uso e da construção, e consistindo na orna-
mentação que, no entanto, não deveria ser excessiva, dado o seu carácter precioso, em termos de
material e de trabalho, ambos expressando sacrificio; o trabalho jamais poderia ser mecânico, pela
desvalorização, quer ética quer estética;
Truth: Na Arquitectura tudo deveria ter uma função, ou seja, ser verdadeiro, devendo a ornamen-
tação ser uma dignificação da função, como que sua poetização;
Power, Beauty, Life, Memory, Obedience: Eram valores que deveriam ser atendidos, pois sublima-
vam a Natureza (Poder); exprimiam aspiração ao Divino (Beleza); eram feitos por mãos humanas, e
productos da sua alegria e liberdade (Vida); integravam e desenvolviam a cultura que os engendrara
(Memória); e, ainda, a voluntária abdicação da liberdade em favor de algo mais elevado, como a
beleza (Obediência).
Destes valores apenas um, Beauty, é especificamente estético, os outros expressam, sobretudo, uma
postura ética, que se queria fundamentada na Verdade e na Natureza.
Natureza é a principal key word de Ruskin, verdadeira password para acesso ao seu pensamento: os
primeiros escritos sobre arquitectura, conjunto de artigos publicado no Architectural Magazine de
Loudon, intitulado The Poetry of Architecture214, 1837-1838, são assinados Kata Phusin, que signi-
ficaria segundo a natureza; nesses artigos, visando a cottage e a villa, Ruskin reflecte sobre the
Architecture of the Nations of Europe considered in its association with Scenery and National Cha-
racter215, que era dependente dos costumes, da paisagem e do clima, mas mais importante ainda,
in the distinctive character of the architecture of nations (...) its strong similarity to, and connection with,
the prevailing turn of mind by wich the nation who first employed it is distinguished.216
Assim, já aqui se colocava o problema da verdade, ou autenticidade da arquitectura, revelando
Ruskin o que iria ser a sua postura ética (ethos, εθος = carácter), que tanto o singularizaria na Teoria
da Arquitectura, e não só na do Séc. XIX. De resto, Ruskin parte da reflexão religiosa de Pugin
sobre o Gótico, mas dá-lhe um carácter ético, procurando a verdade da arquitectura, enquanto expres-
são do humano, não lhe antepondo de imediato crenças religiosas, embora estas também contassem,
pois, além da Natureza, há outra key word, com o mesmo peso: a Verdade. 213 Ruskin, J., The Seven Lamps of Architecture, London, 1849. 214 Ruskin, J., «The Poetry of Architecture», in Architectural Magazine 1837, p. 505-508 e 555-560, e 1838,
p. 7-554. 215 Ruskin, J., «ob. cit.», in ob. cit. (1837), p. 505 (formando como que um subtítulo). 216 Ruskin, J., «ob. cit.», in ob. cit. (1837), p. 505.
53
O anelo de Ruskin pela verdade na arquitectura, tem a ver com a reconhecida falsidade da que se
praticava no seu tempo, a do Eclectismo Historicista, baseada em imitações dos estilos do passado,
ou das suas leis e princípios, chegando a afirmar: There is no law, no principle, based on past pra-
tice, which may not be overthrown in a moment, by the arising of a new condiction, or the inventi-
on of a new material217; mas, essencialmente – e terá sido esse o Leitmotiv das Seven Lamps –, é o
problema do restauro dos arruinados monumentos desse tempo que está em causa, pois restauro
significava falsificação e destruição, dado o carácter singular, irrepetível e inimitável de toda a obra
de arquitectura, porque the life of the whole, that spirit which is given only by the hand and eye of
the workman, can never be recalled. Another spirit may be given by another time, and it is then a
new building218. Assim, e ao contrário do seu contemporâneo francês, Viollet-le-Duc, que advoga-
va o restauro e até a transformação beneficiadora do monumento, Ruskin proclamará:
We have no right whatever to touch them. They are not ours. They belong partly to those who built them, and
partly to all the generations of mankind who are to follow us. The dead have still their rights in them219.
E, assim, como começara por dizer da restoration: The thing is a Lie from beginning to end220.
Embora já nas Seven Lamps, e até na Poetry, se detecte a preferência pelo Gótico (os desenhos das
Lamps são todos de ornamentação gótica), a adesão de Ruskin ao Gótico só se declara a partir de
The Stones of Venice221, 1851-53, 3 vols., e começa incidindo no ornamento, que sente como ex-
pression of man’s delight in God’s work. – Essa, a obra divina, que identifica com a Natureza, era o
modelo para toda a ornamentação, mas o modelo devia ser visto como uma recriação seguindo, the
labour of Nature, but not her disturbance; to imitate what she has deliberately ordained, no what
she has violently suffered222. É aqui, no II.º Vol., Cap. The Nature of Gothic, que expõe o conceito
de Gothicness (Goticidade), através do qual intenta uma definição de the soul of Gothic, que seria
um complexo de elementos característicos ou morais, em que concorriam factores históricos, socio-
lógicos e éticos. – Veja-se a sua designação e ordem:
223
1. Savageness = carácter primitivo; 2. Changefulness = tendência a mudar; 3. Naturalism = amor à natu-
reza; 4. Grotesqueness = imaginação distorcida; 5. Rigidity = perseverança; 6. Redundance = riqueza; 217 Ruskin, ob. cit. (1849), Introductory. 218 Ruskin, ob. cit. (1849), Cap. VI, § 18, p. 179. 219 Ruskin, ob. cit. (1849), Cap. VI, § 20, p. 181. 220 Ruskin, ob. cit. (1849), Cap. VI, § 19, p. 180. 221 Ruskin, J., The Stones of Venice, London, 1851-53, 3 vols. 222 Ruskin, ob. cit. (1851-53, ed. 1894), Vol. I, Cap. XX, § 22, p. 224-25. 223 Ruskin, ob. cit. (1851-53, ed. 1894), Vol. II, Cap. VI, § 6, p. 155.
54
Sob o conceito de Savageness define uma tipologia do ornamento, que tinha a ver com critérios his-
tóricos: 1. Servile ornament, próprio de escravos, mecanizados, e que era o da Antiguidade; 2. Cons-
titutionaly ornament, própria da arquitectura individualizada da Idade Média cristã; 3. Revolutionary
ornament, que resultara na emancipação do ornamento em relação ao edifício no seu conjunto. Mas
não era apenas pelo ornamento que, Ruskin, crê na arquitectura gótica como ideal; o alto conceito
que tem do gótico acaba por se expressar com veemência e redundance:
For in one point of view Gothic is not only the best, but de only rational architecture, as being that which
can fit itself most easily to all services, vulgar or noble224.
De resto, também a estrutura social e política donde o gótico era originário se propiciava, com o seu
sistema de produção, personalizado em células familiares agrupadas em corporações e guildas, onde
reinava a igualdade e a liberdade, mas em consonância com o respeito por uma hierarquia espirituali-
zada, e tudo conducente no sentido da Obediência aos ditames duma razão sã, que só podia ser natural.
Ruskin é um romântico, herdeiro dos mitos naturalistas e de certo rousseanismo do século anterior;
mitos desenvolvidos e enxertados com outros durante o Séc. XIX. Um desses mitos novos, que bas-
tante o terá influenciado, é o do comunismo agrário e artesanal com que na sua obra Fors clavige-
ra,225 publicada entre 1871-84, se propõe substituir o capitalismo e os métodos de produção indus-
trial. – Porque com Ruskin talvez pela primeira vez se tenha tomado consciência da conexão que há
entre a arquitectura e as formas de vida social e política. E uma nova arquitectura implicaria uma
nova sociedade, ou seja, só aí seria possível. Até lá, aos artistas e aos intelectuais estava-lhes reser-
vado o papel de pioneiros exortadores e ensaiadores desses novos processos sociais e formas de
produção artística. – Foi o que terá levado Morris à inflexão no domínio da realização prática.
William Morris (1834-96): Mais novo quinze anos do que J. Ruskin, a quem sempre reconheceu
como guia e mestre, pode-se considerar que tentou levar à prática as ideias deste, através duma in-
tensa actividade como desenhador, ilustrador, fundador de empresas dedicadas à produção artesa-
nal de artigos de qualidade, e através duma actividade como orador e publicista em que constante-
mente expunha e propagandeava as suas ideias sobre a arte, a arquitectura e a vida em geral. A
Morris se deve um dos primeiros exemplos do que Pevsner considerou arquitectura ou design mo-
dernos: a Red House, projectada e construída entre 1859-61 por Ph. Webb, como arquitecto e Mor-
ris, como comitente, decorador e, em geral, como animador e mentor do dispositivo arquitectónico
base, ou daquilo a que os ingleses chamam a state of mind do projecto. Mas, o que nele mais con-
tou foi a actividade que exerceu como fundador e principal animador do movimento Arts and
Crafts. Morris concebe como domínio da arquitectura a totalidade do ambiente em que a humanidade
vive, com excepção unicamente do puro deserto: 224 Ruskin, ob. cit. (1851-53, ed. 1894), Vol. II, Cap. VI, § 38, p. 179. 225 Ruskin, J., Fors clavigera, London, 1871-84.
55
A arquitectura abarca a consideração de todo o ambiente físico que rodeia a vida humana; não podemos
subtrair-nos a ela, enquanto formemos parte da civilização, porque a arquitectura é o conjunto das modi-
ficações e alterações introduzidas na superfície terrestre com o objectivo de satisfazer as necessidades hu-
manas, exceptuando só ao puro deserto226.
As ideias de Morris, no tocante à Teoria da Arquitectura, encontram-se espalhadas por várias confe-
rências (forma de comunicação que preferia), mais tarde editadas em livros. Numa dessas conferên-
cias, The Decorative Arts227, 1878, a partir da antiga unidade entre the greater Arts e decorative Arts,
apresenta a arte relacionada com o sistema social e dele dependente, em certa medida, ideia que
reflecte as de Ruskin. – Assim, exige uma new art, que criasse uma decent home com leis na natureza,
mas não imitando senão o seu princípio base: Simplicity, categoria ético-estética fundamental em
Morris: Simplicity of life, begetting simplicity of taste, that is, a love for sweet and lofty things, is of all
matters most necessary for the bird of the new and better art we crave for; simplicity in the palace
as well as in the cottage228. Mas esta simplicity só seria alcançável num novo tipo de sociedade,
onde se realizasse a liberdade, igualdade e fraternidade, proclamada pela Revolução Francesa, pois:
I do not want art for a few, any more than education for a few, or freedom for a few229.
Em The Revival of Architecture230, de 1888, publicado em Architecture, Industry & Wealth, 1902
(melhor recolha de textos de William Morris para a Teoria da Arquitectura), encontra-se a parte
mais significativa das suas ideias sobre a Arquitectura, opondo-se igualmente ao Neoclassicismo e ao
Neogótico, embora apoie o estudo da arquitectura histórica. Porque através desse estudo, a logical
organic style evolved as a matter of necessity from the ancient styles of the classical peoples231, e
esse estilo orgânico deveria ser, expression of its social life, and that the social life of the Middle
Ages allowed the workman freedom of individual expression, which on the other hand our social
life forbids him232, assim, embora detractor do Gothic revival, considera que there is only one style
of architecture on which it is possible to found a true living art... and that style is Gothic233. Esta
tirada, complacente com a arquitectura gótica, tem sido interpretada como adesão de Morris ao Ne-
ogótico, mas deve ser vista, essencialmente, como reconhecimento de outro tempo, em que a ar-
quitectura emanava de uma estrutura social benévola, que respeitava os artistas, e os incentivava, o
226 Morris, W., «The Prospects of Architecture in Civilization», conf. proferida na London Institution em 10
de Março de 1881, public. em On Art and Socialism, London, 1947, p. 245. 227 Morris, W., The Decorative Arts: Their Relation To Modern Life And Progress, An Address Delivered
Before the Trades' Guild of Learning (Dec. 4, 1877), edited in London, 1878. 228 Morris, ob. cit. (1878), acessível in www.burrows.com/dec4/html, Part 5. 229 Morris, ob. cit. (1878), acessível in www.burrows.com/dec4/html, Part 6. 230
Morris, W., «The Revival of Architecture», 1888, publicado in Architecture, Industry & Wealth, London, 1902, p. 198-213.
231 Morris, ob. cit. (1888), p. 199. 232 Morris, ob. cit. (1888), p. 204-205. 233 Morris, May, William Morris, Artist, Writer, Socialist, Oxford, 1936, 2 vols.; cit., Vol. I, p. 226.
56
que intentará recriar em News from Nowhere234, 1890, um utopian romance, que pode ser sentido
como seu testment: Nesse utopian romance (Morris editará, 1893, a Utopia de Thomas More numa
edição esmerada235), descreve-se uma comunidade do Séc. XXI (aquele em que estamos), num am-
biente social, político, urbano e arquitectónico de um imaginário Séc. XIV, sem fábricas, de traba-
lho artesanal e voluntário, onde descreve um edifício nestes termos:
236
E naquela exquisitely beauty (...) expression of such generosity and abundance of life, talvez se re-
vele a grande motivação de Morris, ao fim e ao cabo, filho do seu tempo, como nós o somos do
nosso, e com limitadas possibilidades de o ultrapassar. – Com efeito, o Séc. XIX, em que devíamos
ser rijos como os serradores / E positivos como os engenheiros (Cesário Verde, Nós, 1876237), terá
contraposto a essa dominante rijeza e positividade, um anelo por belezas exquisitas, sentidas como
expressão da generosidade e abundância da vida. – E será a positividade a pedra de toque do teórico
que se segue: um continental, Viollet-le-Duc.
Mas, na Grã-Bretanha, influenciados por Ruskin e Morris, há ainda a considerar uma série de autores
que, embora numa escala menor, não deixaram também de dar o seu contributo à Teoria da Arqui-
tectura. – Por razões de economia (e com alguma má-consciência), vai-se apenas nomeá-los:
–– John D. Sedding (1838-91), arquitecto, membro de Arts-and-Crafts, em Art and Handicraft,
London, 1893, advoga a aplicação das máquinas à produção, tornando-se percursor dos proces-
sos do moderno design industrial.
–– Walter Crane (1845-1915), pintor e gravador, em Arts and Crafts Essays, London, 1893, obra
prefaciada by W. Morris, definirá o movimento Arts-and-Crafts como uma revolt against the
hard mechanical conventional life.
–– Arthur H. Mackmurdo (1851-1942), arquitecto, amigo de Ruskin, funda Century Guild que
edita Hobby Horse, 1884 ss., revista literária dedicada às artes aplicadas, que pretendia elevar
ao nível da pintura e escultura.
–– William R. Lethaby (1857-1931), arquitecto, funda Art Worker’s Guild, 1884, com objectivos
similares à Hobby Horse; in Architecture, Mysticism and Myth, London-New York, 1892, ex- 234 Morris, W., News from Nowhere, London, 1890. 235 More, Th., Utopia (1516, versão em inglês de Ralph Robinson, 1551), foreword by William Morris, Lon-
don, 1893, acessível in http://www.archive.org/details/utopia1893more. 236 Morris, ob. cit. (1890), p. 36. 237 in Cesário Verde, O Livro de Cesário Verde, editado por J. Verde, Lisboa, 1876, p.
57
põe a teoria do cosmical symbolism of the buildings238, que os edifícios deviam expressar,
numa visão moderna, de sweetness, simplicity, freedom, confidence, and light239.
–– Charles F. A. Voysey (1857-1941), arquitecto, em Reasons as a basis of Art, London, 1906 e
Individuality, London, 1915, advoga uma arquitectura simples, despojada, adaptada a cada di-
ferente região, de modo rational, e caracterizada com individuality.
–– Charles R. Ashbee (1863-1942), arquitecto, fundador da Guild of Handicraft, 1888, prefigura-
ção da Bauhaus, em várias obras escritas, 1901-11, defende as ideias de Ruskin e Morris.
A Positividade de Viollet-le-Duc, à la recherche d’un Style Perdu: Eugène Emmanuel Viollet-
le-Duc (1814-79), arquitecto, foi considerado, a par de Alberti, o maior teórico de arquitectura de
sempre (Summerson, 1949240); na sua vasta obra encontram-se prefigurados, por vezes dum modo
definido e definitivo todos os essenciais paradigmas da modernidade. Se em Ruskin e Morris se
observa o tempo das rupturas, em Viollet-le-Duc vai-se observar o anelo pela religação através da
sua ansiosa, mas persistente, busca de um noveau style d’architecture, passem todos os equívocos
que em tal busca se possa incorrer. As obras onde melhor se explicita a sua teoria são o Dictionnaire
Raisonné de l’Architecture Française du XI. au XVI. siècle241, 1854-68, 10 vols., e Entretiens sur
l’Architecture242, 1863-72, 2 vols., embora tenha escrito muitas mais. Essa teoria começa a definir-se
no contexto da polémica entre classicistas e goticistas, ocorrida em França, meados do Séc. XIX, e
onde Viollet-le-Duc defendeu com crescente veemência o seu ponto de vista gótico (Kruft, 1985243);
a arquitectura gótica seria a arquitectura nacional dos franceses, pois fora em França que despontara,
sob o impulso duma burguesia ascendente, ainda não atingida pela estratificação e decadência que
começara a partir do Séc. XV-XVI, tempo do Renascimento. A sua concepção do mundo está mar-
cada pela filosofia e sociologia positivistas de A. Comte e a teoria de H. Taine, do milieu, no qual
tinham origem e explicação as artes e o pensamento; o seu enfoque é sempre dirigido para o meio e
a história, onde procura explicação da génese e desenvolvimento dos eventos; é um pensamento
que tende a ver as formas da arquitectura como derivadas de um meio geográfico, social e cultural,
e a sua evolução como marcada duplamente por um princípio de desenvolvimento interno e pela
interacção com o meio, constatável através da história. – Partindo do legado vitruviano e albertiano,
define a “voz” arquitectura deste modo:
238 Lethaby, ob. cit. (1892), Introductory, p. 5, e p. 37. 239 Lethaby, ob. cit. (1892), Introductory, p. 8. 240 Summerson, J., «Viollet-le-Duc and the rational point of view», in Heavenly Mansions and other Essays
on Architecture, London-New York, 1963, p. 135-58. 241 Viollet-le-Duc, E.-E., Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI. au XVI. siècle, Paris,
1854-68, 10 vols. 242 Viollet-le-Duc, E.-E., Entretiens sur l’Architecture, Paris, 1863-72, 2 vols. 243 Kruft, H.-W., Geschichte der Architekturtheorie: von der Antike bis zur Gegenwart, München, 1985, 4.
Auflage, 1995, S.
58
Architecture, s. f. Arte de construir. A arquitectura compõe-se de dois elementos, a teoria e a prática. A teoria
compreende: a arte propriamente dita, as regras inspiradas pelo gosto, baseadas nas tradições, e a ciência,
que se pode demonstrar por fórmulas invariáveis, absolutas. A prática é a aplicação da teoria às necessidades;
é a prática que submete a arte e a ciência à natureza dos materiais, ao clima, aos costumes duma época, às
necessidades do momento. Ao considerar a arquitectura dos começos de uma civilização que sucede a outra,
é preciso necessariamente ter em conta, por um lado, as tradições e, por outro, as novas necessidades244.
Esta interpretação das relações teoria-prática é muito diferente da vitruviana; a teoria já não é vista
como interpretação e significação da prática, mas para ser aplicada pela prática às necessidades,
embora reconheça que a arte e a ciência, i.é, a teoria, era submetida, dobrada (fait plier), pela prática,
à natureza dos materiais, ao clima, etc.. O conceito de natureza dos materiais e das suas proprie-
dades estático-matemáticas é, em Viollet-le-Duc, determinante para a compreensão das formas:
a forma não é senão a consequência da lei matemática (...) a arquitectura francesa do Séc. XIII adopta for-
mas diversas em razão das necessidades às quais ela deve satisfazer, mas ainda nós a vemos submeter-se
aos materiais que emprega. Se é um edifício de tijolo, de pedra, ou de madeira que ela ergue, ela dá a cada
uma dessas construções uma aparência diferente, a que mais convém à natureza dos materiais de que dis-
põem. O ferro forjado, o bronze, o chumbo (...) a madeira, o mármore, a terracota, as pedras duras ou per-
meáveis, de dimensões diferentes, comandam as formas próprias a cada um desses materiais245.
A grande vantagem do gótico, seria o seu virtuosismo estático, explorando ao limite as propriedades
de resistência inerentes à natureza dos materiais, através do princípio do equilíbrio de forças [que]
substitui o sistema de estabilidade inerte; a forma como consequência da lei matemática... estabe-
lecida sobre a razão humana... adaptada às necessidades... submetida aos materiais, dando a cada
edifício aparência diferente, conforme a natureza dos materiais, que comandam as formas próprias
a cada um. Converge aqui toda uma série de posições naturalistas e cientificistas do século anterior e
antecipa-se as teses do funcionalismo do futuro, como o form follows function, de Sullivan, bem assim
o de the nature of materials de Wright. De resto, chega mesmo a prescrever a aplicação dos materiais,
indiquent leur function par la forme que vous leur donnez246. – Enfim, Sullivan, não diria melhor!
O entendimento das formas em arquitectura como devendo estar submetidas às funções estáticas, de
uso, de características dos materiais, e à escala humana, mostra a positividade do espírito de Viollet-
le-Duc, reagindo à retórica de Beaux-Arts, que começava a ser entediante ao tempo, mas também
antecipa outra retórica, a do funcionalismo e do expressionismo, nas suas formulações de Arte
Nova e, depois, de Movimento Moderno. Seria tendo em atenção esses factores que se poderia en-
contrar um estilo novo para a arquitectura, e não nos desgastados estilos históricos usados por
244 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1854-68), Vol. I, p. 116. 245 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1854-68), Vol. I, p. 153-54. 246 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1863-72), Vol. I, p. 472.
59
l’éclecticisme (...) car, dans ce cas il excluit nécessairement le style247, que recomenda procurar nas
máquinas, nos navios, nas locomotivas. – Voilá:
La locomitive est presque un être, et sa forme extérieure n’est que l’expression de sa puissance. Une loco-
motive donc a du style (...) la physionomie vraie de sa brutal énergie.248
Os futuristas, construtivistas soviéticos, e Le Corbusier estão aqui prefigurados, principalmente o
último, com o seu conceito de la maison une machine d’habiter249, que, aliás, terá ido buscar aos
estudos de Viollet-le-Duc sobre a casa medieval francesa250. Para o novo estilo poderia concorrer o
uso dos novos materiais, como o vidro, os cerâmicos vidrados, a cal obtida em altos fornos (cal hi-
dráulica, começada a usar na 2.ª metade do Séc. XIX), e sobretudo, o ferro, que todavia por si sós
não chegavam para satisfazer as condições de habitalidade requeridas, assim, devendo ser cruzados
com os materiais tradicionais, como o tijolo e a pedra. – Sem se dar conta Viollet-le-Duc está a
contrapor ao eclectismo dos estilos um eclectismo dos materiais, ambos bastante marcando uma
das suas últimas obras, Habitations modernes, 1875-77. Há, ainda, um aspecto que não se pode
ignorar: as ideias de Viollet-le-Duc relativas ao restauro de monumentos, sua principal actividade no
domínio da praxis arquitectónica; ao contrário de Ruskin, Le-Duc defende uma intervenção profun-
da, fundada num princípio hermenêutico, postulando que restaurar não consistia em restabelecer
formas do passado, tal como foram pensadas e realizadas – o que é inacessível ao presente – mas
sim, projectar pressupostos actuais sobre o passado (Gadamer, 1960251), donde:
Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un ’état com-
plet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné252.
O que isto pode significar de destruição do passado ou de sua manipulação em favor de
venais interesses do presente (políticos, turísticos, imobiliários, etc.), não é assunto a tratar
aqui, mas é de relembrar que os regimes políticos totalitários todos foram ciosos do restau-
ro das suas antiguidades monumentais (Simone de Beauvoir, 1947253). – Dos vários discí-
pulos, que Viollet-le-Duc deixou, destacaram-se com contributos para a Teoria da Arqui-
tectura os seguintes, que por economia se vai apenas nomear:
––– Édouard Corroyer (1835-1904), arquitecto, na linha do mestre escreveu sobre arquitectura
medieval, Description de l’Abbaye Mont-Saint-Michel et ses abords, Paris, 1877; Guide descriptif
247 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1863-72), Vol. I, p. 191. 248 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1863-72), Vol. I, p. 186. 249 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, 1923, p. XIX. 250 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1863-72), Vol. VI, p. 214-300; id., Comment on construit une maison, Paris, 1873. 251 Gadamer, H.-G., Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, 1960. 252 Viollet-le-Duc, ob. cit. (1854-68), Vol. VIII, p. 14. 253 Beauvoir, S. de, Pour une morale de l’ambiguité, Paris, 1947 – refere-se de memória.
60
du Mont-Saint-Michel, Paris, 1883; L’Architecture romane (românica e pré-românica), Paris, 1888;
L’Architecture gothique, Paris, 1891;
––– Anatole de Baudot (1834-1915), arquitecto, restaurador na linha de Le-Duc, e projectista de
obra de raíz, na linha de Labrouste, com quem trabalhou, escreveu L’Architecture et le ciment armé,
Paris, 1904 (uma raridade), e L’Architecture, le passé, le présent, Paris, 1916.
O Caso Gottfried Semper, ou o Princípio da Emancipação da Forma: Embora mais velho do que
Ruskin, Morris, ou Viollet-le-Duc, e anterior como teórico, apresenta-se-o na sequência destes, dadas
as características das suas ideias, autónomas em relação aos “pioneiros”, afastadas da “positividade”
de Le-Duc, e específicas. Essas ideias começam a ser expressas, em 1834, nos Comentários prévios
sobre arquitectura e escultura policroma na Antiguidade (Vorläufige Bemerkungen über bemalte
Architektur und Plastik bei den Alten254), onde, a partir de Cau e Hittorff, advoga a tese da policromia
da arquitectura, como protecção dos materiais em relação ao ambiente, mas acrescentando-lhe um
factor novo, pois como dirá em Die vier Elemente der Baukunst255, 1851, considera a polícromia
uma expressão artística da democracia grega. – Veja-se:
A policromia grega não aparece como um factor isolado, não é um devaneio intelectual, mas corresponde ao
sentimento da massa, ao anseio generalizado por uma arte com mais côr (Griechische Polychromie steht
nicht mehr als isolirte Erscheinung, sie ist kein Hirngespinst mehr, sondern entspricht dem Gefühl der Mas-
se, dem allgemein angeregten Verlangen nach Farbe in der Kunst256).
Assim, a polícromia dos gregos era expressão de uma Harmonie, e Demokratie in den Künsten,257
nada que tivesse a ver com as tentativas de policromia na Alemanha, que considera Marzipanstyl e
blutroten Fleischstyl258 (estilo carne em sangue) a armar ao grego.
Por comparação com Hittorff ou Labrouste, para quem a policromia significara, antes de mais, a
maneira de confrontarem as regras clássicas, de novo a se afirmar com o Neoclassicismo e a sua
monocromia fúnebre (está-se na época do afã construtivo nos cemitérios civis), Semper advoga a
policromia pelo significado político que comportava, e manifesta uma concepção ideológica da
sociedade e da arte, própria de quem lutara nas barricadas de 1848, em Dresden, onde virá depois a
realizar a Semperoper, e terá andado próximo das teses de Karl Marx, tal como começaram a ser
expressas nesse ano dos acontecimentos revolucionários de 48, que assolaram a Europa. Mas tam-
bém confrontará as teses do funcionalismo construtivo, o qual, considerava a construção como a
essência da arquitectura, e deste modo a agrilhoa (die Construction als das Wesen der Baukunst
254 Semper, G., Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten, 255 Semper, G., Die vier Elemente der Baukunst, Braunschweig, 1851. 256 Semper, ob. cit. (1851), S. 12. 257 Semper, ob. cit. (1851), S. 8. 258 Semper, ob. cit. (1851), S. 129 Fussnote.
61
erkannte und letztere somit in eiserne Fesseln schmiedete259), exigindo que a arquitectura, tal
como a natureza, sua grande mestra, escolha e utilize a matéria segundo as leis que a regem, mas
que a forma e a expressão das suas criações não dependam dela, mas sim das ideias que se acham
nessas criações (die Baukunst gleich der Natur, ihrer grosse Lehrerin, zwar ihren Stoff nach den
durch sie bedungenen Gesetzen wählen und verwenden, aber Form und Ausdruck ihrer Gebilde
nicht von ihm, sondern von den Ideen abhängig mache, welche in ihnen wohnen260). E volta ao
tema da policromia, mas sem explicações funcionalistas, pois a partir dos étimos de Wand (parede)
e de Gewand (vestuário, paramento) deduz a policromia do revestimento da arquitectura mais an-
tiga (Bekleidungswesen der ältesten Baukunst261).
A teoria de Semper vai definir-se com mais originalidade e precisão no ano seguinte, 1835, num
pequeno escrito, Esboço de uma Teoria Comparada dos Estilos (Entwurf eines Systems verglei-
chender Stillehre262), onde classifica as actividades artísticas em quatro Typen (teoria inspirada na
do naturalista Georges Cuvier (1769-1832) para o reino animal), e equaciona os factores criativos
numa fórmula matemática: Y = F (x, y, z, etc.)263 Y, a obra de arte, era determinado por factores
constantes (F) e variáveis (x, y, z, etc.); constantes eram as Funktionen ou Typen, variáveis: 1) os
materiais; 2) as condições etnológicas, climatológicas, religiosas e políticas; 3) influências pessoais
do artista e do comitente; o Stil era determinado pelo conjunto dos factores variáveis, e destes o
mais determinante seriam os materiais básicos (barro, madeira, tecido, pedra) e suas respectivas
técnicas (cerâmica, carpintaria, tecelagem, alvenaria), que levavam aos elementos fundamentais da
arquitectura (lareira, tecto, envolvente, fundação); o metal não entra neste quadro por não ser um
material primário, e os Typen já estarem estabelecidos aquando da sua descoberta.
Na sua obra decisiva, O Estilo nas artes técnicas e tectónicas (Der Stil in den technischen und
tektonischen Künsten264), 1860-63, 2 vols., assume um esquema análogo, mas partindo dum nível
mais elementar, as formas mineralógicas (cristais), que estende às formas orgânicas da biologia. –
Sempre as ciências naturais como ponto de partida, o que lhe valerá o apodo de materialista (Riegl,
1893, 1901265). – Der Stil não chegou a ser concluído; estavam previstos quatro volumes, o terceiro
específico para a arquitectura, apenas saíram dois: Vol. I, Die Textile Kunst, Vol. II Keramik,
Tektonik, Stereotomie, Metallotechnik. No primeiro volume, o texto sobre a arte têxtil é antecedido
259 Semper, ob. cit. (1851), S. 54. 260 Semper, ob. cit. (1851), S. 54. 261 Semper, ob. cit. (1851), S. 57 ff. 262 Semper, G., «Entwurf eines Systems vergleichender Stillehre», 1835, in Semper, G., Kleine Schriften,
Berlin & Stuttgart, 1884. 263 Semper, ob. cit. (1835, ed. 1884), S.267 ff. 264 Semper, G., Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, 1860-63, 2 vols.. 265
Riegl, A., Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin, 1893; id., Die spätrö-mische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn dargestelt, Wien, 1901. – É nestas obras que o conceito basilar de Riegl (Kunstwollen = Intencionaldade estética) se encontra formulado mais explicitamente.
62
de Prolegomena, Einleitung (Introdução) e Klassifikation der technischen Künste, onde Semper
expõe as teses fundamentais e contextualiza a obra, situando-a num tempo de crise:
A prática e a especulação industrial, como mediadoras entre o consumo e a invenção, expõem os últimos a
um aproveitamento discricionário, sem que através do uso milenário do povo se tenha podido desenvolver
um estilo próprio (Die Praxis ubd die industrielle Spekulation, als Mittlerinnen zwischen der Konsumtion
und der Erfindung, erhalten diese zu beliebiger Verwerthung ausgeliefert, ohne dass durch tausendjährigen
Volksgebrauch sich vorher ein eigener Stil für sie ausbilden konnte266).
Identifica três tendências como determinantes da arquitectura do seu tempo: Materielle, Historiker,
Schematiker, e demarca-se da Materielle (a dos materiais) – então muito em voga – que deduzia a
forma arquitectónica dos materiais construtivos, dizendo:
A forma, a ideia materializada, não deve contradizer a matéria de que está feita; só que não é necessário em
absoluto que a matéria como tal seja um factor determinante da obra de arte (Die Form, die zur Erscheinung
gewordene Idee, darf dem Stoffe aus dem sie gemacht ist nicht widersprechen, allein es ist nicht absolut no-
thwendig dass der Stoff als solcher zu der Kunsterscheinung als Faktor hinzutrete267).
Isto diferencia-o bastante de Ruskin e de Viollet-le-Duc, que davam prioridade quase absoluta aos
materiais na determinação da forma; de resto, também se distingue deles, na opção pelo clássico,
frente ao gótico, que considera scholastichen, e sem vida. Demarca-se de Vitrúvio, mas acaba por
introduzir os conceitos vitruvianos de Eurhytmie, Symmetrie, Proportionalität und Richtung (direc-
ção268), através duma analogia mineral com os cristais, matéria mais elementar e simples da natureza.
Essas formas, com Eurhytmie, Symmetrie, Proportionalität und Richtung, observavam-se nos cris-
tais, nas folhas das árvores, nos nós e teias da arte têxtil, nos tapetes, e tinham passado à arquitectura.
De resto, o exemplo das características geométricas da natureza, a começar pelas do nível elemen-
tar e decisivo dos cristais, como sua coerência eurítmica (eurythmische Abgeschlossenheit), tornava
legítimo o uso de formas geométricas nos monumentos, como símbolos de tudo que não concebe
nada fora de si mesmo (als Symbole des Alls das nicht ausser sich kennt269). Depois, é a teoria do
Princípio do Revestimento (Prinzip der Bekleidung), cuja primeira manifestação fora a arte têxtil; a
arquitectura era extensão dessa necessidade elementar de revestimento do corpo, donde todas as
artes tinham derivado, assim como os primeiros princípios do estilo, e postula que, quanto ao reves-
timento, o esquema artístico era,
a emancipação da forma em relação ao material e à pura necessidade, é a tendência do novo estilo (die
Emanzipation der Form von dem Stofflichen und dem nackten Bedürfnis, ist die Tendenz des neuen Still270),
266 Semper, ob. cit. (1860), S. XII. 267 Semper, ob. cit. (1860), S. XV. 268 Semper, ob. cit. (1860), S. XXIV-XXXVII. 269 Semper, ob. cit. (1860), S. XLIII. 270 Semper, ob. cit. (1860), S. 445.
63
com o que arruma a questão do determinismo funcionalista dos materiais, mas abrindo caminho para
tendências esteticistas que já estavam na forja, ou se tinham incentivado com Schinkel, von Klenze, e
outros, prolongando-se pelo Movimento Moderno. Assim, é um dos vários e variados Paradigmas da
Modernidade, este, da emancipação da forma em relação ao material e à pura necessidade, o qual
vai despoletar toda uma nova concepção do papel do revestimento e do ornamento na arquitectura.
Esse novo estilo não é das suas preocupações maiores, já que não havia condições no presente –
nenhuma ideia de valor histórico mundial que se manifestasse com força e consciência (da sich
nirgend eine neue welthistoriche mit Kraft und Bewusstsein verfolgte Idee kundgibt271) –, mas seria
possível dar-lhe o adequado vestuário arquitectónico (das geeignete architektonische Kleid zu ver-
leihen272), e concluindo afirma:
enquanto essa ideia não vier há que acomodar-se, o melhor possível com o velho (Bis es dahin kommt,
muss man sich, so gut es gehen will, in das Alte schicken273).
É isto que explica a adesão de Semper ao Classicismo? Ou será consciência da limitada capacidade
humana para fugir a um estilo que dera provas e tinha consagração milenar? A dita nova arquitectura
do ferro não o atrai, pois não acreditava no determinismo dos materiais, e ainda menos no Gótico de
Ferro (eiserner Gothic). Assim, e não podendo escapar ao seu tempo (hic rodus hic saltus, Hegel,
1821274), acaba por assumir a tradição que sentia como mais coerente e próxima, sem radicalismos
puristas (o seu classicismo prolonga a tradição da arquitectura renascentista), como bom alemão,
pragmatisch! O apodo de materialista lançado por Alois Riegl (1858-1905) parece descabido, pois
o seu reconhecimento da Emanzipation der Forme, é compatível com a aceitação da Kunstwollen
(vontade de arte, ou intencionalidade estética) como essência da Arte. – E será essa Kunstwollen
que, antes de tudo o mais, parece marcar os que se seguem.
Arts and Crafts, Art Nouveau e Teorias de Van de Velde, Sullivan e Otto Wagner: Se o movi-
mento Arts and Crafts é a primeira materialização das ideias de Ruskin e Morris (e de alguns discí-
pulos seus, já referidos), mas quase só cingido ao design e produção de objectos, a Art Nouveau,
além da mesma incidência prioritária no design e objectos, já teve expressão arquitectónica; tendo
derivado da pintura (Pevsner, 1961275), numa interpretação decorativa, parece filiar-se no Neogóti-
co e no eclectismo dos materiais de Le-Duc. – Começa em Bruxelas, c. 1891, e aspirava a esse
objectivo obsessivo da modernidade: liberdade respeito ao passado. A sua marca distinta era uma
linha florida e sinuosa que sugeria um crescimento orgânico... A outra referência seria o gótico
271 Semper, G., «Über Baustile», 1869, in Semper, ob. cit. (1884), S. 426. 272 Semper, G., «Über Baustile», 1869, in Semper, ob. cit. (1884), S. 426. 273 Semper, G., «Über Baustile», 1869, in Semper, ob. cit. (1884), S. 426. 274 Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, 1821, Vorrede, Aufl. 1901, S. 16. 275 Pevsner, N., The Sources of Modern Architecture and Design, London, 1968.
64
tardio: o impulso do esqueleto, transparência, a vibração do ornamento (Kostof, 1985276); herdeira
da Einfühlung de Vischer, e do aparecimento do cinema e do automóvel, exprime, antes de mais, o
fascínio exercido pelo movimento que, entretanto, atingira quase todos os sectores da vida (Sem-
bach, 1993277). Uma coisa é certa: é com a Arte Nova que se intentam as primeiras aplicações dos
paradigmas da modernidade; dos seus maiores vultos, apenas Van de Velde, Louis Sullivan e Otto
Wagner, deixaram obra escrita digna de ser considerada como de estofo teórico. É, assim, à obra
destes autores que nos vamos cingir em termos interpretativos da teoria da Art Noveau, que talvez,
como o pretende Tafuri, 1976278, mais que um movimento apontado para o futuro, deva ser encarada,
piedosamente, estertor de um mundo condenado a desaparecer.
Henri van de Velde (1863-1957), arquitecto, a sua obra escrita, com interesse para a Teoria da
Arquitectura, estende-se por uma série de livros, salientando-se Die Renaissance im modernen
Kunstgewerbe279, 1901; Kunstgewerbliche Laienpredigten280, 1902, e, principalmente Vom neuen
Stil281, 1907; nesta exposição vai-se começar por uma obra editada em francês, intitulada Formules
de la Beauté Architectonique Moderne282, 1917. Referindo as origens da Art Nouveau, localiza-as em
Ruskin e Morris que, cerca de 1860, se tinham feito apaixonados apóstolos da ideia da renascença
do gosto e do estilo. Mas eles se relançam tão resolutamente para trás, como nós nos lançámos
mais tarde resolutamente para o futuro283. Assim, refuta o medievalismo e culto do passado de
Ruskin e Morris, atribuindo-o a um desejo de escapar ao Presente, à fealdade do Presente; a sua
atitude e a da Art Nouveau pretendia ser outra: em vez de celebrar a excelência dum passado morto,
procurar uma solução radical e nítida que nos entranhe no venturoso e fecundo futuro284. Esta insis-
tência na palavra futuro é bem sintomática do Zeitgeist de então. Van de Velde parece ter consciência
do desvio esteticista de Ruskin e Morris, e a sua teorização em Das Neue: Weshalb immer
Neues285, 1929, é no sentido de conjugar as tão vincadas categorias da solidez-utilidade-beleza
numa síntese superadora e congénita aos objectos, dispensando ornamentos:
Actualmente observamos que se prescinde voluntariamente do ornamento não só na arquitectura, mas tam-
bém na decoração de interiores de casas... esta prescisão assinala o despertar de uma sensibilidade que des-
276 Kostof, S., A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford, 1985. 277 Sembach, H.-J., Arte Nova, trad. Luís Milheiro, Köln, 1993. 278 Tafuri, M., Dal Co, F., Arquitectura contemporanea, trad. por L. E. Bareño, Madrid, 1978. – Integrada em
Nervi, P.-L. (dir.), Historia Universal de la Arquitectura, Madrid, 1972-1978, 14 vols. 279 Van de Velde, H., Die Renaissance im modernen Kunstgewerbe, Berlin, 1901. 280 Van de Velde, H., Kunstgewerbliche Laienpredigten, Leipzig, 1902. 281 Van de Velde, H., Vom neuen Stil, Leipzig, 1907. 282 Van de Velde, H., Formules de la Beauté Architectonique Moderne. Ce livre contient et résume des Essays,
se rapportant au “Style Nouveau”, paru dans l’intervalle des années 1902 à 1912, Weimar, 1917, ed. fac-simil Bruxelles, 1978.
283 Van de Velde, ob. cit. (1917, ed. 1978), p. 6. 284 Van de Velde, ob. cit. (1917, ed. 1978), p. 7. 285 Van de Velde, H., «Das Neue: Weshalb immer Neues?», 1929, in Zum Neuen Stil, München, 1955.
65
cobrirá um ornamento intrínseco (soberano) num edifício, num objecto, numa flor ou no corpo humano, o
qual se manifesta em proporções e volumes (Heute beobachten wir nun den freiwilligen Verzicht auf das
Ornament nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Innenausstattung der Häuser... Dieser Verzicht
deutet auf das Erwachen einer Empfindung, die in einem Bau, na einem Gegenstand, na einer Blume oder
am menschlichen Körper ein ursprüngliches (souveränes) Ornament entdecken wird, das sich in Proportio-
nen und Volumen verwirklicht286).
Note-se que este seria o propósito inicial da Art Noveau: tornar o conjunto do objecto a elaborar um
ornamento total, acabando com a velha distinção albertiana entre beleza intrínseca e beleza acres-
centada, ausiliaria di completamento. As posições teóricas de Van de Velde, tal como a missão
dirigindo em Weimar a Kunstgewerbeschule (Escola de Artes Aplicadas), sua insistência na cone-
xão beleza-utilidade-função-organicidade-ornamento-desenho e reprodução industrial, de certo
modo, antecederam as posições que, embora com outra direcção, foram no pós-guerra desenvolvi-
das na Bauhaus, tendo o director que lhe sucedeu, Walter Gropius, sido indicado por ele.
Louis H. Sullivan (1856-1924): Autor da paradigmática frase form follows function, o seu pensa-
mento, em A System of Architectural Ornament: According with a Philosophy of Man’s Power287,
1924, elaborado já numa fase tardia e amargurada da sua vida, dá uma visão dos processos artísti-
cos e arquitectónicos como constando de uma passagem do inorgânico dos materiais ao orgânico
das formas. Claro que estas teriam de se subordinar a uma função, mas eram as formas (as formas
decorativas com que reveste os arranha-céus de Chicago) a dar significado humano às funções, a
revesti-las de algo que as amenizava na sua inorganicidade e organicamente as humanizava. Embo-
ra nunca se lhe refira, o Prinzip der Bekleidung de Semper ressoa nesta elegia da capacidade do
revestimento, ornamental no caso, para transfigurar os edifícios e os dotar de carácter arquitectural,
ou seja, para poetizar e humanizar, aquilo que parece divisar como desmesurado e inumano.
Otto Wagner (1841-1918): Os seus textos, Moderne Architektur, 1895, aquando da 4ª ed., 1914,
intitulado Die Baukunst unserer Zeit288, e Die Grosstadt. Eine Studie über diese289, 1911, são textos
instauradores da arquitectura e urbanística modernas; começa por dizer:
o único ponto de partida da nossa actividade artística só pode ser a vida moderna, porque, embora nem
tudo o que é moderno seja belo... o belo só pode ser moderno290.
Wagner advoga a autonomia da arquitectura em relação às artes plásticas, uma vez que não tinha
que procurar os seus modelos na Natureza; assim, demarca-se do naturalismo e organicismo da Art
286 Van de Velde, «ob. cit.» (1929), in Van de Velde, ob. cit. (1955), S. 231. 287 Sullivan, L. H., A System of Architectural Ornament: According with a Philosophy of Man’s Power, New
York, 1924. 288 Wagner, O., Die Baukunst unserer Zeit, Wien, 1914, ed. esp., La arquitectura de nuestro tiempo, trad. J.
Siguán, Barcelona, 1993. 289 Wagner, O., Die Grosstadt. Eine Studie über diese, Wien, 1911. 290 Wagner, ob. cit. (1914, ed. esp. 1993), p. 31.
66
Noveau, a que opõe uma ideia da arquitectura como Baukunst, ou seja, Arte da construção, assu-
mindo a perspectiva clássica de Vitrúvio e Alberti. A sua visão da arquitectura é marcada pela ideia
da continuidade das formas e do pensamento, que se deveria actualizar de acordo com as condições
de cada época e exigências da Praxis, pois não pode ser belo aquilo que não é prático, além de o
arquitecto ter de desenvolver a forma artística a partir da construção; no entanto, esses factores,
ditados pela necessidade, deviam ser encarados como condicionantes e não como determinantes da
arquitectura, pois que, a ideia base de cada construção, por ser algo inventado, não se deve procurar
na correcção nem no desenvolvimento algébrico nem no cálculo estrutural, mas num determinado
engenho natural291. Nesse engenho natural residia o que distinguia a arquitectura da simples constru-
ção, assim, de novo se referindo a Vitrúvio, e à sua distinção entre ambas (De arch. II, 1). – A cidade,
em Wagner, também está contemplada e na versão que já ao tempo se fazia sentir: Grosstadt
(Grande Cidade), vista como um desafio e contributo à modernidade; as grandes cidades eram in-
compatíveis com os estilos históricos e o pitoresco e tinham levado o problema da planificação
urbana ao primeiro plano, devido à necessidade de procurar uma solução racional, sendo condi-
ção de tal a concordância entre arte e finalidade: Na planificação da cidade deve prevalecer o as-
pecto utilitário (...) isto implica que se detalhe com precisão as necessidades de circulação, eco-
nómicas, higiénicas e que o arquitecto executor do planeamento saiba valorizar estas premissas de
maneira artística292. Os factores de circulação, economia e higiene eram fundamentais na planifi-
cação das cidades, e ao arquitecto cabia conjugá-los numa intenção estética, mas respeitando-os,
aceitando-os lealmente, como parceiros de um jogo que se procura ganhar sem batota. Na obra de
Wagner há uma série de questões, posta à arquitectura, ou melhor, à arte da construção de edifícios e
cidades, a que não pretende dar respostas definitivas, mas sim respostas orientadas pelo intuito
hermenêutico de fusão dos horizontes do presente, com suas novas exigências, com as tradições de
um passado em que o presente tinha as suas raízes, que não conviria abalar muito, sob pena de se
ficar desenraízado; o que parecia acontecer com a Art Nouveau e o mundo que se adivinhava. No
total, estas ideias estão relacionadas com o fenómeno Art Nouveau e manifestam um desejo de
modernidade, expresso em duas vertentes: 1) superação dos desactualizados estilos históricos e teo-
rias com eles relacionadas, principalmente o vitruvianismo; 2) reinvindicação de lugar para a arqui-
tectura, com o seu papel humanizador (Van de Velde, Sullivan), ou mesmo construtor (Wagner) no
mundo dum futuro-presente que entrara em ruptura com o passado e parecia encaminhar-se no sen-
tido da passagem de um atestado de óbito à arquitectura, como à arte em geral (Hegel, 1835-38293), e
até mesmo ao conjunto da Cultura Ocidental (Nietzsche, 1872-88294, Spengler, 1919295).
291 Wagner, ob. cit. (1914, ed. esp. 1993), p. 81. 292 Wagner, ob. cit. (1914, ed. esp. 1993), p. 94. 293 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Ästetik, Berlin, 1835-38, 3 Bde. 294
Nietzsche, F., refere-se o conjunto das suas obras editadas entre 1872-1888 (Nietzsche enloqueceu em 1889).
67
No conjunto, quer nestes três autores, quer nos quatro anteriores e nos seus imediatos discípulos,
denota-se a atitude de ruptura com uma herança teórica que sentiam como já não dando resposta às
novas questões que se plantavam. Wagner terá sido a excepção a essa atitude generalizada de ruptura
com a tradição teórica; talvez por isso, mais do que por razões cronológicas se o deixou para o fim.
Da estrutura regular (e Clássica) dos cristais de Semper às linhas irregulares (Art Nouveau) de Mackmurdo, com o Labirinto (Modern Moviment?) de Lethaby pelo meio
Morris-Webb, Red House, 1859-61, corolário da evolução da Domestic Architecture, e protótipo para a Ar-
quitectura do Movimento Moderno
295 Spengler, O., Der Untergang des Abendlandes – Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Mün-
chen, 1919-1922, 2 Bde. – Um quadro preocupante da decadência do Ocidente, hoje mais actual, ainda do
que quando foi escrito (L. van Bertanlanffy, Perspectives on General System Theory – Scientific - Philoso-
phical Studies, New York, 1975, p. 69)
68
Da Arquitectura dos Novos Materiais, Ferro e Vidro (estrutura recticular), cruzada com a dos materiais tradicionais, de alvenaria (estrutura maciça), à Teoria e Prática da Restauration
Baudot, Igreja de Montmartre, 1894-1904, estrutura de betão armado, e Semperoper, Dresden, 1869-1878
Van de Velde, 1910 Otto Wagner, 1898 Sullivan, 1890-1891
69
5. Do(s) Princípio(s) do Urbanismo ao Urban Design: A Questão do Alojamento; Utopias de
Fourier, Godin, Owen; Cerdá e Soria; Stadtbau e a Crítica de Sitte; Garden City de Howard;
França de Haussmann a Hénard; Cité Industrielle de Garnier; A Cidade dos Futuristas; Urba-
nisme de Le Corbusier; Broadacre City de Wright; Outros Teóricos e suas Teorias; Persistência
da Arte Urbana; Urban Planning e Urban Design
O que se entende hoje em dia por crise do alojamento, é o agravamento particular das más condições de
habitação entre os trabalhadores em consequência do brusco afluxo da população para as grandes cidades.
Friedrich Engels, Zur Wohnungsfrage, Leipzig, 1872296.
A Questão do Alojamento: Com a Revolução Industrial as cidades europeias, que tinham crescido de
modo lento durante centúrias, desde a Idade Média, no Séc. XIX entram em crescimento acelerado; o
movimento começa em Inglaterra e estende-se ao continente. A antiga economia, sediada no campo
e baseada na agricultura e artesanato caseiro, em que os trabalhadores eram donos dos seus meios
de produção, é destruída, provocando a repulsão dos habitantes do campo para os meios urbanos,
principalmente as grandes cidades; o fenómeno de expansão urbana está ligado à imigração interna
e à proletarização da maioria da população, desalojada, pauperizada, despersonalizada. Assim, a
remota parteira começou por parir um monstro. – Que desse monstro se pudesse fazer um mundo
novo e harmonioso, onde fosse possível ao homem afirmar-se, terá sido a aposta de muitos, entre
os quais Fourier, Godin e Owen, sobre os quais a exposição vai começar por se debruçar.
Claro que não foi apenas o afluxo da população expulsa do campo, e o consequente problema de aloja-
mento, a pesar na transformação da cidade oitocentista. A expansão das actividades comerciais, os
novos meios de transporte, incompatíveis com as ruas estreitas da cidade medieval, e exigindo vias
largas, as novas exigências de acessibilidade e mobilidade, os novos equipamentos criados por essa
sociedade, na sequência da estratégia de confinamento gerada no século anterior, como os hospitais,
manicómios, prisões, asilos, quartéis (o serviço militar obrigatório começa na Europa pós-napoleó-
nica), grandes mercados, matadouros, os cemitérios civis, pavilhões para exposições, escolas de
instrução pública, etc., e principalmente a expansão industrial e dos serviços, que tão decisivamente
marcaram a periferia (indústria) e o centro das cidades (serviços e comércio); toda essa panóplia de
novos equipamentos e actividades impôs as suas marcas na cidade europeia e nos seus habitantes.
Utopias Urbanísticas de Fourier, Godin e Owen: Charles Fourier (1772-1837), expõe suas ideias
urbanísticas e utópicas em Traité de l’Association Domestique-Agricole297, 1822, onde apresenta
um plano de cidade que era o dispositivo espacial de uma proposta de sociedade ideal que, por sua
vez, tinha a ver com uma complexa teoria de unidade universal, inserindo-se numa tradição que na
296
Citado a partir da edição portuguesa, A Questão do Alojamento, trad. de Ribeiro da Costa, Porto, 1971, p. 32. 297 Fourier, Ch., Traité de l’Association Domestique-Agricole, Paris, 1822.
70
teoria da arquitectura e nas utopias políticas já tinha raízes, embora não se saiba até que ponto essa
tradição o influenciou; o seu modelo urbanístico é descrito assim:
Devem traçar-se três cinturas: a primeira contendo a cité ou cidade central, a segunda contendo os subúr-
bios e as grandes fábricas, a terceira contendo as avenues e a periferia (...) As três zonas são separadas por
cercas, sebes e plantações que não devem obstruir a visibilidade298.
O modelo é, pois, do tipo circular e radial, e a especialização de cada uma das três cinturas, assim
com a sua separação, prefiguram um esquema de zonamento funcional; os edifícios para habitação,
falanstérios, seriam colectivos, de grande dimensão, dotados de zonas de serviços comuns, e com um
sistema espacial-distributivo, que implicava vida em comunidade, o que o terá levado a prescrever:
Uma falange é, verdadeiramente, uma pequena cidade299.
Houve várias tentativas para levar à prática o plano de Fourier: em França, 1832, por iniciativa de
B. Dulary no Condé-sur-Vesgre, que falhou devido à insuficiência de capitais; na Rússia, na Argélia,
na Nova Caledónia e, sobretudo, na América, onde se fundaram 41 comunidades experimentais; estas
iniciativas, todavia, por causas várias, não tiveram grande sucesso. – Assim, compreende-se que a
cidade passe a ser vista como um cancro e que as primeiras propostas dos utopistas sejam marcadas
pela fuga à cidade e às suas formas de organização física e social, como se verá.
Jean B. Godin (1817-89), industrial metalúrgico, teve a iniciativa mais frutuosa derivada das teorias
de Fourier, sendo construída, junto à sua oficina metalúrgica em Guize, uma unidade residencial, de
escala considerável, com o nome de Familistère. Na obra Solutions Sociales300, 1871, Godin expõe as
suas teorias, menos especulativas que as de Fourier; uma das suas prescrições é antecipatória da rela-
ção entre edifício e solo, tal como veio a ser definida por Le Corbusier nas suas Unité d'habitation:
A economia do solo deixa livre em torno ao Familistério um grande espaço arranjado para parque, de quase
20 acres [cerca de 8 ha]… Cada alojamento possui janelas que se abrem sobre o parque, tanto à frente como
atrás e dos lados... na medida em que não há qualquer edifício fronteiro ao Familistério, não há vizinhos
curiosos a olhar pelas janelas, abertas ou fechadas. Numa bela noite de Verão, cada habitante apenas tem
de fechar a porta que abre para o grande hall, e pode desfrutar do seu cachimbo ou um livro defronte da
janela aberta sem ser observado, como se fosse proprietário duma vivenda isolada no seu terreno301.
As preocupações com a educação levam a um elaborado sistema escolar destinado a formar os jovens
da pré-infância à idade de começar a trabalhar; nele já se observa a progressão em fases diferencia-
das: ninho, creche, jardim-escola, ciclo, secundário, superior e estágio (quase tantas fases e procedi-
mentos como na produção metalúrgica desde a teorização smithiana da organização do trabalho por
298 Fourier, ob. cit. (1822), p. 563-564. 299 Fourier, ob. cit. (1822), cit. p/ Benevolo, L., Le origini dell’urbanistica moderna, Roma-Bari, 1963 (ed.
portuguesa, As Origens da Urbanística Moderna, trad. de C. Jardim e E. L. Nogueira, Lisboa, 1981, p. 68. 300 Godin J. B., Solutions Sociales, Paris-Bruxelles, 1871 301 Godin, ob. cit. (1871), cit. p/ Benevolo, ob. cit. (1963, ed. port. 1981), p. 74.
71
divisão e especialização de tarefas302 – qual prenúncio de taylorismo303). No total das suas intenções e
resultados urbanísticos, o familistério de Godin, foi uma obra bem conseguida, com reflexos em toda
uma série de tipologias habitacionais no Séc. XIX e XX chegando, metamorfoseado, à modernidade.
Robert Owen (1771-1858), começando como operário chega a industrial; homem ilustrado e com
preocupações filantrópicas dirigidas àqueles em cuja classe tivera origens, no fim das guerras com
Napoleão, perante a crise de desemprego que se seguiu, e como meio de lhe fazer frente, em Report to
the Country of Lanark304, 1821, apresenta um plano de comunidade ideal, baseada no trabalho manual
agrícola e industrial com carácter comunitário, tipo cooperativista, que inclui uma componente urba-
nística. Esse plano pode-se considerar o primeiro plano urbanístico moderno, indo dos pressupostos
estratégicos de carácter social e político, à organização da economia, disposição no território, disposi-
ção e caracterização arquitectónica, organização escolar, actividades das mulheres e jovens, orçamen-
to e programa de engenharia financeira. O dispositivo urbanístico-arquitectónico é descrito assim:
um quadrado de edifícios, suficiente para albergar 1200 pessoas, circundado por um terreno de 1000-1500
acres (403-605 hectares). Dentro do quadrado estão situados os edifícios públicos, divididos em sectores305.
Nesse quadrado três dos lados eram para habitação, o quarto reservado às crianças com mais de três
anos, idade a partir da qual frequentariam a escola, e tomariam as refeições e dormiriam em comum.
De acordo com o primado oitocentista de realizar na prática as teorias, Owen comprou em 1825 o
território de Harmony no Estado de Indiana; nos anos seguintes, com a colaboração do arquitecto
T. S. Whitwell, foi construída a comunidade de New Harmony. Pela descrição que Whitwell faz do
projecto, e através dos desenhos, tratar-se-ia duma estrutura maciça, compacta, de escala monumen-
tal, organizada num enorme paralelogramo, com as habitações nos corpos periféricos e equipamentos
no centro, avançando sobre o páteo; quatro enormes chaminés marcavam o conjunto; o estilo arqui-
tectónico dominante é neogótico, mas com sugestões de formas industriais: pavilhões alinhados em
banda. Esta descrição é contrariada pela que fez um visitante em 1826, Bernhard, duque de Saxónia-
Weimar Eisenbach, que em Travels through North America306, 1828, a descreve nestes termos:
The whole should bear a resemblance to a park, in wich the separate houses should be scattered about307.
Mas estrutura arquitectónica monumental ou conjunto de casas disseminadas por um parque, parece
certo que o projecto se interrompeu passados três anos, 1828, vendendo Owen a propriedade e regres-
sando arruinado a Inglaterra. Aí, junto da classe operária e das suas organizações sindicais, de cria-
ção recente, continuou as suas actividades de reformador social, orientadas para o cooperativismo.
302 Smith, A., An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, London, 1776, I, 1-3, p. 10-24, 303 Taylor, F. W., The Principles of Scientific Management, New York, 1913. 304 Owen, R., Report to the Country of Lanark, London, 1821. 305 Owen, ob. cit. (1821), p. 28 (trad. de Simões Ferreira). 306 Bernard, K., Travels through North America during the years 1825 and 1826, Philadelphia, 1828, 2 vols.. 307 Bernard, ob. cit. (1828), Vol. 1, p. 109.
72
No total das propostas, nos aspectos mais comuns, verifica-se que nas teorias dos socialistas utópi-
cos, nome com que Marx e Engels os brindaram, se puseram problemas e ensaiaram soluções que
passaram a fazer parte dos recursos modélico-referenciais do Movimento Moderno:
1) planificação global abrangendo aspectos sociais, económicos, políticos, etc.;
2) oposição cidade-campo e tentativa de superação desta contraditória oposição;
3) desenho unitário coordenador de todos os aspectos urbanístico-arquitectónicos
Além destas linhas gerais é demasiado semelhante a ideia do Falanstério, até no dimensionamento
populacional, com as unités d’habitation de Le Corbusier, para que se possa pensar ser mera coin-
cidência. Quanto à ideia de um acre de terreno para cada habitante é a que aparece na Broadacre
City de Wright. Sintetizando, pode-se dizer que as tentativas de Owen, Fourier e Godin apontam para
o reordenamento da cidade e do campo, de acordo com uma nova organização social, económica e
política. É ponto assente, entre os estudiosos, que o dispositivo arquitectónico com que tentaram
materializar as ideias, se inspira no Panopticon308, de Jeremy Bentham, sócio de Owen, em New
Lanark, a partir de 1813. O princípio base do panopticon era a vigilância contínua a partir de uma
torre central para a estrutura arquitectónica, aberta e transparente, disposta à sua volta, modelo de
várias prisões no Séc. XIX. – Tudo vigiar, controlar, organizar, são lemas comuns ao urbanismo
dos utopistas e aos dispositivos arquitectónicos inspirados em Bentham, embora as questões sociais
com que estas ideias ou ideologias estão relacionadas não sejam de menosprezar.
Princípio(s) do Urbanismo com Ildefonso Cerdá e La Ciudad Lineal de Soria y Mata: Com estes
autores volta-se ao Mediterrâneo e à consideração das teorias arquitectónicas e urbanísticas aqui
produzidas, embora a globalização cultural iniciada pelo Iluminismo (Ilustración em Espanha), com
o combate generalizado aos preconceitos, tenha esbatido consideravelmente as diferenças regionais.
A Espanha, abalada pela perda do seu império colonial e as guerras carlistas, que se prolongaram
por quase todo o Séc. XIX, entrou tarde na revolução industrial; porém, como se sabe, esta foi pre-
cedida de outras, a agrícola, a cultural e a demográfica; esta terá sido causa do surto de expansão
urbana na Espanha de Oitocentos. Barcelona foi zona pioneira nesse surto, começado em 1830, e
incrementado a partir de 1870. O seu plano de expansão, da autoria de Cerdá, remonta a 1855, o
que denota atitude previdente, como é de regra para o urbanismo. – Ildefonso Cerdá (1816-76),
engenheiro de Barcelona, criador da palavra urbanismo, define-se, sobretudo, por uma constante
preocupação com as questões de salubridade, nomeadamente as relativas à questão da quantidade de
ar de que cada pessoa dispunha, quer na sua habitação quer na cidade. Se se pensar que a cidade
vitruviana era determinada pela escolha de loci saluberrimi e a defesa em relação aos ventos moles-
tos, vê-se que Cerdá não anda tão fora da tradição como poderá parecer.
308 Bentham, J., Panopticon; or, the Inspection-House..., Dublin, 1791.
73
Com efeito, todo o plano para Ensanche de la ciudad de Barcelona309, 1855, tal como Cerdá o
apresenta e justifica na Memoria Descriptiva, é determinado pela preocupação aerológica, embora
nos seus próprios termos se defina como atendendo a:
preceptos higienicos, las necesidades industriales, la comodidad del vecindario y el emancipar la utilidad
publica de toda ambicion particular310.
A novidade de Cerdá, que lhe confere o estatuto de criador de uma ciência, é o método formulado
para o plano, baseado na análise estatística, dados quantitativos, divisão em partes diferenciadas para
fins operativos (não se trata de zonamento funcional, mas do reconhecimento de partes diferenciadas,
implicando diferente tratamento): as suas prescrições conduzem a um tipo de cidade desdensificada,
onde o ar circularia à vontade e os novos meios de transporte também, porque à sua preocupação
aerológica soma-se, no caso da Teoria de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid311, 1861,
a preocupação com a circulação e as vias (daí viabilidad) que a deviam possibilitar. – No essencial,
a sua visão urbanística consiste no conjunto de prescrições seguintes:
1) promover a salubridade, vida, bem estar, movimento; 2) melhor circulação através de novas vias;
3) dar nova fisionomia aos bairros; 4) desdensificar por ampliação e por saneamento na parte antiga;
5) beneficiar o comércio e a economia em geral; 6) multiplicar a riqueza em favor da população,
propriedade e governo. – E tudo isto no pressuposto de que a boa administração, a justiça, a huma-
nidade, o reclamam, e não se podia deixar de o atender.
Em síntese, Cerdá antecipa várias tendências do urbanismo moderno e, em absoluto, a própria ciência
do urbanismo, termo criado por ele. Recapitulando os aspectos mais salientes, a sua obra apresenta:
1) planeamento urbanístico baseado em premissas científicas; 2) prioridade aos aspectos de salubri-
dade e vialidade; 3) salubridade e vialidade como meios ao serviço da habitabilidade; 4) conjugação
destes factores estruturais com formas clássicas, embora de outras dimensões, respondendo aos
novos pressupostos inferidos das necessidades.
Arturo Soria y Mata (1844-1920), geómetra e topógrafo, concebe e tenta realizar, a partir de 1882,
o seu plano duma cidade desdensificada, onde cada família poderia desfrutar duma moradia isolada
num lote com um bocado de terreno em volta, o que teria a vantagem de aproximar a cidade do
campo e vice-versa. E tal era possível, dados os novos meios de transporte, como o caminho-de-
ferro, que possibilitava esta forma de cidade, diferente daquela em que via a raíz de todos os graves
309 Cerdá, I., Ensanche de la ciudad de Barcelona. Memoria descriptiva, ms. 1855, publicado in AA. VV.,
Teoría de la construcción de las ciudades. Cerdà y Barcelona, Madrid, 1991, p. 51-105 (incluindo Atlas). 310 Cerdá, ob. cit. (1855), § 2, in ob. cit. (1991), p. 55. 311 Cerdá, I., Teoria de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid, ms. 1861, publicado in AA. VV.,
Teoría de la viabilidad urbana. Cerdà y Madrid, Madrid, 1991, p. 45-323.
74
problemas urbanos e sociais, porque Soria y Mata estava convencido que era na forma das cidades
de então que radicava o mal, e que a alteração da forma contribuiria à modificação das coisas.
A raíz está na forma das cidades. É aí que é preciso dar golpes. É preciso que cada família tenha a sua casa
completamente separada das outras; um pedaço de terreno, por pequeno que seja exclusivamente seu, a sua
parte do sol e do ar312.
A cidade linear seria horizontal, em contacto com a salubre e regeneradora terra. – Um dos seus
efeitos terapêuticos seria em relação ao antagonismo de classes:
Que vivam lado a lado o palácio do poderoso, adornado de magníficos jardins, e a cabana do pobre, provida
dum modesto curral [não muito higiénico, nem conveniente às narinas do rico] e enfeitada com úteis plantas
e flores perfumadas; mas que não vivam sobrepostos313.
Nestes dois pioneiros do urbanismo denota-se uma mesma preocupação com um tipo de vida mais
saudável do que a proporcionada pelas grandes cidades, mas também se denotam diferenças acentua-
das: à oposição cidade-campo, Cerdá responde levando os valores do campo, o ar, o sol, as árvores,
para a cidade, desdensificando-a e enchendo-a de jardins, mas a sua proposta permanece no essencial
urbana; Sória, embora partindo de premissas idênticas, propõe o contrário: disseminar a cidade pelo
campo ao longo de uma via-férrea e uma vala subterrânea. Se o modelo de Cerdá é vincadamente
urbano ainda, o de Sória tende para a desurbanização; se nas prescrições do catalão se encontra, antes
de mais, uma preocupação de salubridade, nas do madrilenho depara-se com um modelo ideológico,
sobretudo; em Cerdá há a intenção de reformar e ampliar a cidade em prol da habitabilidade, estando
naturalmente subjacente, e por vezes aludido, que o destinatário e usufrutuário final é o homem;
Sória, parece crer que novas formas de cidade e habitação determinariam outros funcionamentos
sociais, ideia que muita saída teria na modernidade que, de certo modo, Cerdá e Sória antecipam.
O Urbanismo da Stadtbau e a Crítica de Camillo Sitte: Após o caso pioneiro e clarividente de
Ildefonso Cerdá, os primeiros desenvolvimentos significativos da teoria urbanística surgem, sob o
nome Stadtbau (Construção da cidade), nas obras de Reinhard Baumeister, de Joseph Stübben, e de
Rudolf Eberstadt, cujas teorias são expostas em 1876, 1890, e 1907-1910:
Reinhard Baumeister (1838-1917), engenheiro, elaborou as técnicas e procedimentos do moderno
urbanismo operativo, tal como sem grandes alterações chegou aos nossos dias, baseado em valores
quantitativos e indicativos; procedimentos técnico-administrativos para realização dos planos que
seriam tarefas dos gabinetes de obras públicas e conceitos analíticos e operativos de base introdu-
312 Soria y Mata, A., Folleto Ferrocarril-tranvía de circunvalación de Madrid a Canillas, Hortaleza, Fuencar-
ral, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Pozuelo, Madrid, 1892, cit. p/ Rubio, M., La Ciudad Lineal de Arturo Soria, Madrid, 1991, p. 72; id., Ramón, F., La ideologia urbanistica, Madrid, 1974 (ed. port., Habitação, Cidade, Capitalismo. Teorias e Ideologia Urbanistica, trad. de E. Cirne e C. Queiroz, revis. de M. Amaral, Porto, 1977, p. 23-24.
313 Soria y Mata, ob. cit., (1892), cit. p/ Rubio, ob. cit. (1991), p. 73; id., Ramón, ob. cit. (1977), p. 24.
75
zidos no urbanismo; é a Baumeister que se deve imputar a formulação do conceito de Zonning
(ainda hoje vigente), no triplo sentido: funcional, social, espacial314;
Joseph Stübben (1845-1936), autor do mais amplo e articulado manual de urbanismo da época, Der
Städtebau. Handbuch der Architektur315, 1890, assume o legado anterior, da tradição aprofundando-o,
e acrescenta-lhe um tratado de estética urbana e de técnicas para a construção da cidade;
Rudolf Eberstadt (1856-1922), economista, a partir de Jena (pequena cidade do Freistaat Thürin-
gen, em cuja universidade Hegel foi professor de Filosofia), debruça-se extensamente sobre os meca-
nismos da formação dos preços nas áreas urbanas, a incidência do plano regulador nessa dinâmica e
a selecção das formas de habitação que implica; analisa o crédito imobiliário, e questões relativas,
fazendo uma análise comparativa com as experiências mais características da construção de tipo
não especulativo, abrangendo a Alemanha e países estrangeiros316. As suas observações são ainda
consideradas pertinentes e actuais pelos especialistas neste domínio; na análise dos fenómenos da
formação de preços, equacionando os factores procura de habitação e carácter das habitações,
chama a atenção para a necessidade de se alcançar uma resposta qualitativa, e não apenas quantita-
tiva, ao problema da habitação. Para obter resposta ao problema equacionado debruça-se largamente
sobre as tipologias edilícias relativas à habitação, e elabora um inventário manualístico das mesmas,
que se pode considerar como o primeiro passo que empreende a arquitectura alemã do Século XX
para uma racionalização da construção residencial (Piccinato, 1974317).
A Crítica de Camillo Sitte (1843-1903): Arquitecto, expõe suas ideias em Der Städte-Bau nach
seinen künstlerichen Grunsätzen318 (A construção de cidades segundo princípios artísticos), 1889,
em pleno contexto de construção monumental promovida pelo Poder (o Ring de Viena), reflectindo
uma atitude de crítica em relação a esse Poder e à sua arquitectura e construção de cidade, que agora
se realizava com os princípios e a técnica do urbanismo moderno, cuja pobreza de motivos e aridez
censura, por comparação com a artisticidade da cidade antiga, e começa por expor a relação entre
edifícios, monumentos e praças, debruçando-se sobretudo sobre as últimas, a que dedica metade
dos capítulos da obra, cujo objectivo é o estudo dos factores constituintes do agrado e beleza das
antigas cidades e compará-las com a desolação das novas.
314 Baumeister, R., Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung,
Berlin, 1876, 315 Stübben, J., Der Städtebau. Handbuch der Architektur, Stuttgart, 1890. 316
Eberstadt, R., Die Spekulation im neuzeitlichen Städtebau. Eine Untersuchung auf der Grundlage des städ-tischen Wohnungswesens. Zugleich eine Abwehr der gegen die systematische Wohnungsreform gerichteten Angriffe, Jena, 1907; id., Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage, Jena 1909; id., Unser Wohnungswesen und die Notwendigkeit der Schaffung eines preuszischen Wohnungsgesetzes, Jena 1910; id., zusammen mit Bruno Möhring und Richard Petersen: Groß-Berlin. Ein Programm für die Planung der neuzeitlichen Großstadt. Berlin 1910. – Estas são as principais obras, que, no total, somam 26 títulos.
317 Piccinato, G., La costruzione dell’urbanística: Germania 1871-1914, Roma, 1974, p. 63. 318 Sitte, C., Der Städte-Bau nach seinen künstlerichen Grundsätzen, Wien, 1889, 3. Aufl. 1901.
76
No desenrolar das suas considerações, Sitte vai pôr em causa os métodos do urbanismo moderno,
baseados quase só em premissas de sanidade e de circulação, e em sistemas quantitativos, abstrac-
ções e esquematismos geométricos, cujos resultados áridos, apesar da motivação aerológica, esta-
vam à vista. A este tipo de urbanismo abstracto, tendendo para uma homegeneidade indiferenciada,
incaracterística e assaz monótona, Sitte, opõe um processo de actuação por elementos primários,
praças e monumentos, ou pequenas áreas, a tratar pontualmente, que seriam despoletadores de uma
dinâmica urbana em que o resto, a habitação, viria por acarretamento.
O crescimento urbano desmesurado era de evitar, pois Sitte vê no excessivo crescimento das cidades
um impedimento para a sua construção artística. No fundo, o que opõe ao urbanismo corrente é o
que se devia considerar urban design, incidindo sobre as formas da cidade dotando-a de característi-
cas verdadeiramente urbanas, ou seja, arquitectónicas. A sua consideração da cidade antiga, embora
não desvinculada de valores pitorescos, é uma evocação poética e, de certo modo, operativa: evoca
o seu carácter poético frente à aridez do urbanismo moderno, e na consideração dos pressupostos e
intenções ou, como lhe chama, fundamentos, dos seus motivos urbanísticos e artísticos, procura
extrair princípios que pudessem refundar a Teoria e Prática do urbanismo do seu tempo, refutando
quaisquer procedimentos miméticos, a que antepõe um procedimento analógico. – Em Sitte, a cidade
histórica e a sua arte urbana não são para imitar; são uma fonte onde buscar conhecimento e inspira-
ção, a par do testemunho crítico de uma planificação urbanística [a moderna], que não vê na cidade
mais que uma máquina com um perfeito funcionamento técnico, daí a sua enorme actualidade,
como bem o viram F. Choay, 1965319, F. Ramón, 1977320, H.-W. Kruft, 1985321.
Garden City, de Ebenezer Howard (1850-1928): Militante no movimento socialista inglês, estenó-
grafo, autodidacta, a ele se deve uma das ideias de cidade que mais saída teve no Séc. XX: a Cidade-
Jardim, que começa a ser teorizada em Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform, 1898, com
nova edição e novo título, Garden Cities of Tomorrow322, 1902. As suas intenções de base são apre-
sentar uma alternativa à vida na cidade e à vida no campo:
Na verdade, não existem, como se afirma (...) só duas possibilidades – a vida na cidade e a vida no campo.
Há uma terceira solução, na qual todas as vantagens da vida mais activa na cidade e toda a beleza e as delí-
cias do campo podem estar combinadas de um modo perfeito (There are in reality not only, as is so constantly
assumed, two alternatives—town life and country life—but a third alternative, in which all the advantages of
the most energetic and active town life, with all the beauty and delight of the country323).
319 Choay, F., L’urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie, Paris, 1965, p. 320 Ramón, ob. cit. (1974, ed. port. 1977), p. 29. 321 Kruft, ob. cit. (1985, 4. Aufl. 1995), S. 367. 322 Howard, E., Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform London, 1898, com nova edição e novo título,
Garden Cities of Tomorrow, London, 1902. 323 Howard, ob. cit. (1902), p. 15.
77
A cidade e o campo eram dois imãs (magnets) que atraíam as pessoas, mas havia a possibilidade de
lhes opor um terceiro imã que conjugasse em si as forças dos outros dois. Este imã é descrito como
tendo cerca de 6000 acres de superfície.
A cidade-jardim, que deverá ser construída no centro dos 6000 acres [2418 hectares], cobre uma extensão de
1000 acres [403 hectares], ou seja, uma sexta parte do total, e pode adoptar uma forma circular, de 1240
[1132 m] jardas de raio (Garden City, which is to be built near the centre of the 6,000 acres, covers an area
of 1,000 acres, or a sixth part of the 6,000 acres, and might be of circular form,1,240 yards (or nearly three-
quarters of a mile) from centre to circumference324).
A cidade teria uma forma global circular, e seria de estrutura radial e concêntrica; no centro haveria
um jardim com cinco acres e meio [2,2 ha], e o total é assim descrito: rodeando este jardim os grandes
edifícios públicos (...) ubiquados todos eles em terrenos espaçosos e independentes; a este espaço
seguia-se um parque público de 145 acres [58 ha], envolvido por um palácio de cristal que funcio-
naria como passeio coberto e jardim de inverno; depois, cinco avenidas circulares, as alamedas, as
estradas e as ruas radiais, deixando entre si espaços onde se situavam vivendas magnificamente
construídas, ubiquada cada uma em terreno próprio. A cidade teria 30000 habitantes, ou seja, 75
hab. / ha, densidade bruta, e nos terrenos agrícolas 2000 (1 hab. / ha). Na cidade haveria 5500 vivendas
com 20 x 130 pés, sendo a superfície mínima permitida 20 x 100 pés [c. 6 x 30 m] – Este dimensio-
namento é estranho e deve-se referir a áreas de lote, o que dada a exiguidade da dimensão frontal
pressupõe moradias em banda, parecendo ser o lote gótico o elemento referencial, o que denota a
continuidade de uma cultura neogótica em Howard, cujas origens imediatas seriam Ruskin e Morris.
Mais remotamente a ideia de Cidade-Jardim denota influências da Teoria dos Jardins e das ideias
utópicas de Thomas More, Francesco Colonna, e Edward Bellamy, parecendo querer realizar na
Inglaterra uma utopia do tipo insular, looking backward325.
O modelo, em versões pouco conformes à ortodoxia de Howard, foi ensaiado um pouco por todo o
Ocidente, e também no Japão e em Hong-Kong, dando origem a várias pequenas cidades, de subúr-
bio – o que não seriam as iniciais intenções de Howard – e passou a ser um dos recursos modélicos
da prática profissional, sem sonho nem utopia.
A França de Haussmann a Hénard: Responsável pela mais importante operação urbanística levada
a cabo no Séc. XIX, G.-E. Haussmann (1809-91), em Mémoires326, 1890-93, dá testemunho das suas
ideias defendendo-se das críticas que lhe foram feitas; os seus pressupostos teóricos eram a salubri-
dade, a acessibilidade e circulação, a segurança pública; para tal era necessário implantar esgotos (e
outras redes de infraestruturas); endireitar e alargar as ruas; desdensificar o centro da cidade, a sua
324 Howard, ob. cit. (1902), p. 22. 325 Bellamy, E., Looking Backward, 2000-1887, Boston, 1889. 326 Haussmann, G.-E., Mémoires, Paris, 1890-93, ed. facsimil, Paris, 2001.
78
parte mais antiga, mas sem sacrificar monumentos ou outras obras de arte notáveis; estes pressupos-
tos envolvem a questão, ainda hoje pertinente, de até que ponto o culto da cidade antiga deverá impe-
dir a sua renovação. No centro de Paris, nesse tempo, a opção parece ter sido correcta. – Mas hoje?
Selon Alexandre Melissinos (recherche en cours, commandé par le ministére français de la Culture), la surface
aujourd’hui occupée par le tissu des centres anciens…représente 1,5 % de la totalité des surfaces urbanisés.
Avec les extensions de l’époque haussmanienne elle représente environ 3 % de la même totalité327.
Enfim, se se quizer perder mesmo este pouco que vai restando, continue-se a demolir e construir, ou
reconstruir, renovando, já que reabilitar parece não interessar aos poderes dominantes…
De Eugéne Hénard (1849-1923), arquitecto da École des Beaux-Arts, surge-nos, em 1910, Les villes
de l’avenir328, apresentada em Londres, numa série de conferências, Town Planning Conference,
mais tarde publicadas em Transactions (rev. do RIBA), 1911. As suas premissas são a respiração
(prescreve um sistema de distribuição ao domicílio de ar puro, canalizado a partir de uma ilha para-
disíaca) e a circulação arterial, o que implicaria a criação de mais parques verdes e melhores vias
de tráfego; é aqui que as suas propostas se notabilizam, através de um sistema de ruas por andares,
cada qual com a sua função. Outro aspecto é a prescrição de edifícios-torre com 500 m. de altura
nas grandes cidades que, entre outras vantagens, teriam a de servir de faróis ao tráfego aéreo, que
admite se iria intensificar. – Enfim, eram cidades do futuro, em 1910.
Cité Industrielle, de Tony Garnier: Arquitecto, diplomado pela École des Beaux-Arts, Tony
Garnier (1869-1948) desenvolve, entre 1901-17, o projecto de Une Cité Industrielle329, onde resume
e sintetiza suas experiências com a cidade antiga (trabalhara na escavação da cidade romana de
Tusculum); as ideias dos socialistas utópicos; a cidade-jardim de Howard, de cujo dimensionamento,
35.000 habitantes, se aproxima; e as torres-pontos de referências de Hénard. Por outro lado, antecipa
certas ideias e imagens dos futuristas e de Le Corbusier, além de se reflectir em toda a prática urba-
nística moderna do período de entre guerras. É também o primeiro Plano-Projecto que apresenta,
desde o de Ledoux para La Chaux, um tratamento completo indo da concepção urbanística de inser-
ção e relação com o território, ao desenho global da estrutura e forma da cidade e desenvolvimento
dos elementos edificados constituintes: barragem, altos fornos, fábrica, porto fluvial, edifícios públi-
cos, centro cívico, escolas, edifícios de habitação, etc. Não estão previstos, por intencional exclusão,
quartéis, prisões, esquadras, tribunais e bordéis, porque na sua visão da cidade do futuro tal era dis-
pensável (é de lembrar que, quer em Filarete, 1461-64, quer em Ledoux, 1804, os bordéis estavam
previstos, embora com outro nome – enfim, havia menos puritanismo). No total, a cité industrielle é
327
Choay, F., «L’architecture d’aujourd’hui au miroir du De re aedificatoria», in Albertiana 1, 1998, p. 11, n. 11. 328 Hénard, E., Les villes de l’avenir, apresentada em Londres, numa série de conferências mais tarde publi-
cadas como Town Planning Conference, in Transactions (rev. do RIBA), 1911, p. 345-367 (vers. bilingue). 329 Garnier, T., Une Cité Industrielle. Étude pour la construction des villes, Paris, 1917.
79
uma caracteristíca proposta de cidade-sociedade ideal, o que a coloca no domínio das utopias, tam-
bém com um pé no das tecnoutopias, dada a sua vertente de homenagem à técnica moderna. A propos-
ta de Garnier contempla a localização e inserção no território, os acessos, a forma geral, a divisão
em sectores ou zonas, o traçado urbano ou sistema viário, os edifícios públicos, as áreas de residên-
cia e edifícios privados, etc., tudo tratado como um projecto de arquitectura detalhado, incluindo
especificação dos principais materiais que seriam o cimento e o betão armado. Nas considerações
sobre arquitectura, Garnier refere-se às formas desta como derivadas dos materiais e técnicas de
construção, tal como a cidade seria consequência dos meios materiais de produção; daí a sua pro-
posta de Cidade Industrial, pois que ao tempo, era a indústria que motivava a expansão urbana e
determinaria a criação de novas cidades. Na proposta de Garnier cruzam-se duas ideias de cidade:
cidade-jardim e cidade de traçado geométrico com ruas e quarteirões bem definidos: no centro, os
principais edifícios públicos, distinguindo-se como tal. – No total, é de avaliar a cité industrielle de
Garnier como uma proposta inserida na tradição urbana ocidental, e aberta às solicitações e neces-
sidades do tempo: se a arquitectura devia reflectir os novos materiais e técnicas de construção, a
cidade deveria reflectir os novos meios de produção, novos meios de transporte, novos cuidados com
a higiene e saúde, e a nova sociedade, produzida pelo trabalho e os trabalhadores. É, assim, a cité
industrielle, uma proposta de cidade que articula o presente com o passado, apontando para o futuro.
A Cidade dos Futuristas: O Manifesto del Futurismo330, publicado em Paris, 1909, nas páginas de
Le Figaro, teve rápida, ampla e controversa recepção em toda a Europa. Faz parte duma fenomeno-
logia cultural que, quase em simultâneo, produziu o cubismo, com Picasso e Braque, 1907; a música
atonal de Schönberg, 1908; o ornato é delito de Loos, 1909; e, antecedendo-os a todos, a teoria da
relatividade de Einstein, em 1905. Na galáxia de Gutenberg, em menos de uma década, as rotativas
começaram a girar com um novo ritmo imposto pelo impacto destes fenómenos na opinião pública
e na consciência cultural: Relatividade, Cubismo, Modernismo, Atonalismo, Futurismo, tudo apon-
tava na mesma direcção e sentido: criação de um mundo novo (new World / neue Welt) e, em alguns
casos, como o Futurismo, rejeição total do mundo antigo, agora considerado como um passado velho,
caduco e impróprio. O texto do manifesto futurista é uma elegia apologética da técnica, da máquina,
da velocidade, do ritmo, da agressividade, da violência (a guerra é a sola igiene del mondo331), a par
do culto das massas e multidões, frenesim urbano, patriotismo exaltado, militarismo; proclama-se a
destruição dos museus, os cemitérios, as bibliotecas, as academias (calvarii di sogni crocifissi) e,
sem compaixão, o derrube das cidades veneradas. Estas ideias começam a manifestar-se em 1914,
através de E. Prampolini, U. Boccioni, V. Marchi, e V. Fani332; Antonio Sant'Elia (1888-1916) em
330
Marinetti, «Manifesto del Futurismo», in Le Figaro, 20 Feb. 1909; id., in Hulten, ob. cit. (1986), p. 511-512. 331 Marinetti, «ob. cit.», in ob. cit. (1909); id., in Hulten, ob. cit. (1986), p. 512. 332 Ver, Hulten, P. (a cura), Futurismo & Futurismi, Dizionário del Futurismo, Milano, 1986, p. 409-638.
80
Architettura Futurista. Manifesto333, 1914, também assinado por Marinetti, considera as cidades anti-
gas incompatíveis com a vida moderna, e propõe uma nova cidade e arquitectura que determinaria:
nuove forme, nuove linee, una nuova armonia di profili e di volumi, un’architettura che abbia la sua ragione
d’essere solo nelle condizioni speciali della vita moderna, e la sua rispondenza come valore estetico nella
nostra sensibilitá. Questa architettura non può essere soggetta a nessuna legge di continuità storica. Deve
essere nuova come è nuovo il nostro stato d’animo334.
Assim, manifesta-se um desejo de ruptura com o passado, visando realizar no presente uma ideia
de futuro, cujas características, em termos de arquitectura, seriam:
la caducità e la transitorietà. Le case dureranno meno di noi. Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua
città. Questo costante rinnovamento del’ambiente architettonico contribuirà alla vittoria del Futurismo, che
già si afferma com Le Parole in libertà, il Dinamismo plastico, la Musica senza quadratura e l’Arte dei rumori,
e pel quale lottiamo senza tregua contro la vigliaccheria passatista335.
Enfim, com o futurismo reentra a Itália no caminho do pensamento e produção cultural de van-
guarda na Europa e no Ocidente, daí o carácter retumbante de certas afirmações. Das prescrições
arquitectónicas e urbanísticas do texto de Antonio Sant'Elia se pode dizer que antecipam as principais
tendências que se iriam seguir no Movimento Moderno. – Há, ainda, a considerar que, com os futu-
ristas, a Teoria da Arquitectura apresenta-se sob uma nova forma: a dos Manifestos, que bastantes
seguidores teria, como se verá já a seguir.
Urbanisme, de Le Corbusier: Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), Le Corbusier, a partir
de 1920, é autor da mais prolífica literatura sobre arquitectura deste século, pouco prestável a um
resumo; aqui vai-se considerar, essencialmente, a sua obra como teórico do urbanismo. Em Urba-
nisme336, 1925, a cidade é definida como un outil de travail337; dois anos antes, em Vers une archi-
tecture338, 1923, considerara a arquitectura o que estava au delà des choses utilitaires339, assim,
entre o instrumento utilitário, de trabalho, e o que está para além disso, se desenrola o pensamento
de Le Corbusier sobre a cidade e a arquitectura. Le Corbusier constata haver duas estéticas: a do
engenheiro, baseada na economia e no cálculo, que nos punha em acordo com as leis do universo
(no que ressoa a concinnitas de Alberti), e a do arquitecto que, pelo ordenamento das formas, provoca
emoções e desperta em nós o sentimento da beleza; os arquitectos, para tal, serviam-se de planos, que
continham em si a essência da sensação. Entre estas duas polaridades, uma atendendo à utilidade,
333
Sant’Elia, A., Architettura futurista. Manifesto, Milano, 11 luglio 1914, in Hulten, ob. cit. (1986), p. 419-20. 334 Sant’Elia, ob. cit. (1914), in Hulten, ob. cit. (1986), p. 419. 335 Sant’Elia, ob. cit. (1914), in Hulten, ob. cit. (1986), p. 420. 336 Le Corbusier, Urbanisme , Paris, 1925, nouv. ed. Paris 1980. 337 Le Corbusier, ob. cit. (1925, ed. 1980), p. I. 338 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, 1923. 339
Le Corbusier, ob. cit. (1923), p. XIX (na frase a seguir a esta afirmará: l’architecture est chose de plastique).
81
logo referível à utilitas, outra privilegiando a beleza, assim remetendo à venustas, estabelece Le
Corbusier as ideias sobre a cidade contemporânea, nome escolhido na sua exposição de 1922, para
se demarcar dos futuristas e para acentuar o carácter de plausível, senão mesmo de exigência das
circunstâncias do tempo, para a sua proposta, que será a base da Charte d’Athénes340, 1933. No essen-
cial, esta baseia-se numa mescla de considerações funcionais e ideias formais: separação de funções,
da circulação, do trabalho, da habitação e dos tempos livres; do ponto de vista formal, caracteriza-se
por um traçado rectilíneo de vias de tráfego (nada de ruas, qu'il faut tuer), um grande tapete verde,
torres de 60 pisos no centro, e blocos em rédent (ideia que foi buscar a Hénard) na zona habitacio-
nal circundante ao centro; na periferia, para alojamento dos trabalhadores industriais, a cidade-
jardim. A cidade era fortemente zonificada também em termos sociais: o centro de comando da
nação, zona central da cidade, onde estariam instaladas as principais actividades administrativas e
de serviços, bem como a zona habitacional contígua e envolvente, ficavam isoladas do resto da
cidade e teriam configuração arquitectónica bastante diferente; para as periferias eram remetidos
os trabalhadores industriais e de outras actividades, havendo grandes espaços verdes a separar estas
zonas. O centro antigo de Paris teria de ser derrubado, ficando apenas alguns monumentos notáveis
imersos no grande tapete verde, a partir do qual se erguiam os arranha-céus, e em pontas, isto é, em
pilotis. Esta cidade é justificada por razões que se prendem com as exigências do tempo, pelo seu
carácter racional e orgânico (assim, jogando numa dupla) que, no final do livro, chega a comparar
com orgãos do corpo humano (orgãos precisos, caracterizados) e, também como maneira de evitar
a revolução, o que fora já colocado em Vers une architecture.
Em Les trois établissements humains341, 1945, partindo do que chama as três funções básicas de
alimentar, fabricar, trocar, prescreve um sistema que abarcaria o conjunto das actividades decorren-
tes dessas três funções básicas: a agrícola, a industrial e a das trocas comerciais-culturais, todas a ser
integradas num sistema que as conectaria, aumentando o seu rendimento e eficiência, e superaria a
oposição campo-cidade. No conjunto, o método urbanístico de Le Corbusier, como o apresenta em
Maniere de penser l’urbanisme342, 1946, consta de duas fases: Análise e Propostas, caracterizadas
por: Análise: 1) cidade como instrumento de trabalho e residência não organizado racionalmente;
2) cidade como centro do poder (administrativo, cultural, simbólico) não ordenado; 3) cidade como
estrutura de limites indefinidos e dimensões excessivas; 4) cidade como estrutura dividida em funções
(zonificada); 5) cidade como conjunto de ruas e de edifícios; 6) cidade como estrutura anquilosada,
anacrónica a pedir reforma urgente. Propostas: 1) cidade organizada racionalmente nas funções: tra-
balho, residência, poder; 2) cidade estruturada, de limites definidos, articulada com outras unidades
340 Le Corbusier, La Charte d’ Athénes, 1933, publicada pela 1.ª vez, avec un Discours Liminaire de Jean
Girardoux, Paris, 1938, e depois, na forma que veio a ser ne varietur, Paris, 1942. 341 Le Corbusier, Les trois établissements humains, Paris, 1945. 342 Le Corbusier, Maniere de penser l’urbanisme, Paris, 1946.
82
(cidade linear industrial, cidade-jardim horizontal, centros rurais); 3) id., estruturada em zonas fun-
cionais e sociais; 4) id., estruturada em vias de circulação especializadas, unidades de habitação,
unidades de trabalho, unidades de lazer, etc., disseminadas sobre um tapete verde. – No total, e
atendendo essencialmente aos aspectos teóricos do seu pensamento, a teoria da cidade e da arqui-
tectura de Le Corbusier é predominantemente estética, produto de uma atitude esteticista inspirada
nas artes plásticas, que se revela quando enumerando as condições subjectivas ou causas que pro-
cedam do espiritual, refere a renovação estética levada a efeito nas artes plásticas no decurso do
primeiro ciclo da era maquinista. Depois, o apelo constante à ordonnance e geometria, e a sua ac-
tividade como pintor na corrente do purismo, de que foi criador e mentor. Desiludam-se os que
vêm na sua cidade e na sua arquitectura o primado da função ou da técnica, ou da ética de uma
consciência cívico-política. Sabe-se que a todos, desde soviéticos a Vichy e Mussolini, tentou servir:
De resto, a sua atitude política fica bem esclarecida pela disjuntiva com que encerra Urbanisme:
On ne révolutione pas en révolutionnant. On révolutionne en solutionnant343.
Broadacre City, de F. L. Wright: Frank Lloyd Wright (1867-1959), começou a trabalhar muito
jovem no atelier de Adler e Sullivan, em Chicago, depressa se notabilizando em projectos de mora-
dias. Aliás, são projectos de moradias a maioria da sua obra e a tipologia de habitação que previa no
projecto de Broadacre City, elaborado a partir de 1931, e dado a conhecer, sob a forma de desenhos e
maqueta, numa esposição no Rockfeller Center em New York, 1935. A maqueta tinha dimensões de
3,65m x 3,65m, ou 365cm x 365cm, o que não devia ser ocasional, dada a similitude com o número
de dias do ano. Resumidamente, a Broadacre City (cidade do largo ou extenso acre, que é uma medi-
da de superfície agrária com 4.047 m2) consiste num aglomerado em que cada família dispunha de
um lote de terreno com a dimensão de um acre, onde construíria o seu lar em forma de moradia. A
cidade dispõe-se num espaço rectangular, com as escolas no centro e na periferia vários tipos de
equipamentos: concelho e administração, aeroportos, desportos, escritórios, estádio, hotel, hospital,
pequena indústria, pequenas quintas, parque, hotel, indústria, armazéns de mercadorias, caminhos de
ferro, hortas, igreja, cemitério, laboratórios de investigação, e até um jardim zoológico. O traçado viá-
rio é ortogonal mas segundo um esquema não rígido, algo informal. No total, organiza-se numa área
de 4 milhas quadradas (c. 10,35 Km2), e com uma população de 1.400 famílias ou 7.000 pessoas. As
ideias teóricas subjacentes a esta proposta de cidade foram expostas em vários livros e artigos, desi-
gnadamente, The Disappearing City344, 1932; «Broadacre City: A New Community Plan»345, 1935;
Broadacre City: An Autobiography346, 1944; «The Living City», in When Democracy Builds347, 1945.
343 Le Corbusier, ob. cit. (1924, ed. 1980), p. 284 344 Wright, F. L., The Disappearing City, New York, 1932. 345 Wright, F. L., «Broadacre City: A New Community Plan», in The Architectural Record, April 1935, p.
243-254. – Apresenta desenhos e sete fotografias. 346 Wright, F. L., Broadacre City: An Autobiography, Taliesin, 1944.
83
Wright parte do princípio que a cidade actual não servia para viver, mas apenas para trabalhar três a
quatro dias por semana, porque não era justo que o trabalho despersonalizado, ainda que necessário,
ocupasse mais tempo ao cidadão; na Broadacre City, com o seu largo acre (4.047 m2), ele tinha
uma maneira de se realizar em termos personalizados, trabalhando naquilo que era seu, cuidando
das suas coisas. Este é o aspecto essencial da motivação de Wright, para quem o apego à terra e à
propriedade não podia ser negado ao cidadão, cujo destino na cidade era viver alojado na célula
numerada dum pombal, e de que nem sequer era o numerador.
Na sua dispersão, horizontalidade e características tipológicas dominantes, moradias unifamiliares,
Broadacre City é um modelo em que ressoa a ideia de Cidade-jardim, e uma forma de habitat que
intenta reinterpretar e actualizar um tipo de povoamento próprio dos inícios dos EUA e das suas
comunidades agrárias. De certo modo, também se inspira nas formas de aldeamento e povoamento
disperso característico do Norte da Europa e Ilhas Britânicas donde são oriundos os primeiros colo-
nos dos EUA, além da filosofia subjacente, que é a ética protestante e puritana, com o seu primado
da liberdade individual e responsabilidade respectiva, apelando à autonomia e à independência do
cidadão frente aos poderes externos, como a cidade-colmeia ou pombal, e o Estado.
Na década de 60 começou entre nós o fenómeno dos loteamentos em quintinhas de 5000m2, pouco
mais dum acre, portanto. As intenções subjacentes desses loteamentos seriam análogas às dos planos
de Wright, que, como ele próprio diz, resultavam duma interpretação do que já sem ordenamento
estava a acontecer nos States: busca do campo, da terra, espaço, sol, ar e mobilidade; realização de
casa própria e ligada à terra; e sobretudo revelando uma forte rejeição da cidade contemporânea.
Outros Teóricos e suas Teorias: Unwin, Geddes, Mumford, Poëte, Hilberseimer: Para além dos
grandes modelos teóricos e ideais, senão mesmo utópicos, já observados, houve uma série doutras
formulações que, embora não tendo o mesmo impacto no debate arquitectónico e urbanístico que as
precedentes, não se deve deixar de referir na sua variedade de enfoques, desde o urbanismo de Belas-
Artes, aos enfoques geográficos, sociológicos, funcionalistas, esteticistas, etc. – Procedendo por amos-
tragem e evitando classificações rígidas vai-se tentar dar um resumo desses teóricos e suas teorias:
Raymond Unwin (1863-1940), Town Planning in Practice: An Introduction to the Art of Design-
ing Cities and Suburbs348, de 1909, enfrenta o problema da expansão das cidades propondo que os
novos bairros tenham cada um sua forma e uma imagem própria, devendo evitar-se a indefinição e
irregularidade dos subúrbios, nem cidade nem campo; foi um dos pioneiros no desenvolvimento e
intento de levar à prática a ideia de cidade-jardim.
347 Wright, F. L., «The Living City», in When Democracy Builds, 1945. 348 Unwin, R., Town Planning in Practice: An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs , Lon-
don, 1909, reeds. sucessivas, não contando com as “printed on demand”, que são de fraca qualidade.
84
Patrick Geddes (1854-1932), Civics as Applied Sociology349, 1904, dá primazia à sociologia urbana
(Civics), a que se devia somar a geografia e a história na consideração dos fenómenos urbanos. Ao
enfoque utópico, com sua capacidade de imaginar e idealizar, Geddes opõe um enfoque científico, de
previsão das alterações que possam ocorrer no organismo urbano, por influência do habitat (facto-
res geográficos), ou por mutações genéticas (factores históricos), querendo indicar que o futuro, ou
evolução previsível, cientificamente, está condicionado por esses factores.
Marcel Poëte (1866-1950), historiador, em Introduction a l’urbanisme350, 1929, propõe um método
empírico baseado na observação e reflexão dos fenómenos urbanos, criando o conceito de factos urba-
nos; outro dos seus conceitos chave é o de a cidade obedecer sempre a um plano, de traçado regular
ou irregular, consciente ou inconsciente; o plano é parte essencial do carácter da cidade e condiciona
o seu desenvolvimento nunca devendo ser ignorado em quaisquer intervenções projectuais.
Lewis Mumford (1895-1990), sociólogo e escritor multifacetado, parte das posturas de Geddes, con-
siderando que as cidades são um produto da terra e as cidades são um produto do tempo, desenvolve
um tipo de indagação histórica sobre a natureza da cidade que leva a considerá-la, em paralelo, um
facto natural e uma consciente obra de arte... talvez a maior obra de arte do homem351.
Ludwig Hilberseimer (1885-1967), arquitecto, em Groszstadtarchitektur352, 1927, singulariza-se
por dar prioridade à arquitectura no estudo das grandes cidades, e considerar a tipologia da edificação
fundamental nesse estudo, pois era determinante da planta da cidade, ou seja, da morfologia urbana.
A persistência da Arte Urbana ou a tradição de Beaux-Arts: A Exposição de 1975, em New York,
The Architecture of the École des Beaux-Arts353, revelou que afinal os mestres do Movimento Moder-
no, quase todos, tinham o seu quê afim aos métodos compositivos das Belas-Artes, além de eviden-
ciar outra coisa: Foi o sistema e linguagem das Belas-Artes, que predominou na configuração ou
reconfiguração da maioria das cidades ocidentais e naquelas para as quais o Ocidente, então potência
colonizadora, desenvolveu estratégias de ampliação ou reconfiguração. Afinal, o modernismo, quase
só tivera impacto nos subúrbios fabris ou residenciais, e mesmo aí, numa escala modesta em termos
quantitativos. Não obstante todo o impacto e retumbância do Movimento Moderno na comunicação
social e no debate teórico, a cidade europeia e ocidental, no que tem de mais característico, identi-
ficador e aceite consensualmente, devia-se ao trabalho dessas formigas laboriosas que ao canto das
cigarras do Movimento Moderno tinham feito orelhas moucas. A obra de Werner Hegemann
(1881-1936) e Elbert Peets (1886-1968), American Vitruvius: An Architects Handbook of Civic
349 Geddes, P., Civics as Applied Sociology, London, 1904. 350 Poëte, M., Introduction a l’urbanisme, Paris, 1929. 351 Mumford, L., The Culture of Cities, New York, 1938. 352 Hilberseimer, L., Groszstadtarchitektur, Stuttgart, 1927. 353 Drexler, A. (ed.), The Architecture of the École des Beaux-Arts, New York, 1975.
85
Art354, 1922, é o mais consistente manual dessa tradição, assumida como vitruviana: trata-se de um
Manual de Desenho Urbano nascido dos princípios da idade clássica, porém totalmente implicado
nos problemas da cidade moderna, e representa uma maneira de entender como desde a arquitec-
tura e seus métodos (...)se afrontaram os problemas da cidade sem abocar-se necessariamente à
negação da forma e à liquidação de todo o princípio construtivo na organização da cidade355.
Urban Planning e Urban Design: O Planeamento Urbano, na sua moderna concepção e prática,
Urban Planning, segundo a designação anglo-americana que o tornou conhecido em todo o mundo,
consiste numa série de procedimentos tendentes ao controle do uso dos solos urbanos e semi-
urbanos, visando regular a sua transformação, segundo um enfoque em que predominam os inte-
resses políticos e económicos, considerados de um modo quantitativo e estatístico, que leva ao me-
nosprezo pelos aspectos qualitativos das formas urbanas. Do Urban Planning pode-se dizer que
não se preocupa com a construção da cidade, mas essencialmente com a gestão política e económi-
ca dessa construção, através de dispositivos administrativos e burocráticos altamente complexos.
Talvez para se opor ao vazio formal, inóspito, que resulta das operações urbanísticas do Urban
Planning, desenvolveu-se o Urban Design, cujo intuito base é colmatar os resultados deficientes do
Urban Planning, ou como o define Edward Relph, em An Introduction to Urban Design, 1982, e
The Modern Urban Landscape, 1987:
Urban Design é um ramo do planeamento urbanístico que se empenha em dar o sentido de um design visual
ao crescimento e conservação urbanos356.
Urban Design dá valor à coerência do panorama da cidade, incluindo as zonas históricas, às relações entre
edifícios antigos e novos, às formas dos espaços e aos pequenos melhoramentos nas ruas – por exemplo,
passeios largos, bancos, mobiliário de rua atraente, esplanadas, árvores e ajardinamentos357.
O percurso do(s) princípio(s) do urbanismo, nos Sécs. XIX e XX, desde as utopias de Fourier, Owen
e Godin, passando pelos arrojados planos de Le Corbusier e Wright, até chegar ao Urban Planning
e seu complementar Urban Design, revela profunda e radical transformação nas suas premissas e
objectivos, susceptíveis de várias interpretações, mas em que se avulta a da desistência da construção,
ou melhor, da edificação da cidade, vista agora como objecto a ser gerido, mais que edificado. Enfim,
como é próprio de sociedades conservadoras, que deixaram de apostar na sua transformação, apos-
tando quase somente na sua gestão e manutenção. – E, para concluir esta exposição, vai-se mostrar
imagens de alguns dos resultados urbanísticos conexionados com os princípios do urbanismo.
354 Hegemann, W., e Elbert Peets, E., American Vitruvius: An Architects Handbook of Civic Art, 1922. 355 Solá-Morales, I., «Werner Hegemann y el Arte Civico», in Hegemann, W., y Peets, E., El Vitrubio Ameri-
cano. Manual de Arte Civil para el Arquitecto, trad. por S. Castán, Barcelona, 1992, pág. não num. 356 Barnett, J., An Introduction to Urban Design, New York, 1982, p. 12 (trad. de Simões Ferreira). 357 Relph, E., The Modern Urban Landscape, Toronto, 1987 (ed. portuguesa, A Paisagem Urbana Moderna,
trad. de A. McDonald de Carvalho, Lisboa, 1990, p. ).
86
Fourier, Phalanstère ou Palais Sociétaire dédié à l’humanité, 1822, e Le Corbusier, Une ville contemporaine, 1824.
Godin, Familistère, c. 1870, exterior e páteo interior coberto.
Cerdá, Plano para Barcelona, 1855; Soria y Mata, La Ciudad Lineal, 1882; a Paris, de Haussmann
87
6. Dos Protomodernistas e Movimento Moderno ao International Style: Loos, Behrens, Perret;
Werkbund de Muthesius; Neoplasticismo / De Stijl; Expressionismo / Organicismo: Scheerbart,
Häring, B. Taut, Mendelsohn; Bauhaus / Construtivismo / Racionalismo / Funcionalismo: Gro-
pius, Meyer, Mies; O Caso Le Corbusier; O International Style
Os Protomodernistas: Loos, Behrens, Perret: No seio duma cultura arquitectónica que se compra-
zia, na passagem do Séc. XIX para o Séc. XX, no esteticismo de futuro comprometido da Arte Nova,
ou do que ia sobejando dos estilos históricos, interpretados cada vez mais eclecticamente e já quase
sem suporte teórico aceitável, irrompem, nos alvores do Séc. XX, Adolf Loos, Peter Behrens e Augus-
te Perret, cujas obras, teóricas e práticas, reinterpretam de novo a arte de construir, o que acaba levan-
do à instauração do Movimento Moderno.
Adolf Loos (1870-1933) deixou uma obra escrita prolixa, dispersa por jornais e revistas em que
predomina um enfoque crítico de tom polémico; a crítica é dirigida contra o Eclectismo baseado na
imitação dos estilos do passado e contra o desvio esteticista da Sezession, versão austríaca da Arte
Nova, que considera pseudo-moderna. Para Loos a arquitectura fazia parte dum fenómeno cultural
que abarcava a totalidade dos aspectos da vida e começava no princípio de revestimento, expressão
corporal do homem e sua espacialização para defesa e protecção em relação ao meio ambiente. As-
sim, a arquitectura era determinada pela necessidade que não se compadecia com o supérfluo do
ornato, considerando Adolf Loos, em Ornament und Verbrechen358, de 1908, que o ornato é delito;
a arquitectura é expressão da cultura, mas a cultura ocidental há muito que dispensara os ornatos,
principalmente novos ornatos, que já não era capaz de criar. A forma deveria ser expressão do ma-
terial e do uso a que o edifício se destinava, tendo em atenção o efeito que devia produzir – assu-
mindo a noção do carácter ou decoro –, e desenvolvendo uma perspectiva do sentido icónico da
arquitectura, tendo de clarificar-se a linguagem da arquitectura; para tal, Loos serve-se de três re-
cursos: 1) a análise das formas e processos de trabalho dos artifícies (os alfaiates, sapateiros, mar-
ceneiros, etc); 2) a consideração das novas exigências de conforto, higiene e sociabilidade; 3) a re-
con-sideração da herança clássica da nossa cultura que reconhece como a vara de medir fixa e
invariável, que se podia aplicar na actualidade e servirá também no futuro. O resultado desta con-
jugação é orientado para repensar a tradição, ou seja, a maneira como sempre se construíra, de
acordo com as necessidades, as finalidades, o espírito do tempo, o lugar, etc.. Só no fim do Séc.
XIX se abandonara essa tradição, derivada da Antiguidade Clássica, e que Loos entendia como a
norma avaliadora, que mudava com o tempo, as circunstâncias e lugar, mas lenta e naturalmente,
sem a capciosidade intencional e forçada dos que se pretendiam criadores individuais, num domínio
que era iminentemente colectivo, da comunidade: a casa, o monumento, a cidade. 358
Loos, A., «Ornament und Verbrechen», 1908 (ed. esp., «Ornamento y delito», in Escritos I, 1897-1909, al cuidado de A. Opel y J. Quetglas, trad. de A. Estévez, J. Quetglas, M. Vila, Madrid, 1993, p. 346-355).
88
Peter Behrens (1868-1940): A partir dos conceitos de Kunstwollen (vontade de arte ou intenciona-
lidade artística) e de Zeitgeist (espírito do tempo), define a arquitectura como encarnação rítmica
[espacio-temporal] do espírito do tempo (rhytmische Verkörperung des Zeitgeistes359); o ritmo, ou
arte, no sentido da expressão formal derivada da Kunstwollen, é visto como expressão do Zeitgeist,
derivados ambos da classe dominante no Poder em qualquer época considerada. A esta polaridade
contrapunha-se a do Volkgeist e Heimatkunst, um fundo permanente, constante, mais influenciado por
normas (tipos) do que por formas (expressões individuais, temporárias); nesta dualidade, onde ressoa
a nietzscheana oposição entre apolíneo e dionisíaco, define-se a visão da arquitectura de Behrens,
como uma tentativa de síntese entre forças contrárias, que a arte deveria fazer confluir, e que na
arquitectura teria especial sentido resolutivo na Monumentale Kunst; esta, não derivaria tanto da
técnica e materiais, tese de Gottfried Semper, mas, em consonância com Alois Riegl, de uma
intencional vontade de arte, ou seja, de forma; a arte seria pois o reino da excepção mais que da
regra, ou mais da forma que da norma. – Com esta postura, dando primazia à forma sobre a norma,
Behrens acaba por abrir o caminho aos que se lhe seguiram no Movimento Moderno, com todos os
seus ismos, e culto da forma, senão mesmo do formalismo.
Auguste Perret (1874-1954), a sua obra Contribution à une théorie de l’architecture360, 1952, epílo-
go duma carreira voltada para a prática, reflecte as visões de Viollet-le-Duc, Choisy e Guadet, da
arquitectura derivada dos sistemas de construção, mas sendo algo mais do que mera construção,
requerendo harmonia, proporção e escala. A arquitectura reflectia como condições permanentes as
leis da natureza relativas à estática, propriedades dos materiais, impressões ópticas (significations
universelles et eternelles de certains lignes361), e, como condições temporais, a função prática ligada
ao uso. A construção era para a arquitectura o que o esqueleto é para o corpo de um animal, pois
constava duma estrutura (ossature) e planos de enchimento (remplissage), devendo dispensar-se a
ornamentação, assumindo os próprios elementos de construção as funções do ornamento; daqui
resulta o uso do betão, não apenas como material construtivo, mas também como elemento arqui-
tectónico, esteticamente expressivo. De resto, estas posições teóricas, são análogas do que ensaiou
na prática desde as suas primeiras obras, prédio na Rua Franklin, Paris, 1903-04, ou garagem na
Rua Ponthieu, Paris, 1905, sendo a promoção do betão a elemento arquitectónico, com valor estético
– première tentative (au monde) de béton armé esthétique –, uma constante da sua actividade como
projectista, construtor e teórico, podendo dizer-se que a arquitectura do betão, a Perret deve a origem
e fundamentação teórica, isto não descurando o pioneirismo da estrutura de betão armado da Igreja
de Saint-Jean em Montmartre, de Anatole de Baudot, erigida entre 1894-1904.
359 Behrens, P., «Einfluss von Zeit und Raumausnutzung auf moderne Formenentwiklung», in Jahrbuch des
Deutschen Werkbundes 1914, S. 8. 360 Perret, A., Contribution à une théorie de l’architecture, Paris, 1952. 361 Perret, ob. cit. (1952), p.
89
Werkbund e Muthesius ou a Recepção da Casa Inglesa no Continente: Hermann Muthesius
(1861-1927), arquitecto, membro da embaixada da Alemanha em Londres, 1896-1903, em Das
englische Haus362, 1904-05, 3 vols., inicia a divulgação das teorias inglesas na Alemanha, relativas
à arquitectura, construção e desenho industrial. O seu intuito era modernizar as artes industriais
alemãs, que se compraziam em imitações dos estilos históricos, dando como exemplo as ideias e
realizações das Arts and Crafts, embora sem referir os seus ideais socialistas, e, ao mesmo tempo,
actualizar a arquitectura e construção das casas de habitação, funcionais e cómodas, mas simples,
despojadas, parcimoniosas, adequadas ao ideal da nova classe média alemã. As ideias de Muthesius
levam à fundação do Deutsche Werkbunds, 1907, associação de arquitectos, artistas e industriais,
patrocinada pelo Estado, que visava modernizar a arquitectura e a produção de objectos utilitários,
desde as almofadas do sofá à construção de cidades (Vom Sofakissen zum Städtebau). O Deutsche
Werkbund, desde o princípio, defendeu a mecanização da produção industrial e sua normalização,
através da tipificação (Typisierung) e adopção das normas Din, o que levou personalidades, como
Van de Velde, a questionar esses pressupostos, que interfeririam na liberdade de criação do artista,
o que acaba por levar à criação da Bauhaus, em 1919.
Movimento Moderno: Tempo de Vanguardas e Ismos: Do fulgor e racionalidade dos protomo-
dernistas, que se dissipa com o ribombar do canhoneio da guerra de 14-18, no espaço de tempo
compreendido entre as duas guerras, vai-se assistir a um período dos de maior produção cultural do
Ocidente. É o tempo das revoluções, regressões, expectativas e grandes desilusões; no campo da
arquitectura e sua teoria sucedem-se num ritmo galopante, Neoplasticismo, De Stijl, Construtivismo,
Expressionismo, Funcionalismo, Racionalismo, entre outras correntes de menor monta, como Cubis-
mo e Suprematismo, que só na pintura tiveram expressão significativa. A influência que a pintura
exerceu sobre a arquitectura a partir de meados do Séc. XVI, de que é expressão a mudança no título
das Vite de Vasari, operada entre 1550 e 1568, atinge neste período o apogeu. As referências dos
arquitectos do pós-guerra, sobretudo, são os movimentos pictóricos do princípio do século: Fau-
vismo e Expressionismo, 1905, Cubismo, 1907, Futurismo, 1909, Abstraccionismo, 1910-13, etc.
Neoplasticismo / De Stijl: Van Doesburg e Oud: Theo van Doesburg (1883-1931), bem como o
De Stijl, 1917, acusam a influência da teosofia de Schoenmaekers, amigo íntimo de Van Doesburg e
de Mondrian. A teosofia, intento de conciliar a teologia com a filosofia, expõe uma visão do mundo
de carácter finalista, como obedecendo a superiores desígnios divinos inscritos na natureza numa
linguagem cifrada a que só se poderia aceder através de um positiven Mistizismus, que revelava uma
plastichen Mathematik, de base pitagórico-platónica. Assim, a realidade dos sentidos, e da experi-
ência comum seria uma ilusão, que deveria ser corrigida através dessa matemática plástica e suas 362 Muthesius, H., Das englische Haus. Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, Einrichtung und Innen-
raum, Berlin, 1904-1905, 3 Bde.
90
expressões geométricas e cromáticas puras. Daqui, pretensamente, eram decorrentes os princípios
do grupo De Stijl, que reduzem a realidade sensorial à abstracção total, expressa em rígidos esque-
mas de geometria ortogonal e usando somente cores primárias. No domínio da arquitectura o espa-
ço é articulado segundo os mesmos princípios, jogos de planos justapostos e interpenetrados, orto-
gonalidade, e utilização das cores de modo afim, tendendo a considerar-se a arquitectura como
uma unidade plástica formada por todas as artes, a indústria, a técnica, donde resultaria um novo
estilo que, entre outras coisas, eliminaria a dualidade entre interior e exterior mediante a supressão
dos elementos de encerramento (paredes, etc.). As posturas de Van Doesburg, tal como surgem
formuladas num conjunto de textos, escritos ora em francês, Vers une Construction Collective363,
1923-24; ora em holandês, Tot een beeldende architectuur364, 1924, ou alemão, Grundbegriffe der
Neuen Gestaltenden Kunst365, 1925, em relação à forma são:
abolição de todo o conceito de forma no sentido de um tipo preestabelecido... em vez de utilizar e imitar os
estilos anteriores como modelos, deve-se plantar completamente de novo o problema da arquitectura366.
E essa arquitectura, totalmente repensada de novo, deveria ser:
elementar, económica, funcional, informal, não-monumental, sem factor(es) passivo(s), aberta, de aspecto
espacio-temporal plástico quatridimensional, anticúbica, não simétrica ou repetitiva, não frontal, colorida
mas não pintada, antidecorativa, e, finalmente, a arquitectura como síntese do neoplasticismo367.
Assim, consumava-se o caminho para a abstracção que iria ser marca de todo o modernismo arqui-
tectónico, sendo concebidos como:
verdadeiros meios de expressão da arquitectura [as] superfícies, massas (positivo) e espaços (negativo). O
arquitecto expressa a sua experiência estética através de relações de superfícies e massas com respeito aos
espaços interiores e ao espaço368.
J. J. P. Oud (1890-1963), um dos mais activos arquitectos do grupo, em termos práticos, o seu pen-
samento teórico é escasso, sendo o mais significativo, o que expressa em Mein Weg in De Stijl369,
1960, onde faz uma evocação, à distância, no tempo, da sua trajectória no De Stijl, exprimindo um
certo desencanto pelos resultados obtidos em termos arquitectónicos, e reflectindo sobre a conti-
nuidade das formas arquitectónicas:
Na arquitectura nunca se chegou à destruição da forma externa – ainda quando seja necessária pela mudan-
ça perpétua das circunstâncias que determinam a forma. O Renascimento construiu-se sobre o Gótico, o
363 Doesburg, Th. van, Vers une Construction Collective, Paris, 1923-24 364 Doesburg, Th. van, «Tot een beeldende architectuur», in De Stijl VI, 6/7, 1924, p. 79. 365 Doesburg, Th. van, Grundbegriffe der Neuen Gestaltenden Kunst, München, 1925. 366 Doesburg, «ob. cit.», in ob. cit. (1924), p. 79. 367 Doesburg, ob. cit. (1924), p. 79. 368 Doesburg, ob. cit. (1925), cit. p/ Kruft, ob. cit. (1985, 4. Aufl. 1995), S. 438. 369
Oud, J. J. P., Mein Weg in De Stijl, 1960 (ed. esp. Mi trayectoria en “De Stijl”, trad. Ch. Grego, Murcia, 1986.
91
Gótico sobre o Românico, o Românico sobre a arte Bizantina, etc., e o que constitui o próprio ser da arqui-
tectura: o equilíbrio entre o jogo de forças de carga e suporte [Last und Stütz, na formulação de Schope-
nhauer, 1844], tracção e compressão, acção e reacção nunca foi expresso ao largo dos séculos duma manei-
ra pura, mas sempre duma maneira velada, envolto em revestimentos fantásticos370.
Para Oud o objectivo da nova arquitectura era a busca de formas para satisfazer necessidades, e na
sua origem reconhece a influência da pintura e da escultura: o cubismo, o futurismo, o expressio-
nismo, todos os "ismos" (também o dadaísmo) aplainaram o caminho à arquitectura. Esta rapida-
mente tinha adoptado meios de expressão semelhantes aos das artes plásticas:
Linhas rectas e tensas, superfícies lisas, cor pura, relação pura, claridade atmosférica, abertura, alternância
de cheio e vazio (em arquitectura: de volume e espaço – também: de dentro e de fora, etc.); a arquitectura, tal
como a vida tinha que se libertar progressivamente do natural, convertendo-se em abstracta371.
Oud acaba resumindo os objectivos do De Stijl como animados pelo desejo de, encontrar na estética
nova, livre, uma forma para a arquitectura... por desgraça a "nova arquitectura" não chegou a ser
mais do que uma forma externa372. Talvez por isso, muito cedo, o percurso de Oud se torna diver-
gente. É acusado de cair nas curvilinidades da Einfühlung com o seu conjunto de casas em Hoek
van Holland, que Hitchcock considerou o exemplo mais belo da arquitectura moderna, e é acusado,
mais tarde, de traição, por ter recaído... na inclinação clássica pela exactidão e pela ordem estéti-
ca373, como ele próprio comenta, refutando as críticas que lhe foram dirigidas no Architectural Re-
cord, 1946, a propósito do edifício sede da Shell. E é verdade: o que ainda hoje mais avulta na obra
construída de Oud é precisamente a presença desse espírito, como diz, de exactidão e ordem. E
mais, tendo consciência que era preciso evitar o árido racionalismo das ideias e princípios univer-
sais com que os cultores do primado da ideia e da estética (ambas, ideia e estética, abstractas, des-
vinculadas da vida), pareciam querer enredar a nova arquitectura.
Expressionismo / Organicismo: Scheerbart, B. Taut, Häring, Mendelsohn: O que desde logo
revelam, como elo de ligação, Expressionismo, Organicismo e Funcionalismo organicista (para o
diferenciar do funcionalismo racionalista), é o repúdio do primado da forma abstracta, que se divisava
em certa modernidade, com a sua aridez racionalista e, assim, ligam-se a dimensões da arquitectura
que invocam a expressão em oposição à neutralidade da rigidez geométrica, a organicidade por
oposição à abstracção, e a função por oposição à autonomia da forma que, na versão funcionalista
extrema, não teria tal autonomia e deveria ser encarada como seguindo a função. Num outro sentido,
poder-se-á considerar que estes movimentos, fazem parte de uma dimensão cultural que foi sempre
370 Oud, ob. cit. (1960, ed. esp. ob. cit. (1986), p. 73-74). 371 Oud, ob. cit. (1960, ed. esp. ob. cit. (1986), p. 109, e p. 30. 372 Oud, ob. cit. (1960, ed. esp. ob. cit. (1986), p. 50. 373 Oud, ob. cit. (1960, ed. esp. ob. cit. (1986), p. 47.
92
avessa e algo arredia, ao primado do discurso lógico e racional, a que atribuem limitações cognitivas,
que intentam superar opondo-lhes esquemas de pensamento baseados, predominantemente, no
sensível, no sentimento, na intuição, por vezes, roçando o místico e irracional, no sentido do não
apreensível ou enquadrável nas categorias e limites da razão, o que se irá denotar nas teorias da
Arquitectura de Cristal, divulgadas a partir de 1915.
Paul Scheerbart (1863-1915), poeta, em Glasarchitektur374, 1915, obra dedicada ao arquitecto Bruno
Taut (1880-1938), começa por descrever o vidro, com a sua transparência e permeabilidade à luz,
como simbolizando uma humanidade melhor. – Para ele:
a nossa cultura é um produto da nossa arquitectura, e assim, o novo ambiente que criarmos necessariamente
trará consigo uma nova cultura, mas tal só seria possível mediante a introdução da arquitectura de vidro,
que permite a entrada da luz solar e da luz da lua e das estrelas não só através de um par de janelas, mas
sim simplesmente através de paredes inteiras de cristal, de vidros de cor375.
Bruno Taut foi quem mais desenvolveu estas ideias por escrito e também na prática, apresentando na
Exposição do Deutsche Werkbunds, de 1914, uma casa de vidro e um texto, Glashaus, Werkbund-
Ausstellung376, que afirmava sobre a casa: não tem outra finalidade senão ser bela377. As ideias de
Taut são desenvolvidas, depois, numa série de obras, dentro do quadro de premissas estabelecidas por
Scheerbart, de mudança do ambiente e da cultura através duma arquitectura de cristal que coroaria
o centro das cidades (Die Stadtkrone378, 1919), e acabaria por se estender a todo o universo de um
modo místico (Alpine Architektur379, 1919, Der Weltbaumeister...380, 1920, etc.).
Para Hugo Häring (1882-1958) as formas arquitectónicas eram produzidas pela vida e a sociedade;
ora estas, e a cultura que lhes correspondia, estavam a tornar-se orgânicas e, como tal, exigiam formas
orgânicas. Na sequência desta exegese do orgânico critica as formas geométricas, afirmando:
A geometria exige uma ordem no espaço, baseada nas leis da geometria; uma cultura orgânica exige uma
ordem no espaço com a finalidade de satisfazer as necessidades da vida. A primeira levou ao conceito de
arquitectura, a segunda ao conceito de construção por excelência, e desde os tempos mais remotos381.
Erich Mendelsohn (1889-1953), «Das Gesamtschaffen des Architekten»382, 1919, intenta dar ao
expressionismo bases mais racionais; para ele, a transformação das formas da arquitectura era devida
à modificação das necessidades, e era possibilitada pelos novos materiais, ou como argumenta:
374
Scheerbart, P., Glasarchitektur, Berlin, 1915 (ed. esp., La arquitectura de cristal, Murcia, trad. A. Pinós, 1998. 375 Scheerbart, ob. cit. (1915, ed. esp. 1998), p. 85 (trad. do castelhano de Simões Ferreira). 376 Taut, B., Glashaus, Werkbund-Ausstellung, Köln, 1914. 377 Taut, ob. cit. (1914). 378 Taut, B., Die Stadtkrone. Mit Beiträgen von Paul Scheerbart und anderen, Jena, 1919. 379 Taut, B., Alpine Architektur, Hagen, 1919. 380 Taut, B., Der Weltbaumeister. Architekturschauspiel für symphonische Musik..., Hagen, 1920. 381 Häring, H., Schriften, Entwürfe, Bauten, ed. J. Joedicke, Stuttgart, 1965, p. 35. 382
Mendelsohn, E., «Das Gesamtschaffen des Architekten», conf. 1919, in Skizzen Entwürfe Bauten, Berlin, 1930, ed. esp. Hereu, P., Montaer, J. M., Oliveras, J., Textos de arquitectura de la Modernidad, Madrid, 1994, p. 171-73
93
novas formas a realizar devido à modificação das necessidades arquitectónicas do comércio, da economia e
do culto; novas possibilidades de construção graças aos novos materiais: vidro, ferro, betão383.
Mendelsohn refere-se também à coincidência de caminhos entre a nova arquitectura e a natureza dos
novos caminhos da pintura e da escultura, e admite que tal levaria à unificação de todas as artes,
englobando desde os templos de um mundo novo aos objectos mais insignificantes da nossa vida
quotidiana384, antecipando os objectivos da Bauhaus que já estavam presentes no Arbeit für Kunst,
onde esta conferência foi proferida; aí, os caminhos da arquitectura do tempo são definidos assim:
os apóstolos de um mundo de vidro (expressionistas); os analistas dos elementos espaciais (neoplasticistas,
De Stijl); os que procuram formas novas para os materiais e a construção (o seu caminho)385. Nos novos
estetas vê o intuito internacionalista e demarca-se, advertindo que, o internacionalismo significa a estética
impessoal de um mundo que se encontra em decomposição386. – Assim, propõe, como alternativa: Em troca,
o supranacionalismo compreende as delimitações nacionais como suposto prévio; só uma humanidade livre
pode restabelecer uma cultura omnicompreensiva387.
Bauhaus / Construtivismo / Racionalismo / Funcionalismo: Gropius, Meyer, Mies: Fundada
em 1919 a Bauhaus teve como directores as três personagens nomeadas, pela ordem respectiva,
dissolvendo-se em 1933 com a chegada dos nazis ao Poder. Começa em Weimar, muda-se para
Dessau, 1925, e já na fase final, 1932, instala-se em Berlim, onde, no ano seguinte, é obrigada a
dissolver-se. Nos efémeros 14 anos de existência cruzaram-se nela várias tendências todas ligadas
às vanguardas do tempo: na primeira fase, 1919-1925, predominaram os expressionistas / organicis-
tas / funcionalistas; de 1925 até à dissolução dominou a corrente designada construtivismo / raciona-
lismo / funcionalismo, primeiro sob a égide de Gropius, depois, a partir de 1928, sob a de Meyer; a
direcção de Mies não teve tempo para se identificar com uma estratégia precisa, mas parece inflectir
no sentido duma desideologização do ensino e reafirmação de valores e práticas específicas, nomea-
damente, no campo da arquitectura e do planeamento urbano. Vai-se contemplar as teorias dos
principais mentores da Bauhaus que se considera serem as personagens já referidas.
Walter Gropius (1883-1969): Nos seus primeiros escritos reflectem-se as ideias de confluência
entre a arte e a técnica de maneira a proporcionar a um amplo público... a possibilidade de aceder
à propriedade de uma arte realmente madura e boa e um produto sólido e duradouro388. Este seria
o objectivo mor da Bauhaus: democratização da arte através do desenho e da produção artesanal,
383 Mendelshon, «ob. cit.» (1919), in ob. cit. (1930), in Hereu, Montaner, Oliveras, ob. cit. (1994), p. 172. 384 Mendelshon, «ob. cit.» (1919), in ob. cit. (1930), in Hereu, Montaner, Oliveras, ob. cit. (1994), p. 172. 385 Mendelshon, «ob. cit.» (1919), in ob. cit. (1930), in Hereu, Montaner, Oliveras, ob. cit. (1994), p. 172. 386 Mendelshon, «ob. cit.» (1919), in ob. cit. (1930), in Hereu, Montaner, Oliveras, ob. cit. (1994), p. 173. 387 Mendelshon, «ob. cit.» (1919), in ob. cit. (1930), in Hereu, Montaner, Oliveras, ob. cit. (1994), p. 173. 388
Gropius, W., Programm zur Gründung einer allgemeinen Hausbaugesellschaft auf künstlerich einheitlicher Grundlage, ms. 1910, in Wingler, H., Das Bauhaus 1919-1933, Bramsche, 1962, 3. Aufl. 1975, S. 26 (ed. esp., trad. F. S. Cantarell, pról. de C. Sambricio, Barcelona, 1975, p. 29.
94
mais tarde, deslocando-se para a produção industrial, mas no intuito de submeter a indústria à arte
ou, pelo menos, eliminar as desvantagens da máquina, sem sacrificar nenhuma das suas vantagens
reais. A Bauhaus propunha-se estudar a habitação,
desde o utensílio doméstico mais simples até à casa habitável em todos os seus detalhes389, para tal, devia-se
determinar... a forma de cada objecto, fundamentando-se nas suas funções e condicionamentos naturais390.
O programa funcionalista, derivar a forma da função, está claramente formulado, sendo as finalidades
enunciadas, além da utilidade, ser duradouro, económico e "belo". O belo entre aspas denota a sua
secundarização nas intenções de Gropius; o factor económico, metido nas categorias finalísticas,
levaria à standardização, tão conveniente à indústria. O pensamento de Gropius, nos EUA, desloca-
se para a consideração do espaço como essência da arquitectura e, depois, para o conceito de uma
arquitectura total que deveria estar conexionada com o planeamento urbano e rural na definição do
nosso habitat, cujos novos monumentos eram coisas com a dimensão do projecto de Tenesse Valley.
Hannes Meyer (1889-1954), arquitecto, suíço, de língua alemã, na sua visão, tal como a expressa
em «Bauen» (in Bauhaus 2, 1928, Heft 4391), a função é elevada a um ponto extremo:
Todas as coisas deste mundo são um produto da fórmula: (função por economia) / Portanto, nenhuma destas
coisas é uma obra de arte: todas as artes são composições e, portanto, não estão sujeitas a uma finalidade
particular / Toda a vida é função e, portanto, não é artística / A ideia da "composição de um porto" é absoluta-
mente ridícula / Porém, como se projecta o planeamento duma cidade? Os planos dum edifício? Composição
ou função? Arte ou vida?392.
É na base destes pressupostos, que parte da concepção da arte como composição como sendo algo
substancialmente diferente da vida como função, que Meyer se apoia para a reflexão de que a arqui-
tectura, ou melhor, a construção, devia estar ligada à vida e não à arte, pois que em si mesmo:
Construir é um processo biológico. Construir não é um processo estético. A nova habitação, na sua forma
elementar, converte-se não só numa máquina para habitar, mas também num aparato biológico que satisfaz
as necessidades do corpo e da mente393.
Assim, como se achasse insuficiente a analogia mecanicista de Le Corbusier, a casa... máquina de
habitar, Meyer procura ir mais longe na sua busca de epistemes ou pontos de apoio: a vida, a sua
componente biológica, a tentativa de aprofundamento de uma explicação racional da arquitectura,
ou melhor, da construção, fazendo-a derivar da própria vida, e da sua organicidade funcional:
389 Gropius, W., «Bauhaus Dessau – Grundzütze der Bauhausproduktion», 1925, in Wingler, ob. cit. (1962, 3.
Aufl. 1975, ed. esp. 1975), p. 131 (trad. do castelhano de Simões Ferreira). 390 Gropius, «ob. cit». (1925), in Wingler, ob. cit. (1962, 3. Aufl. 1975, ed. esp. 1975), p. 131. 391 Meier, H., «Bauen» in Bauhaus. Zeitchrift für Gestaltung, Jahr 2, 1928, Heft 4, S. 12-13 (ed. esp., «Cons-
truir», in Meyer, H., El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos, Barcelona, 1972, p. 96-99. 392 Meyer, «ob. cit.» (1928), S. 12, in ob. cit. (1972), p. 96. 393 Meyer, «ob. cit.» (1928), S. 12, in ob. cit. (1972), p. 96.
95
Pensar na construção em termos funcionais e biológicos, dar forma ao processo da vida, leva logicamente à
construção pura394. E essa construção pura seria internacional, pois a vida, nos seus aspectos decisivos, era
igual em toda a parte, assim: Este tipo de forma construtiva não conhece pátria, é a expressão duma tendência
internacional do pensamento arquitectónico. O internacionalismo é a vantagem da nossa época. A construção
pura é o selo característico do novo mundo das formas395.
Assim, com Hannes Meyer, à função é atribuído um papel absolutamente determinante na arquitectu-
ra, ou melhor, na construção (daí o construtivismo), já não centrado em questões de funcionalidade
estática ou de uso, mas como uma função vital e orgânica total.
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969): Começa por rechaçar toda a especulação estética / toda a
doutrina e todo o formalismo. A arquitectura era a vontade da época expressa espacialmente e nem ao
passado nem ao futuro só ao presente se podia dar forma; esta seria a essência da tarefa, criar a
forma com os meios do nosso tempo. Mies conceptualiza a arquitectura como derivada das funções
de uso e de construção a que se devia dar resposta, mas o seu pensamento não se esgota nesse fun-
cionalismo. Há nele uma exegese de forma pura, de geometria e expressão construtiva elementar
(máximo efeito com o menor emprego de meios), que o leva a rejeitar todo o tipo de especulação...
doutrina... formalismo, fossem antigos ou modernos. Para Mies a arquitectura era a clássica arte da
construção que se devia servir dos meios do seu tempo, e em resposta às exigências desse tempo;
assim, partindo exclusivamente de organizar o viver; opta pela razão e o realismo contra os voos
da imaginação, daí a sua opção pela construtibilidade, pela geometria clara e definida, pelo less is
more, em suma pela linguagem do classicismo, que reinterpreta no sentido de que,
construir é dar forma à verdade e a verdadeira arquitectura é sempre objectiva e expressão da estrutura
interna da época em que se desenvolve396.
E nesta conjugação da modernidade, como expressão da época, com a essencialidade (algo sempre
próximo da verdade) do classicismo (a verdade?), se resume o pensamento de Mies van der Rohe.
O Caso Le Corbusier (continuação vers une architecture): Le Corbusier, cuja obra já se resumiu na
parte que toca ao urbanismo, vai-se resumi-la agora no que mais estritamente concerne à arquitectura:
No contexto do funcionalismo, que predominou na Bauhaus, Le Corbusier singulariza-se, pois parece
interessarem-lhe mais as formas que os conteúdos que as informam. Como mais tarde dirá: O espírito
da forma dá vida aos seus quadros tanto como à sua arquitectura e à sua própria urbanística397. E é
partindo do espírito da forma que, Le Corbusier, afirma que um espírito novo existe. Esse espírito
novo manifesta-se sobretudo na produção industrial, como nos transatlânticos e nos aviões, e deveria
394 Meyer, «ob. cit.» (1928), S. 12, in ob. cit. (1972), p. 97. 395 Meyer, «ob. cit.» (1928), S. 12, in ob. cit. (1972), p. 97. 396 Mies van der Rohe, L., «The Art of Structure», cit. p/ Kruft, ob. cit. (1985, 4. Aufl. 1995), S. 446. 397 Le Corbusier, cit. p/ Ragghianti, Le Corbusier a Firenze, Firenze, 1963, p. XXVII.
96
manifestar-se na casa, pois esta est une machine à habiter398. Demarcando-se dos excessos dos funcio-
nalistas, designadamente Hannes Meyer, em «Défense de l’Architecture»399, 1929, chega a afirmar:
Todo o acto humano, tendente à solução dum problema plantado implicava a função da arquitectura... a
arquitectura estava em toda a parte, no barco de guerra (Sr. Hannes Meyer), como na condução duma guerra,
como na forma duma caneta ou dum aparelho telefónico400. – E, na sequência deste raciocínio, reabilita a
palavra composição, que torna equivalente a ordenação, e que seria a essência da arquitectura: A arquitectura é
um fenómeno de criação, segundo uma ordenação. Quem diz ordenar, diz compor. A composição é o próprio
do génio humano; aí é onde o homem é arquitecto e aí há um sentido preciso para a palavra arquitectura401.
A reabilitação do aspecto ordenador e criador da arquitectura leva-o a uma reabilitação da beleza
que considera, também uma função. E é o belo a preocupação constante de Le Corbusier. Um belo
que ele identifica com: ordem, geometria, proporção, formas puras, superfícies límpidas, planta
ordenadora, traçado regulador (o lineamenta de Alberti?), e o rigor, a exactidão, a matemática.
Neste conjunto de posições, que Le Corbusier assume com notável coerência, revela-se todo um
intento de ligar a arte ao conhecimento científico. Mais, fazer da arte uma ciência e não uma ciên-
cia qualquer; antes a ciência primordial e de finalidade mais elevada: o arquitecto como demiurgo,
simultaneamente desvendador-desocultador dos segredos mais íntimos do universo, e da sua ordem
potencial, e construtor ou objectivador dessa ordem no mundo, de que a casa e a cidade eram as
mais radicais manifestações. A arquitectura como aquilo que faria do caos um cosmos, onde o homem
se manifestaria como um cérebro e um coração, uma razão e uma paixão. Encerra-se aqui o resumo
de Le Corbusier, reafirmando o já enunciado: a essencial motivação estética da sua teoria, que se
julga conforme com as aplicações práticas. Com Le Corbusier, tal como com De Stijl, Gropius,
Meyer, Mies e outros compagnons de route, afirma-se uma teoria e prática da arquitectura, que H.-
R. Hitchcock e Ph. Johnson, classificariam como um novo estilo, o estilo dos novos tempos, The
International Style, 1932. Esse Estilo Internacional, Le Corbusier tentara-o resumir sinteticamente
nos famosos cinco pontos de uma arquitectura moderna, a saber:
1) Os pilotis; 2) A cobertura-jardim; 3) A estrutura independente; 4) A planta livre; 5) A fachada livre (ou
o painel de vidro)402.
O International Style: Com esta designação passou a ser conhecido, a partir de 1932, data da Exposi-
ção Internacional da Arquitectura Moderna em New York, o tipo de arquitectura produzida pelos
arquitectos integrados nos movimentos que se resumiram, e Le Corbusier. A expressão International
398 Le Corbusier, ob. cit. (1923), p. XIX; por inteiro: La maison est une machine à habiter. 399 Le Corbusier, «Défense de l’Architecture», in Stavba 2, Praga, 1929, e in L’Architecture d’Aujourd’hui,
Paris, 1933 (ed. esp. En defensa de la arquitectura, trad. de M. Borrás y J. M.ª Forcada, Murcia, 1983). 400 Le Corbusier, ob. cit. (1929, ed. esp. 1983), p. 48-49 401 Le Corbusier, ob. cit. (1929, ed. esp. 1983), p. 49. 402 Le Corbusier, ob. cit. (1929, ed. esp. 1983), p. 56.
97
Style é dos autores do catálogo, editado para a exposição, H.-R. Hitchcock (1903-87) e Ph. Johnson
(1906-2005) que para o efeito escrevem um texto de apresentação onde esse "estilo" é assim definido:
A ideia de estilo, que começou a degenerar quando os "revivals" destruíram as regras do Barroco, voltou a ser
algo real e fértil. Hoje nasceu já um único estilo moderno. Este estilo contemporâneo, que existe em todo o
mundo, é unitário e inclusivo, não fragmentado nem contraditório, como tanta da produção da primeira gera-
ção de arquitectos modernos. E na última década criou suficientes monumentos notáveis como para demons-
trar a sua validade e vitalidade. A sua importância pode comparar-se com justiça à dos estilos do passado.
No tratamento dos problemas estruturais aproxima-se ao Gótico, enquanto que nas questões formais se asse-
melha mais ao Classicismo. Distingue-se de ambos pela proeminência que concede ao estudo da função403.
Esse estilo, o International Style é definido, sintetizando as suas características base, em três pontos:
como volume mais que como massa... a regularidade substituindo a simetria... a proscrição da decoração404.
VOLUME, REGULARIDADE, DESPOJAMENTO, eram, assim, as palavras de ordem do novo esti-
lo, que a seguir é considerado como tendo expressão internacional, já no momento presente, mas,
franqueando a porta ao New Regionalism e à singularidade dos Génios, aberto a expressões regionais
e pessoais. De uma destas expressões regionais veio, em 1965, expressa interrogativamente por
Kunio Mayekawa (1905-1986), uma avaliação pessoal sobre esse estilo, que ao tempo se identifi-
cava na generalidade como arquitectura moderna:
A arquitectura moderna está e deve estar taxativamente baseada nos sólidos feitos da ciência, da tecnologia,
e da engenharia modernas. Porquê, então, tende tão amiúde a converter-se em algo inumano?405.
E com esta interrogação, fecha-se este capítulo da exposição, com a conclusão de que, pelo menos,
um determinado tipo de arquitectura moderna começava a ser sentida como desumana.
Loos, Edifício na Michaelerplatz (alfaiataria), 1912, e Villa Müller, interior, 1928-30
403 Hitchcock and Johnson, ob. cit. (1932, ed. esp. 1984), p. 31-32. 404 Hitchcock and Johnson, ob. cit. (1932, ed. esp. 1984), p. 32. 405 Mayekawa, K., «Thoughts on Architecture and Civilization», in Bauen & Wohnen, Zurich, 1965.
98
Behrens, AEG-Turbinenfabrik, 1908-09; Perret, Garage na rue Ponthieu, 1905
Rietveld, Schroeder Haus, 1924; Oud, Café De Unie, 1925; em baixo: Mendelsohn, Einsteinturm, 1917; Mies, Pavilhão de Barcelona, 1929; Le Corbusier, Marseille, 1952; Mies, Chicago, 1951
99
7. A Teoria da Arquitectura fora da Europa Ocidental nos alvores do Séc. XX; EUA: Da Escola
de Chicago à II.ª Grande Guerra; A Singularidade de F. L. Wright; URSS: Do Cubo-Futurismo /
Suprematismo / Construtivismo aos Desurbanistas; Países Periféricos: Gaudi, Aalto, Niemeyer,
Siza Vieira, Corderch e outros
A Teoria da Arquitectura fora da Europa Ocidental nos alvores do Séc. XX: Do Séc. XV até
finais do Séc. XVIII a Teoria da Arquitectura foi um fenómeno, quase exclusivamente, da Europa
Ocidental, nada se produzindo, nesse domínio, nos espaços geográficos e culturais para onde o Oci-
dente exportara a sua Arquitectura, na sequência do natural intercâmbio cultural com outras regiões
ou como resultado do expansionismo colonial e imperialista das potências ocidentais, que impôs nas
Américas, na África, na Ásia, e na Oceânia, um Urbanismo e uma Arquitectura de molde ocidental.
As coisas começam a modificar-se, ainda que ligeiramente, durante o Séc. XIX, quando nos EUA
surgem as primeiras obras de intuito teórico, ora orientadas para a divulgação dos padrões europeus:
A. Swan (activo meados Séc. XVIII406), ora para a procura de uma arquitectura americana genuína:
T. Jefferson (1743-1826), A. Benjamin (1773-1845), R. Emerson (1803-82), D. Thoreau (1817-
1862), H. Greenough (1805-1852), ou para a reflexão perante os novos edifícios de grande porte,
como os arranha-céus (Escola de Chicago). Mas, é somente na transição do Séc. XIX para o Séc.
XX, nos EUA, e já no Séc. XX, na URSS, e depois nos Países Periféricos, que surgem contributos
originais e significativos, que vieram a aumentar o património da Teoria da Arquitectura Ocidental,
e a diversificá-lo, com questões e formulações de forte impacto na Modernidade.
EUA: Da Escola de Chicago à II.ª Grande Guerra: A Escola de Chicago, últimas décadas do Séc.
XIX, primeiras do Séc. XX, teve como personagens, teoricamente mais significativas, Louis Sullivan
(de que já se expôs a sua teoria da ornamentação), Dankmar Adler (1844-1900), John W. Root
(1850-91), e Daniel Burnham (1846-1912). – Sumariamente, a Escola de Chicago surge na sequência
do Grande Incêndio de 1871, que devastou a cidade, e levou à sua reconstrução em moldes de maior
exigência, com maior desafogo, materiais mais sólidos, resistentes ao fogo, etc.. Em paralelo ocorreu
um forte crescimento demográfico e económico da cidade, que aumentou o valor dos solos urbanos, e
ditou a construção em altura, os arranha-céus de estrutura em aço, de que foi pioneiro W. Le Baron
Jenney (1832-1907), que estudara engenharia em Paris, 1853-1856, e em cujo atelier trabalharam
Sullivan e Burnham. Embora não haja registo escrito das ideias de Le Baron Jenney, nos seus edifí-
cios, despojados de ornamentação, e acentuadamente funcionais, denota-se o intuito de tirar partido
da estrutura em aço, deixando-a transparecer na fachada. E estas virão a ser as características base
da Escola de Chicago: 1) primado da função; 2) despojamento ornamental; 3) edifícios de grande
porte, nomeadamente em altura (arranha-céus); 4) visibilidade da estrutura de aço na fachada.
406 Swan, A., The British Architect..., London, 1745, imp. New York, 1767, Philadelphia, 1775.
100
O primado da função, expresso na conhecida fórmula form follows function, é a pedra de toque da
teoria de Louis Sullivan, onde se denota influências da geração anterior (a de Emerson, Thoreau,
Greenough), do idealismo filosófico alemão, do misticismo de E. Swedenborg, e da École des Be-
aux-Arts de Paris, onde estudara em 1874-75. As ideias de Sullivan, um pensador não sistemático,
encontram-se dispersas por uma série de textos, desde The High Building Question407, 1891, até A
System of Architectural Ornament...408, 1924, ano em que faleceu, passando por The Autobiography
of an Idea409, 1922-23, onde, retrospectivamente, define as suas intenções, afirmando ter querido,
realizar uma arquitectura que se acomode às suas funções – uma arquitectura realista baseada em necessida-
des bem definidas de carácter utilitário – em que unicamente as exigências prácticas de utilidade constituam
a base do plano e do desenho (to make an architecture that fitted its functions – a realistic architecture based
on well defined utilitarian needs – that all practical demands of utility should be paramount as basis of plan-
ning and design410). Estas intenções, mais adiante, são reafirmadas, as formas desenvolver-se-ão de maneira
natural a partir das necessidades (the forms under his hand would by naturaly out of the needs...) e sintetizadas
na conhecida fórmula, que desenvolvera através duma longa contemplação das coisas vivas... a forma segue
a função (he had evolved, through long contemplation of living things... form follows function411.
Este é o princípio geral daquilo que se chama o funcionalismo arquitectónico: a forma segue a função,
ou seja, a função do edifício (ou objecto) determinaria a sua organização e a sua forma. Assim, por
exemplo, o facto das torradas serem quadradas determinaria a forma quadrada dos pratos para torra-
das, na utopia behaviorista e funcionalista de Burrhus F. Skinner (1904-90), Walden Two412, 1948.
De resto, o funcionalismo de Sullivan, seria inspirado nas formas da vida, todas elas expressão de
funções, em que as aparências externas correspondem a fins internos, e teria correspondência, no
plano da organização social e política, com a democracia dos EUA, expressando uma arquitectura
democrática, e a própria forma da vida americana, chegando a afirmar:
A forma, arquitectura americana, significará, se alguma vez chegar a significar alguma coisa, vida americana
(The form, American architecture, will mean, if it ever succeeds in meaning anything, American life)413.
Na sua última obra, A System of Architectural Ornament, 1924, a ornamentação da arquitectura
parece ser o contraponto, mais complementar que antagónico, de todo este essencial funcionalismo,
devendo o ornamento humanizar a arquitectura, assim como que um algo mais, ainda que mero
complemento, e um tanto quanto supérfluo, que lhe daria um certo significado poético, ou, pelo
menos, amenizaria a secura e rigidez funcional.
407 Sullivan, L., The High Building Question, Chicago, 1891. 408 Sullivan, L., A System of Architectural Ornament..., 1924, já descrito no cap. 4, p. 65. nota 287. 409 Sullivan, L., The Autobiography of an Idea, New York, 1922-23, new ed. New York, 1956. 410 Sullivan, L., ob. cit. (1922-23, new ed. 1956), p. 257. 411 Sullivan, L., ob. cit. (1922-23, new ed. 1956), p. 258. 412 Skinner, B., Walden Two, Indianapolis, 1948. 413 Sullivan, L., Kindergarten Chats, New York, 1923, new ed. 1947, p. 44.
101
Louis Sullivan, no ano a seguir ao da dissolução da sociedade com Dankmar Adler, chegara a definir o
seu conceito de função, para os arranha-céus, como devendo expressar: ligeireza, poder de elevação,
glória e orgulho de exaltação (nimbleness, power of altitude, glory and pride of exaltation414). Enfim,
é uma linguagem romântica, que mostra o romantismo associado ao conceito de função de Sullivan, e
que, para alguns, é interpretado como uma forma de romantismo nacional (Kruft, 1985415).
Dankmar Adler, num artigo, «The Influence of Steel Construction and Plate Glass Upon Style»416,
de 1896, expressa outro conceito de função, de tipo constructivo, derivada dos materiais, falando
do nascimento de outra época do desenho arquitectónico, cuja forma ou estilo se baseará no descobrimento
do pilar e da viga de aço, as placas transparentes de vidro laminado, a luz eléctrica e a ventilação mecânica,
tudo isso ao serviço das funções ou necessidades criadas pela maior intensidade da vida moderna (the birth
of another epoch of architectural design, the form or style of which will be founded upon the discovery of the
steel pilar, the steel beam, the clear sheet of plate glass, electric light and mechanical ventilation, all devoted
to the service of functions or wants created by the greater intensity of modern life417).
Assim, materiais: aço e vidro; progresso científico-tecnológico: luz eléctrica e ventilação mecânica; e
vida moderna, seriam os factores determinantes da nova arquitectura, ou como diz: our contribution
to the architecture of the new world418. De resto, para Adler, não era apenas a função a determinar a
forma, mas como o virá a expressar numa fórmula: function and environment determine form419.
John W. Root, arquitecto da geração de Louis Sullivan, seu amigo, e também projectista de vários
arranha-céus em parceria com Daniel Burnham, numa série de artigos, publicados entre 1881-1891,
ano da sua morte precoce, em que avulta o intitulado «Architectural Ornamentation»420, 1885, postula
a subordinação do ornamento em relação aos aspectos construtivos, não devendo sequer haver mistura
ou confusão entre as funções da ornamentação e as dos elementos construtivos, pois,
é um dos maiores delitos arquitectónicos utilizar uma grande coluna num edifício de grandes dimensões com
qualquer outro propósito, que não o primordial de carregar um peso, e ainda, no que respeita à decoração (...)
nunca se devia utilizá-la para encobrir o aspecto ou o propósito dos elementos básicos e essenciais. Jamais
deverá substituir as partes vitais da estrutura (it is the greatest of architectural crimes to use a great column
in a large building for any purpose than primarily to carry weight, e ainda, as to the purpose of decoration...
414 Sullivan, L., «The Tall Office Building Artistically Considered», in Lippincott’s Magazine 57, march 1896,
p. 404, compilado em Kindergarten Chats, new ed. 1947, p. 203. 415 Kruft, ob. cit. (1985, 4. Aufl. 1995), S. 416 Adler, D., «The Influence of Steel Construction and Plate Glass Upon Style», in The Proceedings of the
Thirtieth Annual Convention of the American Institute of Architects, 1896, p. 58-64. 417 Adler, «ob. cit.», in ob. cit. (1896), p. 59-60. 418 Adler, «ob. cit.», in ob. cit. (1896), p. 63. 419 Adler, «ob. cit.», in ob. cit. (1896), p. 64. 420 Root, J. W., «Architectural Ornamentation», in The Inland Architect and Builder V (Western Association
of Architects), Special Number, April 1885, p. 54 ss; compilado em Hoffmann, D. (ed.), The Meanings of Architecture. Buildings and Writings by John Wellborn Root, New York, 1967, p. 16-21.
102
it should never be applied so as to conceal the outline and intend of more elementary and essential features.
It can never take the place of the vital parts of the structure421).
Além de se prefigurar o conceito de Ornament ist Verboten, indiciando as raízes de A. Loos, que
viajou pela América, em 1893-1896, há uma nítida relegação do ornamento na arquitectura para
funções menores, embora lhe seja reconhecida capacidade de refinamento (politeness) e de conferir
prazer (confer pleasure). – De resto, também a noção de orgânico está presente na teorização de Root,
que chega a falar de organic creations of nature, a propósito da homogeneidade que a decoração e
a construção haviam de expressar, devendo os grandes edifícios usar uma decoração simples, ao
passo que os pequenos tolerariam uma decoração mais rica. – Com Sullivan, Adler e Root, e à medida
que o Séc. XIX se aproxima do termo, fina-se o que de mais original foi concebido pela Escola de
Chicago para a Teoria da Arquitectura: funcionalismo, exaltação do arranha-céus, decoração subordi-
nada à construção, e concepção dos edifícios como organismos, ou organicidade.
No entanto, com Daniel H. Burnham, e após a morte de Root, seu sócio e projectista principal, as
coisas começam a mudar através da adopção dum estilo menos rigoroso, mais próximo dos padrões
eclécticos da tradição de Beaux-Arts, que se mantivera no resto dos EUA, sendo a Escola de Chi-
cago um fenómeno geográfico restrito. Mas Burnham, se como arquitecto não foi brilhante, como
urbanista teve desempenho notável, tendo elaborado o plano da Feira Universal de 1893, e o plano de
Chicago, que despoletou o movimento City-Beautiful, cujo fito era dar dignity às cidades americanas,
e que, ao tempo, foi considerado de carácter megalómano, pois todas as previsões eram gigantescas,
ou muito para além do imediatamente previsível, o que justifica, dizendo:
Make no little plans; they have no magic to stir men’s blood... Make big plans; aim high in hope and work,
remembering that a noble diagram once recorded will never die...422. – Em Portugal os modernos promotores
de obras públicas (as pagas com o dinheiro de todos nós, ou com os cínicos “fundos perdidos” da UE), todos
eles devem ter lido este senhor...
As primeiras décadas do Séc. XX foram pobres para a Teoria da Arquitectura nos EUA, excepção a
F. L. Wright, continuando a construir-se arranha-céus no centro das cidades e moradias nas periferias,
cada vez mais extensas. O suporte, ou correlato teórico dessas actividades era o eclectismo histori-
cista, à mistura com a arquitectura tradicional, vernacular, no caso das moradias. A situação começa a
modificar-se com a exposição Modern Architecture, New York, 1932, que divulgou o International
Style, e a ida de Richard Neutra (1892-1970) para os EUA, onde assume o papel de promotor do
Movimento Moderno europeu, tentando conjugá-lo com a arquitectura orgânica de Wright. Nos seus
primeiros escritos, Wie baut Amerika423, 1927, e Amerika: Die Stilbildung des Neuen Bauen in den
421 Root, «ob. cit.», in ob. cit. (1885), p. 55; comp. in Hoffmann (ed.), ob. cit. (1967), p. 17. 422 Burnham, D., and Bennett, E., The Plan of Chicago, Chicago 1909, cit. p/ Kruft, ob. cit. (1985), S. 417. 423 Neutra, R., Wie baut Amerika, Stuttgart, 1927.
103
Vereinigten Staaten424, 1930, descreve as suas experiências com a arquitectura americana, tomando
por objecto projectos em que colaborou. Em 1954 surge a principal obra teórica, Survival Through
Design425, dedicada a Wright, que pretende desenvolver o conceito de orgânico deste a partir das
ciências naturais. Para Neutra, o orgânico era uma questão de sobrevivência, devendo o design,
production, and construction be channeled to serve survival426, de modo a que o environment fosse
uma extension of ourselves, e não a experiência selvagem, que nos ameaçava. E é neste contexto
que surge a sua alternativa ao form follows function, de Sullivan, e ao form and function are one, de
Wright: function may itself be a follower of form427.
Outro europeu, Eliel Saarinen (1873-1950), que emigrou para os EUA em 1923, onde desenvolve
carreira notável como arquitecto e como docente universitário, em The City...428, 1943, propõe um
urbanismo descentralizador, chamado organic decentralization, alternativo ao crescimento desmesu-
rado das cidades, devendo a arquitectura ser considerada no seu potencial pedagógico, pois seria o,
supremo educador do povo: por uma vida melhor do ponto de vista físico e espiritual, por um melhor nível
de gosto, por fins culturais mais profundos (supreme educator of the people: toward better phisical living,
toward better spiritual living, toward better standards of taste, and toward deeper cultural aims429).
A partir de 1933 começam a afluir aos EUA, Gropius, Mies, e muitas outras figuras do Movimento
Moderno da Europa, em fuga ao Nazismo e à Guerra. Mas a sua actividade exerceu-se mais no plano
prático, ou na docência, do que na produção de obra teórica. Assim, a única figura de grande vulto
teórico, até aos anos 50, foi F. L. Wright, cuja obra será referida a seguir, ainda que sucintamente.
A Singularidade de F. L. Wright: A obra de Frank Lloyd Wright (1867-1959), quer no plano
prático quer no teórico, estende-se por toda a primeira metade do Séc. XX, e é deveras volumosa e
fecunda, constituindo, Wright, um caso verdadeiramente singular, e um tanto quanto outsider, no seio
do Movimento Moderno. – Na Europa do Pós-Guerra, e até à década de 70, dizia-se haver dois tipos
de Arquitectura Moderna: a racionalista de que eram representantes maiores Le Corbusier, Gropius,
Mies, e a orgânica de Wright (o conjunto, o clube restrito dos 4 génios da Arquitectura Moderna). O
conceito, arquitectura orgânica, que começou por contactar no atelier de Sullivan e Adler, é determi-
nante para o entendimento da sua obra, e aponta, antes de mais, para uma visão humanista e naturalista
da arquitectura, que deveria estar em harmonia com a natureza do homem, do lugar e dos materiais. –
Mas veja-se, como Wright, em «In the cause of architecture»430, 1914, define essa arquitectura:
424 Neutra, R., Amerika: Die Stilbildung des Neuen Bauen in den Vereinigten Staaten, Wien, 1930. 425 Neutra, R., Survival Through Design, New York and London, 1954, 2e. ed. 1969. 426 Neutra, ob. cit. (1954, 2e. ed. 1969), p. 21. 427 Neutra, ob. cit. (1954, 2e. ed. 1969), p. 111. 428 Saarinen, E., The City: Its Growth, its Decay, its Future, New York, 1943, 3th ed. 1971. 429 Saarinen, ob. cit. (1943, 3th ed. 1971), p. 350. 430 Wright, F. L., «In the Cause of Architecture», in The Architectural Record 18, 1908, p. 155-221.
104
1) Simplicity and repose; 2) tem de haver tantos tipos (estilos) de casas como tipos de indivíduos;
3) uma casa tem de surgir de forma natural do entorno, e suas formas devem harmonizar com a natu-
reza que a rodeia; 4) a sua cor deve corresponder à da natureza; 5) cada material deve apresentar-se de
acordo com a sua própria estrutura natural; 6) uma casa com carácter ganha valor com o tempo.
Além disso, como postula num segundo artigo, com o mesmo título, em 1914:
Por arquitectura orgânica refiro-me a uma arquitectura que se desenvolve de dentro para fora em harmonia
com as condições do seu ser, para a distinguir da concebida a partir do exterior (By organic architecture I
mean an architecture that develops from within outward in harmony with the conditions of its being as dis-
tinguished from one that is applied from without431).
Esta noção, de arquitectura desenvolvida a partir do interior, é fundamental para a compreensão do
orgânico, e também para a relação com o exterior, que conduz à destruction of the box, caracteri-
zando as paredes como ligeiros e transparentes biombos. – Enfim, uma arquitectura desenvolvida a
partir do interior, mas projectada para o exterior, em tudo cumprindo o programa da variety in unity,
outro dos princípios base de Wright, que identifica a arquitectura orgânica com a democracia e a
natureza. De resto, em Wright, o conceito de orgânico estende-se e implica um sistema económico
orgânico e uma sociedade orgânica, como correlatos de uma arquitectura orgânica. E nesse sistema
social orgânico não haveria bairros pobres, nem cidades pombais, nem o contraste flagrante entre
cidade e campo, como descreve a propósito de Inglaterra:
o povo, aprendendo a construir, sairá para o campo, e todo o campo de Inglaterra se converterá numa formosa
cidade moderna no novo sentido, com o qual o campo será mais belo graças aos edifícios, e até, inclusivé,
graças às fábricas (the people, having learned how to build, go further afield, and all the country-side of
England becomes one beautiful modern city, in the new sense, wherein the country was the more beautiful
because of the buildings, yes, even the factories432).
Sim, as fábricas também, porque, diferentemente de Ruskin e Morris, em que se inspira, Wright nada
tem contra as máquinas, ou as fábricas, vendo-as até como libertadoras do homem e potenciadoras
da sua liberdade. Para mais, também as máquinas tinham natureza orgânica, eram precursoras da
democracia, e chega a referir a máquina, o motor, e os couraçados, como as obras de arte do século,
nisto denotando a sua assimilação de Viollet-le-Duc, e curiosa e sintomática similitude com Le
Corbusier. As teorias de Wright foram ensaiadas em várias realizações arquitectónicas, de que se
salientam as casas da pradaria (prairie houses), as casas usonianas (usonian houses), e a já exposta
e interpretada Broadacre City, embora esta, apenas de maneira virtual, em desenhos e maqueta,
além dos princípios base da arquitectura orgânica ressoarem por toda a sua extensa obra, de que, no
final, se irão mostrar algumas imagens.
431
Wright, F. L., «In the Cause of Architecture. Second Paper», in The Architectural Record 35, 1914. p. 405-13. 432 Wright, F. L., The Future of Architecture, New York, 1953, 2th ed. 1970, p. 266.
105
URSS: Do Cubo-Futurismo / Suprematismo / Construtivismo aos Desurbanistas: A Teoria da
Arquitectura chega à Rússia durante a I.ª Grande Guerra, juntamente com o Movimento Moderno,
ainda em gestação, e assiste-se a uma verdadeira explosão de ideias e tendências com a Revolução
de 1917. O facto desta Teoria da Arquitectura ter sido formulada em russo, e quase não existirem
traduções, impede a leitura das fontes, tendo de se utilizar literatura secundária, de divulgação e
interpretação, razão que move esta exposição a restringir-se aos aspectos essenciais, de nomeação das
principais tendências, representantes, ideias base, e encadeamento geral das coisas. Numa primeira
fase os estímulos procediam das artes plásticas, futurismo e cubismo, que deram origem ao Cubo-
Futurismo. Mas também o suprematismo e o construtivismo se apresentaram ao serviço, logo nos
primeiros anos da Revolução. Todas as tendências e seus protagonistas apontam para o mesmo: a
capacidade da arquitectura para a construção de um mundo novo, uma nova sociedade, um novo
homem, e enfim, o Novo Estado Socialista. – Destacaram-se, como autores:
V. T. Kirilov (1890-1943), poeta e activista do grupo Proletkult433, que se propunha erigir uma cultura
proletária, em consonância com os futuristas, propõe que se queime Rafael [símbolo do passado]
em nome do nosso amanhã, exaltando a força do vapor e da dinamite, o silvar das sirenes, e a rítmica
compressão de cilindros e pistões434, que eram os novos factos a valorizar daquilo a que designa do
nosso amanhã. Kasimir Malevich (1878-1935), no âmbito do suprematismo descreve uma arquitec-
tura determinada pela perspectiva a partir de um avião, referindo:
corpos suspensos no ar [planitas] determinarão o novo projecto de cidade (...) as novas habitações dos novos
homens encontram-se no espaço435, mas, no final, acaba reconhecendo que ainda não existem consumidores
para a nova arte436.
Considera como postulados apriori da nova arquitectura o ângulo recto e o quadrado, que identifica
com a doutrina comunista, pelas suas características equitativas, e recusa com veemência a tradição
arquitectónica eleita pelo partido, que pretenderia dignificar com formas históricas consagradas a
nova arquitectura da Revolução. No texto, publicado aquando da Grosse Berliner Kunstausstellung,
«Suprematistiche Architektur»437, 1927, Malevich refere-se a uma arquitectura absoluta e livre de
propósitos438, assim como forma artística pura, e indica o suprematismo como início de uma nova
arquitectura clássica439. O suprematismo de Malevich constituiu a base intelectual e artística para o
construtivismo soviético que, no entanto, chegou a conclusões bem diferentes, como se verá:
433 Para o Proletkult, ver: Lorenz, K. (Hrsg), Proletarische Kulturrevolution in Sowjetrussland (1917-1921).
Documente des “Proletkult”, München, 1969. 434 Kirilov, V. T., cit. p/ Lorenz (Hrgs), ob. cit. (1969), S. 78. 435 Malevich, K., Suprematismus I / 46, 1923, in W. Haftmann (Hrgs.), Köln, 1962, S. 274. 436 Malevich, K., Suprematismus Manifest Unowis, 1924, in Haftmann (1962), S. 283. 437
Malevich, K., «Suprematistiche Architektur», in Wasmuths Monatshefte für Baukunst XI, 1927, S. 412-414. 438 Malevich, ob. cit. (1927), p. 412. 439 Malevich, ob. cit. (1927), p. 414.
106
El Lissitzky (1890-1941) faz a ponte entre suprematismo e construtivismo; com o conceito de
proun intenta unir e superar a pintura, escultura e arquitectura; os proun seriam:
momentos de correspondência entre os materiais e a arquitectura. Proun modifica as formas de produção da
arte, sobre o fundamento de betão armado do comunismo se há-de erigir uma cidade mundial para todos os
homens da terra440.
Estas ideias reflectem-se nos projectos de arranha-céus de El Lissitzky, os Wolkenbügel com que
pretendia dar uma nova escala e imagem urbana a Moscovo, e em que se conseguia um máximo de
superfície útil com um mínimo de superfície de apoio441.
Vladimir Tatlin (1885-1953), também intentará a superação das fronteiras entre os géneros artísticos,
partindo da pintura e do relevo para a arquitectura (Monumento da Terceira Internacional), e para o
desenho de objectos de uso. Alexei Gan (1889-c. 1940), num manifesto, Конструктиви�зм442 (Cons-
trutivismo), 1922, apresenta-o como marxista, e esforça-se em atrair o governo para o construtivismo,
que representava o fim da arte, o resultado duma nova cultura industrial, cuja lei suprema, para a
arquitectura, seriam as propriedades dos materiais; o seu lema era a arte para a produção443. Moisej
J. Ginzburg (1892-1946), em Стиль и эпоха444 (Estilo e Época), 1924, expõe uma teoria do construti-
vismo, em que as novas tarefas e concepções da arquitectura davam conta da tradição, intentando
conjugar as novas teorias da arte com essa tradição. Em paralelo às ousadas formulações de suprema-
tistas e construtivistas, desenvolve-se o racionalismo de Nicolai Ladovski (1881-1941), para quem:
A racionalidade arquitectónica é economia de energia psíquica na recepção das propriedades espaciais e
funcionais do edifício, ao passo que a racionalidade técnica é economia do trabalho e dos materiais durante
a construção de um edifício útil445.
Também é de assinalar Konstantin Melnikov (1890-1974), cujas obras exibem a autonomia da
forma em relação aos materiais e à função, e para quem a arquitectura devia deixar à humanidade
monumentos que testemunhem o heroísmo do nosso tempo446. A ideia de uma arquitectura monu-
mental ocupa o melhor da produção de outros arquitectos, como Jakov G. Tchernichov (1889-
1951), ou Ivan Leonidov (1902-59), cujas propostas seguem o mesmo princípio das de Melnikov,
mostrando grande autonomia. Com este sortido de autores e ideias julga-se abordada a produção de
440 El Lissitzky, «Proun», in El Lissitzky, Proun und Volkenbügel. Schriften, Briefe, Dokumente, Hrgs. S.
Lissitzky, Dresden, 1977, S. 33. 441 El Lissitzky, «Eine Serie von Hochhäusern für Moskau», in El Lissitzky, ob. cit. (1977), S. 80-84. 442 Gan, A., Конструктиви�зм (Construtivismo), Москва (Moscovo), 1922. 443 Gan, ob. cit. (1922). 444 Ginzburg, M. J., Стиль и эпоха (Estilo e Época), Москва (Moscovo), 1924 445 Ladovsky, N. (1927), cit. p/ Chan-Magomedow, S. O., Pioniere der sowjetischen Architektur. Der Weg
zur neuen sowjetischen Architektur in den zwanziger und zu Beginn der dreissiger Jahre, Wien-Berlin, 1983, S. 544.
446 Melnikov, K. (1936), cit. p/ Chan-Magomedow, ob. cit. (1983), S. 552.
107
Teoria da Arquitectura na URSS da Revolução, a quem Lenine e Trotski447, auguraram pouco futuro,
do que Estaline se encarregaria, à medida que o novo Poder se consolidava. Assim, e para comple-
tar o panorama, a seguir, abordar-se-á as ideias urbanísticas da época.
As ideias urbanísticas que emergem com a Revolução são completamente utópicas e irreais. Anton
Lavinski (1893-1968), em 1921, projecta uma cidade sobre amortecedores com casas giratórias;
Lasar Chidekel 1904-86, discípulo de Malevich, projecta casas suspensas; Georgi Krutikov
(1899-1958), desenhou uma cidade volante. Estas ideias reflectem as dos futuristas italianos, e a
euforia revolucionária. – Cerca de 1929 surgem as ideias mais consistentes dos urbanistas e dos
desurbanistas. Os urbanistas, encabeçados pelo economista Leonid Sabsovich (activo 1.ª metade
do Séc. XX), defendem uma cidade densa, de tamanho médio, constituída por habitações unifor-
mes, e baseada numa absoluta socialização das formas de vida. – Os desurbanistas, sob a direcção
de um sociólogo, Michail Ochitovich (activo 1.ª metade Séc. XX), propõem uma desurbanização,
baseada nos meios de circulação modernos, cuja expressão seria uma forma linear de cidade.
Nicolai Miljutin (1889-1942), Sosgorod. O problema da construção das cidades socialistas448, 1930,
defende a desurbanização como socialista, inconcebível no sistema capitalista. A cidade de forma
linear que propõe era distribuída em seis zonas: 1) combóios; 2) indústria, centros comerciais, escolas;
3) zona verde; 4) zona habitacional e de instalações sociais; 5) zona verde e de instalações desporti-
vas; 6) zona agrícola. Também fez estudos de células habitacionais com equipamento mínimo, e com
8,4 m2 de superfície. – Mas as ideias de cidade que iriam vingar e caracterizar o poder soviético são
inspiradas nos modelos históricos, para o traçado e monumentos, e no tradicional, para a habitação.
Países Periféricos: Gaudi, Aalto, Niemeyer, Siza Vieira: A Teoria da Arquitectura do Ocidente
expande-se para os países periféricos a partir dos inícios do Séc. XX: primeiro Espanha (que fora
um país central nos Sécs. XVI e XVII, mas que no transcurso da História se tornara periférico) e
Finlândia; depois, a América do Sul, e Portugal, que são os casos a considerar nesta exposição, mas
tendo em atenção que a Teoria da Arquitectura Ocidental, assim como a Arquitectura que lhe é rela-
tiva, acabou por chegar a quase todos os países e regiões da Terra. Nesta exposição vai-se considerar
exclusivamente os quatro autores referidos na epígrafe por se os considerar bastante significativos,
de per se, e bem representativos da generalidade que, adiante-se, expressou-se mais pela prática do
que pela teoria. Uma prática que exprime a assimilação da Arquitectura Moderna do Ocidente, mas
em que se denota uma atitude transgressora, de adaptação ao clima, ao ambiente, aos usos, sensibili-
447 Lenine pretenderia assumir a cultura herdada do capitalismo e construir o socialismo sobre ela (cit. p/
Lorenz, ob. cit. (1969), S. 15; Trotski afirma não existir uma cultura proletária, nem sequer chegará a existir, ver Trotski, L., Literatura e Revolução (1924, texto original), trad. de S. Ferreira, Amadora, 1976.
448 Miljutin, N. A., Sosgorod. O problema da construção das cidades socialistas, Moscovo, 1930, comp. in Aymonino, C., Origenes y desarrollo de la ciudad moderna, trad. y recop. de textos Laboratorio de Urba-nismo de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1972, p. 285-329 (trad port. de Simões Ferreira).
108
dades e idiossincrasia cultural dos diversos povos, à arquitectura tradicional dos lugares, etc. – Em
suma, uma atitude crítica que, como toda a crítica, deve ser considerada, eminentemente, teórica, e
que acabou por ter retorno, influenciando a Teoria e a Prática da Arquitectura Ocidental.
Antoni Gaudi (1852-1926), arquitecto catalão, a sua obra, que é costume enquadrar na corrente de
El Modernismo, equivalente espanhol da Arte Nova, é de cunho muito pessoal, forte originalidade,
e mostrando grande empenho pessoal. Gaudi inspira-se em formas orientais, neogóticas, barrocas,
demarcando-se da tradição clássica da forma recta e ortogonal da geometria no plano, a que opõe
uma geometria no espaço, inspirada nas formas orgânicas da natureza, e da qual dirá:
Los paraboloides, hiperboloides y helicoides, variando constantemente la incidencia de la luz, tienen una
riqueza propria de matices, que hacen innecesaria la ornamentación y hasta el modelaje449.
Todavia, as obras de Gaudi são de decoração profusa e fortemente modeladas, embora a luz, mati-
zada, sem contrastes abruptos, se destaque como objectivo maior, do qual diz:
La arquitectura es el primer arte plástico (...) Toda su excelencia viene de la luz. La arquitectura es la orde-
nación de la luz450.
Note-se, no entanto, que o significado de luz, exactamente, é capaz de estar para além do sentido
comum, indiciando um pendor místico, que envolve toda a obra e personalidade de Gaudi, e que se
expressa na passagem seguinte, de cunho agostiniano:
La belleza es el resplandor de la verdad, y como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte451.
Olvidado na onda do triunfante racionalismo funcionalista dos anos 30, é relembrado com o orga-
nicismo do pós-guerra, e com o neo-regionalismo devém um dos seus ícones
Alvar Aalto (1898-1976), arquitecto finlandês, activo dos anos 20 aos anos 60, foi, a par de Wright,
considerado representante maior da arquitectura orgânica, que se opunha aos excessos do raciona-
lismo funcionalista do Movimento Moderno. – Veja-se:
O verdadeiro funcionalismo (...) deve reflectir-se, principalmente, na sua funcionalidade sob o ponto de vista
humano. O funcionalismo técnico não pode definir a arquitectura452.
E, realmente, a par da inspiração nas formas orgânicas da natureza, e na teia complexa dos lugares,
parece ser a humanização da arquitectura, a grande motivação de Aalto:
Conseguir uma arquitectura mais humana significa uma arquitectura melhor, e significa um funcionalismo
muito mais amplo que o meramente técnico. Este objectivo pode ser conseguido apenas por meios arquitec-
449 Gaudi, A., cit. p/ Puig i Boada, I., El pensament de Gaudí. Compilació de textos i comentarios, Barcelona,
1981, reed. 2004, p. 238. 450 Gaudi, A., cit. p/ Carandell, J. M., La Pedrera, cosmos de Gaudí, Barcelona, 1993, p. 14. 451 Puig i Tàrrech, A., La Sagrada Família segons Gaudí: Compendre un Símbol, Barcelona, 2009, p. 66. 452 Aalto, A., «Entrevista de S. Giedion a Alvar Aalto», in Arquitectura 69, p. 6.
109
tónicos, ou seja, mediante a criação de diferentes coisas técnicas de modo que facilitem ao ser humano uma
vida mais harmoniosa453.
Isto, conjugado com sua crítica aos excessos formalistas e às tensões formais que não se dominam
(crítica dos excessos neo-expressionistas), é o essencial da sua teoria:
Paralelepípedos de quadradinhos de vidro e metais sintéticos (...) conduziram a uma moda arquitectónica sem
saída (...) E o que é pior: teve como sequência uma mudança no sentido oposto: a procura inepta e destituída
de sentido crítico dum tema de variação (...) Crianças adultas brincam com curvas e tensões que não dominam.
Cheira a Hollywood. A pessoa humana, no meio disto tudo, fica esquecida. E a arquitectura – a verdadeira – só
existirá onde o homem estiver no centro. A sua tragédia e a sua comédia – afinal, as duas454.
Óscar Niemeyer (nasc. 1907, recentemente falecido, 5 Dezembro 2012), arquitecto brasileiro, muito
cedo conviveu com Le Corbusier, tendo feito parte da equipa que projectou o edifício do Ministério da
Educação e Saúde no Rio de Janeiro, entre 1936-1943, e que Le Corbusier assessorou. A Niemeyer,
consta, se deve a ideia de elevar os pilotis (espécie de ordem gigante) em que assenta o edifício, o
que tão decisivamente contribuiu para o caracterizar, dando-lhe escala monumental, e fazendo o
piso vazado entre esses pilares participar da praceta, criada pelo próprio edifício, aliás. – Um lugar
absolutamente notável! – Assumindo a tradição da notável arquitectura barroca do Brasil (omitida
na onda rectilínea do Movimento Moderno), a sua arquitectura veio a caracterizar-se pelas linhas
curvas e sinuosas, que justifica deste modo:
Não é o ângulo recto que me atrai, nem a linha recta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a
curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas
ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo, o universo curvo de Einstein455.
E na realidade a curvilineidade e a sinuosidade são as pedras de toque da arquitectura de Niemeyer,
também marcada por uma espacialidade ampla, vazia, da qual diz:
o importante (...) são os espaços vazios, os espaços entre um grupo e outro, ou ainda, não entendo quem tem
medo dos vãos livres. O espaço faz parte da arquitectura456.
E será a espacialidade, a par da curvilineidade e sinuosidade, o traço distintivo da arquitectura de
Óscar Niemeyer, de volumes soltos, autónomos, sublimadores do espaço, e que, pela sua presença
e características formais, criam ou potenciam, humanizando-o, o lugar. – Aqueles lugares do Brasil,
cheios de seiva, humus, atmosfera, perfumados, e também, cheios de som e de fúria.
Álvaro Siza Vieira (nasc. 1933), arquitecto português, começa a trabalhar muito cedo, no início da
década de 50, ainda antes de se licenciar, como colaborador de F. Távora, dos mais notáveis arqui-
453 Aalto, «ob. cit.», in ob. cit., p. 6. 454 Aalto, «ob. cit.», in ob. cit., p. 7. 455 Niemeyer, O., As Curvas do Tempo: Memórias, Rio de Janeiro, 1998, p. 9. 456 Niemeyer, O., Entrevista Memória Roda Viva, e Sem Rodeios: Conto, Rio de Janeiro, 2006, p. 31.
110
tectos da Escola do Porto, a que também pertence Siza Vieira. Na Escola do Porto detecta-se uma
orientação para a Arquitectura Moderna, mas sem ortodoxia, antes intentando contextualizá-la com
as tradições, os materiais, as técnicas, as sensibilidades locais, e as características físicas do suporte
geográfico, urbanístico e arquitectónico pré-existente. De certo modo, a solução está no lugar, era o
lema do período mais militante ou combativo dessa Escola e dos seus principais representantes, entre
os quais se avultou Siza Vieira. – Isto queria dizer que os modelos ou protótipos da Arquitectura
Moderna (protótipos, por vezes já um pouco estereotipados, feitos ícones ou clichés do moderno) se
deviam reinterpretar a partir das características dos lugares em que se realizavam, assim integrando-se
na corrente internacional do Neo-regionalismo. Nos anos 70, na onda do Neomodernismo, a arqui-
tectura de Siza Vieira devém mais autónoma, menos condicionada pelo contexto local, assumindo a
perspectiva de que a arquitectura cria o lugar, e que o desenho é o desígnio da inteligência, frase
de Siza Vieira expressa numa entrevista a um jornal em meados dessa década457.
Le Baron Jeney, NYL Insurance Building, Chicago 1891, 14 pisos, o primeiro arranha-céus com estrutura portante inteiramente de aço; Home Insurance Building, Chicago, 1884, 14 pisos, o primeiro arranha-céus do mundo, estrutura mista de ferro forjado e aço; Sullivan, Carson, Pirie, Scott and Company, Chicago, 1899.
Saarinen, TWA Flight Center, New York, 1949-1950, inaugurado em 1962
457 Cita-se, ou melhor, refere-se a partir da memória vaga das leituras distraídas de jornais (DN, meados anos
80, primeiros de 90?), ou orações filosóficas da manhã (Hegel, 1802), enquanto se toma a bica.
111
Wright, a mais famosa das Prairie Houses: a Robie House, Chicago, 1909; e a mais famosa em
Absoluto: a Fallingwater House, 1935
Melnikov, Rusakov Club, 1917 meados 20’s; El Lissitzky, Volkenbügel (arranha-céus horizontais), 1923-25
Gaudi, Casa Milla, Barcelona, 1906-1910; Aalto, Dormitório do MIT, Camb. / Mass., EUA, 1947. Niemeyer, Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, 1936-47, e Igreja da Pampulha, 1940-43
112
Siza Vieira, Casa de Chá, Matosinhos, anos 50; Pavilhão Portugal, Expo 98, Lisboa
K. Tange, Igreja Sta Maria, Tóquio, anos 60 Corderch, Casa da Marina, Barcelona, anos 50
No son genios lo que necesitamos ahora
Al escribir esto no es mi intención ni mi deseo sumarme a los que gustan de hablar y teorizar sobre Arquitec-
tura. Pero después de veinte años de oficio, circunstancias imprevisibles me han obligado a concretar mis
puntos de vista y a escribir modestamente lo que sigue: Un viejo y famoso arquitecto americano, si no recuerdo
mal, le decía a otro mucho más joven que le pedía consejo: “Abre bien los ojos, mira, es mucho más sencillo
de lo que imaginas.” También le decía: “Detrás de cada edificio que ves hay un hombre que no ves”. Un
hombre; no decía siquiera un arquitecto. No, no creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los
genios son acontecimientos, no metas o fines. Tampoco creo que necesitemos pontífices de la Arquitectura,
ni grandes doctrinarios, ni profetas, siempre dudosos. Algo de tradición viva está todavía a nuestro alcance, y
muchas viejas doctrinas morales en relación con nosotros mismos y con nuestro oficio o profesión de arqui-
tectos (y empleo estos términos en su mejor sentido tradicional). Necesitamos aprovechar lo poco que de
tradición constructiva y, sobre todo, moral ha quedado en esta época en que las más hermosas palabras han
perdido prácticamente su real y verdadera significación. Necesitamos que miles y miles de arquitectos que
andan por el mundo piensen menos en Arquitectura (en mayúscula), en dinero o en las ciudades del año
2000, y más en su oficio de arquitecto. Que trabajen con una cuerda atada al pie, para que no puedan ir dema-
siado lejos de la tierra en la que tienen raíces, y de los hombres que mejor conocen, siempre apoyándose en
una base firme de dedicación, de buena voluntad y de honradez (honor). – José Antonio Corderch, 1960.
113
8. Do Pós-Guerra à Pós-Modernidade (1945-1980): As New Towns e os Smithson’s; Do Neo-
expressionismo, Neo-racionalismo profissionalista, e outras tendências à Pop Art e Complexity
and Contradiction, de Venturi; A Itália do Organicismo e do Neo-realismo até Aldo Rossi e
Manfredo Tafuri; New York Five Architects
Do Pós-Guerra à Pós-Modernidade (1945-1980): Se em tempo de guerra não se limpam armas, no
imediato pós-guerra a situação na Europa era limpar os destroços causados pela guerra e reconstruir
as cidades e sua arquitectura, destruídas pelos maciços bombardeamentos, mais do que reflectir sobre
estas. Assim, essas reconstruções fizeram-se tendo por modelo o antigamente existente, ou modelos
e teorias de antes da guerra. Em França usaram-se modelos variados, contemplando as diversas
tendências dominantes na Sociedade Francesa dos Urbanistas, com suas teorias de modernidade
comprometida entre uma herança de Beaux-Arts e um Internacional Style, passado pela máquina de
lavar; na Alemanha, Países-Baixos, Polónia, etc., as reconstruções fizeram-se obedecendo ao primado
da necessidade e da urgência, mais do que contemplando novas teorias e desenvolvimentos.
As contribuições mais significativas à teoria e prática da construção de cidades e da arquitectura,
no pós-guerra, vieram da Grã-Bretanha, de um país neutral, a Suécia, e doutro, a Itália, que por ter
mudado de campo a tempo, de certo modo, escapou aos bombardeamentos maciços. Mas não esca-
pou à emigração interna das populações do Sul, deprimido economicamente, para um Norte, a que
o modelo de reindustrialização, baseado na indústria ligeira de artigos de consumo, imposto pelos
Aliados no pós-guerra, fez crescer rápida e anomalamente.
As New Towns e os Smithson’s: As New Towns começam a desenvolver-se na Grã-Bretanha segun-
do o plano elaborado por Patrick Abercombrie (1879-1957), para a Grande Londres (Greater
London Plan 1944458), que por essa ocasião contava já cerca de 8 milhões de habitantes. Nesse plano
sente-se a influência da Garden-City, conjugada com o regionalismo de Patrick Geddes, e certas
teorias que tinham levado já ao Green Belt Act459, em 1938. Com o fenómeno das New Towns estão
relacionadas as teorias do casal Alison (1928-93) e Peter Smithson (1923-2003) que, com Van
Eyck, Bakema, Candilis, Woods, Voelcker e Howell’s, formaram o Team X e desenvolveram
actividade crítica no seio dos CIAM, 1953-56, questionando as quatro categorias funcionalistas da
Carta de Atenas: habitação, trabalho, recreio e transportes, a que opõem os conceitos de casa, rua,
bairro e cidade, lugar, vizinhança, pertença, e valor e funções subjectivas da rua:
O homem pode identificar-se facilmente com o seu próprio lar, portanto com a povoação em que este se encon-
tre situado. Pertencer é uma necessidade básica e emocional e suas associações são da ordem mais simples.
De pertencer – identidade – provém o sentido enriquecedor de vizinhança. A rua estreita e curta do bairro
458 Abercombrie, P., Greater London Plan 1944, London, 1945. 459 Green Belt (London and Home Counties) Act 1938, acessível in http://www.legislation.gov.uk/uk/green-
belt-london-and-home-counties-act-1938.
114
mísero triunfa ali onde uma redistribuição espaçosa fracassa460. – A sua reconsideração da rua e das vivências
e acontecimentos a ela associados ficaram celebrizadas no texto seguinte: A rua é um palco rectangular onde
têm lugar encontros, conversas, jogos, litígios, invejas, piropos e orgulho461.
Do Neo-expressionismo, Neo-racionalismo profissionalista, e outras tendências à Pop Art e
Complexity and Contradiction, de Venturi: Philip Johnson, co-autor com H.-R. Hitchock do The
International Style, que tanto contribuiu para a divulgação da arquitectura moderna identificada
como um estilo e tendendo para a sua normatividade, viria, durante os anos 50, a questionar esse tipo
de arquitectura, muito influenciado, segundo ele próprio diz, pela leitura que fizera de Geoffrey
Scott e seu livro, The Architecture of Humanism...462:
No foco do seu ataque está a utility; nega a relação entre funcionalismo e qualidade estética na arquitectura.
Remetendo-se a Friedrich Nietzsche afirma que a questão da forma arquitectónica é proeminente frente aos
problemas da moral, da função, dos materiais, da estrutura e de todos aqueles critérios que haviam sido
desenvolvidos pela arquitectura nos Sécs. XIX e XX, e que já Scott havia qualificado de marginais à quali-
dade arquitectónica463.
Com esta consideração do primado da forma faz uma reavaliação das formas do vocabulário histórico,
nas quais parece encontrar imagens susceptíveis de utilização para caracterizar algumas propostas
de projectos seus, como o da torre com o frontão quebrado ao jeito maneirista, assim, confinando-
se no âmbito de uma arquitectura da imagem, que cultiva com refinamentos de excelente designer.
Louis Kahn (1901-74), arquitecto de grande nomeada, anos 50-60, nos seus escritos reflecte sobre
as relações entre a forma e o espaço, a forma e o projecto, a circulação e a reestruturação da cidade,
o desenho urbano, e a morada, a rua e o pacto humano464, em que afirma ser necessário,
compreender o que distingue uma coisa da outra desde o ponto de vista formal. A qualidade de espaços que
caracteriza um edifico escolar não é a qualidade de espaços de um município. Eu creio que as cidades moder-
nas necessitam distinguir entre a arquitectura do viaduto e a arquitectura das actividades do homem, e sobre
a morada, a rua e o pacto humano, onde, reconhecendo ser a morada o início da arquitectura465,
apela ao sentido fundacional da sociedade e aos laços comunitários que a arquitectura tinha como
missão estabelecer. No total, dos seus textos extrai-se um conjunto de preocupações com a essência e
verdadeira natureza da arquitectura, que vê, antes de mais, como um problema de formas; para ele
460 Smithson, A. and Peter, cit. p/ Frampton, K., Modern Architecture: A Critical History, London, 1980 (ed.
esp. Historia crítica de la arquitectura moderna, trad. de J. Sainz, Barcelona, 1993, p. 275. 461 Smithson, A. and Peter, cit. p/ Rossi, A., L’architettura della Città, Venezia, 1966, ed. utilizada, Milano,
1995, p. 104. 462 Scott, G., The Architecture of Humanism: A Study in the History of Taste, Boston-London, 1914. 463 Krutf, ob. cit. (1985, 3. Aufl. 1995), S. 509. 464 Para o pensamento e obra de Louis Kahn, ver: Norberg-Schulz, Ch., y Digerud, J. G., Louis I. Kahn: Idea
y Imagen, Madrid, 1990, p. 7 (índice temático). 465 Norberg-Schulz y Digerud, ob. cit. (1990), p. 76.
115
a forma é a essência, no sentido platónico da ideia, de que as construções são apenas interpretações;
as formas teriam assim qualquer coisa de imaterial e universal; isso possibilitaria a sua utilização
em contextos históricos variados, sendo as formas consideradas como aptas a receber novos signi-
ficados e novas funções. Em todo este processo de consideração da forma, há uma reinterpretação
da linguagem clássica e vernacular da arquitectura, que praticou com distinção.
Cristopher Alexander (nasc. na Áustria em 1936): Apresenta, em meados da década de 60, Notes
on the Synthesis of Form466, e, década e meia depois, The Timeless Way of Building467, 1979, onde
anuncia que pretende desenvolver:
uma atitude absolutamente nova para a arquitectura e a planificação, uma alternativa que, esperamos, subs-
titua gradualmente as ideias e práticas em voga (an entirely new attitude to architecture and planning, an
alternative which will, we hope, gradually replace ideas and practices468).
Esse método para obter a síntese da forma, passaria pela observação analítica das complexas inter-
relações implicadas na função dos objectos e seu ajuste (fitness) às necessidades a que dão resposta.
Rejeitando o historicismo, considerado formalista e desajustado das exigências prementes, o seu
método postula a necessidade de racionalidade, vista como performance em relação à técnica e às
funções. Muito marcado por um enfoque sistémico e cibernético, as premissas e objectivos da sua
teoria exprimem-se em frases do género:
Estas notas referem-se ao processo de desenho, ou seja, o processo de invenção de coisas físicas, que exibem
uma nova ordem física, uma organização e uma forma novas, em resposta à função (These notes are about
the process of design; the process of inventing physical things which display new physical order, organization,
form, in response to function469).
É pois a um quadro de referências funcionais, das quais as formas derivariam, que esta teoria se
reporta, apoiando-se em métodos e procedimentos complexos de matemática, cibernética e sistémica.
Talvez outras "formas" de science fiction.
Bernard Rudofsky (1905-88), arquitecto, organiza uma exposição em 1964, no MOMA de Nova
Iorque, Architecture without Architects470. Nessa exposição e no livro originado, subordinado ao
mesmo tema e título, denota-se todo um grande interesse por formas de arquitectura banal, anónima,
baseada em esquemas simples de adaptação ao lugar, natureza e materiais, denotando à "outrance"
a insatisfação perante uma arquitectura funcionalista e planificada, ou baseada em estereotipos
formais desprovidos de real conteúdo. Na sua esteira houve um recrudescimento do interesse pelas
466 Alexander, Ch., Notes on the Synthesis of Form, Camb. / Mass., 1964, 3th ed. 1971. 467 Alexander, Ch., The Timeless Way of Building, New York, 1979. 468 Alexander, ob. cit. (1979), p. II. 469 Alexander, ob. cit. (1964, 7th print.), p. 1. 470 Rudofsky, B., Architecture without Architects, New York, 1964.
116
arquitecturas alternativas à expressa nas tendências oficiais, levando a uma reconsideração dos
processos de auto-construção, assentamentos urbanos não planificados e não licenciados (os ditos
clandestinos), etc. No entanto, não constitui uma teoria, ficando-se pelo esboço de intenções e uma
chamada de atenção para aspectos sombrios da realidade edificada, ou ambiental.
Kevin Lynch (1918-84), aborda a consciência perceptiva da cidade, sua legibilidade, em The Image
of the City471, 1960, com um enfoque em que se sente a contribuição da psicologia e antropologia, e
em que se tende a considerar a cidade, ou a sua percepção visual, como um facto concreto e sincrético,
mesmo que incompleto ou fragmentado, [cujo] espectáculo... pode produzir um prazer especial,
qualquer que seja a banalidade da visão que nos oferece (can give a special pleasure, however
commonplace the sight may be472). Demarca-se assim de muitas das teorias que tendiam a ver na
cidade existente de facto algo de desordenado, assaz confuso, quase demoníaco, que havia de ser
corrigido, ou mesmo substituído, pela hiper-organizada, funcional e formalmente, cidade da utopia
mecanicista ou social ou formalista. – Considera que:
a paisagem urbana é, para além doutras coisas, algo para ser apercebido, lembrado e contemplado. Dar
forma visual a uma cidade é um problema especial de design, um problema também recente (the urban
landscape, among its many roles, is also someting to be seen, to be remembered, and to delight in. Giving
visual form to the city is a special kind of design problem, and a rather new473) e identifica como relevantes
nessa forma visual ou imagem da cidade cinco elementos: Vias (Paths), Limites (Edges), Bairros (Districts),
Cruzamentos (Nodes), Pontos Marcantes (Landmarks)474.
Com estes elementos, e através do seu interrelacionamento, construía-se uma imagem, ou um con-
junto de imagens que se sobrepunham ou interrelacionavam... organizadas em séries de níveis,
envolvidas pela escala de uma área475. Assim, podendo ascender-se, na realização da imagem, do
nível de rua, para níveis de vizinhança, de cidade ou de toda uma região metropolitana476. Da
apreensão dos processos de formação da imagem urbana passa depois às considerações e prescrições
sobre a forma da cidade, tendo em vista aumentar a imagibilidade do meio-ambiente urbano, e
facilitar a sua identificação e a estruturação visual477, prescrevendo que os elementos, já identifi-
cados como constituintes-básicos, vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos marcantes, deveriam
ser orientados na sua definição formal por um conjunto de princípios ou categorias de interesse
directo para o Design478, os quais enuncia como sendo:
471 Lynch, K., The Image of the City, Camb. / Mass., 1960. 472 Lynch, ob. cit. (1960), p. 1. 473 Lynch, ob. cit. (1960), p. V. 474 Lynch, ob. cit. (1960), p. 46. 475 Lynch, ob. cit. (1960), p. 86. 476 Lynch, ob. cit. (1960), p. 86. 477 Lynch, ob. cit. (1960), p. 91ss. 478 Lynch, ob. cit. (1960), p. 93.
117
Singularidade... Simplicidade de forma... Continuidade... Predominância... Clareza de ligação... Diferencia-
ção direccional... Alcance visual... Consciência do movimento... Séries temporais... e Nomes e Significados479.
A sua tese é que um vasto ambiente urbano pode ter uma forma perceptível480. O mérito da obra de
Kevin Lynch, numa época de predomínio dos problemas funcionais e tecnológicos, é chamar a
atenção para a imagem da cidade, e ver a sua legibilidade e imagibilidade como associadas à sua
forma, que devia ser considerada nos processos de City-Design, contribuindo para um novo enfoque
dos problemas do Urban Design, distinguindo-o da arquitectura.
Jane Jacobs (1916-2006), jornalista colaboradora do Architectural Forum, em The Death and Life
of Great American Cities481, 1962, desenvolve, de um ponto de vista sociológico, uma demolidora
crítica às teorias da cidade e do urbanismo modernos, reavaliando a grande cidade tradicional e os
seus elementos constituintes: a rua, a densidade urbana, a mistura de funções, e desvalorizando as
zonas verdes e os parques, o zonamento, as cidades-jardim e outros satélites, as baixas densidades,
os centros culturais ou cívicos, etc. Opõe-se a uma cidade fragmentada e especializada em espaços
e funções, atacando frontalmente os paradigmas urbanísticos do movimento moderno, reabilitando
a rua na qual percebe estar a base da organização urbanística tradicional, com a separação nítida
que opera entre espaço público e espaço privado. No total, da sua crítica depreende-se, a par da
avaliação negativa que faz do urbanismo moderno, uma reavaliação da cidade tradicional, que terá
promovido uma onda de valorização subjectiva, que levou à yuppificação da cidade, e parece que
não só aí. Embora a revalorização e procura de residência e lugares de actividade na cidade antiga
seja um movimento que obedece a causas mais gerais, e mais comummente integráveis num fenó-
meno de repúdio da cidade nova.
Theo Crosby (1925-94), director técnico do Architectural Design, em Architecture: City Sense482,
1966, e em The Necessary Monument483, 1970, faz uma revisão crítica dos pressupostos do urbanismo
funcionalista, principalmente, a prioridade dada à circulação e ao tráfego automóvel:
O tráfego não é o importante. O importante é como vive a gente. Não se ganha nada com reduzir uns poucos
minutos o tempo de transporte se no final se chega a um lugar de residência insatisfatório... Não tem sentido
planificar para o tráfego, sem planificar, ainda mais intensamente, para outras necessidades humanas484.
É dos primeiros a assumir a tese de que o movimento moderno... foi uma adaptação da teoria arqui-
tectónica às necessidades da tecnologia485. Em «Tem Rules for Planners»486, artigo publicado na
479 Lynch, ob. cit. (1960), p. 105-108. 480 Lynch, ob. cit. (1960), p. 117. 481 Jacobs, J., The Death and Life of Great American Cities, New York, 1962. 482 Crosby, Th., Architecture: City Sense, London, 1966. 483 Crosby, Th., The Necessiary Monument, London, 1970. 484 Crosby, ob. cit. (1966), p. 41. 485 Crosby, ob. cit. (1966), p. 23.
118
obra de David Lewis, The Growth of Cities, 1971, recomenda a aceitação do passado, um tempo
ainda não possuído pelo frenesim produtivista dos novos tempos; a participação das pessoas, essen-
cial para o desenvolvimento da identidade, tanto da pessoa como do lugar; recomenda, também, o
abandono de critérios economicistas pois a posteridade não nos agradecerá as nossas economias,
abandono do critério de espaços verdes... a erva é o inimigo das cidades; a contenção do tráfego au-
tomóvel; evitar edifícios com mais de 20 m de altura, e mais de 10 m de fachada; privilegiar o pe-
queno promotor e o pequeno investimento; comprometer-se o planeador com os seus planos: Ter em
atenção que alguém tem que habitar. Que acharia se fosse você?487
Robert Venturi (nasc. 1925) e Denise S. Brown (nasc. 1931), publicam Complexity and Contra-
diction in Architecture488, 1966, e Learning from Las Vegas. The forgotten Symbolism of Architec-
tural Form489, 1972. Ambos os livros se integram numa linha de revisão dos fundamentos puristas
da arquitectura moderna e das práticas conexas. Venturi parte da fixação de um International Style,
que tinha cristalizado e era agora reproduzido em obras de epígonos, através de esquemas redutores
e simplificadores, entediantes: o less is more tornara-se less is bore (o menos é entediante); a este
tédio opõe uma arquitectura equívoca que defende na forma de um suave manifesto:
Agrada-me a complexidade e a contradição em arquitectura (...) a arquitectura é necessariamente complexa
e contraditória pelo facto de incluir os tradicionais elementos vitruvianos de comodidade, solidez e beleza. E
hoje as necessidades de programa, estrutura, equipamento mecânico e expressão, inclusivé em edifícios iso-
lados, num contexto simples, são diferentes e conflituosas de uma maneira antes inimaginável. A dimensão e
escala crescente da arquitectura nos planeamentos urbanos e regionais aumentam as dificuldades. Dou as
boas vindas aos problemas e exploro as incertezas. Ao aceitar a contradição e a complexidade, defendo tanto
a vitalidade como a validade490.
No outro livro, faz uma leitura do sentido do simbolismo em arquitectura defendendo a desordem
confusa, mas reveladora de vitalidade, da paisagem urbana de Las Vegas, com seus néons, out-doors,
decorated shed’s, considerando a arquitectura mais como símbolo do que como espaço (outra demar-
cação dos dogmas do Movimento Moderno). – No total, denota-se em Venturi uma atitude crítica
face à decadência que se observava na prática daqueles que designa os epígonos da Arquitectura
Moderna, donde infere a fragilidade dos pressupostos desta; assim, o seu apelo, é para a revisão
desses pressupostos, tendo em atenção os valores da cultura Pop, então em voga: o banal, popular,
anónimo, a complexidade e contradição, enfim, a desordem onde se podia ocultar uma ordem e um
486 Crosby, Th., «Tem Rules for Planners», in Lewis, D., The Growth of Cities, London, 1971, p. 65-68. 487 Crosby, ob. cit. (1971), p. 68. 488 Venturi, R., and Brown, D. S., Complexity and Contradiction in Architecture, New York, 1966, ed. 2002. 489 Venturi, R., Brown, D. S., and Izenour, S., Learning from Las Vegas. The forgotten Symbolism of Archi-
tectural Form, Camb. / Mass., 1972. 490 Venturi and Brown, ob. cit. (1966, ed. 2002), p. 16.
119
significado ainda não identificados e explorados. Finalizando, revela-se na concepção que Venturi
tem da arquitectura, que esta seria mais uma arte da representação do que da construção. Com efeito,
para Venturi, não parece ser importante o que a arquitectura seja, mas sim o que representa ou apa-
renta ser; aquilo a que chama o seu significado, ou aquilo que simboliza.
No total deste período de cerca de duas décadas denota-se em quase todos os teóricos uma atitude
de dissidência em relação aos princípios do funcionalismo e formalismo arquitectónico e urbanístico
para que tinham evoluído as práticas fundamentadas no movimento moderno. Assim, buscando os
valores concretos dos elementos urbanos (Smithson’s); piscando o olho às formas clássicas (John-
son); reflectindo sobre as formas vernáculas e seu sentido comunitário (Kahn); enveredando por
aprofundamentos matemáticos e sistémicos desse mesmo funcionalismo (Alexander); apelando a
uma arquitectura sem arquitectos (Rudofsky); procurando elucidar a estrutura e elementos compo-
nentes da imagem da cidade (Lynch); reavaliando a cidade tradicional e desmontando os mitos do
novo urbanismo (Jacobs); questionando a cidade para o automóvel (Crosby), ou reivindicando a
complexidade e contradição e o simbolismo olvidado da forma arquitectónica (Venturi), uma linha
de força percorre todas estas expressões de pensamento: era preciso rever a arquitectura e a cidade e
seus reflexos na teoria, ou as teorias de que essas práticas seriam reflexo. – De resto, o que se passa
com a expressão teórica, já se observaria na prática, desde o imediato pós-guerra, com a emergência
do Neo-expressionismo, do Neo-racionalismo, do Brutalismo, além do Organicismo de A. Aalto e
do Metabolismo de Kurokawa, e das propostas singulares de Paolo Soleri, grupo Archigram,
Buckminster Fuller, e Yona Friedmann, oscilando entre utopia e ficção científica, mais integráveis
na Pop Art, que na Teoria da Arquitectura, exprimindo-se por imagens, mais que por palavras. As
estruturas propostas por Kurokawa, têm analogias com as desenvolvidas, quase ao mesmo tempo,
por Paolo Soleri (nasc. 1919) nos EUA, Mesa-City e Arcosanti, no deserto do Arizona, teorizadas
como Arcology491, mistura de Architecture with Ecologie. Com estas imagens e teorias a arquitectura
mostra outras das suas fontes de inspiração cultural, a literatura e cinema de ficção científica, o que
já se denotava em certos aspectos das propostas teórico-utópicas de Hénard e sua ligação à Guerra
dos Mundos de H. G. Welles492. Neste mesmo enquadramento, oscilando entre a utopia e a ficção
científica, se podem classificar as propostas do grupo Archigram, Buckminster Fuller, Yona Fried-
man, e suas arquitecturas móveis, entre outras, igualmente dadas ao culto da utopia, do extravagante,
e de um certo humor Pop, não isento de sentido crítico, ou mesmo, ironia swiftiana.
A Itália do Organicismo e do Neo-realismo até Aldo Rossi e Manfredo Tafuri: O debate arqui-
tectónico em Itália, no pós-guerra, é paralelo no tempo, e em geral no contexto social e político ao
resumido no anterior item, pondo-se as mesmas questões de enfado perante a arquitectura moderna 491 Soleri, P., Arcology: The City in Image of Man, Camb. / Mass., 1973. 492 Welles, H. G., The War of the Worlds, London, 1898.
120
e as teorias que a fundamentavam. À partida, em Itália, a arquitectura moderna não tinha uma carga
política inequívoca a priori, pelo que o leque de opções estava aberto: podia-se ser modernista,
populista ou neo-realista, racionalista ou empirista, funcionalista ou organicista, além de a conside-
ração ou reconsideração histórica das grandes arquitecturas e factos urbanos do passado também não
estar afastada, por princípio. É pois em Itália que se vai assistir ao renascer da teoria da arquitectura
e com um enfoque em dois campos opostos, se bem que com pontos de confluência e tangência: um,
derivado de Zevi e das suas teorias organicistas e espaciais, tendendo para a privilegiação do terri-
tório e ambiente; outro mais ligado à tradição racionalista, dando primazia à arquitectura. Vai-se
alinhar e comentar no primeiro grupo: Zevi, Argan, Benevolo, Greotti, Cannigia e Muratori; no
segundo, Samonà, Quaroni e Rogers; e Rossi, Aymonino, Grassi e Tafuri, que articulam com este
segundo grupo, serão tratados no último ponto, com o qual se encerrará este item.
Mas a cultura italiana do pós-guerra é, toda ela, marcada pelo enfoque neo-realista, que vai privilegiar
a construção anónima, banal, a edilícia urbana, os grandes pátios rurais, as formas arquitectónicas e
urbanísticas de uma longa tradição, que formavam a própria realidade, e que havia que reabilitar.
Como o refere Leonardo Benevolo, em Storia dell’architettura moderna493, 1960:
As películas de Rossellini e De Sica, o teatro de Edoardo, as pinturas de Guttuso, as arquitecturas de Ridolfi
em Trevi e o bairro Tiburtino em Roma têm em comum o desejo de ajustar-se à realidade quotidiana, con-
creta, circunstanciada, com preferência para as formas populares e regionais, o interesse circunscrito ao
ambiente envolvente, a recusa das abstracções e exotismos494.
O primeiro teórico notável é Bruno Zevi (1918-2000), cujas teses se pode resumir na arquitectura
como fenómeno orgânico, nascido de dentro para fora, em que o espaço, principalmente o espaço
interior, é o protagonista da arquitectura. A história da arquitectura é a das diferentes concepções
do espaço, que evoluíra através de várias fases e estilos até chegar à planta livre e espaço orgânico
da idade moderna, que dava prioridade à habitação dos operários e camponeses, e conjugaria:
a vontade gótica da continuidade espacial (...) a experiência barroca das paredes onduladas e do movimento
volumétrico, de novo, não por ideais estéticos auto-suficientes, mas por considerações funcionais retoma a
métrica espacial do Renascimento495.
E desenvolvendo o que viria a tornar-se conhecido como a sua concepção dualista da Arquitectura
Moderna (organicismo versus funcionalismo), afirma:
As duas grandes correntes espaciais da arquitectura moderna são o funcionalismo e o movimento orgânico.
Ambas de carácter internacional, a primeira surge na América, na Escola de Chicago, de 1880-1890, mas
493
Benevolo, L., Storia dell’architettura moderna, Roma-Bari, 1960, 6.ª ed. 1975 (ed. esp., Historia de la arqui-tectura moderna, trad. de M. Galfetti, J. Díaz de Atauri y A. M.ª Pujol i Puigvehi, Barcelona, 3.ª ed. 1979.
494 Benevolo, ob. cit. (1960, 6.ª ed. 1975, 3.ª ed. esp. 1979), p. 791-792. 495 Zevi, B., Sapere vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura, Torino, 1948,
reed. de 1993, p. 95.
121
encontra a sua formulação na Europa e o seu chefe no arquitecto suíço-francês Le Corbusier; a segunda
tem, pelo contrário, o seu maior expoente num génio americano, Frank Lloyd Wright, e apenas nos últimos
decénios se difunde na Europa. Tendo em comum o tema da planta livre, estas correntes entendem-no de
forma diferente, apenas racionalmente a primeira, e a segunda organicamente e com plena maturidade (...)
A arquitectura funcional corresponde na América e Europa, às exigências mecânicas da civilização indus-
trial; por isso proclamou os tabus do utilitarismo, isto é, da adesão ao objectivo prático do edifício e à técnica,
e da "casa de todos", estandardizada e anónima. A arquitectura orgânica, com Wright, na América, com
Aalto, suecos e os jovens italianos, responde a exigências funcionais mais complexas, isto é, funcionais, não
só relativamente à técnica e utilidade, mas à psicologia do homem. A sua mensagem pós-funcionalista é a
humanização da arquitectura496.
No total, Zevi situa bem o debate arquitectónico dos primeiros tempos do pós-guerra e o enfoque
empírico, populista e organicista que o caracterizou: tratava-se, sobretudo, do repúdio do funciona-
lismo estreito, formalizado e canonizado pelo International Style, e de procurar bases mais conaturais
para a arquitectura, animado pelo intuito de a humanizar.
Giulio Carlo Argan (1909-92), historiador, a sua formação leva-o a introduzir uma perspectiva
histórica sobre a vanguarda e a modernidade, até aí consideradas de contemporaneidade absoluta.
Assim, foi o primeiro a falar delas como história passada, analisando, no sentido marxista, a formação
e desenvolvimento da Bauhaus497, e onde começa gizando uma visão crítica da arquitectura moderna
e suas teorias como tendo consistido numa adaptação da arquitectura ao ciclo da produção indus-
trial, assim, caminhando para a subalternização e perda de identidade disciplinar. E é a identidade
da arquitectura que o leva a repensar o conceito de tipologia arquitectónica, a partir de Quatremére
de Quincy, opondo-se ao enfoque idealista na concepção das formas arquitectónicas, propondo uma
visão destas como referidas sempre a tipos, desenvolvidos a partir da experiência factual e histórica.
As relações entre arquitectura e urbanística são também contempladas, alertando para a situação da
arquitectura, arte da construção do território, estar a ser subalternizada pelo plano, técnica de gestão
do território, que exercia a sua influência sem estar sujeito a consumo. – No total, do seu pensa-
mento, marcado pela ideologia marxista, a fenomenologia de Husserl e a filosofia de Heidegger, exa-
la-se a consciência da morte da arquitectura ou, pelo menos, da incapacidade para se superar a de-
cadência a que estaria destinada; a noção da morte da arquitectura, fá-lo dar primazia à conservação
dos monumentos e dos ambientes urbanos históricos, optando pelo planning contra a arquitectura,
como maneira de evitar a destruição daquilo que, embora reconhecendo-o como fetiche do passado,
tinha a vantagem de ter sido arquitectura nesse passado e o poder testemunhar. E talvez fosse esse o
496 Zevi, ob. cit. (1948, ed. 1993), p. 97. 497 Argan, G. C., Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, 1951 (ed. port., Walter Gropius e a Bauhaus, trad. de
E. Campos Lima, Lisboa, 1984).
122
destino das cidades históricas e da arquitectura: tornarem-se testemunho e museu dos tempos em
que verdadeiramente se produzia arquitectura.
Leonardo Benevolo (nasc. 1923), historiador, muito cedo ligado às experiências do plano de Bolonha
para salvaguarda do centro histórico, desenvolveu, desde fins de 50, inícios de 60, intensa activida-
de como investigador histórico e teórico da arquitectura, partindo dum ponto de vista que conjuga o
neo-tomismo com o marxismo – qual prenúncio de compromisso histórico – e duma concepção da
história evolutiva, ou como processo histórico, que no fim terá um desenlace favorável e de redenção.
Será esta perspectiva, duma finalidade superior nos acontecimentos, conjugada com uma visão da
arquitectura determinada pelas infraestruturas sócio-económicas, que o leva a propor, em 1963, a
aliança entre a arquitectura e as forças políticas: As instâncias renovadoras da cultura urbanística
moderna só podem efectivamente traduzir-se em realidades se retomarem o contacto com as forças
políticas que tendem para uma transformação geral análoga da sociedade498. Esta tese valeu clara
refutação por parte de Aymonino, Gregotti, e outros... Realmente, às novas gerações de arquitectos
não sobrava muito, na perspectiva de Benevolo: depois da arquitectura ser diluída no território, vista
como mera determinação das infraestruturas sociais, económicas, e tecnológicas, era agora obrigada a
ligar-se a essa panela de ferro que é a política, que naturalmente não lhe concederia a menor autono-
mia, uma vez que, e Benevolo até parece ter consciência disso, na perspectiva desta todas as soluções
de reformas sectoriais deveriam subsumir-se numa grandiosa solução de reforma geral. Daí talvez
a escolha pelo planeamento (o que não se consome, não se realiza) e pela conservação dos centros
históricos, o que lhe vale a irónica crítica de Tafuri, de considerar a sua visão, fora duma concepção
dialéctica da história, pois, em coerência, a “dialéctica” não se deveria preocupar, nem em gerir
conflitos territoriais, nem em conservar centros históricos, mas sim reconhecer que a acentuação da
negatividade, é a condição para a negação da negação ou síntese superadora. Enfim, a(s) ortodoxia(s)
nos anos 60 já tinha(m) deixado de ser dialéctica(s). – No total, as concepções de Benevolo, que
partira da afirmação de William Morris, sobre a arquitectura dizer respeito a todo o ambiente físico
que rodeia a vida humana499, revelam-se como afectadas por um entendimento restritivo, quase só
restando à arquitectura resposta a solicitações duma praxis que se forma à sua margem, e sem auto-
nomia para a criação e construção, ela própria, duma praxis alternativa.
Vittorio Gregotti (nasc. 1927), arquitecto, no debate teórico da arquitectura, nos anos 60, em Itá-
lia, integra-se numa zona de interesse, que ele próprio qualifica em livro que escreveu em 1967,
New Directions in Italian Architecture500, como tendendo a:
498
Benevolo, L., Le origini dell’urbanistica moderna, Bari, 1963 (ed. port., As Origens da Urbanística Moder-na, trad. de C. Jardim e E. L. Nogueira, Lisboa, 1983, p. 10).
499 Benevolo, L., ob. cit. (1960, 6.ª ed. 1975, ed. esp. 1979), p. 6, citando W. Morris, The Prospects of Archi-tecture in Civilization, 1881. – Passagem já referida no Cap. 4, na parte sobre William Morris.
500 Gregotti, V., New Directions in Italian Architecture, London, 1968.
123
analisar o conceito de ambiente físico procurando uma nova forma de criar todas as escalas a partir da ideia
de relação e de materiais [ou] aquela que se refere à noção de ambiente [e] parece propor uma posição de
proeminência às ideias de mobilidade e de ambiguidade, de significado e de interesse pela complexidade de
materiais que se oferecem à estruturação da arquitectura... Esta atitude... tende a dirigir os seus esforços
para uma criação de sistemas ambientais (sem distinção entre natural e artificial)501.
No seu texto fundamental: Il territorio dell'architettura502, 1966, propusera-se analisar a especifici-
dade e autonomia da arquitectura (o seu território, derivado do conceito de Heidegger, in-der-Welt-
Sein, assumido por Merleau-Ponty e Enzo Paci503, que o inspiram, e nas teses do estruturalismo
aplicado no campo da semiologia e da antropologia, afirmando que não pretende apresentá-lo como
um tratado mas sim como um exercício de projecto504, reflectindo sobre quatro temas fundamentais:
Os Materiais da Arquitectura; A Forma do Território; Arquitectura e História e Tipo, Uso e Significado505.
Começa por se demarcar de certas perspectivas – no caso, a perspectiva hegeliana –, afirmando que
o processo histórico é mais produto da astúcia do desejo do que da astúcia da razão506. Gregotti,
considerando uma atitude alternativa ao racionalismo e ao funcionalismo, procura estabelecer um
compromisso entre os objectivos da tradição do Movimento Moderno, com as novas condições de
produção e recepção da arquitectura, e alargar o âmbito do seu território, remetendo-a para o con-
junto ambiental de que faz parte. Desse conjunto ambiental também as marcas históricas fariam
parte e deveriam ser entendidas na atitude projectual, embora não pudessem ser directamente utili-
zadas, dado referirem-se a uma tradição morta por assim dizer. Só a história mais recente, referente
ao Movimento Moderno, tinha actualidade, e era dentro dessa tradição, e seus horizontes, que a
arquitectura contemporânea se deveria movimentar. – No total, Gregotti postula uma atitude de
continuidade com os paradigmas funcionalistas básicos, integrando-se nas correntes de renovação
dessa linha de modernidade. Todavia, na sua actividade como projectista, não deixa de fazer cons-
tantes referências a formas vetustas da arquitectura histórica, parecendo querer enraizar ou enxertar
o funcionalismo e, modo geral, a arquitectura moderna numa tradição mais antiga.
Gianfranco Caniggia (1933-87), arquitecto, integra-se na mesma corrente, primazia ao ambiente,
mas segundo um enfoque próprio, que se pode definir como vendo na arquitectura a sequência das
relações do homem com o seu território, a que chama espaço antrópico, ou seja, espaço construído
pelo homem, embora numa atitude de sujeição ao contexto ambiental de que faz parte, e cuja inter-
501 Gregotti, ob. cit. (1968), p. 108. 502 Gregotti, V., Il territorio dell'architettura, Milano, 1966. 503 Para os filósofos referidos, ver: Heidegger, M., Sein und Zeit, § 25 ff. (1927), Frankfurt am Main, 1977, S.
153 ff.; Merleau-Ponty, M., La structure du comportment, Paris, 1942; id., La phénomenologie de la percep-tion, Paris, 1945; Paci, E., L’esistenzialismo, Padova, 1942; id., Esistenzialismo e storicismo, Milano, 1950.
504 Gregotti, ob. cit. (1966). 505 Gregotti, ob. cit. (1966). – Estes são os temas referidos no índice capitular. 506 Gregotti, ob. cit. (1966).
124
pretação correcta seria condição indispensável para quaisquer operações de intervenção. Assim, é o
enfoque ou tendência que considera como fundamental e necessariamente prioritário para a projecta-
ção a análise urbana, isto é, a leitura dos elementos de base na constituição dos tecidos típicos dos
organismos urbanos, a que atribui funções de operatividade. – Colaborador muito novo de Muratori,
a sua obra é influenciada pela deste, da qual pretende ser um desenvolvimento. O objecto central do
pensamento de Caniggia é a tipologia, que define como consistindo nas relações
espontaneamente codificadas entre o ambiente e a obra do indivíduo, com trâmito da colectividade, entendendo
com este último termo a porção de humanidade que, assente num lugar, condicionou no tempo a estruturação
a assumir carácteres peculiares, individuais, codificados. Com escrupulosa atenção a não confundir o sentido
de "colectividade" com o entendê-la como somatório de personagens, de singulares "autores" emergentes507.
É pois para um tempo remoto e, no entanto, continuando a manifestar-se, que Caniggia apela: o tempo
e as circunstâncias de produção de uma arquitectura anódina e anónima, derivada da relação com o
meio geográfico, social e cultural, de uma consciência espontânea, que gerava uma estruturação
espontânea do ambiente. Admitindo, contudo, que essa consciência espontânea estaria perdida ou,
pelo menos, já não era a dos arquitectos, propõe actuar com consciência crítica, própria dos períodos
de crise cultural em que as coisas e a consciência que as reflecte deixam de ser espontâneas. E o nosso
tempo é um tempo de crise. Caniggia interessa-se pela habitação mais do que pelo monumento. Na
sua óptica é a habitação o que mais marca o assentamento urbano, do qual é uma infraestrutura de
base, enquanto que o monumento não seria mais do que uma frívola superestrutura, produto das
classes dominantes e da sua ideologia. – Resumindo, a postura de Caniggia integra-se na primazia
ao ambiente e território, e dando prioridade ao planeamento, parecendo ver neste sobretudo um
instrumento de defesa das agressões a que os organismos territoriais e urbanos estavam sujeitos por
parte das classes dominantes, e das estruturas demasiado complexas que se sobrepunham a uma
estrutura natural, que começava a não ter capacidade de as suportar508.
Saverio Muratori (1910-73), arquitecto, desenvolve uma teoria científica do desenvolvimento urba-
no509, empreendendo os estudos das relações entre a tipologia edilícia e a morfologia urbana como
história da edilícia, unindo num único procedimento de indagação e conhecimento a arquitectura e a
507 Caniggia, G., Strutture dello spazio antropico, Firenze, 1976, 2. ed. 1981, p. 8-9. 508 Caniggia, G., Lettura dell’edilizia di base, Padova, 1979 (ed. esp., Tipologia de la edificacion, trad. M, G.
Galán, Madrid, 1995), p. 178: Nuestro tiempo... se caracteriza por una gran «artificialidad», y por la consi-guiente fragilidad de estructuras demasiado complejas, y demasiado enfrentadas a la capacidad de soporte de la propria «estrutura natural». Pagaremos, sin duda, la complejidad de cambios de nuestro ambiente, y el ficticio bienestar producido por ela, com una nueva y dramática crisis, cuyos primeros indicios son ya bien conocidos como para tener que deternos en el problema. Vivimos en estructuras que tienen como contrapunto de su elevada especialización la brevedad de la duración... – Um Alerta!, hoje mais actual e imperioso, ainda, do que no tempo em que foi expresso.
509 Ver: Muratori, S., Studi per una operante storia urbana di Venezia, Roma, 1959; id., Muratori, S. e Maretto, P., L’edilizia gotica veneziana, Roma, 1960 (considerado 2.ª parte do Studi...).
125
cidade510; esta é a sua contribuição original para o debate arquitectónico do tempo, pois que ao
chamar a atenção para a realidade das tipologias refuta a idealidade dos protótipos funcionalistas e
formalistas da arquitectura moderna, da qual, num ciclo de lições, em 1959-60, traça uma história
bastante crítica, considerando que tudo aquilo fora un grande sforzo... per alimentare un fiasco511.
No entanto, ressalva desse fiasco a obra de arquitectos, como Asplund, Böhm e Bonatz, por não se
terem afastado da linguagem clássica, que souberam reinterpretar em termos adequados aos novos
tempos. Colocou-se Muratori nesta posição, depois de Caniggia, seu discípulo, por razões que se
prendem com o facto de ser um autor que faz a charneira entre o primeiro grupo, da primazia ao
ambiente, ao planeamento e a um funcionalismo recauchutado, e o grupo que vem a seguir, que deu
primazia à arquitectura, que constrói o lugar. E, resumindo, o aspecto mais conclusivo da intervenção
de Saverio Muratori no debate arquitectónico da Itália dos anos 50-60, é a descoberta da realidade
tipo-morfológica, e a crítica à arquitectura moderna a partir da arquitectura de sempre, assim, expres-
sando o desejo de continuità, que se formalizaria no título da revista Casabella-Continuità.
A Geração da Resistência e Transição, Samoná, Quaroni e Rogers: Arquitecto e engenheiro,
director do IUAV, Giuseppe Samonà (1898-1983), em L'urbanistica e l'avvenire della Città...512,
1959, reflecte sobre a contribuição do urbanismo para a conformação da cidade, advogando a reno-
vação dos organismos urbanos, de que dá como exemplo a intervenção de Haussmann em Paris,
avaliada favoravelmente: avaliação que tem a ver com a defesa das possibilidades de intervenção
na cidade antiga. De resto, a sua obra, L'urbanistica..., começa com estas palavras:
Converteu-se num lugar comum considerar negativas as mudanças que se têm verificado na estrutura da
localização humana por efeito do urbanismo513.
A obra de Samonà é a refutação deste preconceito e defesa das grandes cidades, com as vantagens
presentes e as que se lhe podiam acrescentar. Assim, defende a capacidade de renovação da cidade,
através da urbanística, que concebe duma maneira arquitectónica. De resto, ataca a teoria sociológica
da comunidade, da unidade de vizinhança, a sobrevalorização da cidade-jardim e cidade satélite, por
parte da construção subvencionada do pós-guerra; a estas operações e seus resultados fracassados
antepõe a vivacidade dos bairros populares e chama a atenção para a vantagem em os beneficiar, mas
mantendo os traços essenciais. O seu livro é uma crítica às ideologias anti-urbanas, e uma reconside-
ração da importância dos tecidos compactos.
Arquitecto e urbanista, Ludovico Quaroni (1911-87), em La Torre di Babele514, 1967, reflecte criti-
camente sobre os métodos de contraposição do urbanismo à arquitectura, e o carácter abstracto, 510 Aymonino, C., «El estudio de los fenomenos urbanos», in Pozo, A. del, Analises urbano. Textos: Gian-
franco Caniggia, Carlo Aymonino, Massimo Scolari, Sevilla, 1997, p. 78. 511 Muratori, S., Da Schinkel ad Asplund. Lezioni di architettura moderna. 1959-1960, Firenze, 1990, p. 96. 512 Samonà, G., L'urbanistica e l'avvenire della Città nel Stati europei, Bari, 1959. 513 Samonà, ob. cit. (1959), p. 9.
126
insubstancial, difuso e confuso (daí Babele), de muitos dos procedimentos do Planning, preocupado
com tudo menos com a forma da cidade e sua beleza, propondo que se remontasse à consideração da
cidade do passado; nesta remissão para a cidade do passado e sua arquitectura, como inspiração para a
arquitectura e urbanística contemporânea, Quaroni, ao mesmo tempo que exprime o desencanto com
os métodos e resultados do urbanismo moderno, acerta o passo com uma geração mais jovem, que
contribuíra para formar, e entre os quais se destaca Aldo Rossi, prefaciador da obra referida (de edição
tardia), onde estas reflexões se expressam. Já no fim da sua carreira, em Progettare un edificio. Otto
lezioni di architetttura515, 1977, apresenta uma síntese do seu pensamento, indo da reflexão sobre a
arquitectura como ofício, à consideração do método global integrado, como método de compreensão
da arquitectura; esse método, que também chama de unitário, é o que tende a considerar e dar resposta
por igual às três categorias da tríade vitruviana; ora tal deixara de existir com a Modernidade: uns
só atendiam à firmitas, outros à utilitas, e outros à venustas, assim, tornava-se imperioso repensar
a arquitectura em termos de resposta equilibrada a essa incontestável e inultrapassável tríade. Com
tal resume-se o pensamento de Quaroni: repensar as relações entre urbanística e arquitectura, de
modo que esta tivesse lugar, e repôr o equilíbrio da tríade vitruviana na arquitectura e sua teoria.
Ernesto N. Rogers (1909-69), arquitecto, inicia a sua actividade, tal como Muratori, Samonà e Qua-
roni, nos anos 30, estabelecendo um atelier em sociedade com Banfi, Belgiojoso e Peressuti, que
adoptou como sigla as iniciais de cada sócio: BBPR, sigla que se manteve mesmo após a execução
de Banfi, durante a guerra, pelos nazis. Se a Samonà se deve a revitalização do IUAV, a Rogers
deve-se a do IUPA de Milão. Ernesto Nathan Rogers foi o teórico que teve o papel mais importan-
te, não só na Itália do pós-guerra, mas em toda a Europa516. É particularmente notável a polémica
que travou com Reyner Banham nas páginas de Casabella-Continuità517, 1959, e onde defende uma
atitude de crença e desejo na continuidade da arquitectura, mas de toda a arquitectura, logo incluíndo
a histórica e não só a moderna que, aliás, também se tornara histórica, como bem o mostrara Argan.
A tese de Banham é que só valia a pena reflectir sobre a arquitectura moderna, cujo início situa nos
neo-plasticistas. No total, na obra de Rogers, que se prolonga por uma série de artigos e conferências
recolhidas em livro, com o título Esperienza dell'architettura518, 1958, há a atitude de privilegiar a
esperienza face às grandes teorias, que também deveriam ser consideradas, não como dogmas, de
514 Quaroni, L., La Torre di Babele, Padova, 1967. 515 Quaroni, L., Progettare un edificio. Otto lezioni di architetttura, Milano, 1977. 516 Hereu, P., Montaner, J. M., y Oliveras, J., «Nota: Ernesto Nathan Rogers», in Hereu, Montaner y Oliveras,
ob. cit. (1994), p. 320. 517 A polémica teve origem num artigo de Aldo Rossi, «Il passato e il presente nella nuova architettura», in
Casabella-Continuità 217 e 219, 1958; a crítica de Reyner Banham, «Neo liberty. The italian retreat from Modern Architecture», in Architectural Review 747, 1959; resposta de E. N. Rogers, «Il svilupo dell’archi-tettura. Risposta al guardiano di frigorìfici», in Casabella-Continuità 228, 1959. – É de notar o uso da expres-são retreat (retirada) em Banham, o que dá um tom bélico à polémica, e alude à retirada italiana na Guerra.
518 Rogers, E. N., Esperienza dell'architettura, Torino, 1958.
127
princípios definitivos e doutrinários, e sim, elas próprias, experiências a serem aprofundadas pela
reflexão e pelo seu confronto com a prática.
Aldo Rossi (1931-97), o seu pensamento estende-se de L’architettura della Città519, 1966, um verda-
deiro tratado, a Scritti scelti sull'architettura e la cittá: 1956-1972520, 1975, e A Scientific Autobiogra-
phy521, 1981, além da sua prolixa e coerente produção arquitectónica. Este resumo limita-se ao seu
tratado do qual se pode apresentar, a síntese seguinte:
Arquitectura: originada na necessidade de abrigo, visa a construção dum ambiente mais propício à
vida, marcado pela intencionalidade estética522; a arquitectura são os factos urbanos e o seu material
expressa-o a história da arquitectura; assim, a arquitectura são as arquitecturas, com relevo para as
formas tipológicas; como método de projecto, propõe o procedimento analógico, ou reinterpretação
das arquitecturas existentes e do espírito do lugar, o locus; os monumentos, a arquitectura da antigui-
dade, eternos referentes da arquitectura, impõem-se por ser onde mais intensamente significado e
locus se expressam; daí a exegese do classicismo que percorre toda a obra de Rossi. Arquitectura
da Cidade versus Planning e Urban Design: a estes conceitos, oriundos da tradição anglo-americana,
e aos congéneres, privilegiando o ambiente, contrapõe Rossi o de arquitectura da cidade: a cidade
é o conjunto das suas arquitecturas, e ela própria, uma arquitectura; assim, esses conceitos só podiam
ter sentido referidos a partes constituintes da arquitectura, visando a forma da cidade e a dos seus
elementos morfológicos base, produto da relação entre a tipologia edilícia e a morfologia urbana.
Tratadística ou Teoria: interpretação da arquitectura e da cidade, visando o seu estudo analítico, a
formulação de regras e princípios, a identificação de tipologias e do seu significado, a manualística,
esquemas, modelos, carácteres dos edifícios. Em suma, o estudo dos factos urbanos, e a procura
das suas regras e sentido, que evidenciavam:
1) a cidade é uma construção no tempo e no espaço, ou seja, uma arquitectura, uma vez que o seu
aspecto decisivo, em termos de identidade, são precisamente as construções, avultando entre estas,
os monumentos, onde a carga arquitectónica é mais acentuada. Daí que o dizer bela cidade seja o
mesmo que dizer bela arquitectura523;
2) o espaço urbano é reconhecido como não homogéneo, não indiferenciado, devendo reconhecer-se
os seus pontos singulares, onde a carga de significação é mais acentuada e o locus, isto é, o espírito
do lugar, mais se faz sentir; esses lugares são os elementos primários da estrutura urbana e, entre
519 Rossi, A., L’architettura della Città, Padova, 1966, nuova ed., Milano, 1995. 520 Rossi, A., Scritti scelti sull'architettura e la cittá: 1956-1972, Milano, 1975. 521 Rossi, A., A Scientific Autobiography, Camb. / Mass., 1981. 522 Rossi, ob. cit. (1966, ed. 1978), p. 9; é lapidar a definição de Aldo Rossi: Creazione di un ambiente più
propizio alla vita e intenzionalitá estetica sono i caratteri stabili dell’architettura. 523 Rossi, ob. cit. (1966, ed. 1995), p. 58.
128
estes, evidenciam-se os monumentos, signos da vontade colectiva expressos através dos princípios
da arquitectura524, e com os quais a comunidade estabelece laços especiais;
3) decorrente da perspectiva, acima definida, a teorização de Rossi demarca-se do primado do ambi-
ente ou do contexto imediato, apontando para a primazia do edifício nas suas relações com o espaço e
o contexto urbano, ou ambiente, que considera ser, precisamente, aquilo que a arquitectura constrói.
É na base do conjunto destes pressupostos – talvez mais que isso, verdadeira epistemologia de uma
teoria da arquitectura525, nos aspectos hermenêuticos e propedêuticos – que se evidencia uma afinida-
de essencial entre Aldo Rossi, Vitrúvio, e Alberti, que é a da consideração da teoria da arquitectura,
como um corpus, cujo scopus é a interpretação e significação da arquitectura. Mais que como inven-
tor de novas arquitecturas, Rossi, assume-se como desocultador do significado das arquitecturas
existentes de facto, e de todas, não apenas as mais próximas no tempo, como pretendia a ortodoxia
do Movimento Moderno, ele próprio também já afastado no tempo.
Carlo Aymonino (1926-2010), a sua reflexão incide sobre a forma da cidade, diferença entre cidade
antiga (marcada pela forma) e moderna (marcada pela função), vista através das suas origens526; o
estudo dos fenómenos urbanos527, em especial, a relação entre tipo, tipologia e morfologia urbana e,
por último, a reflexão sobre o significado das cidades528. Demarca-se da tese de Benevolo (a arqui-
tectura como parte da política), considerando que o encontro entre arquitectura e política, com raras
excepções, era desafortunado e prejudicial à arquitectura. Assim, arquitectura e urbanismo deveriam
tornar-se independentes do planeamento, pois a sua missão era dar forma e conteúdo (significado)
às cidades, e não apenas fazê-las funcionar, ou controlar, gerir o seu funcionamento. As tendências
para a dispersão da cidade contemporânea seriam possíveis de contrariar, através da construção de
estruturas edificadas de grande porte, mega-estruturas, marcadas mais pela forma que pelo uso,
carregadas de significação, que poderiam pontuar a cidade com um novo sistema de referências,
agregador e potenciador de significados e de ulteriores desenvolvimentos. – Enfim, é a questão dos
monumentos, como partes de cidade formalmente acabadas, exprimindo uma continuidade de pen-
samento e acção, que se coloca em contraposição ao carácter fragmentado e à descontinuidade da
cidade contemporânea (marcada pelos sistemas de percursos, os sistemas viários, principais objectos
524 Rossi, ob. cit. (1966, ed. 1978), p. 12; mais adiante, Rossi referir-se-á aos monumentos como signos físi-
cos do passado (p. 56). 525 Rossi, ob. cit. (1966, ed. 1978), p. 14: Sono propenso a credere che l’impostazione aristotelica in quanto
studio dei fatti abbia aperto la strada in modo decisivo allo studio della città e anche alla geografia urbana e all’architettura urbana, isto, o estudo empírico (ou aristotélico) dos factos, a par do método estruturalista derivado da Linguística de F. Saussure, são os modelos teóricos reivindicados por Aldo Rossi.
526 Aymonino, C., Origini e sviluppo della città moderna, Padova, 1971 (ed. esp., Origenes y desarrollo de la ciudad moderna, trad. Laboratorio de Urbanismo de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1972).
527 Aymonino, C., Lo studio dei fenomeni urbani, Roma, 1977. 528
Aymonino, C.,, Il significato delle città, Bari, 1975 (ed. port., O Significado das Cidades, trad. de A. Rabaça, revis. de W. Ramos, Lisboa, 1984).
129
de consumo no nosso tempo), e ao vazio formal e semântico dos planos, mais interessados em gerir
essas descontinuidades do que em edificar a cidade. Nas reflexões sobre a relação entre as tipologias
edilícias (que vê marcadas, sobretudo, pelo sistema distributivo, tese a que se oporá Rossi, para
quem a tipologia é, essencialmente, uma referência de forma) e a morfologia urbana, que empreende
na esteira de Muratori, embora se demarque da tese deste, negando carácter operativo à tipologia;
esta seria para compreender, no seu carácter de conformadora da cidade, não para reproduzir. Assim,
o repensar a continuidade, em Aymonino, não deixa de estar atento à necessidade de imposição de
descontinuidades tipo-morfológicas na conformação da cidade. Não se podia estabelecer relação
causal directa entre análise e projecto, e tinha de se reconhecer as descontinuidades espaciais, defi-
nindo os conjuntos urbanos como somatórios de áreas características. – No total, a sua reflexão é
marcada pelo reconhecimento da contínua mudança a que os fenómenos urbanos estão sujeitos, e
pelo carácter especialmente significativo dos monumentos, que ora fixavam e potenciavam essa
fenomenologia urbana, ora a sublimavam, fazendo-a devir arte, isto é, arquitectura, no mais estrito
sentido da palavra. E seria esse o significado das cidades: não apenas postos de comando (Le Corbu-
sier529), mas ela própria arte (Lewis Mumford530).
Giorgio Grassi (nasc. 1935), a sua reflexão vai de La costruzione logica dell'architettura531, 1967,
passando por L'architettura come mestiere532, 1979, até Architettura: lingua morta533, 1988. Para
Grassi a arquitectura são as arquitecturas, e a sua teoria, deveria ser fundamentada na análise da
teoria da arquitectura existente de facto, isto é, no conjunto das construções lógicas reconhecidas
como teoria da arquitectura. A sua intenção seria fundar uma teoria da arquitectura sobre a experiên-
cia da arquitectura, e portanto, no "corpus" da mesma, considerado como disciplina individualizada,
regulada por princípios e normas que lhe são próprias534. E reforça a postura, de reconhecimento e
religação com a tradição, referindo a dimensão, no tempo, da arquitectura e da teoria da arquitectura,
sua construção lógica:
A experiência da arquitectura no tempo, considerada como um facto único, constitui a referência fundamen-
tal, não somente de toda a teoria, mas também de toda a experiência535.
529 Le Corbusier, ob. cit. (1925, ed. 1980), p. 78: La grande ville commande tout, la paix, la guerre, le travail.
Les grandes villes sont les ateliers spirituels où se produit l’ouevre du monde. 530 Mumford, L., The Culture of Cities, New York, 1938, ed. 1970, p. 5: The city is a fact in nature, like a
cave, a run of mackerel or an ant-heap. But it also a conscious work of art, and it holds within its commu-nal framework many simplrer and more personal forms of art. Mind takes form in the city; and in turn, urban forms condition mind (...) The city is both a physical utility for collective living and a symbol of tho-se collective purposes and unanimities that arise under such favoring circunstance. With language itself, it remains man’s greatest work of art.
531 Grassi, G., La costruzione logica dell'architettura, Padova, 1967. 532 Grassi, G., L’architettura come mestiere e altre scritti, Milano, 1979. 533 Grassi, G., Architettura: lingua morta, Milano, 1988. 534 Grassi, ob. cit. (1967), p. 8-9. 535 Grassi, ob. cit. (1967), p. 10.
130
Assim, integra-se na tendência teórica que na Itália se desenvolvia na esteira de Saverio Muratori
(que nunca é referido), Giuseppe Samonà, Ludovico Quaroni, Ernest Nathan Rogers, e que atinge o
apogeu com Aldo Rossi, com o qual pretende que o seu estudo entronca directamente:
Hei-de reconhecê-lo, sobretudo, ante o pensamento de Aldo Rossi, com quem me unem já bastantes anos de
estudo e de trabalho em comum. E deveria referir-me de uma maneira particular à sua obra mais importante,
a que resume as suas investigações e o seu pensamento, ou seja, A arquitectura da cidade. Em muitos aspec-
tos, este escrito constitui uma referência obrigatória do meu estudo536.
Grassi refere-se depois à filiação do seu estudo numa genealogia do racionalismo que, além da obra
de Rossi, inauguradora da tendência racional, incluia aqueles textos que... tem as mesmas intenções
metódicas, como os manuais como o de Le Muet ou o de Eberstadt537, definindo a intenção de con-
tribuir para um manual, onde se desse prioridade a um enfoque racionalista, no sentido cartesiano
do termo, dirigindo o seu interesse,
sobretudo ao aspecto SINTÁTICO da arquitectura, ou seja, ao seu aspecto de construção... neste sentido, o
problema da construção da arquitectura, nas teorias vem a ser o problema do processo de CONSTRUÇÃO
LÓGICA da arquitectura, onde a orientação racionalista coincide a maior parte das vezes com um determi-
nado tipo de CLASSICISMO538.
A sua reflexão progredirá, a par da prática da profissão, até uma constatação da arquitectura como
língua morta, em que, comentando a sua obra prática, expõe o conjunto de intenções que tentou
materializar nesses projectos, e em que se evidencia uma
relação com o antigo através de exemplos concretos... bem vistos, também os demais projectos que realizei
até agora, inclusivé os menos condicionados neste sentido, foram sempre reconstruções em sentido amplo
(naturalmente aqui falo mais das intenções que dos resultados dos projectos)539.
E é esta a chave conclusiva para a compreensão da obra de Grassi, quer a de elaboração teórica
quer a prática, como projectista: um trabalho persistente de filólogo animado do propósito de re-
construção e recuperação duma língua-morta: a arquitectura.
Manfredo Tafuri (1935-94), historiador e crítico, é sobre as origens da arte moderna e seu carácter
revolucionário que se propõe reflectir, remontando às suas verdadeiras origens: à própria revolução
da arte moderna realizada pelos humanistas toscanos do Séc. XV540, momento histórico em que surge
536 Grassi, ob. cit. (1967), p. 10. 537 Grassi, ob. cit. (1967), p. ; os manuais referidos são: Le Muet, P., Maniere de bastir pour toutes sortes de
personnes,Paris, 1623, exposto no II Curso, Cap. 1, p. 13; Eberstadt, R., Die Spekulation im neuzeitlichen
Städtebau..., Jena, 1909, exposto neste III Curso, Cap. 5, p. 75 (Eberstadt tem ampla bibliografia). 538 Grassi, ob. cit. (1967), p. 24-25. 539 Grassi, ob. cit. (1988), p. 35. 540
Tafuri, M., Teorie e storia dell’architettura, Roma-Bari, 1968 (ed. port., Teorias e História da Arquitectura, trad. de A. de Brito e L. Leitão, revis. de W. Ramos, Lisboa, 1979, p. 36).
131
a figura do arquitecto como intelectual e vanguarda ideológica das classes do poder, encarregado
de cumprir uma função que, alguns séculos mais tarde, estará em vias de se esgotar541. A sua análise
vai incidir sobre a crítica operativa, que se serve da história passada [a Antiguidade] projectando-a
em relação ao futuro542; fora o que acontecera com os humanistas florentinos e bastava conjugá-la
com a nostalgia por um outro passado, desta vez o gótico-medieval-artesanal-corporativo de Ruskin
e Morris, ou o mecânico e tecnológico do Movimento Moderno em geral, como expressão do anseio
pelo futuro, para nos situarmos numa paralela ordem de ideias. Assim, o presente seria como um
campo de batalha, quando não palco de comédia, onde se chocam sempre essas duas dimensões:
nostalgia do passado (um certo passado), anseio do futuro (um certo futuro), e a crítica operativa
seria como uma gazua que força interpretações e intenta antecipações, tendo em vista, que a dimen-
são específica da crítica operativa é sempre a da acção, e acção sobre o presente.
À crítica operativa opunha-se a crítica tipológica, que se vinha desenhando na última década, com a
sua insistência em fenómenos de invariância formal, obtidos a partir da interpretação do existente,
o que implicava a interpretação da sua génese histórica e o reconhecimento da historicidade; tinha-
se que optar pela história contra o mito, senão caía-se na mistificação; já não era possível defender
o Movimento Moderno a partir da história, sem se constatar que deixara de ser moderno. A tradição
do novo tendia a tornar-se o contrário: o conservadorismo na manutenção de mitos que se tinham
esgotado, e que só seria possível conservá-los se acondicionados em frigoríficos por guardiães ze-
losos. E era no combate a essa mistificação, de servir como fresca comida congelada, que incidiria
uma boa parte das tarefas da crítica. O pensamento de Tafuri, debruça-se ainda sobre as relações
entre Projecto e Utopia ou crítica da ideologia arquitectónica, que reconhece como,
a ideologia que informa os manifestos futuristas, o mecanicismo dadaísta, o elementarismo neoplástico, o
construtivismo internacional. Mas o que choca nessa ideologia do consenso incondicionado para com o uni-
verso do capital não é tanto a sua literalidade mas antes o seu radicalismo ingénuo. Não existe escrito em
favor da mecanização do universo que não cause estupefacção quando se comparam esses manifestos literá-
rios, artísticos, cinematográficos, com os fins a que parecem propor-se. O convite a fazer-se máquina, à pro-
letarização universal, à produção forçada, revela demasiado explicitamente a sua própria ideologia para
não deixar dúvidas sobre as reais intenções543.
A sua desmistificação do Plano, as suas relações com a Utopia, a ideologia do trabalho, todo um
conjunto de eventos que considera próprios do desenvolvimento da produção capitalista, que dispen-
savam a arquitectura ou, pelo menos, a arquitectura enquanto forma de construção do mundo, são
541
Tafuri, M., Architettura dell’Umanesimo, Roma-Bari, 1969, cit. p/ Choay, F., «Tafuri», in Midant, J.-P. (dir.), Dictionnaire de l’architecture au XXe siècle, Paris, 1996, p. 862.
542 Tafuri, ob. cit. (1968, ed. port. 1979), p. 177. 543
Tafuri, M., Progetto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Bari, 1973 (ed. port., Projecto e Utopia: Arquitectura e desenvolvimento do Capitalismo, trad. de C. Jardim e E. Nogueira, Lisboa, 1985, p. 53-54).
132
analisadas em vários planos, tendentes todos a provar o mesmo: a arquitectura, mesmo a das vanguar-
das, colaborara objectivamente na criação desse estado de coisas e, nalguns casos, até o antecipara,
pois os arquitectos tinham antecipado ideológicamente a lei férrea do plano544. Tudo fora conivente e
determinado pela reorganização capitalista do mercado mundial e do desenvolvimento produtivo545,
e à crítica nada mais restava senão a constatação deste estado de coisas que não era possível contra-
riar, mas apenas desmitologizar546. Numa avaliação dos arquitectos dos anos 70, considera que se
manifestava uma espécie de complexo de Édipo nos contemporâneos que tornam a propor, em
termos postos em dia, a lição do movimento moderno, e refere-se a Rossi nestes termos:
Só com o trabalho do italiano Aldo Rossi... nos encontramos ante a programática busca do lugar onde a forma
pode recuperar o uso da linguagem... a arquitectura de Rossi comprova a desaparição da ordem lógica do
discurso arquitectónico, coincidindo com a afirmação do universo burguês. No entanto, não expressa pesar
por uma situação anterior a tal transformação, mas sim nostalgia por uma ordem linguística ancestral547.
Essa nostalgia é colocada em paralelo com uma frase de Heidegger, lembrando que a morte é muito
mais que morrer, e acrescenta:
Afortunadamente, a arquitectura contemporânea cessou de exorcizar os próprios complexos de culpabilida-
de; faz tempo que a história da vanguarda nos ensinou que verdadeiramente a morte é muito mais do que
morrer. E não seremos nós os que cremos que a desaparição física de alguns mestres, as contradições, as
renúncias que agitam as vicissitudes da arquitectura moderna sejam o prelúdio de um fim. (Principalmente
porque nem sempre um fim é sinónimo duma mudança). Se algo pretende demonstrar a nossa procura é,
precisamente, a impossibilidade de pôr, em determinado ponto da história, a palavra fim548.
No total, a reflexão crítica de Tafuri desmonta os pressupostos ou mitos da Arquitectura Moderna,
que afinal não fora mais que uma adaptação ao ciclo do predomínio da Indústria, da Tecnologia, do
Trabalho e Produção, e de submissão à Estrutura, ao Sistema, ao Plano, ao Estado, sendo a ideologia
um mero diafragma velador. A crítica tinha por missão liquidar a consciência ingénua da moderni-
dade, sob pena de a arquitectura incorrer em algo que podia ser muito mais que morrer. E a sua
compreensão da obra de Rossi parece evidenciar que realmente estava longe de aceitar o fim da
arquitectura e que ainda era possível a arquitectura acontecer (ereignen).
544 Tafuri, ob. cit. (1973, ed. port. 1985), p. 120. 545 Tafuri, ob. cit. (1973, ed. port. 1985), p. 120. 546
Alusão à teoria da desmitologização (Entmythologisierung) exposta pelos teólogos alemães, R. Bultmann, e G. Ebeling; ver: Bultmann, R., Glauben und Verstehen: Gesammelte Aufsätze,Tübingen, 1961; id., G. Ebe-ling, «Bedeutung der historisch-kritische Methode für die protestantische Theologie», in ZThK 47, 1950, S. 1-46. – Esta teoria, basicamente, interpreta os Testamentos, suas figuras e eventos, de maneira histórica e crítica, procurando desmitologizá-los, e, assim, apresentá-los de forma mais humana e compreensiva. Influ-enciou a Filosofia Hermenêutica, designadamente, M. Heidegger e H.-G. Gadamer, e teve repercussão no pensamento histórico e crítico em vastos quadrantes, designadamente em M. Tafuri.
547 Tafuri, M., e Dal Co, F., Architettura contemporanea, Milano, 1976 (ed. esp., Arquitectura contemporanea, trad. de L. E. Bareño, Madrid, 1978, p. 416).
548 Tafuri, ob. cit. (1976, ed. esp. 1978), p. 416.
133
Para concluir, estes quatros teóricos, três arquitectos e um historiador da arquitectura, revelam, como
pontos comuns, uma mesma atitude de rejeição em relação às práticas do seu tempo e teorias cone-
xionadas com essas práticas, ou seja, rejeitam o funcionalismo, o international style, o planning, as
teorias do ambiente. O olhar que lançam para o passado, ou melhor, para a história, deve ser visto
como intencionado pela procura de referências mais sólidas, menos afectadas pela precaridade e
ilusão, senão mesmo falsidade, das ideologias. É neste sentido que se propõe, como definição sinté-
tica deste grupo e geração, o lema de repensar a continuidade, que também se pode entender como
repensar a singularidade, especificidade, autonomia e importância da arquitectura. E, através do
estudo da arquitectura da cidade (Rossi), dos fenómenos urbanos e do significado das cidades
(Aymonino), da construção lógica da arquitectura (Grassi), ou pela consideração crítica das teorias
e história da arquitectura (Tafuri), com desmontagem das suas máscaras ideológicas, todos os qua-
tro parecem convergir num mesmo propósito de reconsideração e recuperação da arquitectura e sua
teoria, mas toda a arquitectura e teoria, e não apenas a do Movimento Moderno, que, entretanto, o
obstinado e irreversível tempo tornara histórico.
Paradoxalmente, o grupo que se verá a seguir é no Movimento Moderno que se vai inspirar, dando
origem ao Pós-modernismo, Desconstrutivismo e Neo-modernismo.
New York Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier: As ideias concernen-
tes a este grupo, que se tornou conhecido através de uma exposição no MOMA, New York, 1972,
não são de fácil identificação, apesar do livro-catálogo549 da exposição apresentar textos de A.
Drexler, C. Rowe, K. Frampton, e Ph. Johnson. Assim, na ausência de textos dos próprios, há que
recorrer às imagens de arquitectura exibidas, que denotam um ponto comum: recepção de Le Cor-
busier, numa atitude de intensificação, ou mesmo, exacerbação dos aspectos formais da obra do
mestre suíço. Na sequência do êxito alcançado pela exposição os Five enveredaram por percursos
individuais, algo divergentes, de que se vai intentar um resumo para cada um deles.
Peter Eisenman (nasc. 1932), passa da intensificação das formas funcionalistas e racionalistas de
Le Corbusier, para uma desconstrução da forma, seguindo os princípios do desconstrutivismo de
Jacques Derrida. Nessa fase avultam nas suas preocupações a análise desconstrutiva, ou seja, a
transformação, decomposição e crítica da obra de Giuseppe Terragni, Andrea Palladio e James
Stirling, além de Le Corbusier, e dos construtivistas soviéticos, suas grandes fontes.
Michael Graves (nasc. 1934), nos anos 80 adere à onda do pós-modernismo, de que passa a ser um
dos mais óbvios representantes, apresentando uma arquitectura que se pretende inspirada nas formas
clássicas, mas interpretadas superficialmente, quase só como imagens, um procedimento já ensaiado
549 Drexler, A. (ed.), Five architects: Eisemann, Graves, Gwathemy, Hejduk, Meier, Catálogo da Exposição
apresentada no MOMA em 1969, New York, 1972, reed. 1975.
134
nos anos 20, com a Art Deco, que será uma das suas inspirações, e teve grande divulgação nos
EUA, principalmente na arquitectura dos arranha-céus. Para quem começou por uma reinterpreta-
ção das formas de Le Corbusier, pode ser visto com um dissidente. Não produziu obra teórica.
Charles Gwathmey (1938-2009), funda o atelier Gwathmey, Siegel & Associates, em 1968, enve-
redando pela via profissionalista, mas de um profissionalismo empenhado de que dão testemunho
as várias obras práticas produzidas. O atelier tem publicado livros, mas cingidos à divulgação e
promoção da obra própria produzida.
John Hejduk (1929-2000), talvez a personagem mais singular e significativa para a Teoria da Arqui-
tectura dos Five, pelos desenhos minimalistas e de interpretação crítica das formas arquitectónicas,
representadas como objectos, em perspectivas axonométricas, ou combinando a perspectiva cava-
leira e a militar. A obra prática é exígua, mas obedece ao mesmo princípio do minimalismo formal.
Richard Meier (nasc. 1934), envereda pela via profissionalista, tornando-se um dos expoentes do
Neo-modernismo, de inspiração em Le Corbusier, embora igualmente reconheça influências de F.
L. Wright, Marcel Breuer, e outros. Não produziu obra teórica significativa, mas na sua obra prática
sente-se o reflexo de tudo o que de mais significativo produziu a Teoria da Arquitectura do Movi-
mento Moderno e, também, a sua Prática (interpretada um tanto quanto mimeticamente).
E com este conjunto se fina um período dos mais significativos da Arquitectura do Pós-Guerra,
coeva do Welfare State, período em que se acreditou que seria possível erigir uma sociedade de
abundância, vivendo-se na noção de que afinal, bem distribuído, o bolo chegava para todos. Depois,
perfilaram-se no horizonte as bíblicas vacas magras550, e paulatinamente foi-se impondo de novo o
tradicional paradigma da escassez551, que afirma não chegar o bolo para todos, por mais bem distri-
buído que seja, e assim, nem vale a pena pensar na distribuição, essa velha categoria vitruviana. E a
arquitectura do período a seguir, o do chamado Neo-Liberalismo, iria ser outra, e bem diferente...
Rossi e Venturi, os mais importantes teóricos deste período, com apogeu nos saudosos anos 60
550
Pressagiadas por Marcelo Caetano nos ecrãs da RTP em Outubro / Novembro de 1973 (refere-se de memória) 551 Ver, Skinner, Q., The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge / UK, 1978-1980, 2 vols..
135
Johnson, AT & T Building, anos 80; Kahn, Ahmedabad, Índia, anos 60
Lynch, Image of the City, 1960, os cinco elementos base; Jacobs, 1964, e Crosby, 1965
Muratori, Restauro de uma Igreja, anos 50; Gregotti, Centro Cultural de Belém, anos 80 (projecto e obra em colaboração com Manuel Salgado)
136
Cidade dos Vivos, Cidade dos Mortos: Samonà, Comune di Valmont, anos 60; Rogers, Monumento às Vítimas dos Campos de Extermínio da II.ª Guerra Mundial, Cimitero Monumental, Milano, anos 50
Aymonino, Quartiere Galaratese, Milano, anos 60-70; Grassi, Park Kolonaden, Berlin, anos 80
Hejduk, Desenhos, anos 70
Graves, Portland Building, anos 70; Meier, Stadhuis van Den Haag, anos 90
137
9. A Pós-Modernidade (1981-2010): Pós-modernismo, Desconstrutivismo, Neo-modernismo;
High-Tech, e Star System; Do Junk Space, de Koolhaas, ao rebentamento da bolha imobiliária
Às 15.32 h, de 15-07-1972, com a implosão do Pruitt-Igoe, St. Louis, EUA – complexo residencial de padrão moderno, considerado inabitável – decretava-se, de modo simples e radical, a extinção da arquitectura moderna,
abrindo-se caminho para a da pós-modernidade.
A Pós-Modernidade (1981-2000): O termo pós-modernidade, ou Post Modern Age, foi cunhado
por Arnold Toynbee (1889-1975), em A Study of History552, 1934-61, definindo a situação de deca-
dência da cultura ocidental, do Cristianismo, de tudo o que era tido como absoluto. Antes disso,
1930, Federico de Onis Sánchez (1885-1966) espanhol, usara o termo pósmodernismo, para desi-
gnar uma reacção conservadora no interior do movimento literário do modernismo espanhol, assim,
com um sentido circunscrito. – É na Teoria da Arquitectura, em 1977, que o termo Post-Modern
volta a ser usado, e com relevo, em The Language of Post-Modern Architecture553. obra de Charles
Jencks (nasc. 1939), arquitecto paisagista, teórico e crítico da arquitectura, que situa o fim da ar-
quitectura moderna, em 1972, na já referida implosão do Pruitt-Igoe,
construído de acordo com os mais progressivos ideais do CIAM (Congress of International Modern Architec-
ture) e ganhara o prémio do American Institute of Architects quando fora desenhado em 1951554.
A obra de Jencks, derivada das ideias expressas por Venturi, em Learning from Las Vegas, foi um
êxito, com sucessivas edições, e determinante para a promoção e divulgação da arquitectura pós-
modernista, tema da Bienal de Veneza, 1980.
Em 1979, com a publicação de La condition postmoderne555, de Jean-François Lyotard (1924-98),
o termo ganha novo alento e um significado mais alargado, anunciando o fim des grands récits,
552 Toynbee, A., A Study of History, London, 1934-61, 8 vols. 553 Jencks, Ch., The Language of Post-Modern Architecture, 1977. 554 Jencks, ob. cit. (1977), p. 9.
138
iluminista e hegeliana, de confiança na Razão, na Ciência, ou na História do Espírito Universal que,
depois de Auschwitz, e com a constituição da sociedade pós-industrial, altamente informatizada,
tinham perdido a sua legitimidade, estando tudo, até o saber científico, reduzido a mera mercadoria
informativa. Depois, Frederic Jameson (nasc. 1934), em «Postmodernism, or, The Cultural Logic of
Late Capitalism»556, artigo de 1984, publicado em livro, 1991, caracteriza o fenómeno como expres-
são da crisis of foundationalism, causada pela complexa diferenciação de classes e regras (roles)
entre esferas ou campos da vida, e a consequente relativização da pretensa verdade (truth-claims).
Em arquitectura, no cinema, e nas artes visuais, o pós-modernismo caracterizava-se pelo pastiche e a
crise da historicidade. Desde então, pós-modernidade e pós-modernismo têm sido objecto de várias
definições, mais ou menos concordantes, salientando-se a de Perry Anderson, de 1998:
Se o modernismo era tomado de imagens de máquinas, o pós-modernismo é tomado de máquinas de ima-
gens (TV, Computador, Internet, Shopping Centers, etc.)557.
Pós-modernismo, Desconstrutivismo, Neo-modernismo: A cultura da Pós-modernidade viria a
produzir, entre os anos 1981-2000, período que limita esta exposição, os movimentos, ou melhor,
os géneros de arquitectura referidos na epígrafe, salientando-se, desde já, que a Arquitectura e a sua
Teoria, não só tiveram papel relevante na formação e caracterização da Pós-modernidade – o que se
prova na precocidade do livro de Jencks – como terão sido mesmo a sua faceta com maior impacto
mediático e visibilidade pública. E são estes fenómenos, impacto mediático e visibilidade pública, o
que parece determinar a sua rápida aceitação e promoção pelas esferas do Poder. Numa interpretação
pessoal – que se tem evitado até aqui – a coisa põe-se nestes termos: o neoliberalismo económico e
político e a globalização agravaram as condições de vida no Ocidente e, a partir daqui, em todo o
Mundo, aumentando o fosso entre ricos e pobres, estilhaçando a já fraca coesão social, despotenci-
ando os valores, liquidando as crenças e ideais, e rapinando a Natureza e molestando o Ambiente a um
ritmo nunca visto. – A Arquitectura, como quase todas as outras produções artísticas e culturais,
serviu de compensação ao Poder: falhara na economia, na sociabilização, na democratização, na pro-
moção do bem-estar público, restava a actividade cultural e artística, na qual a Arquitectura, até pelo
seu volume e visibilidade pública, teria papel relevante; assim, todos estes géneros de Arquitectura,
acrescidos do High-Tech e do Profissionalismo, podem ser designados de As Cinco Facetas da Arqui-
tectura do Neoliberalismo558 e da Oligarquia Partidocrática, Plutocrática e Corporativista que, paula-
tinamente, tem vindo a substituir a Democracia e a desmantelar o Estado Social.
555 Lyotard, J.-F., La condition postmoderne, Paris, 1979. 556 Jameson, F., «Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism», in New Left Review 146, July-
August 1984, p. 59-92; publicado em livro, desenvolvido em nove capítulos, Postmodernism, or, The Cul-tural Logic of Late Capitalism, Durham, 1991.
557 Anderson, P., The Origins of Post-Modernity, London and New York, 1998, p. 105. 558 Parafraseando Calinescu, M., Five Faces of Modernity: Modernism, Avantgarde, Decadence, Kitsch, Post-
modernism, Durham, 1987. – Há edição em português.
139
Pós-modernismo: A Teoria da Arquitectura Pós-modernista, enquanto tal, ou seja, assumida de
forma autoconsciente, começa com a já citada obra de Charles Jencks, The Language of Post-
Modern Architecture, 1977, que teve retumbante recepção, e que além de passar certidão de óbito à
arquitectura moderna, intenta definir a linguagem da arquitectura pós-moderna, como não-elitista,
atenta ao banal e popular, ao uso de formas históricas, híbridas, cores estridentes, signos redundantes,
enfim, a complexity and contradiction e a main street is almost all right, já teorizadas por Venturi,
entre 1966-72, e certos aspectos da Pop Art. Em Itália, Bienal de Veneza, 1980, primeira Exposição
Internacional de Arquitectura, intitulada La presenza del passato, aparece o manifesto Strada novis-
sima559, no qual um grupo de arquitectos, demarcando-se do ideário do Movimento Moderno, procla-
ma a recuperação da tradição e da beleza do passado. Nesse mesmo ano Paolo Portoghesi (nasc.
1931), arquitecto, teórico e historiador da arquitectura, director da Bienal de Veneza, 1980, edita
Dopo l’architettura moderna560, a que se segue, 1982, Postmodern: l’architettura nella società post-
industriale561, procurando caracterizar a arquitectura pós-moderna como resultado da falência da
moderna, e como a própria do novo tipo de sociedade pós-industrial. A partir daí foram vários os auto-
res a debruçar-se sobre a arquitectura pós-moderna, e a praticá-la, podendo identificar-se duas linhas:
1) centrada na Europa, reivindica Aldo Rossi como precursor-orientador (coisa nunca claramente
assumida pelo visado), e em que se salientam Giorgio Grassi, Oswald M. Ungers (1926-2007),
Maurice Culot (nasc. 1937), Léon Krier (nasc. 1946), além de José Linasazoro (nasc. 1947) e outros
2) com epicentro nos EUA e Inglaterra, filiada em Robert Venturi e James Stirling (1926-92),
proclamada com estrépido mediático por Charles Jencks, integrará Philip Johnson, Charles Moore
(1925-93), César Pelli (nasc. 1926), Ricardo Boffil (nasc. 1939), Michael Graves, Robert Stern
(nasc. 1939), e muitos outros.
Na impossibilidade prática de comentar as suas teses escritas, para além do já exposto, dado não
estarem suficientemente codificadas, vai-se mostrar imagens das obras destes grupos e dos seus
protagonistas. Além do mais, trata-se de uma arquitectura da imagem, bem mais que do conceito,
pelo que se julga mais apropriado aos fins desta exposição.
Desconstrutivismo: A Arquitectura Desconstrutivista e sua Teoria surgem no fim da década de 80, e
pretendem-se inspiradas na Filosofia da Desconstrução, de Jacques Derrida (1930-2004), derivada
de Martin Heidegger (1889-1976), que, por sua vez, se inspirara em Friedrich Nietzsche (1844-
1900), para a Destruktion (ou Aufbau) da Metafísica Ocidental, uma metafísica da presença, do dizí-
vel, da racionalidade, do logos. Ora, parece ser contra tudo isso, presença, dizibilidade, racionalidade,
559 Portoghesi, P. (a cura di), Strada novissima, Manifesto da Prima Mostra Internazionale di Architettura di
Venezia 1980, subordinada ao tema La presenza del passato. 560 Portoghesi, P., Dopo l’architettura moderna, Roma-Bari, 1980. 561 Portoghesi, P., Postmodern: l’architettura nella società post-industriale, Milano, 1982.
140
lógica, e mais a ortogonalidade, normalidade, previsibilidade, que a Arquitectura Desconstrutivista
se levanta, contrapondo-lhe quiasmos (figura de estilo, baseada em antinomias), que se expressam
num jogo exacerbado de planos oblíquos, inclinados, torcidos, ilógicos e irracionais, abrindo espaço
à representação do indizível, incompreensível, imperfeito, enfim, da différence562, simultaneamente,
como diferença e diferimento. Dá-se ao conhecimento público, em 1988, através de uma exposição
no MOMA, New York, da obra de Peter Eisenman, Coop Himmelblau, Frank Gehry, Zaha
Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi, e da publicação de um manifesto,
Deconstrutivist Architecture563, cujo Content, resumido, afirma:
The architects recognize the imperfectibility of the modern world and seek to address, in Johnson’s words,
the “pleasures of unease”. Obsessed with diagonals, arcs, and warped planes, they intentionally violate the
cubes and right angles of modernism564. E, logo a seguir, é assinalada a sua principal fonte de inspiração:
Their projects continue the experimentation with structure initiated by the Russian Constructivists, but the
goal of perfection of the 1920s is subverted. The traditional virtues of harmony, unity, and clarity are displa-
ced by the disharmony, fracturing, and mystery565.
Mark Wigley, arquitecto, crítico e professor de arquitectura, no ensaio, que é a parte do livro, teo-
ricamente, mais significativa, expressa um mesmo tipo de entendimento:
deconstruction gains all its force by challenging the very values of harmony, unity, and stability, and propo-
sing instead a different view of structure: the view that the flaws are intrinsic to the structure. They cannot be
removed without it; they are, indeed structural566.
Assim, assinala uma intencional prossecução do imperfeito – fenómeno já assinalado por Witold
Gombrowicz (1904-69), em relação aos mais profundos e determinantes desejos e impulsos do
homem, e explicitada em 1962567 –, na arquitectura dos desconstrutivistas, o que autoriza a situar
esta tendência no movimento da contracultura568, que se propagou por todo o Ocidente a partir dos
anos 60. Talvez o desconstrutivismo, mais do que uma novidade, seja uma epigonia, uma apropria-
ção pelo establishment, desse fenómeno cultural.
Neo-modernismo: De há muito, Hans Sedlmayr (1896-1984), crítico e historiador da arte, chamou a
atenção para a coexistência, dentro dum mesmo período, de estilos ou tendências artísticas diferentes,
que na tradição da História da Arte se tendia a encarar como sucessivas, propondo assim o enfoque
sincrónico, em vez da habitual diacronia, como mais apropriado para a História da Arte. – A opinião
562 Ver, Derrida, J., L'Écriture et la différence Paris, 1967, Seuil. 563 Johnson, Ph. and Wigley, M. (eds.), Deconstrutivist Architecture, New York, 1988. 564 Johnson and Wigley (eds.), ob. cit., Content (1988), p. não numerada. 565 Johnson and Wigley (eds.), ob. cit., Content (1988), p. não numerada. 566 Wigley, M., «Deconstructivist Architecture», in Johnson and Wigley (eds.), ob. cit. (1988). 567 Gombrowicz, W., Pornographie, Introduction à la edition française, Paris, 1962, p. 7. – Há ed. brasileira. 568 Ver, Roszak, Th., The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society & its You-
thful Opposition, Berkeley, 1969.
141
foi, de imediato, sancionada por Pierre Francastel (1900-70), e, hoje, na época do reconhecimento
do pluralismo cultural, deve estar sempre presente, mesmo quando, por questões de ordem cronoló-
gica, aparentemente, se proceda doutro modo. É o que se passa como o Neo-modernismo, que de modo
algum sucedeu aos defuntos Pós-modernismo e Desconstrutivismo, mas os ombreou na jornada, e
lhes sobreviveu, ainda que, segundo alguns, de modo frigorificado (polémica Rogers-Banham, anos
50), senão mesmo embalsamado. Se o filósofo do Pós-modernismo foi Lyotard, e do Desconstruti-
vismo, Derrida, o Neo-modernismo filiar-se-á em Jürgen Habermas (nasc. 1929), filósofo da Teoria
Crítica, Escola de Frankfurt569, que considera a modernidade como projecto inacabado570, 1980,
que devia ser prolongado e corrigido, através da razão e acção comunicativa.
No ano seguinte, 1981, demarcando-se do Pós-modernismo, proclamado na Bienal de Veneza, 1980,
Habermas, em «Modern and Postmodern Architecture»571, escreverá:
A arquitectura moderna que teve origens em Frank Lloyd Wright e Adolf Loos, ambas, a orgânica e a racio-
nalista, e que floresceu nas mais bem sucedidas obras de Gropius e Mies, Le Corbusier e Alvar Aalto – esta
arquitectura resta o primeiro e o único estilo correcto, o primeiro e o único estilo de forma certa para a
vida, desde os dias do classicismo. É o único movimento arquitectural apoiado no espírito da vanguarda, o
único de estatura igual ao da vanguarda em pintura, música, e literatura do nosso século572.
E esta será a argumentação certa para os que pretendiam um regresso superficial às formas dos esti-
los históricos, que seria isso, no essencial, a base do Pós-modernismo. Assim, o Neo-modernismo,
não se afirmou com manifestos, nem alarido mediático, mas no espaço reservado das universidades,
das revistas de arquitectura, nos ateliers dos arquitectos, comprometidos com os novos e constantes
desafios, colocados pela prática e a reflexão teórica, os novos materiais, as mutantes condições de
produção. – Como o Star System, para que “evoluiu” o mundo actual, produziu os Star Architects é o
lado perverso dessas condições de produção, mas deixa-se isso, por agora, e vai-se mostrar algumas
imagens da Arquitectura Neo-modernista, privilegiando a efectivamente construída, assinaladas
com tópicos, como se fez para as tendências anteriores.
High-Tech e Star System: A arquitectura High-Tech é aquela em que predomina a estrutura, algo
enfaticamente, e os sofisticados sistemas tecnológicos modernos (elevadores, escadas rolantes, ar
condicionado, vigilância, segurança, informática, etc.), com o papel da arquitectura reduzido a envó-
lucro desses sistemas, ou intenta tirar partido deles, evidenciando-os. – Foi a arquitectura dominante
nos anos 70 e 80, em centros culturais, museus, sedes das multinacionais, shopping’s. Na ausência de
569 Ver, Wiggershaus, R., Die Frankfurter Schule, Reinbek / Hamburg, 2010. 570 Habermas, J., Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt: Philosophisch-politische Aufsätze 1977-1990,
Leipzig, 1990. 571 Habermas, J., «Modern and Postmodern Architecture», apresentado como texto no Catálogo da Exposição
The Other Tradition: Architecture in Munich from 1800 up to Today, November, 1981. 572 Habermas, «ob. cit.», in ob. cit. (1981).
142
uma específica Teoria da Arquitectura High-Tech, vai-se mostrar alguns dos seus mais característicos
edifícios, como o Centro Pompidou, 1977, de Renzo Piano (nasc. 1937); o Lloyds Building, 1979,
de Richard Rogers (nasc. 1933); o HSBC, 1983, de Norman Foster (nasc. 1935), a Pirâmide do
Louvre, 1988, de Ming Pei (nasc. 1917). O mesmo para o Star System, mostrando os seus protago-
nistas, pois bem mais do que à arquitectura, o sistema diz respeito aos Star Architects, aqueles que
enchem os meios de informação, que são requeridos e promovidos pelo Poder, e de que agora é moda
as imobiliárias publicitarem os seus empreendimentos, dizendo: arquitectura com assinatura de..
Do Junkspace, de Koohlaas, ao rebentamento da bolha imobiliária: Esta exposição tem como
limite cronológico o ano 2000. Apenas pela excepcional importância dos factos, já referidos na
epígrafe, se o vai dilatar: o texto Junkspace, de Rem Koolhaas, 2001, e o rebentamento da bolha
imobiliária, despoletadora da crise actual, que dura há seis anos, e para a qual não se vislumbra
saída, começando a admitir-se até que se irá agravar. Koolhaas parte do conceito de space-junk
(espaço-lixeira), formado por os detritos humanos que enchem o universo (the human debris that
litters the universe), restos de satélites, para caracterizar o espaço da Terra, onde se construiu mais,
nos últimos 60 anos, do que nos precedentes 6000 e, pior ainda, construiu-se sem preocupações
de maior com o ordenamento e a qualidade, produzindo-se muito mais desordem que a ordem que
se supunha acrescentar, podendo mesmo considerar-se que,
Junkspace is the sum total of our current architecture; we have built as much as all previous history together,
but we hardly register on the same scales, e que, no final do processo, Junkspace will be our tomb573.
Até que ponto esta insânia de construir freneticamente contribuiu para o crescimento descontrolado
do crédito, e um endividamento excessivo, parece não restar dúvidas a ninguém: muito mais do que a
necessidade de infraestruturas, ou a falta de habitação, foram os interesses do conglomerado bancos-
construtoras-partidos (ávidos de financiamento e inaugurações) que produziram o descalabro. Não
se desenvolveu o país, e nem sequer cresceu a riqueza nacional: o PIB está parado desde 2001,
quando quase não havia desemprego (como o reconheceu numa entrevista ao DN, o então ministro
da Economia e das Finanças, Pina de Moura), ou tem descido, e a percentagem do produto, que é
distribuída à força de trabalho, atingiu proporções bastante abaixo das de antes do 25 de Abril.
Agora, com o rebentamento da bolha imobiliária (há 900.000 habitações por vender), e sem dinhei-
ros públicos para saciar o insaciável lobby das obras, ditas públicas, resta a expectativa de que se
aproveite a pausa para reflectir e inflectir o rumo das coisas: A actividade construtiva deve ajustar-se
às reais necessidades do país, e a arquitectura também, cumprindo com o decoro e a distribuição ou
oikonomia, segundo Vitrúvio e tratadistas que o seguiram, duas importantes categorias consistenciais
573 Koolhaas, R., Junkspace, 2001, acessível in file:///F:/Koolhaas, R., Junkspace (2001).htm.
143
da arquitectura que, sucintamente, dizem dever edificar-se: 1) de acordo com a natureza dos lugares;
2) cumprindo a norma ou lei; 3) para os reais interesses e possibilidades das pessoas574.
Extractos de Junkspace575:
The built (more about that later) product of modernization is not modern architecture, but junkspace
architecture disappeared in the 20th century
13% of all junkspace’s iconography goes back to the Roman’s, 8% Bauhaus, 7% Disney – neck and
neck – 3% Art Nouveau, followed closely by Mayan
Earthlings now live in a Kindergarten grotesque
JunkSignature (TM) is the new architecture
Landscape as become junkspace
Minimum is the ultimate ornament, a self-rightnous crime, the contemporary baroque
God is dead, the author is dead, history is dead, only the architect is left standing... an insulting
evolutionary joke...
The cosmetic is the new cosmic
Jencks, 1.ª ed. 1977, 4.ª ed. 1984, 6.ª ed. 1988, que vão mudando de capa, conforme as novas produções da Post-Modern Architecture, indo do Pop anónimo ao Neo-Deco de M. Graves e ao Neo-Barroco de Ch. Moore
574 Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, I, 2, 5-7, trad., introd. e notas por de M. Justino Maciel, ilust. Th. N.
Howe, Lisboa, 2006, p. 38-39; na ed. crítica das Belle Lettres, Vitruve, De l’architecture (De architectura), Livre I, 2, 5-7, texte établi, trad. et commenté par Ph. Fleury, Paris, 2003, p. 16-18.
575 Koolhaas, ob. cit. (2001, versão electrónica acessível in file:///F:/Koolhaas, R., Junkspace (2001).htm.), §§. 3, 4, 6, 7, 13, 15, 18, 21, 22.
144
Ungers, anos 80; Culot, Bruxelas, anos 80
Stirling, Moore, Bofill: o Eclectismo, a Cenografia Teatral, e a Art Deco, fontes do Pós-Modernismo
Eisemann, Zaha Hadid, Coop-Himmelblau: a desmontagem de Le Corbusier, o Desconstrutivismo Russo, além da déconstruction de Derrida, da incompletude e da indecidibilidade de Kurt Gödel, da teoria do caos de Edward Lorenz, e da geometria dos fractais de Benoît Mandelbrot, como fontes do Desconstrutivismo
Herzog & De Meuron, Carrilho da Graça: Le Corbusier, dos anos 20, a grande fonte do Neo-Modernismo
145
10. Resumo (In)conclusivo e (In) Conclusão Geral
Crise leva quase 900 construtoras à falência até final de Julho
Notícia do Público, 29-08-2012
A arquitectura está no grau zero. Não há trabalho
Siza Vieira, Entrevista ao JN, 29-08-2012
Com a comunicação que se segue encerra-se um ciclo de 26 comunicações, dividido em três cursos,
sobre a Teoria da Arquitectura no Ocidente desde Vitrúvio até finais do Séc. XX, mas abordando,
ainda, algumas ocorrências mais recentes, como o manifesto de Rem Koolhaas, Junkspace, o reben-
tamento da bolha imobiliária, e a crise que decorre. No primeiro curso tratou-se Vitrúvio, a recepção
da sua doutrina, e a formação da Teoria da Arquitectura nos alvores da Idade Moderna, Sécs. XV-
XVI, época em que, no contexto do Renascimento, ocorre a génese do Vitruvianismo, marcado pela
eleição da doutrina de Vitrúvio, centrando-a nas ordines et genera576, e dos modelos dos edifícios da
Antiguidade, como bases para a Arquitectura da Idade Moderna.
O segundo foi centrado na Teoria da Arquitectura nos Sécs. XVII-XVIII, ou as vicissitudes do Vitruvi-
anismo entre Maneirismo, Classicismo, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo e Neogótico,
quando, no âmbito do Iluminismo, o Vitruvianismo começa a ser posto em causa e a declinar.
Neste terceiro, que ora se encerra, abordou-se a Teoria da Arquitectura desde o Séc. XIX ao Séc. XX,
um período marcado pela tentativa de superação do Vitruvianismo e toda a demais tradição, e a
procura de novas bases teóricas para a Arquitectura.
As novas bases teóricas começam a aparecer no início do Séc. XIX, formuladas no primado da planta,
de Dubut, no método de composição baseado nos tipos formais, de Durand, e na eleição dos diversos
576 Vitruve, ob. cit., Livre I, 7, 2 (ed. 1990), p. 42: ...exponere, <deinde> commensus aedificiorum et ordines
et genera singula symmetriarum peragere et in singulis uoluminibus explicare. – O termo ordines é usado apenas nesta passagem, ao contrário do que afirma Justino Maciel na nota 169 da sua tradução.
146
estilos arquitectónicos do passado, mais como referências ornamentais do que como modelos, que
foi nisso, afinal, que consistiu o Eclectismo Historicista, corrente dominante por todo o Séc. XIX.
As teorias do Eclectismo Historicista, embora admitindo todas as tendências estilísticas (consagradas
pela História), no essencial, contemplaram o Neoclassicismo e Neogótico. E é no seio do Neogótico
que começam a surgir os Paradigmas da Modernidade, como reacção à dominante tradição da teoria e
arquitectura inspirada no Vitruvianismo, assim inaugurando um tempo de rupturas, que das Arts and
Crafts levaria aos Proto-modernistas, à Bauhaus, ao Movimento Moderno, ao International Style...
Se Ruskin e Morris advogaram o regresso a um passado anterior à Arquitectura da Idade Moderna,
a Teoria da Arquitectura do Movimento Moderno ergue-se contra o passado, quer o medieval, quer o
derivado do Renascimento, apostando na criação de uma arquitectura totalmente nova, como expres-
são do Novo Mundo, marcado pela máquina, a indústria, a ciência, a tecnologia, as expectativas no
futuro. É o tempo do apelo à proibição do ornamento (Loos); ao primado da função (Bauhaus, Meier);
do sistema construtivo (construtivistas soviéticos); da questionação das formas regulares (Neoplas-
ticismo, De Stijl), da busca de formas orgânicas (Expressionismo, e Wright); da emulação das Artes
Plásticas (Cubismo, Futurismo, Purismo).
Com a fixação de um código, identificável como “estilo”, o International Style, 1932, as tendências
teóricas e seu correlato prático atingem, ao mesmo tempo, a culminação e a cristalização. A reorgani-
zação da Economia e da Sociedade, operada a partir de 1933, sob a batuta dos EUA, onde começara
a Grande Depressão de 1929, chama a Arquitectura Moderna a desempenhar um papel significativo
nessa reorganização, que se pretendia planeada, racional, social, em obediência a um New Deal (Novo
Acordo)577, estendido a todos os aspectos da vida, incluindo o cultural, artístico e arquitectónico.
William Gropper's, Construction of a Dam, 1939, mural representativo do New Deal
Mas a II.ª Grande Guerra viria a interromper essa promoção da Arquitectura Moderna (nas guerras,
como é sabido, não se constrói, destrói-se), e no Pós-Guerra, cujas reconstruções foram feitas, na
grande maioria, tendo em atenção os princípios do Movimento Moderno, designadamente, a Garden-
577 Braeman, J., Bremner, R. H., Brody, D. (eds.): The New Deal, Columbus, 1975, 2 vols.; id., Edsforth, R.,
The New Deal: America's Response to the Great Depression, Malden, 2000.
147
City, de Howard, La ville contemporaine, de Le Corbusier, ou a Charte d’Athènes, as coisas começam
a mudar, através das opções do empirismo sueco, e dos neo-realistas italianos. Do ponto de vista teóri-
co, as posições mais significativas vieram de Inglaterra, com a crítica dos Smithson’s às New Towns,
e sua revisão do conceito de rua, mas já antecedidas pela emergência das teorias da arquitectura
orgânica, devidas a Wright, e divulgadas na Europa por Aalto, e, sobretudo, Zevi e demais italianos.
É nos anos 60, de ambos os lados do Atlântico, e quase simultaneamente, que surgem novas e deci-
sivas contribuições para a Teoria da Arquitectura: Nos EUA, Robert Venturi, com a descoberta e
apologia da contradição e complexidade na arquitectura, e aprendendo de Las Vegas a lição do
simbolismo olvidado da forma arquitectónica, presente na arquitectura vulgar, popular, de pastiche.
Na Itália, Aldo Rossi, com sua indagação da arquitectura da cidade, ou seja, da cidade, em si mesma,
como uma arquitectura, a revalorização dos monumentos, o conceito de città analoga, o genius loci,
a tipologia, a demarcação crítica das teorias da primazia ao ambiente e ao plano, reivindicando a
autonomia e irredutibilidade da arquitectura. – As teorias de Venturi e de Rossi foram dominantes
até aos anos 80 e são reivindicadas pelo Pós-modernismo, que se torna dominante a partir de 1980,
advogando um regresso às formas identificáveis e reconhecíveis do passado, nomeadamente da
linguagem dos estilos históricos, a par do banal, o anónimo, o popular, demarcando-se violentamente
do funcionalismo e das formas puristas do Movimento Moderno. – Charles Jencks, The Language of
Post-Modern Architecture, 1977, e Paolo Portoghesi, Dopo l’architettura moderna, 1980, tornaram-
se os arautos teóricos desta corrente. – De resto, na década de 80 tudo iria mudar com a instalação
da Pós-modernidade, caracterizada por la fin des grands récits, o Neo-liberalismo, o progressivo
desmantelamento do Estado Social, a perda de confiança na Razão, na Ciência, e no Humanismo, a
que se opõe uma cultura baseada em performances informativas e espectaculares, tal como foi teori-
zada por J.-F. Lyotard, F. Jameson, P. Anderson, e outros. E será com a Pós-modernidade, que os
movimentos da Arquitectura Pós-modernista, Desconstrutivista, e Neo-modernista, além da Arqui-
tectura High-Tech e o Star System estão relacionados, embora nem todos da mesma maneira.
Antes da década de 80 expirar, novo movimento se dá a conhecer, através duma exposição no Moma
e publicação dum catálogo, Deconstructivist Architecture, 1988: Os arquitectos apresentados como
deconstructivists são: Peter Eisenman, Coop-Himmelblau, Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem Koo-
lhaas, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi, e os seus apresentadores, Philip Johson e Mark Wigley,
referem-os deste modo:
The architects recognize the imperfectibility of the modern world and seek to address, in Johnson’s words,
the “pleasures of unease”. Obsessed with diagonals, arcs, and warped planes, they intentionally violate the
cubes and right angles of modernism578. Assim, trata-se de uma arquitectura que reconhece a imperfectibilidade
578 Johnson and Wigley (eds.), ob. cit., Content (1988), p. não numerada.
148
do mundo moderno, os prazeres do desassossego, mostrando obsessão pelas diagonais, arcos, planos tortu-
osos (warped), e que viola os cubos e ângulos rectos do modernismo579.
O Descontrutivismo, desde o início, se pretendeu relacionado com a filosofia da déconstrution de
Jacques Derrida, a Teoria do Caos, os Teoremas da Incompletude e da Indecidibilidade de Kurt
Gödel, e a Geometria dos Fractais de Benoit Mandelbrot, mas também reconhecendo uma imediata
filiação no Construtivismo Soviético, e em certas facetas de Le Corbusier, ele próprio muito influen-
ciado pelos construtivistas soviéticos, dadas as suas viagens à URSS, nos anos 20. Pretendendo-se
como uma arquitectura da desconstrução, fortemente crítica de quase todos os pressupostos em que
tem assentado a cultura ocidental, é de admirar como o Poder, a aceitou e promoveu, como se o
próprio Poder estivesse interessado hoje na desconstrução desses pressupostos.
Ao Pós-modernismo e Desconstrutivismo, fortemente críticos da Arquitectura Moderna, opõe-se a
Arquitectura do Neo-modernismo, que intenta prolongar a modernidade, considerada um projecto
inacabado (J. Habermas, 1980), mas esvaziada das preocupações funcionais, sociais e políticas, e
assim, quase se limitando à imitação dos aspectos formais da Arquitectura Moderna, intensificados,
senão mesmo exacerbados. Intensificação e exacerbação parecem motes da Arquitectura High-Tech,
que enfatiza os aspectos estruturais e dos sofisticados equipamentos tecnológicos, com a arquitectura
quase reduzida ao papel de invólucro e ostentação desses sistemas, mas também aqui poderá nada
estar de novo, se se pensar nas trazeiras da Baker House (dormitório do MIT), de Alvar Aalto.
Nos últimos anos, e acompanhando a cultura do Star System, substituto caricato de uma cultura sem
Ulysses, nem odisseias, desenvolveu-se o fenómeno dos Star Architects, requisitados pelas diversas
instâncias do Poder por todo o Mundo, aptos a projectar em todas as línguas580, podendo considerar-
se a sua arquitectura um novo International Style, mas devendo atender a que o fenómeno remonta ao
culto dos “Génios da Arquitectura Moderna”: Gropius, Mies, Le Corbusier e Wright, senão mesmo
a certas práticas da moderna propaganda política revolucionária.
Gropius, Mies (alemães, tal qual Marx e Engels), Le Corbusier, Wright (meio russos, supõe-se)
579 Johnson and Wigley (eds.), ob. cit., Content (1988), p. não numerada. 580
Ver, Daly, C., Nos doctrines. Réponse a deux objections, Paris, 1863, nesta exposição, III.ª Parte, Cap. I, p. 11.
149
E assim se encerra, nesta exposição, a Teoria da Arquitectura do Séc. XX, deixando de fora formu-
lações como as do Regionalismo Crítico (aludido no item sobre a Teoria nos países periféricos), do
Tradicionalismo, da Arquitectura Sustentável, dos diversos tipos de Ecologismo, até aos que, advo-
gando A New Pragmatism (Rajchman, 1997581), proclamam o fim da Teoria, como outros tinham
proclamado o fim da História. O Séc. XX pode-se considerar o tempo em que a Teoria da Arquitectura
intentou sepultar o Vitruvianismo e procurou afanosamente nova fundamentação. – Conseguiu-o?
Os acontecimentos parecem demonstrar que não. Nada de consistente se alcançou, nem na Teoria
nem na Prática, que com a Teoria não deixa de estar relacionada, tendo-se assistido ao aparecimento
e desaparecimento de várias tendências, em média, uma ou mais a cada 10 anos. – Como no ciclo
das gerações ou da moda! – Desde a emergência dos Protomodernistas (Loos, Behrens, Perret), nos
alvores do Séc. XX, viu-se surgir e sumir, Neo-plasticismo / De Stijl, Construtivismo e Suprematismo
soviéticos, Expressionismo / Organicismo, Racionalismo / Funcionalismo / Bauhaus, Purismo / Racio-
nalismo de Le Corbusier, o International Style, e depois da guerra, os vários empirismos, organi-
cismos inspirados em Wright e Zevi, o Neo-realismo, Neo-expressionismo, Neo-racionalismo, Bru-
talismo, Metabolismo, Utopismo Pop, etc.. Como se a prodigalidade do Baby-Boom do Pós-Guerra
se tivesse estendido à Teoria e Prática da Arquitectura. Nos anos 60, com a emergência das teorias
de Venturi e de Rossi, o fenómeno parecia atenuar-se, criando-se a ilusão de alcançar território firme,
questionando a ortodoxia do Movimento Moderno e intentando a recuperação e incorporação nos
tempos modernos da arquitectura de sempre (?), aquela que as cidades e demais territórios do Oci-
dente registam e reconhecem como signo. Mas, logo em 1972, com os New York Five Architects,
de novo tudo começa a ser posto em causa, através de uma recuperação da linguagem do
Movimento Moderno, que veio a dar origem ao Neo-modernismo. Depois, ínicio dos anos 80, o Pós-
modernismo; pelo final dessa década, o Desconstrutivismo, dominante por todos os anos 90; a partir
daí, as várias facetas do Neo-modernismo, como a Arquitectura High-Tech, os Star Architects, etc.,
e as teorias e movimentos que prolongam a inconformidade com o System e o Establishment, até se
chegar à saturação da(s) teoria(s), proclamação do seu fim, e reconhecimento de que, afinal, the built
(...) product of modernization is not modern architecture, but junkspace. O rebentamento da bolha
imobiliária e financeira, o paralisante endividamento excessivo, e a crise em que se está mergulhado,
ou mesmo, submerso, directamente nada terão a ver com a Teoria da Arquitectura, dirão alguns, e
outros até estenderão essa inocência à Prática, que se limitara a responder às solicitações do Poder
e do Mercado. Mas talvez não seja assim. Retome-se a lição de Tafuri, tal como se expressa na sua
Crítica da Ideologia Arquitectónica, exposta em Progetto e Utopia, 1972, e veja-se: o que choca
nessa ideologia [a ideologia arquitectónica, que informa os manifestos futuristas, o mecanicismo
dadaísta, o elementarismo neoplástico, o construtivismo internacional] do consenso incondicionado
581 Rajchman, J., A New Pragmatism, Camb. / Mass., 1997, MIT Press.
150
para com o niverso do capital não é tanto a sua literalidade mas antes o seu radicalismo ingénuo.
Não existe escrito em favor da mecanização do universo que não cause estupefacção quando se
compara esses manifestos literários, artísticos, cinematográficos, com os fins que parecem propor-
se. O convite a fazer-se à máquina, à proletarização universal, à produção forçada, revela dema-
siado explicitamente a sua própria ideologia para não deixar dúvidas sobre as reais intenções582.
E essas intenções reais, ou seja, as ocultas sob o véu ideológico, como já o reconhecera Theo Crosby,
considerando globalmente o Movimento Moderno, teriam consistido em, uma adaptação da teoria
arquitectónica às necessidades da tecnologia.
Assim, necessidades da tecnologia, interesses do capital, novos meios e condições de produção,
enfim, toda a infraestrutura impusera a sua lógica férrea a essa frívola superestrutura que é a Arqui-
tectura, e à sua Teoria, talvez mais frívola ainda. Os arquitectos, teóricos ou práticos, não tiveram
consciência disso? Ou a consciência falsa (falsches Bewusstsein), própria das ideologias, alheou-os
da realidade das coisas? E, por outro lado, foi somente a adaptação ao ciclo da indústria, com sua
mistificação das imagens de máquinas, a impor uma arquitectura que, acima de tudo, se pretendia
funcional como uma máquina, ou será que à dolorosa luz das grandes lâmpadas eléctricas da fá-
brica (...) se descobrira uma beleza totalmente desconhecida dos antigos (Fernando Pessoa-Álvaro de
Campos, Ode triunfal, 1916), e fora a prossecução dessa beleza que comandara o processo? Sim,
porque desmontados os alibis ideológicos da funcionalidade, da racionalidade, da organicidade, da
natureza dos materiais (os novos materiais, sobretudo), dos objectivos sociais e políticos a cumprir,
o que marca a Arquitectura do Movimento Moderno é a sua pujante intencionalidade estética, a
que tudo parece subordinar-se, e que pode levar a classificar todas as suas diversas manifestações,
como formas várias de esteticismo.
O que se passou com o Movimento Moderno prolongou-se nas tendências que se lhe seguiram: a
intencionalidade estética sobrepôs-se a todas as outras intenções. Hoje, no mundo da Arquitectura e
sua Teoria, ninguém quer saber da firmitas ou utilitas, tudo convergindo na primazia, senão exclusi-
vidade, da venustas. – Essa venustates que já Vitrúvio reconhecera como perseguindo o olhar (enim
uisus persequitur, III, 3, 13). Mas, como é próprio de tudo aquilo que primordialmente é dirigido
aos sentidos, ao seu agrado e comprazimento, o interesse parece esgotar-se rapidamente, impondo-
se a substituição por novos e mais intensos prazeres, daí o célere esgotamento das várias tendências
estilísticas da Arquitectura Moderna, e sua rápida substituição por outras, intensificadas, e igual-
mente destinadas a um consumo fugaz.
O Pós-modernismo está morto! O Desconstrutivismo entrou em fase de desconstrução, se é que ainda
se aguenta em pé. O Neo-modernismo continua prolongando as formas do Movimento Moderno, mas
582 Tafuri, ob. cit. (1973, ed. port. 1985), p. 53-55.
151
parece tê-las passado pela máquina centrifugadora, de tal modo essas formas saem intensificadas e
exacerbadas, embora desprovidas de conteúdo. E decerto é a reconhecida falta de conteúdo, e a
consequente inocuidade, que provocou a sua rápida aceitação pelo Poder, ele próprio também perse-
guindo unicamente objectivos formais, cada vez mais distanciado dos objectivos democráticos e
sociais, que lhe estão na origem e fundamento.
(In) Conclusão Final: A Arquitectura Moderna e a(s) Teoria(s), com ela relacionada(s), afinal, talvez
não façam mais do que enfatizar certas tensões surgidas com a Idade Moderna, como a da utopia
edificatória, de Alberti; o seu reconhecimento, depois sancionado por Erasmo, da profusão da libido
edificatória (quam profusa aedificandi libidinem uituperamos583); a progressiva formação, a partir de
Serlio, duma arquitectura da imagem ou architettura tipografica, com as ordens feitas clichés, torna-
das ícones da arquitectura, e destinadas a uma aplicação repetida e isolada do seu contexto original,
como meros objectos de ornamentação, ou ostentação. Sim, porque é no seio de uma arquitectura
da imagem, ou seja, uma arquitectura que privilegia os aspectos estéticos, formais, de aspecto e
aparência, em detrimento do seu conteúdo e real significado, que se está mergulhado, embora agora
a imagem seja bem diferente, tendo-se abolido o ornamento aplicado, substituído por um culto do
mínimo, que devém um ornamento total, como se assinala na passagem de Koolhaas:
Minimum is the ultimate ornament, a self-rightnous crime, the contemporary baroque584.
E no meio disto tudo, qual o papel reservado à História da Teoria da Arquitectura? Apenas o registo
descritivo dos eventos, no caso, as múltiplas formulações teóricas que se têm sucedido, ou no âmbito
duma exposição e interpretação crítica, opção metodológica ou caminho escolhido, caberá algo mais?
Caberá a crítica e desmontagem dos pressupostos em que a(s) teoria(s) se pretendem fundamentar?
Caberá a crítica dos excessos e desvios? A consideração de caminhos alternativos? Ou apenas o
lamento e alerta perante a situação de declínio que a actual crise parece ter posto a nú? Porque, ao fim
e ao cabo, que é a Teoria da Arquitectura, cujo registo histórico se intentou tratar? E que é a História?
Estarão ambas mortas, como pretendem alguns? Ou a sua agitação, diferentemente do estertor que
antecede o rigor mortis, deve ser considerada um sinal de vida, da qual não é possível prever a
morte, mesmo sabendo que ela, um dia, inelutavelmente, ocorrerá? Sim, porque estando imersos na
História, não é possível pôr, num seu determinado ponto, a palavra fim, restando estar atentos ao seu
fluxo, e registá-lo, manifestando ora concordância ora desacordo, e exprimindo-o de modo crítico.
Assim, e admitindo que a arquitectura de há muito deveio um jogo de imagens, ícones ou clichés,
também o autor destas comunicações se sente no direito de mostrar as suas imagens ou ícones. – De
resto, tal como se fez nos cursos anteriores, admitindo que o Vitruvianismo, ainda persistiria e se
583 Alberti, ob. cit., I, 9, 14v (ed. 1966), p. 67. 584 Koohlaas, ob. cit. (2001), § 22.
152
manifestaria num certo classicismo que, para lá de todas as vicissitudes e contrariedades, se manifes-
tou na Modernidade, e quiçá se continua manifestando.
Asplund: Cruz, Skogskirkogarden, Estocolmo, 1916-50; Klint: Igreja e Bairro, Copenhagen, anos 20
Perret: Paris, 1903-1905; Loos: Müller Haus, Brno, 1930; Behrens: Eingang Hoechts, Frankfurt, 1920-24
Gropius: Fagus Werk, Alfeld / Hildsheim, 1911 (colab. Arq. A. Meyer); id., Bauhaus, Dessau, 1926
Mies: Ausstellungpavillon, Barcelona, 1929; id., Farnsworth House, Plano / Illinois, 1950-51
153
Le Corbusier: Ville Savoye, Poissy / Ivellines, 1929-30, planta do r/ch, foto da frente, planta do 1.º andar, notar a imaterialidade de tudo isto, como se a matéria fosse coisa a evitar
Terragni: Casa del Fascio, Como, 1930; Rossi: Casa Aurora, Torino, 1987
Enfim, mesmo admitindo que o producto construído da modernização não é a arquitectura moderna
mas o junkspace, tem de se reconhecer que ela produziu obras-primas, de grande arte (ainda que algu-
mas de conteúdo funcional mais que controverso, como a Casa del Fascio, de Terragni), e não apenas
dos génios (Gropius, Mies, Le Corbusier, Wright), mas de outros, talvez mais modestos ou menos
criativos, mas que tiveram a sensatez de não se afastar do Classicismo, essa vara de medir fixa e inva-
riável que (...) se pode aplicar na actualidade e servirá também no futuro (Loos, 1898585) e que, mais
do que como armazém de recursos formais, deve ser assumido pelo que implica de verdadeiro Estilo,
cumprindo com a Ordenação, a Disposição, a Eurítmia, a Comensurabilidade, o Decoro e a Econo-
mia, e sempre visando a Firmitas, Utilitas e Venustas, numa clara e firme postura ético-estética, que
deverá estar ciente da dimensão social, política e pedagógica (ou edificante) da Arquitectura.
E nesta postura o papel da Teoria da Arquitectura e do seu registo histórico deverá ser análogo,
reconhecendo que a Arquitectura, scientia composta de Teoria e Prática, para lá da desvairada diversi-
dade de teorias que a enredam, também tem uma Teoria Clássica da Arquitectura, que se recomenda,
tanto mais, que agora não há trabalho, e se pode aproveitar para umas leituras ou releituras:
585 Loos, A., «Die alte und die neue Richtung in der Baukunst», in Der Architekt, Heft 3, Wien, 1898, S. 32.
154
Vitrúvio, Tratado de Arquitectura [De architectura, 25-15 a.C.], ed. M. J. Maciel, Lisboa, IST, 2006
Alberti, L’architettura [De re aedificatoria, 1443-52], ed. Orlandi / Portoghesi, Milano, Polifilo, 1989
Alberti, L’architettura [De re aedificatoria, 1443-52], ed. Orlandi / Portoghesi, Milano, Polifilo, 1966,
2 vols., ed. crítica, bilingue, páginas enfrentadas (anterrosto, reprod. ms. com miniatura de Attavante)
Agora também em ed. port., Da arte edificatória, ed. J. Krüger, trad. Espírito Santo, Gulbenkian, 2011
Palladio, I quattro libri dell’architettura, 1570; Scamozzi, Idea della architettura universale, 1614, 2 vols.;
Le Muet, Maniere de bastir pour toutes sortes de personnes, 1623; Laugier, Essai sur l’architecture, 1755;
Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863-72, 2 vols.; Loos, Escritos I (1897-1909), e II (1910-32),
2 vols.; Le Corbusier, Vers une architecture, 1923; Rossi, L’architettura della Città, 1966;
Tafuri, Progetto e Utopia, 1973; Koolhaas, Junkspace, 2001
155
BIBLIOGRAFIA
Citada ou referida no texto e notas, e por ordem alfabética*
AALTO, A., «Entrevista de S. Giedion a Alvar Aalto», in Arquitectura 69, p. 6 ss..
––– Alvar Aalto in his own words, ed. by G. Schildt, Helsinki, 1997, Otava Publishing Company – (ed. esp.,
Alvar Aalto. De palabra y por escrito, ed. a cargo de G. Schildt, trad. de E. Kapanen, I. García Ríos,
Madrid, 2000, El Croquis Editorial).
ABERCOMBRIE, P., Greater London Plan 1944, London, 1945, H. M. Stationery Office; acessível in
www.books.google.com/.
ADLER, D., «The Influence of Steel Construction and Plate Glass Upon Style», in The Proceedings of the
Thirtieth Annual Convention of the American Institute of Architects, 1896, p. 58-64.
ALBERTI, L. B., L’architettura [De re aedificatoria], texto latino e trad. a cura di G. Orlandi, introd. e note
di P. Portoghesi, Milano, 1966, Edizioni Il Polifilo, 2 vols.. – Há ed. port., Da arte edificatória, ed. M. J.
Kruger, trad. de A. M. Espírito Santo, Lisboa, 2011, Gulbenkian.
ALEXANDER, Ch., Notes on the Synthesis of Form, Camb. / Mass., 1964, 3th ed. 1971, MIT Press.
––– The Timeless Way of Building, New York, 1979, Oxford University Press.
ANDERSON, P., The Origins of Post-Modernity, London and New York, 1998, New Left Books.
ARCHIGRAM: manifesta-se em Archigram Magazin, n. 1, 1961; Archigram Pamphlet, 1961; os eventos
mais significativos foram: exposição de MAKI, F., OTAKA, M., KIKUTAKE, M., Living City, London,
1963, ICA; exposição de CHALK, W., HERRON, R., Interchange City, London, 1964; exposição de
COOK, P., CROMPTON, D., HERRON, R., Instant City, London, 1969-1970, documentados na Wiki.
ARGAN, G. C., Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, 1951, Einaudi (ed. port., Walter Gropius e a Bauhaus,
trad. de E. Campos Lima, Lisboa, 1984, Presença).
AYMONINO, C., Lo studio dei fenomeni urbani, Roma, 1977, Officina (ed. esp., «El estudio de los fenomenos
urbanos», in POZO, A. del, Analises urbano. Textos: Gianfranco Caniggia, Carlo Aymonino, Massimo
Scolari, Sevilla, 1997, IUCC / ETSA / Univ. Sevilla, p. 67-144).
––– Origini e sviluppo della città moderna, Padova, 1971, Marsilio Editori (ed. esp., Origenes y desarrollo de
la ciudad moderna, trad. Laboratorio de Urbanismo de la Univ. de Barcelona, Barcelona, 1972, G. Gili).
––– Il significato delle città, Bari, 1975, Laterza (ed. port., O Significado das Cidades, trad. de A. Rabaça, revis.
de W. Ramos, Lisboa, 1984, Presença).
BANHAM, R., «Neo liberty. The italian retreat from Modern Architecture», in Architectural Review 747,
1959, p. 231-235.
––– Theory and Design in the First Machine Age, London-New York, 1960, Architectural Press.
BARNETT, J., An Introduction to Urban Design, New York, 1982, Harper & Row.
BARRY, Ch., Illustrations of the New Palace of Westminster, London, 1849; acessível in www.e-rara.ch/.
BARTHOLOMEW, A., Specifications for Practical Architecture..., London, 1840; aces. in www.archive.org/.
BAUDOT, A. de, L’Architecture et le ciment armé, Paris, 1904 (uma raridade); acessível in www. numali-
* Só se indica editor para edições recentes, a partir de 1901. Sempre que possível indica-se: 1) acesso via Net; 2) eds. facsimil; 3) eds. actuais, de preferência, críticas; 4) ed. em português quando existente.
156
re.com/ (acesso pago, versão impressa ou em ficheiro PDF).
––– L’Architecture, le passé, le présent, Paris, 1916; acessível in www.archive.org/.
BAUMEISTER, R., Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung,
Berlin, 1876; acessível in www.books.google.com/.
BEAUVOIR, S. de, Pour une morale de l’ambigüité, suivi de Pyrrus et Cinéas, Paris, 1947, Gallimard.
BELLAMY, E., Looking Backward, 2000-1887, Boston, 1889; acessível in www.gutenberg.ebooks.org/.
BENEVOLO, L., Storia dell’architettura moderna, Roma-Bari, 1960, Laterza, 6.ª ed. 1975 (ed. esp., Historia de
la arquitectura moderna, trad. M. Galfetti, J. D. de Atauri y A. M.ª P. i Puigvehi, Barcelona, 1979. G. Gili).
––– Le origini dell’urbanistica moderna, Bari, 1963, Laterza (ed. port., As Origens da Urbanística Moderna,
trad. de C. Jardim e E. L. Nogueira, Lisboa, 1983, Presença).
BEHRENS, P., «Einfluss von Zeit und Raumausnutzung auf moderne Formenentwiklung», in Jahrbuch des
Deutschen Werkbundes 1914, S. 7-10; acessível in www.archive.org/.
BENTHAM, J., Panopticon; or, the Inspection-House..., Dublin, 1791; acessível in www.books.google.com/.
BERGMANN, L., Schule der Baukunst. Ein Handbuch für Architekten, Leipzig, 1853, 2 Bde.; acessível in
www.books.google.com/.
––– Zehn Tafeln Säulen-Ordnungen…, Leipzig, 1853; acessível in www.books.google.com/.
BERTALANFFY, L. van, Perspectives on General System Theory – Scientific - Philosophical Studies, New
York, 1975, George Brasiller.
BERNARD, K., Travels through North America during the years 1825 and 1826, Philadelphia, 1828, 2 vols.;
acessível in www.archive.org/.
BEUTH, Ch. P. W. (Hrsg.), Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker, Berlin, 1821-1837 (obra em que
colaborou Schinkel); acessível in www.books.google.com/.
BLOXMAN, M. H., The Principles of Gothic Architecture Elucidated by Questions and Answer, London,
1829; acessível in www.books.google.com/.
BOETTICHER, C., Tektonik der Hellenen, Potsdam, 1844-52, 3 Bde.; aces. in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
BOILEAU, L.-A., Principes et exemples d’architecture ferronnière, Paris, 1881; aces. in www.gallica.bnf.fr/.
––– Nouvelle Forme Architecturale, Paris, 1853; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
––– Débat sur l’application du métal (fer et fonte) à la construction des églises, Paris, 1855; acessível in
www.books.google.com/.
––– Le fer, principal élément constructif de la nouvelle architecture…, Paris, 1871; acessível in www.books.
google.com/.
BRAEMAN, J., BREMNER, R. H., BRODY, D. (eds.): The New Deal, Columbus, 1975, Ohio Univ. Press, 2 vols.
BRANDON, R. and BRANDON, J. A., An Analysis of Gothick Architecture, London, 1847, 3 vols.; acessível
in www.archive.org/.
BULTMANN, R., Glauben und Verstehen: Gesammelte Aufsätze,Tübingen, 1961, J. C. B. Mohr, 2 Bde.
BURNHAM, D., and BENNETT, E., The Plan of Chicago, Chicago 1909, Comercial Club; acessível in www.
books.google.com/; reprint with introd. by K. Schaffer, New York, 1993, Princeton Architectural Press.
CALINESCU, M., Five Faces of Modernity: Modernism, Avantgarde, Decadence, Kitsch, Postmodernism,
Durham, 1987, Duke University Press. – Há ed. em português.
157
CANIGGIA, G., Strutture dello spazio antropico, Firenze, 1976, 2. ed. 1981, UNIEDIT.
––– Lettura dell’edilizia di base, Padova, 1979, Marsilio Editori (ed. esp., Tipologia de la edificacion, trad.
M. G. Galán, Madrid, 1995, Celeste).
CARANDELL, J. M., La Pedrera, cosmos de Gaudí, Barcelona, 1993, Fundació Caixa de Catalunya.
CAUMONT, A. de, «Essai sur l’architecture religieuse du moyen âge, principalement en Normandie», in
Memoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 1824; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
––– Cours d’antiquités monumentales, Paris, 1830; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
CERDÁ, I., Ensanche de la ciudad de Barcelona. Memoria descriptiva, ms. 1855, publicado in AA. VV.,
Teoría de la construcción de las ciudades. Cerdà y Barcelona, Madrid, 1991, p. 51-105 (incl. Atlas).
––– Teoria de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid, ms. 1861, publicado in AA. VV., Teoría de la
viabilidad urbana. Cerdà y Madrid, Madrid, 1991, p. 45-323.
CESÁRIO VERDE, O Livro de Cesário Verde, editado por J. Verde, Lisboa, 1886, J. Rodrigues.
CHAN-MAGOMEDOW, S. O., Pioniere der sowjetischen Architektur. Der Weg zur neuen sowjetischen
Architektur in den zwanziger und zu Beginn der dreissiger Jahre, Dresden, 1983, Verlag der Kunst.
CHATEAUBRIAND, F. R., Génie du Christianisme, Paris, 1802 (ed. port., O Génio do Cristianismo, trad.
de C. C. Branco, revista por A. Soromenho, Porto, 1860, Liv. Cruz Coutinho, 2 vols.).
CHOAY, F., L’urbanisme, utopies et réalités: Une anthologie, Paris, 1965, Eds. du Seuil – Há ed. brasileira.
––– «Tafuri», in MIDANT, J.-P. (dir.), Dictionnaire de l’architecture au XXe siècle, Paris, 1996, Hazan /
Institute Français d’Architecture, p. 862.
––– «L’architecture d’aujourd’hui au miroir du De re aedificatoria», in Albertiana 1, 1998, p. 1-29.
CHOISY, A., Histoire de l’architecture, Paris, 1899, 2 vols.; ed. facsimil, Genève-Paris, 1987, Slaktine, 2 vols.
––– Vitruve, Paris, 1909, Lahure, 5 Tomes. – Talvez a melhor edição de Vitrúvio antes da edição crítica de
CUF / Les Belles Lettres. – Acessível in www.gallica.bnf.fr/; ed. facsimil, Paris, 1971, De Nobele, 2 vols.
––– L’art de batir chez les romains, Paris, 1873; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/; ed. facsimil
Bologna, 1978, Arnaldo Forni.
––– L’art de batir chez les byzantins, Paris, 1883; acessível in www.books.google.com/; ed. facsimil Bologna,
1978, Arnaldo Forni.
––– L’art de batir chez le egyptiens, Paris, 1904; acessível in www.archive.org/; ed. facsimil Bologna, 1977,
Arnaldo Forni.
CLARKE, Th. H., The Domestic Architecture of the reigns of Queen Elizabeth and James the First, London,
1833, profusamente ilustrado; acessível in www.books.google.com/.
COCKERELL, Ch. R., Royal Academy Lectures, 1841-1856, extractos in The Builder I, 13.2.1843 ss.; acessí-
veis in www.books.google.com/, e www.babel.hathitrust.org/. mais extractos nas revistas The Athenaeum
e Civil Engineer and Architect’s Journal; acessíveis in www.archive.org/, e in www.books.google.com/.
CORDEMOY, J.-L., Nouveau traité de toute l’architecture, Paris, 1706; acessível in www.gallica.bnf.fr/; ed. de
referência: 2e ed. 1714; acessível in www.gallica.bnf.fr/, e www.archive.org/ (maior qualidade reprod.).
CORROYER, É., Description de l’Abbaye Mont-Saint-Michel et ses abords, Paris, 1877; acessível in
www.archive.org/.
––– Guide descriptif du Mont-Saint-Michel, Paris, 1883; acessível in www.hathitrust.org/.
158
––– L’Architecture romane (românica e pré-românica), Paris, 1888; acessível in www.archive.org/.
––– L’Architecture gothique, Paris, 1891; acessível in www.books.google.com/.
CRANE, W., Arts and Crafts Essays, pref. by W. Morris, London, 1893; acessível in www.archive.org/.
CROSBY, Th., Architecture: City Sense, London, 1966, Studio Vista.
––– The Necessary Monument: Its future in the civilized City, London, 1970, Studio Vista.
––– «Ten Rules for Planners», in LEWIS, D., The Growth of Cities, London, 1971, Wiley-Interscience, p. 65-69.
CURL, J. S., Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Oxford, 2006, Oxford University Press.
DALLAWAY, J., Constantinople, ancient and modern, London, 1797; acessível in www.archive.org/.
––– Anedoctes on the Arts in England or comparative observations on Architecture, Sculpture & Painting,
London, 1800; acessível in www.books.google.com/.
––– Observations on English Architecture, military, ecclesiastical, and civil, compared with similar buildings
on the Continente, London, 1806, rev. e aumentada, 1834; ed. (1806) acessível in www.archive.org/.
––– Notices of Ancient Church Architecture in England, Bristol, 1823; acessível in www.books.google.com/.
––– A Series of Discourses upon Architecture in England, London, 1833; acessível in www.archive.org/.
DALY, C., Nos doctrines. Réponse a deux objections adressées a la direction de la Révue de l’architecture,
Paris, 1863, J. Claye; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
––– L’Architecture Privée au XIXe siècle sous Napoléon III, Paris, 1864, Iª série, 3 vols.; acessível in
www.gallica.bnf.fr/.
––– Architecture contemporaine. Les Théâtres de la place Châtelet, Paris, 1865; acessível in www.
books.google.com/.
––– Motifs historiques d’architecture et de sculpture d’ornement, Paris, 1869; acessível in www.archive.org/.
––– Architecture funéraire contemporaine. Spécimens de Tombeaux, Paris, 1871; acessível in www.books.
google.com/.
––– L’Architecture Privée au XIXe siècle, 1872, IIª série, 3 vols.; Idem, 1874, IIIe série, 2 vols.; acessível in
www.gallica.bnf.fr.
DAVID, B., «Über griechische und gothische Baukunst», in Die Horen, III. Bde., 1795, S. 87-102.
DEARN, Th. D. W., Sketches in Architecture consisting of original designs for Cottages, London, 1807;
acessível in www.archive.org/.
DERRIDA, J., L'Écriture et la différence, Paris, 1967, Éditions du Seuil.
DOBAI, J., Die Kunstliteratur des Klassizismus und der Romantik in England, Bd. III, 1790-1840, Bern,
1977, Benteli Verlag. – A obra, no total, consta de mais dois volumes: Bd. I, 1700-1750, Bd. II, 1750-
1790, e teve Registerband bearbeitet (colaboração de), Katarina Dobai.
DOESBURG, Th. van, Vers une Construction Collective: (manifeste V du Groupe “De Stijl”), Paris, 1923.
––– «Tot een beeldende architectuur», in De Stijl VI, 6/7, 1924, p. 79.
––– Grundbegriffe der Neuen Gestaltenden Kunst, München, 1925; ed. facsimil, Mainz und Berlin, 1966,
Florian Kupferberg; acessível in www.books.google.com/.
DOHME, R., Das englische Haus..., Braunschweig, 1888; acessível in www.books.google.com/.
DONALDSON, Th. L., Preliminary Discourse presented before the University College of London, Upon the
Commencement of a Series of Lectures on Architecture, London, 1842; aces. in www.books.google.com/.
159
DREXLER, A. (ed.), Five architects: Eisemann, Graves, Gwathemy, Hejduk, Meier, Catálogo da Exposição
apresentada no MOMA em 1969, New York, 1972, MOMA, reed. 1975, MOMA.
––– The Architecture of the École des Beaux-Arts, New York, 1975, MOMA.
DRÜEKE, E., Der Maximilianstil. Zum Stilbegriff der Architektur im 19. Jahrhundert, Mittenwald, 1981, Maander.
DUBUT, L.-A., L’architecture civile, Paris, 1803; acessível in www.gallica.bnf.fr/; ed. facsimil, Unter-
schneidheim, 1974, Walter Uhl.
DURAND, J.-N.-L., Précis des leçons d’architecture, Paris, 1802-1805, acessível in www.e-rara.ch/; ed.
facsimil, Nördlingen, 1985, Alfons Uhl.
EASTLAKE, Ch. L., A History of the Gothic Revival..., London, 1872; acessível in www.books.google.com/.
EBELING, G., «Bedeutung der historisch-kritische Methode für die protestantische Theologie», in Zeitschrift
für Theologie und Kirche 47, Tübingen, 1950, S. 1-46.
EBERSTADT, R., Die Spekulation im neuzeitlichen Städtebau. Eine Untersuchung auf der Grundlage des
städtischen Wohnungswesens. Zugleich eine Abwehr der gegen die systematische Wohnungsreform geri-
chteten Angriffe, Jena, 1907, G. Fischer; acessível in www.books.google.com/.
––– Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage, Jena, 1909, G. Fischer; acessível in www.
books.google.com/; id., folha a folha, www.uni-weimar.de/ (excelente qualidade reprodução).
––– Unser Wohnungswesen und die Notwendigkeit der Schaffung eines preuszischen Wohnungsgesetzes,
Jena, 1910, G. Fischer; acessível in www.books.google.com/.
––– zusammen mit MÖRING, B., und PETERSEN, R.: Groß-Berlin. Ein Programm für die Planung der neu-
zeitlichen Großstadt, Berlin, 1910, Wasmuth; acessível in www.books.google.com/. – Estas são as prin-
cipais obras, que, no total, somam 26 títulos.
EDSFORTH, R., The New Deal: America's Response to the Great Depression, Malden, 2000, Wiley-Blackwell.
EL LISSITZKY, «Proun», 1921, in EL LISSITZKY, Proun und Volkenbügel. Schriften, Briefe, Dokumente,
hrgs. S. Lissitzky-Küppers und J. Lissitzky, übertz. L. Schöche und S. Lissitzky-Küppers, Dresden,
1977, Verlag der Kunst, S. 33 ff..
––– «Eine Serie von Hochhäusern für Moskau», 1923-25, in EL LISSITZKY, ob. cit. (1977), S. 80-84.
ENGELS, F., Zur Wohnungsfrage, Leipzig, 1872 (ed. port., A Questão do Alojamento, trad. de Ribeiro da
Costa, Porto, 1971, Cadernos para o Diálogo).
FERGUSSON, J., Illustrations of the rock-cut temples of India, London, 1845, 2 vols. (texto in 8.º e ilust. in
folio); acessível in www.books.google.com/.
––– Picturesque illustrations of ancient architecture in Hindustan, London, 1847; aces. in www.columb-edu.usa/.
––– An Historical Inquiry into the True Beauty in Art, London, 1848; acessível in www.books.google.com/.
––– The Illustrated Handbook of Architecture being a concise popular account of the different styles of archi-
tecture prevailing in all ages and countries, London, 1855, 2 vols.; acessível in www.books.google.com/.
––– A History of the Modern Styles in Architecture, London, 1862; acessível in www.books.google.com/.
––– A History of Architecture in All Countries, London, 1865-76; acessível in www.archive.org/.
FICHTE, J. G., Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, Jena, 1794-95. – Há ed. port., trad. de D. Ferrer.
FLETCHER, B., History of Architecture on the Comparative Method, London, 1896, reeds. sucessivas; 5th.
ed., 1905, acessível in www.archive.org/.
160
FOULSTON, J., The Public Buildings erected in the West of England, London, 1838; aces, in www.e-rara.ch/.
FOURIER, Ch., Traité de l’Association Domestique-Agricole, Paris, 1822; aces. in www.books.google.com/.
FRAMPTON, K., Modern Architecture: A Critical History, London, 1980, Thames & Hudson (ed. esp., Histo-
ria crítica de la arquitectura moderna, trad. de J. Sainz, Barcelona, 1993, Gustavo Gili).
FRIEDMANN, Y., Mobile architecture, manifesto 1958; muito raro, não digitalizado.
––– Towards a scientific architecture, Camb. / Mass., 1975, MIT Press.
––– A better life in towns: [campaign for the renaissance of cities], 1980, Council of Europe.
FULLER, B., Operating Manual For Spaceship Earth, Carbondale and London, 1969, Southern Illinois
Press and Feffer & Simons Inc.; texto acessível in www.designciencelab.com/.
GADAMER, H.-G., Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, 1960,
J. C. B. Mohr; agora in GW 1, Tübingen, 1993, J. C. B. Mohr. – Há ed. brasileira de qualidade.
GAN, A., Конструктиви�зм (Construtivismo), Москва (Moscovo), 1922; acessível in www.books.google.
com/; ed. italiana, Konstrutivism, Milano, 1977, Edizioni dello Scorpione.
GARNIER, T., Une Cité Industrielle. Étude pour la construction des villes, Paris, 1917, Ch. Massin & Ce.;
ed. facsimil, introd. de H. Poupée, Paris, 1988, Philippe Sers.
GEDDES, P., Civics as Applied Sociology, London-New York, 1904, Croom Helm-Barnes & Noble.
GENTZ, H., Elementar Zeichenwerk…, Berlin, 1803-1806.
GILLY, D., Handbuch der Land-Bau-Kunst…, Berlin, 1797-1811, 3 Bde.; Bde I und II, Aufl. 1820-21,
acessíveis in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
GINZBURG, M. J., Стиль и эпоха (Estilo e Época), Москва (Moscovo), 1924; acessível in www.books.
google.com/; ed. italiana in GINZBURG, M, J., Saggi sull’architettura costruttivista, a cura di E. Battis-
ti, Milano, 1977, Feltrinelli, p. 72 ss.
GODIN, J. B., Solutions Sociales, Paris-Bruxelles, 1871; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
GOMBRICH, E., Norm and Form: Studies in the Art of the Renaissance, London, 1966, Phaidon Press.
GOMBROWICZ, W., Pornographie, trad. de G. Lisowski, Paris, 1962, Julliard. – Há ed. brasileira.
Green Belt (London and Home Counties) Act 1938, acessível in http://www.legislation.gov.uk/uk/green-belt-
london-and-home-counties-act-1938.
GRASSI, G., La costruzione logica dell'architettura, Padova, 1967, Marsilio Editori.
––– L’architettura come mestiere e altre scritti, Milano, 1979, Franco Angeli.
––– Architettura: lingua morta, Milano, 1988, Electa.
GREGOTTI, V., Il territorio dell'architettura, Milano, 1966, Feltrinelli.
––– New Directions in Italian Architecture, London, 1968, Studio Vista.
GROPIUS, W., «Programm zur Gründung einer allgemeinen Hausbaugesellschaft auf künstlerich einheitlicher
Grundlage», ms. 1910, in WINGLER, H., Das Bauhaus 1919-1933. Weimar Dessau Berlin und die Nach-
folge in Chicago seit 1937, Bramsche, 1962, 3. Aufl. 1975, Gebr. Rasch., S. 26 (ed. esp., La Bauhaus. Wei-
mar Dessau Berlin 1919-1933, trad. F. S. Cantarell, pról. de C. Sambricio, Barcelona, 1975, G. Gili, p. 28-30.
GROPIUS, W., «Bauhaus Dessau – Grundzütze der Bauhausproduktion», 1925, in WINGLER, ob. cit. (1962,
3. Auflage 1975, ed. esp. 1975), p. 131-134.
GRUNNER, L., The Terra-Cotta Architecture of North Italy, XIIth-XVth Centuries, pourtrayed as examples
161
for imitation in other countries, from careful drawings and restoration by F. Lose, London, 1867; acessível
in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/ (embora o autor seja alemão nunca terá sido editado na Alemanha).
GUADET, J., Eléments et théorie de l’architecture, Paris, 1901-1904, Lib. de la Construction Moderne, 4 vols.;
acessível in www.gallica.bnf.fr/. – Há um exemplar na modesta Biblioteca da OA; ostenta nas portadas
carimbo do Arq,to Adelino Nunes (o das Estações dos CTT de 1930-60), pelo que lhe terá pertencido.
GWILT, J., Rudiments of architecture, practical and theoretical, London, 1826; aces. in www.books.google.com/.
––– An encyclopedia of architecture, historical, theoretical and practical, London, 1842; aces. in www.archive.org/.
HABERMAS, J., Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt: Philosophisch-politische Aufsätze 1977-1990,
Leipzig, 1990, Ph. Reclam Verlag.
––– «Moderne und Postmoderne Architektur», apresentado como texto no Catálogo da Exposição Die Andere
Tradition: Architektur in München von 1800 bis heute, November, 1981, München, 1982, Callwey, S. 8 ff..
HADFIELD, J., The Ecclesiastical, Castellated and Domestic Architecture of England, London, 1848; aces-
sível in www.books.google.com/.
HÄRING, H., Schriften, Entwürfe, Bauten, hrsg. J. Joedicke, Stuttgart-Bern, 1965, Karl Krämer.
HARRES, B., Die Schule der Baukunst. Ein Handbuch für Architekten, Bau- und Gewerbschule, Leipzig,
1868; acessível in www.books.google.com/.
HAUSSMANN, G.-E., Mémoires, Paris, 1890-93; ed. facsimil, introd. par F. Choay, introd. téchnique par B.
Landau et V. S. M. Gauthier, Paris, 2001, Adamant.
HAWKINS, J. S., An History of the Origin and Establishment of the Gothic Architecture, London, 1813;
acessível in www.books.google.com/.
HEGEL, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, 1821, Vorrede, Aufl. 1901; acessível in
www.books.google.com/.
––– Vorlesungen über die Ästhetik, Berlin, 1835-38, 2. Aufl. 1842, 3 Bde; acessível in www.books.google.com/.
HEGEMANN, W., and PEETS, E., American Vitruvius: An Architects Handbook of Civic Art, New York,
1922, The Architectural Book; new ed., New York, 1988, Princeton Architectural Press.
HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Tübingen, 1927, Max Niemeyer (agora in GA 2, hrsg. F.-W. von Herrmann,
Frankfurt am Main, 1977, Vittorio Klostermann).
HÉNARD, E., Les villes de l’avenir, apresentada em Londres, numa série de conferências mais tarde publica-
das em volume intitulado Town Planning Conference, in Transactions (rev. do RIBA), 1911, p. 345-367
(vers. bilingue); acessível in www.archive.org/.
HEREU, P., MONTANER, J. M., y OLIVERAS, J., Textos de arquitectura de la modernidad, trads. J. L. G.
Aristu, J. Galán, R. Zavas y J. R. Monteverde, Madrid, 1994, Nerea.
HILBERSEIMER, L., Groszstadt Architektur, Stuttgart, 1927, Julius Hoffmann – várias eds. e trads. recentes.
HIRT, A., Baukunst nach den Grundsätzen der Alten, Berlin, 1809, 2 Bde.; acessível in www.digi.ub.uni-
heidelberg.de/.
HITTORFF, J.-I., Restitution du Temple d’Empédocle à Sélinonte ou l’Architecture polychrome chez les
Grecs, Paris, 1851, 2 vols.; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
HOPE, Th., Observations on the Plans and the Elevations designed by James Wyatt, Architect, for Downing
College, Cambridge, in a Letter to Francis Annesley, London, 1804; acessível in www.books.google.com/.
162
––– Household Furniture and Interior Decoration executed from Designs by Thomas Hope, London, 1807, 3
vols., reprint 1937, 3 vols., NYPL.
––– An Historical Essay on Architecture by the late Thomas Hope, illustrated by drawings made by him in Italy
and Germany, London, 1835, 2 vols.; acessível in www.books.google.com/.
HOWARD, E., Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform, London, 1898; aces. in www.books.google.com/;
com nova edição e novo título, Garden Cities of Tomorrow, London, 1902; acessível in www.archive.org/.
HÜBSCH, H., In welchem Style sollen wir bauen?, Karlsruhe, 1828; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
HULTEN, P. (a cura), Futurismo & Futurismi, Dizionário del Futurismo, Milano, 1986, Bompiani, p. 409-638.
HUGO, V., Notre Dame de Paris. 1482, Paris, 1831. – Há várias edições em português.
JACOBS, J., The Death and Life of Great American Cities, New York, 1961, Random House. – Há ed. bras.,
Morte e Vida de Grandes Cidades, trad. C. S. M. Rosa, revis. M. E. H. Cavalheiro, revis. técnica Ch. A.
G. Bailão, S. Paulo, 2000, Martins Fontes.
JAMESON, F., «Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism», in New Left Review 146, July-
August 1984, p. 59-92.
––– Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, 1991, Duke University Press.
JENCKS, Ch., The Language of Post-Modern Architecture, New York, 1977, Rizzoli. – Várias eds. e trads.
JOHNSON, Ph. and WIGLEY, M. (eds.), Deconstructivist Architecture, New York, 1988, MOMA.
JONES, O., The Polychromatic Ornament of Italy, London, 1846 (a obra saíu com o nome de Edward Adams).
––– Grammar of Ornament, London, 1856, 2 vols.; acessível in www.archive.org/; id., www.e-rara.ch/.
––– and GOURY, M. J., Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra, London, 1842-1846, 2
vols.; acessível in www.archive.org/; idem, in www.e-rara.ch/.
KOOLHAAS, R., Junkspace, 2001, acessível in file:///F:/Koolhaas, R., Junkspace (2001).htm.
KOSTOF, S., A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford, 1985, Oxford University Press.
KRUFT, H.-W., Geschichte der Architekturtheorie: von der Antike bis zur Gegenwart, München, 1985, 4.
Auflage, 1995, C. H. Beck.
KUGLER, F., Handbuch der Kunstgeschichte, Stuttgart, 1842; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
––– Geschichte der Baukunst, Stuttgart, 1856 ff., 4 Bde.; acessível in www.archive.org/.
KUGLER, F., Kunstblatt, 1844, in KUGLER, F., Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte, Stuttgart,
1854, II. Bd.; acessível in www.books.google.com/.
KUROKAWA, K., Metabolism in Architecture, London, 1977, Studio Vista; aces. in www.books.google.com/.
–––, MAKI, F., OTAKA, M., KIKUTAKE, M., Metabolism 1960 – The Proposals for New Urbanism (mani-
festo ou Pamphlet extremamente raro, não digitalizado, e difícil de localizar em antologias; as referências
mais extensas encontram-se em MALLGRAVE, H. F., Modern Architectural Theory: A Historical Sur-
vey, 1673-1968, New York, 2005, Cambridge University Press, p. 364-369).
LABROUSTE, H., Temples de Paestum... Restaurations des monuments antiques, 1828-1829, só publicado
em Paris, 1877; acessível in www.quod.lib.umich.edu/ (Univ. of Michigan, available with autorization).
LAMB, E. B., Studies of Ancient Domestic Architecture, London, 1846; acessível in www.books.google.com/.
LE CORBUSIER, Vers une architecture, Paris, 1923, Crès et Cie – várias reeds.
––– Urbanisme , Paris, 1925, nouv. ed. Paris, 1980, Flammarion.
163
––– «Défense de l’Architecture», in Stavba 2, Praga, 1929, e in L’Architecture d’Aujourd’hui, Paris, 1933
(ed. esp., El Espíritu nuevo en arquitectura e En defensa de la arquitectura, trad. de M. Borrás y J. M.ª
Forcada, Murcia, 1983, COAATM / Lib. Yerba, p. 43-68).
––– La Charte d’ Athénes, 1933, publicada pela 1.ª vez, avec un Discours Liminaire de Jean Girardoux, Paris,
1938, Plon, e depois, na forma que veio a ser ne varietur, Paris, 1942, Éditions de Minuit.
––– Les trois établissements humains, Paris, 1945, Denoël.
––– Maniere de penser l’urbanisme, Paris, 1946, Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui.
LE ROY, J.-D., Ruines des plus beaux monuments de la Gréce, Paris, 1758, 2 tomes; acessível in www.digi.
ub.uni-heidelberg.de/.
LEGRAND, J.-G., «Extrait de l’Histoire générale de l’Architecture», in DURAND, J.-N.-L., Recueil et Paral-
lèle des Édifices de tout genre Anciens et Modernes, Paris, 1799-1800, 2 vols., Vol. 1, p. 1-52; acessível
in www.gallica.bnf.fr/;
LETHABY, W. R., Architecture, Mysticism and Myth, New York, 1892; acessível in www.archive.org/; na
portada ostenta uma citação de César Daly, trad. em inglês: Are there symbols which may be called cons-
tant; proper to all races, all societies, and all countries.
LOOS, A., «Die alte und die neue Richtung in der Baukunst», in Der Architekt, Heft 3, Wien, 1898, S. 32.
––– «Ornament und Verbrechen», 1908 (ed. esp., «Ornamento y delito», in Escritos I, 1897-1909, al cuidado
de A. Opel y J. Quetglas, trad. de A. Estévez, J. Quetglas, M. Vila, Madrid, 1993, El Croquis, p. 346-355).
LORENZ, K. (Hrsg.), Proletarische Kulturrevolution in Sowjetrussland (1917-1921). Documente des “Pro-
letkult”, München, 1969, Deutscher Tachenbuch Verlag; acessível in www.books.google.com/.
LOUDON, J. C., A Short Treatise on Several Improvements, recently made in Hot-Houses, London, 1805;
acessível in www.books.google.com/; id., www.archive.org/.
––– Remarks on the Construction of Hot-Houses, London, 1817; acessível in www.books.google.com/.
––– Sketches of Curvilinear Hothouses with a Descrption of the various Purposes in Horticultural and Gene-
ral Architecture, London, 1818; acessível in www.books.google.com/.
––– A comparative view of the Common and Curvilinear Modes of Roofing Hothouses, London, 1818.
––– The Green-House Companion, London, 1825; acessível in www.books.google.com/.
LOUDON, J. C. (ed.), Architectural Magazine, 1834-39, 6 vols.; acessível in www.books.google.com/.
––– Civil Engineer and Architect’s Journal, 1837 ss; acessível in www.archive.org/.
––– The Surveyor, Engineer and Architect, 1840 ss.; acessível in www.books.google.com/.
––– The Builder, 1842 ss.; acessível in www.books.google.com/; id., www.babel.hathitrust.org/.
LYNCH, K., The Image of the City, Camb. / Mass., 1960, MIT Press.
LYOTARD, J.-F., La condition postmoderne, Paris, 1979, Les Éditions de Minuit.
MACKMURDO, A. H. (ed.), The Century Guild Hobby Horse, 1884 ss., revista literária dedicada às artes
aplicadas, que pretendia elevar ao nível da pintura e escultura; acessível in www.books.google.com/.
MALEVICH, K., Suprematismus I / 46, 1923, in MALEWITSCH, K., Suprematismus – die gegenstandslose
Welt. Texte und Perspektiven, hrsg. W. Haftmann, übert. H. von Riesen, Köln, 1962, DuMont, S. 274.
––– Suprematismus Manifest Unowis, 1924, in MALEWITSCH, ob. cit. (1962), S. 283.
––– «Suprematistiche Architektur», in Wasmuths Monatshefte für Baukunst XI, 1927, S. 412-414.
164
MARINETTI, «Manifesto del Futurismo», in Le Figaro, 20 Feb. 1909; agora, compilada in HULTEN, ob.
cit. (1986), p. 511-512.
MAYEKAWA, K., «Thoughts on Architecture and Civilization», in Bauen & Wohnen, Zürich, 1965.
MEYER, H., «Bauen» in Bauhaus. Zeitchrift für Gestaltung, Jahr 2, 1928, Heft 4, S. 12-13 (ed. esp., «Cons-
truir», in MEYER, H., El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos, selección, pról. y notas de F.
Dal Co, trad. M. G. de Gili, Barcelona, 1972, G. Gili, p. 96-99).
MENDELSOHN, E., «Das Gesamtschaffen des Architekten», conf. 1919, in Skizzen Entwürfe Bauten, Berlin,
1930, R. Mosse (ed. esp., HEREU, P., MONTANER, J. M., OLIVERAS, J., Textos de arquitectura de la
Modernidad, Madrid, 1994, p. 171-73).
MERCIER, L.-S., L’An deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fut jamais, Londres, 1770, ed. 1773,
acessível in www.books.google.com/ (na portada cita Leibnitz: le temps présent est gros de l’avenir...) .
MERLEAU-PONTY, M., La structure du comportment, Paris, 1942, PUF.
––– La phénomenologie de la perception, Paris, 1945, Gallimard.
MIES VAN DER ROHE, L., «Einleitung. Die Kunst der Struktur – Introduction. The Art of Structure», in
BLASER, W., Mies van der Rohe, Zürich-New York, 1965, Verlag für Architektur-Praeger, S. 10 ff..
MILJUTIN, N. A., Sosgorod. O problema da construção das cidades socialistas, Moscovo, 1930, comp. in
AYMONINO, ob. cit. (1971, ed. esp. 1972), p. 285-329 – ed. recente: Sozgorod, Berlin, 2009, Dom Jan.
MOLLER, G., Denkmäler der deutschen Baukunst, Darmstadt, 1815-1849, 6 Bde; acessível in www.digi.ub.
uni-heidelberg.de/.
––– Bemerkungen über die einzelne Originalzeichnungen des Domes zu Köln…, Stuttgart, 1823.
MORE, Th., Utopia (1516, versão em inglês de Ralph Robinson, 1551), foreword by William Morris, Lon-
don, 1893, acessível in www.archive.org/.
MORRIS, M., William Morris, Artist, Writer, Socialist, Oxford, 1936, Basil Blackwell, 2 vols..
MORRIS, W., The Decorative Arts: Their Relation to Modern Life and Progress, an Address delivered before
the Trades' Guild of Learning (Dec. 4, 1877), ed. London, 1878; aces. in www.burrows.com/dec4/html/.
––– «The Prospects of Architecture in Civilization», conf. proferida na London Institution em 10 de Março de
1881, publ. in On Art and Socialism, London, 1947, J. Lehmann; texto acessível in www.marxists.org/.
––– News from Nowhere, London, 1890; acessível in www.archive.org/.
––– «The Revival of Architecture», 1888, publicado in Architecture, Industry & Wealth, London, 1902, p.
198-213; acessível in www.archive.org/.
MUMFORD, L., The Culture of Cities, New York, 1938, Harcourt Brace Jovanovich, reed. 1970, idem, HBJ.
MURATORI, S., Studi per una operante storia urbana di Venezia, Roma, 1959, Istituto poligrafico dello Stato.
––– e MARETTO, P., L’edilizia gotica veneziana, Roma, 1960, Istituto poligrafico dello Stato.
––– Schinkel ad Asplund. Lezioni di architettura moderna. 1959-1960, a cura di G. Cataldi e G. Marinucci,
Firenze, 1990, Alinea Editrice.
MURPHY, J. C., Plans, Elevations, Sections and Views of the Church of Batalha... to wich is prefixed an
introductory discourse on the Principles of Gothic Architecture, London, 1795; acessível in www.bnp.
pt/purl.pt/17123/2/.
MUTHESIUS, H., Das englische Haus. Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, Einrichtung und Innen-
165
raum, Berlin, 1904-1905, Wasmuth, 3 Bde; acessível in www.archive.org/.
NEALE, J. M., A Few Hints on the Practical Study of Ecclesiastical Antiquities, Cambridge, 1839; acessí-
vel in www.archive.org/.
––– A Few Words to Church Builders, Cambridge, 1841; acessível in www.archive.org/.
––– and WEBB, B., The Symbolism of Churches and Church Ornaments, Cambridge, 1843; acessível in www.
books.google.com/; idem, ed. 1893, acessível in www.archive.org/ (melhor qualidade reprodução).
NEUTRA, R., Wie baut Amerika, Stuttgart, 1927, J. Hoffmann; reprint, mit einem Nachwort H. M. Wingler,
München, 1980, Kraus-Thompson Organization.
––– Amerika: Die Stilbildung des Neuen Bauen in den Vereinigten Staaten, Wien, 1930, A. Schroll.
––– Survival Through Design, New York and London, 1954, 2e. ed. 1969, Oxford University Press; nova ed.,
Köln, 2004, Taschen.
NICHOLSON, P., The Builder’s & Workman’s new Director: comprising explanations of the general principles
of architecture..., London, 1824; acessível in www.books.google.com/.
NIEMEYER, O., As Curvas do Tempo: Memórias, Rio de Janeiro, 1998, Editora Revan.
––– Entrevista Memória Roda Viva; acessível in www.rodaviva.fapesp.br.htm; id., MARKUN, P. (org.), O
Melhor do Roda Viva, S. Paulo, 2005, Editora Conex, p. 161-175.
NORBERG-SCHULZ, Ch., y DIGERUD, J. G., Louis I. Kahn: Idea y Imagen, Madrid, 1990, Xarait.
NORMAND, Ch.-P.-J., Recueil varié de plans et de façades, motifs pour des maisons de ville et de campagne,
des monumens et des établissemens publics et particuliers, Paris, 1823; acessível in www.e-rara.ch/.
OETTINGEN-WALLERSTEIN, F. zu, Ueber die Grundsätze der Bau-Oekonomie, Praga, 1835, acessível in
www.bib.bsb-muechen.de/.
OUD, J. J. P., Mein Weg in De Stijl, Gravenhage, 1960, Van Ditmar (ed. esp. Mi trayectoria en “De Stijl”,
trad. Ch. Grego, Murcia, 1986, COAATM / Lib. Yerba.
OWEN, R., Report to the Country of Lanark, London, 1821; acessível in www.books.google.com/.
PACI, E., L’esistenzialismo, Padova, 1943, CEDAM.
––– Esistenzialismo e storicismo, Milano, 1950, Mondadori
PALM, G., Von welchen Prinzipien soll die Wahl des Baustyls, insbesondere des Kirchenbaustyls geleitet
werdem?, Hamburg, 1845; acessível in www.books.google.com/.
PANOFSKY, E., Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its Art Treasures, New York, 1946,
Princeton University Press.
––– Gothic Architecture and Scholasticism, New York, 1951, New American Library
PARKER, J. H., Some Account of Domestic Architecture in England, Oxford, 1853, 2 vols.; acessível in
www.archive.org/; id., www.books.google.com/.
––– A Concise Dictionary of Architectural Terms, London, 1846; acessível in www.books.google.com/.
––– A Glossary of Terms used in Grecian, Roman, Italian, and Gothic Architecture, London, 1838; acessível
in www.archive.org/; id., www.books.google.com/.
PERCIER, Ch., et FONTAINE, P. F. L., Palais, Maisons, et autres édifices modernes dessinés à Rome, Paris,
1798; acessível in www.e-rara.ch/.
––– Recueil de Décorations intérieures, Paris, 1801, 1812; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
166
––– Résidences de Souverains, Paris, 1833; acessível in www.books.google.com/.
PERRET, A., Contribution à une théorie de l’architecture, Paris, 1952, A. Wahl.
PEVSNER, N., Pioneers of Modern Design, London, 1936, Penguin Books.
––– The Sources of Modern Architecture and Design, London, 1968, Thames & Hudson..
PICCINATO, G., La costruzione dell’urbanística: Germania 1871-1914, Roma, 1974, Officina.
PICKETT, W. V., New system of architecture founded on the forms of nature, and developing the properties
of metals, London, 1845; acessível in www.books.google.com/.
POËTE, M., Introduction a l’urbanisme, Paris, 1929, Boivin; nova edição, Paris, 1967, Anthropos; acessível
in www.books.google.com/.
PORTOGHESI, P. (a cura di), Strada novissima, Manifesto da Prima Mostra Internazionale di Architettura di
Venezia 1980, subordinada ao tema La presenza del passato.
––– Dopo l’architettura moderna, Roma-Bari, 1980, Laterza.
––– Postmodern: l’architettura nella società post-industriale, Milano, 1982, Electa.
PUGIN, A. Ch., Specimens of Gothic Architecture..., London, 1821-28, 2 vols.; acessível in www.e-rara.ch/.
PUGIN, A. W. N., Contrasts: or, A Parallel between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fifteenth Centu-
ries and Similar Buildings of the Present Day, Salisbury, 1836; acessível in www.books.google.com/.
––– The True Principles of Pointed or Christian Architecture, London, 1841; acessível in www.books.google.
com/; idem, ed. 1895, acessível in www.archive.org/ (maior qualidade reprodução).
––– An Apology for the Revival of Christian Architecture in England, London, 1843; aces. in www.archive.org/.
PUIG I BOADA, I., El pensament de Gaudí. Compilació de textos i comentarios, Barcelona, 1981, reed.
2004, La Gaya Ciencia – Publ. del Collegi d’Arquitectes.
PUIG I TÀRRECH, A., La Sagrada Família segons Gaudí: Compendre un Símbol, Barcelona, 2009, Pòrtic.
QUARONI, L., La Torre di Babele, Padova, 1967, Marsilio Editori.
––– Progettare un edificio. Otto lezioni di architetttura, Milano, 1977, Mazzotta.
QUATREMÈRE DE QUINCY, A.-Ch., Dictionnaire d’Architecture I e II, Paris, 1789, 1832; acessível in
www.inha.fr/ (PDF protegido).
––– Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, Paris, 1830, 2 vols.; acessível in www.
books.google.com/.
––– Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les Beaux-Arts, Paris, 1823; ed. facsimil, introd.
de L. Krier & D. Porphyrios, Bruxelles, 1980, Archives d’Architecture Moderne.
––– Jupiter olympien, Paris, 1815; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
RAGGHIANTI, C. L., L’Opera di Le Corbusier, Firenze, 1963, Tipografia Giuntina.
RAJCHMAN, J., A New Pragmatism, Camb. / Mass., 1997, MIT Press.
RAMÓN, F., La ideologia urbanistica, Madrid, 1974, A. Corazón (ed. port., Habitação, Cidade, Capitalismo.
Teorias e Ideologia Urbanistica, trad. de E. Cirne e C. Queiroz, rev. de M. Amaral, Porto, 1977, Escorpião).
REICHENSPERGER, A., Fingerzeige auf dem Gebiet der kirchlichen Kunst, Leipzig, 1854; acessível in
www.books.google.com/.
RELPH, E., The Modern Urban Landscape, Toronto, 1987 (ed. port., A Paisagem Urbana Moderna, trad. de
A. McDonald de Carvalho, Lisboa, 1990, Edições 70).
167
REYNAUD, L., Traité d’architecture, Paris, 1850-58, 4 vols.; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
RICKMAN, Th., An Attempt to Discriminate the Styles of English Architecture..., London, 1815, new ed.
1819; acessível in www.archive.org/.
RIEGL, A., Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin, 1893; acessível in www.
digi.ub.uni-heidelberg.de/; várias reeds. e trads..
––– Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn dargestelt, Wien, 1901; acessí-
vel in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/; várias reeds. e trads..
ROGERS, E. N., «Il sviluppo dell’architettura. Risposta al guardiano di frigorìfici», in Casabella-Continuità
228, 1959, p. 2-4.
––– Esperienza dell'architettura, Torino, 1958, Einaudi.
RONDELET, J.-B., Traité théorique et pratique de l’art de bâtir, Paris, 1802; acessível in www.gallica.bnf.fr/.
ROOT, J. W., «Architectural Ornamentation», in The Inland Architect and Builder V (Western Association of
Architects), Special Number, April 1885, p. 54 ss; compilado in HOFFMANN, D. (ed.), The Meanings of
Architecture. Buildings and Writings by John Wellborn Root, New York, 1967, Horizon Press, p. 16-21.
ROSSI, A., L’architettura della Città, Venezia, 1966, Marsilio, ed. utilizada, Milano, 1995, Città’Studi Edizioni.
––– «Il passato e il presente nella nuova architettura», in Casabella-Continuità 217 e 219, 1958.
––– Scritti scelti sull'architettura e la cittá: 1956-1972, Milano, 1975, CLUP.
––– A Scientific Autobiography, Camb. / Mass., 1981, MIT Press.
ROSZAK, Th., The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society & its Youthful
Opposition, Berkeley, 1969, Anchor Books.
RUBIO, M., La Ciudad Lineal de Arturo Soria, Madrid, 1991, COAM – Serv. Publicaciones.
RUDOFSKY, B., Architecture without Architects, New York, 1964, MOMA.
RUSKIN, J., «The Poetry of Architecture», in Architectural Magazine 1837, p. 505-508 e 555-560, e 1838,
p. 7-554; acessível in www.books.google.com/.
––– The Seven Lamps of Architecture, London, 1849; acessível in www.archive.org/.
––– The Stones of Venice, London, 1851-53, 3 vols; acessível in www.books.google.com/; ed. Boston, 1894;
acessível in www.archive.org/ (maior qualidade reprodução).
––– Fors clavigera, London, 1871-84, 8 vols.; acessível in www.archive.org/.
SAARINEN, E., The City: Its Growth, its Decay, its Future, New York, 1943, Reinhold Pub.; acessível in
www.books.google.com/ ; 3th ed., Camb. / Mass., 1971, MIT Press; acessível in www.books.google.com/.
SAMONÀ, G., L'urbanistica e l'avvenire della Città nel Stati europei, Bari, 1959, Laterza.
SANT’ELIA, A., Architettura futurista. Manifesto, Milano, 11 luglio 1914, in HULTEN, ob. cit. (1986), p. 419-20.
SCHEERBART, P., Glasarchitektur und Programm der Glasarchitektur in einhundertundelf Kapitel, Berlin,
1915, Verlag der Sturm; acessível in www.books.google.com/; (ed. esp., La arquitectura de cristal, trad.
A. Pinós, Murcia, 1998, COAATM / Libreria Yerba).
SCHINKEL, K. F., Das architektonische Lehrbuch, ed. póstuma G. Peschken (Hrsg.), München-Berlin, 1979,
2. Auflage 2001, Deutscher Kunstverlag.
––– Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker, Berlin, 1821-1830; acessível in www.books.google.com/.
––– Sammlung architektonischer Entwürfe, Berlin, 1819-40, 2. Aufl. Potsdam, 1841-66, 28 Hefte; acessível
168
in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
SCHLEGEL, F., «Briefe auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen Teil
von Frankreich», in Poetisches Tagebuch für das Jahr 1806, S. 257-390.
––– «Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst», in SW 6, 1823; acessível in www.books.google.com/.
SCHMARSOW, A., Das Wesen der architektonischen Schöpfung, Leipzig, 1894; acessível in www.digitale.
sammlungen.bsb-muenchen.de/ (digitalização por encomenda).
SCHNAASE, C., Geschichte der bildenden Künste, 1843-64, 9 Bde; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
––– «Über das Organische in der Baukunst», in Deutsches Kunstblatt 58, 1844, S. 245-247; acessível in www.
digi.ub.uni-heidelberg.de/.
SCHWABE, H., Die Förderung der Kunstindustrie in England und der Stand dieser Frage in Deutschland,
Berlin, 1866; acessível in www.bsb-muenchen-de/.
SCOTT, G., The Architecture of Humanism: A Study in the History of Taste, Boston-London, 1914, Constable.
SEDDING, J. D., Art and Handicraft, London, 1893; acessível in www.books.google.com/.
SEMBACH, H.-J., Jugendstil, Bona, 1990, Bild-Kunst (ed. em português, Arte Nova, trad. Luís Milheiro,
Köln, 1993, Benedikt Taschen Verlag).
SEMPER, G., Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten, Altona, 1834;
acessível in www.sammlungen.ulb.uni-muenster.de/; ostenta na portada uma citação de Goethe, do
Faust: Grau, theurer Freund, ist alle Theorie, / Und grün des Lebens goldner Baum.
––– Die vier Elemente der Baukunst, Braunschweig, 1851; aces. in www.digitale.sammlungen.bsb.muenchen.de/.
––– «Entwurf eines Systems vergleichender Stillehre», 1835, in SEMPER, G., Kleine Schriften, Berlin &
Stuttgart, 1884; acessível in www.books.google.com/.
––– Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, München, 1860-63, 2 vols.; acessível in www.
digi.ub.uni-heidelberg.de/.
––– «Über Baustile», 1869, in Semper, ob. cit. (1884), S. 426.
SITTE, C., Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien, 1889; Wien-Leipzig, 3. Auf. 1901,
Graeser & Cie-Teubner; acessível in www.archive.org; – várias eds. e trads. ao longo do tempo.
SKINNER, B., Walden Two, Indianapolis, 1948, Macmillan. – Várias reeds. e trads..
SKINNER, Q., The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge / UK, 1978-1980, Cambridge Uni-
versity Press, 2 vols..
SMITH, A,, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, 1776, 2 vols. (ed. port.,
Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, trad. de T. Cardoso e L. C. De Aguiar,
pref. de H. dos Santos, Lisboa, 1993, Gulbenkian, 2 vols.).
SOLÁ-MORALES, I., «Werner Hegemann y el Arte Civico», in HEGEMANN, y PEETS, E., ob. cit. (1922,
ed. esp. 1992), páginas não numeradas.
SOLERI, P., Arcology: The City in Image of Man, Camb. / Mass., 1973, MIT Press.
––– The Bridge between Matter & Spirit is Matter Becoming Spirit: The Arcology of Paolo Soleri, New
York, 1973, Anchor Books.
SORIA y MATA, A., Folleto Ferrocarril-tranvía de circunvalación de Madrid a Canillas, Hortaleza, Fuen-
carral, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Pozuelo, Madrid, 1892.
169
SPENGLER, O., Der Untergang des Abendlandes – Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Mün-
chen, 1919-1922, 2 Bde.; acessível in www.archive.org/; várias reeds. e trads..
SPRINGER, A., «Die Wege und Ziele der gegenwärtigen Kunst», in SPRINGER, A., Bilder aus der neueren
Kunstgeschichte, Bonn, 1867, S. 317-377; acessível in www.books.google.com/.
STIEGLITZ, Ch.-L., Geschichte der Baukunst der Alten, Leipzig, 1792; acessível in www.archive.org/.
––– Archaeologie der Baukunst der Greichen und Römer, Weimar, 1801, 3 Bde; acessível in www.books.
google.com/; id., www.digi.ub.uni-heidelberg.de/ (maior qualidade reprodução).
––– Zeichnungen aus der Schönen Baukunst, Leipzig, 1798; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
––– Plans et dessins tire �s de la belle architecture: ou representations d'edifices execute �s ou projette �s en CXV
planches; avec les explications ne�cessaires; le tout accompagne � d'un traite� abre �ge � sur le beau dans l'archi-
tecture, Leipzig, 1798-1800; acessível in www.e-rara.ch/.
––– Von altdeutscher Baukunst, Leipzig, 1820, 2 Bde; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
––– Geschichte vom frühesten Alterthum bis in neuere Zeiten, Nürnberg, 1827; acessível in www.archive.org/.
––– Beiträgen zur Geschichte der Ausbildung der Baukunst; nebst erläuterenden Beilagen und 25 Stein-
drücke, Leipzig, 1834, 2 Bde ; acessível in www.books.google.com/; id., www.babel.hathitrust.org/.
STÜBBEN, J., Der Städtebau. Handbuch der Architektur, Stuttgart, 1890; 2. Aufl. 1907, A. Kröner, acessível
in www.books.google.com/. – Várias reeds., a mais recente, Wien-Leipzig, 1980, Vieweg-Teubner.
SULLIVAN, L. H., «The High Building Question», in The Graphic 5, Dec. 1891, p. 405 ss. ––– «The Tall Office Building Artistically Considered», in Lippincott’s Magazine 57, march 1896, p. 404,
compilado em Kindergarten Chats, new ed. 1947, p. 203.
––– The Autobiography of an Idea, New York, 1922-23, new ed. by R. M. Line, New York, 1956, Dover.
––– Kindergarten Chats, New York, 1923, new ed. 1947, Dover.
––– A System of Architectural Ornament: According with a Philosophy of Man’s Power, New York, 1924;
acessível in www.books.google.com/; ed. em francês, Traité d’ornamentation architecturale, trad. de C.
Albert, avant-propos de J. Zukowsky et S. G. Godlewsky, préf. de L. S. Weingarden, Bruxelles, 1990,
Pierre Mardaga en collaboration avec The Art Institute of Chicago.
SUMMERSON, J., «Viollet-le-Duc and the rational point of view», in Heavenly Mansions and other Essays
on Architecture, London-New York, 1963, W. W. Norton, p. 135-158.
SWAN, A., The British Architect..., London, 1745; acessível in www.books.google.com/; imp. New York,
1767, Philadelphia, 1775. – Ed. facsimil (ed. 1767), New York, 1967, Da Capo Press.
TAFURI, M., Teorie e storia dell’architettura, Roma-Bari, 1968 (ed. port., Teorias e História da Arquitectura,
trad. de A. de Brito e L. Leitão, revis. de W. Ramos, Lisboa, 1979, Presença).
––– Architettura dell’Umanesimo, Roma-Bari, 1969, Laterza.
––– Progetto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Bari, 1973, Laterza (ed. port., Projecto e Utopia:
Arquitectura e desenvolvimento do Capitalismo, trad. C. Jardim e E. Nogueira, Lisboa, 1985, Presença).
––– e DAL CO, F., Architettura contemporanea, Milano, 1976, Mondadori-Electa (ed. esp., Arquitectura con-
temporanea, trad. de L. E. Bareño, Madrid, 1978, Aguilar – integrada em NERVI, P.-L. (dir.), Historia
Universal de la Arquitectura, Madrid, 1971-1978, Aguilar, 14 vols.).
TAUT, B., Glashaus, Werkbund-Ausstellung, Köln, 1914.
170
––– Die Stadtkrone, mit Beiträgen von Paul Scheerbart und anderen, Jena, 1919, Diederichs.
––– Alpine Architektur, Hagen, 1919, Folkwang Verlag.
––– Der Weltbaumeister. Architekturschauspiel für symphonische Musik..., Hagen, 1920, Folkwang Verlag;
acessível in www.tu.cottbus.de; neue Aufl. Berlin, 1999, Gebr. Mann.
TAYLOR, F. W., The Principles of Scientific Management, New York, 1913, Harper & Brothers.
TOYNBEE, A., A Study of History, London, 1934-61, Oxford Univ. Press, 12 vols. – Há ed. port., Um Estudo de
História, do resumo de D. C. Somervell, trad. e pref. de F. Vieira de Almeida, Lisboa, 1964, Ulisseia.
TROTSKI, L., Literatura e Revolução (1924, texto original), trad. de S. Ferreira, Amadora, 1976, Fronteira.
UNWIN, R., Town Planning in Practice: An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs, London,
1909, T. Fischer; acessível in www.archive.org/; várias reeds. e trads..
VALADIER, G., L’architettura pratica dettata nella... Academia di San Luca, Roma, 1828-38, 5 vols.; aces-
sível in www.archive.org/; ed. facsimil, Roma, 1992, Angelo Ruggieri, 5 vols..
VAN DE VELDE, H., Die Renaissance im modernen Kunstgewerbe, Berlin, 1901.
––– Kunstgewerbliche Laienpredigten, Leipzig, 1902; acessível in www.books.google.com/.
––– Vom neuen Stil, Leipzig, 1907; acessível in www.
––– Formules de la Beauté Architectonique Moderne. Ce livre contient et résume des Essays, se rapportant au
“Style Nouveau”, paru dans l’intervalle des années 1902 à 1912, Weimar, 1917, Imprimé sur presse à la
main privée; ed. facsimil, Bruxelles, 1978, Archives d’Architecture Moderne.
––– «Das Neue: Weshalb immer Neues?», 1929, in Zum Neuen Stil, München, 1955, Pipper Verlag.
VENTURI, R., and BROWN, D. S., Complexity and Contradiction in Architecture, New York, 1966, MOMA,
reed. 2002, MOMA.
––– and IZENOUR, S., Learning from Las Vegas. The forgotten Symbolism of Architectural Form, Camb. /
Mass., 1972, MIT Press.
VIOLLET-LE-DUC, E.-E., Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI. au XVI. siècle, Paris,
1854-1868, 10 vols.; acessível in www.archive.org/; ed. facsimil, introd. de C. Mathieu, Ligugé / Poitiers,
1997, Bibliothèque de l’Image, 4 vols..
––– Entretiens sur l’architecture, Paris, 1863-1872, 2 vols.; acessível in www.books.google.com/; ed. facsimil
(Edition intégrale: tomes 1+2), Bruxelles, 1986, Pierre Mardaga.
––– Comment on construit une maison, Paris, 1873.
VITRUVE, De l’architecture (De architectura), Livre I, texte établi, trad. et commenté par Ph. Fleury, Paris,
2003, Collection des Universités de France / Les Belles Lettres.
VITRÚVIO, Tratado de Arquitectura, trad., introd. e notas por de M. Justino Maciel, ilust. Th. N. Howe,
Lisboa, 2006, IST Press.
VON BUNSEN, Ch. C. J., Die Basiliken des christlichen Roms nach ihrem Zusammenhange mit Idee und
Geschichte der Kirchenbaukunst, München, 1842-1844, 2 Bde.; acessível in www.books.google.com/.
VON KLENZE, L., «Versuch einer Wiederherstellung des toskanischen Temples nach seinen historischen und
technischen Analogien», in Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für
die Jahre 1821 und 1822, VIII. Bd., München, 1821, S. 1-86; acessível in www.digi.ub.uni-heidelberg.de/.
––– Anweisung zur Architektur des christlichen Cultus, München, 1822; aces. in www.idb.ub.uni-tuebingen.de/.
171
VON RUMHOR, C. F., «Fragmente einer Geschichte der Baukunst im Mittelalter», in SCHLEGEL, F.
(Hrsg.), Deutsche Museum, III. Bd., Wien, 1813, S. 224-245, 316-385, 468-502.
VON WIEBEKING, C. F., Theoretisch-practische Bürgerliche Baukunde, München, 1826; acessível in
www.bib.bsb-muenchen-de/; id. www.books.google.com/, mas de fraca qualidade.
VOYSEY, Ch. F. A., Reasons as a basis of Art, London, 1906; acessível in www.books.google.com/.
––– Individuality, London, 1915; acessível in www.books.google.com/.
WAGNER, O., Die Baukunst unserer Zeit, Wien, 1914, A. Schroll; acessível in www.books.google.com/ (ed.
esp., La arquitectura de nuestro tiempo, trad. J. Siguán, Barcelona, 1993, El Croquis).
––– Die Grosstadt. Eine Studie über diese, Wien, 1911, A. Schroll; acessível in www.books.google.com/.
WARTON, Th., BENTHAM, J. GROSE, Cpt., MILNER, J., Essays on Gothic Architecture, London, 1800;
acessível in www.archive.org/.
WEINBRENNER, F., Architektonisches Lehrbuch, Tübingen, 1810-1819, 3 Bde.; acessível in www.digi.ub.
uni-heidelberg.de/.
––– Denkwürdigkeiten aus seinen Leben, Heidelberg, 1829; acessível in www.books.google.com/.
––– Ausgeführte und Projectirte Gebäude, Karlsruhe, 1822-1835, 7 Hefte; acessível in www.digi.ub.uni-
heidelberg.de/.
WELLES, H. G., The War of the Worlds, London, 1898, William Heinemann, reeds. sucessivas.
WHEWELL, W., Architectural Notes on German Churches..., Cambridge and London, 1830; acessível in
www.books.google.com/.
WHITE, J., On Cementitious Architecture, as applicable to the Construction of Bridges... With a prefatory
notice of the first introduction of iron as the constituent material for arches of a large span by Thomas
Farnolls Pritchard in 1773, London, 1832; acessível in www.books.google.com/.
WILLIS, R., Remarks on the Architecture of the Middle Age, especialy of Italy, Cambridge, 1835; acessível
in www.archive.org/.
WIGGERSHAUS, R., Die Frankfurter Schule, Reinbek / Hamburg, 2010, Rowohlt.
WRIGHT, F. L., «In the Cause of Architecture», in The Architectural Record 18, 1908, p. 155-221.
––– «In the Cause of Architecture. Second Paper», in The Architectural Record 35, 1914. p. 405-13.
––– The Disappearing City, New York, 1932, W. F. Payson; acessível in www.books.google.com/.
––– «Broadacre City: A New Community Plan», in The Architectural Record, April 1935, p. 243-254. –
Apresenta desenhos e sete fotografias, acessível in www.architectural.record.1911-1993/.
––– An Autobiography: Broadacre City, Scottsdale / Arizona, 1943, Taliesin West.
––– «The Living City», in When Democracy Builds, Chicago, 1945, University of Chicago Press.
––– The Future of Architecture, New York, 1953, Horizon Press, 2th ed. 1970, Plume Books.
ZEVI, B., Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura, Torino, 1948,
Einaudi, reed. de 1993, Einaudi. – Há ed. port., Saber Ver a Arquitectura, trad. M. Delgado, Lisboa,
1966, Arcádia (baseada numa das muitas reedições italianas dos anos 60).