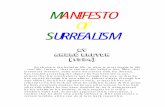Tempus Fugit: o mecânico e o orgânico no Manifesto Futurista
Transcript of Tempus Fugit: o mecânico e o orgânico no Manifesto Futurista
Arcádia: Revista de Literatura e Crítica Literária
Instituto de Estudos da Linguagem – UNICAMP
Arcádia: Revista de Literatura e Crítica Literária é uma revista-laboratório do curso de Estudos Literários do Instituto de Estudos da
Linguagem da UNICAMP. É uma publicação eletrônica, de submissão aberta, publicada anualmente pelos alunos de graduação do
Departamento de Teoria Literária, mas aceita contribuições de toda a comunidade, independente de filiação institucional ou formação
acadêmica. Arcádia publica textos de criação literária (prosa ou poesia), textos críticos (resenhas, artigos ou ensaios) sobre obras literárias
ou relacionadas à teoria, à crítica e à história literária, e traduções em uma dessas áreas.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Reitor: José Tadeu Jorge
Vice-Reitor: Alvaro Penteado Crósta
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
Diretora: Matilde Virgínia R. Scaramucci
Diretor-Associado: Flávio Ribeiro de Oliveira
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS
Marcos Aparecido Lopes
Jefferson Cano
COMISSÃO EDITORIAL
Ana Maria Côrtes
Elisa Pagan
Jessica Sallasa
Júlia Mota
Laís Calusni
Luísa Alvarenga
Thaís Soranzo
Índice | 2014
A vingança de Diónysos: uma análise do
prólogo d’As Bacantes Lidiane Garcia
Lavoura Arcaica: o incesto como símbolo
ambivalente Marcella Abboud Tempus
fugit: o mecânico e o orgânico no Manifesto
Futurista Matheus Romanetto O conceito
de Kleos em Ilíada e Os Lusíadas Odorico
Leal Prosa, poesia e linguagem em Giorgio
Agamben Fernanda Valim Na contramão:
Toda Poesia - Paulo Leminski Ricardo
Gessner Jogos Vorazes e a romantização
do universo distópico Ana Maria Côrtes
Romances expressos e amores em Ithaca
Road Elisa Pagan A reelaboração dos
jovens de J. K. Rowling em Morte Súbita
Jessica Sallasa
crítica literária
O Truque do grilo [Das Grillesnpiel], de Gustave Meyrink, traduzido
por Júlia Ciasca
Os Mendigos [The beggars], de Lord Dunsany, traduzido por
Thiago Andreuzzi
tradução
A existência não vence em teu peito Rogério Sáber Alquimia,
Criação, Vermelho Victor Simões Cantador, Rugas João Miguel
Moreira Empresa Laníficios Tejo LDA Daniel Serrano Finalmente
me tornei um poeta contemporâneo, Triângulo de Acrílico sobre
Praia João Gabriel Mostazo Hábito Tiago Donoso Humanizador
Thiago Andreuzzi In Memorian Matuyama Noite Quente Pedro
Couto Quatro Ventas Suene Honorato Tempo no Espelho Rodrigo
de Faria Travessia Fábio Mariano
criação literária
Matheus Romanetto
Cursa Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), UNICAMP.
Contato: [email protected]
Tempus fugit: o Mecânico e o Orgânico no Manifesto Futurista
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 119
A publicação do opúsculo “Le Futurisme”, de F. T.
Marinetti, no jornal parisiense Le Figaro, em 20 de fevereiro
de 1909, é tradicionalmente considerada importante por no
mínimo dois motivos. Do ponto de vista da historiografia da
arte moderna, trata-se do momento fundador de um dos
movimentos de maior proeminência do começo do século XX.
Do ponto de vista dos estudos literários, o texto amplifica um
dos embates (ou acordos) que percorriam as vanguardas de
então – aquele entre política e estética –, valendo-se de um
gênero que suas edições posteriores fariam questão de
assinalar no título: o manifesto. O impacto da obra chegou a
tal ponto que, já na época de sua primeira aparição, essa
opção ajudou a redefinir o destino da arte europeia que
estava por vir:
Movimentos subsequentes, como o vorticismo, dadaísmo, surrealismo, ou os situacionistas, produziram diferentes combinações de manifestos e obras de arte, mas todos eles partilham com o futurismo o que deveria ser considerada a sua herança: a centralidade do manifesto (tradução nossa).1
De fato, não só o futurismo é lançado ao público por
meio de um manifesto, como boa parte da produção de seus
principais artistas – Marinetti, Carrà, Boccioni, dentre outros
– consiste em uma sucessão de textos trabalhados dentro
deess
Por meio da análise das teses, narrativas e jogos metafóricos contidos
no “Manifesto Futurista”, busca-se delimitar a relação que se
estabelece entre as figuras da máquina, do homem e da natureza,
tomadas como sujeitos com funções e atributos diferentes, dentro da
poética do texto. Construídas a partir da oposição entre três
qualidades diferenciais – vida, energia, poder –, elas reúnem traços
fundamentais do pensamento estético e político de Marinetti,
tornando-se subsequentemente disponíveis para elaborações e
desconstruções, na continuidade do movimento futurista.
resumo
desse gênero, que se consolidou gradualmente como um
distintivo do movimento. O desenvolvimento do futurismo
integrou sua elaboração massiva de manifestos a um sistema
de performances, em que as obras eram espalhadas na forma
de panfletos ou declamadas publicamente. Nesse contexto,
os dois olhares que transformam “Le Futurisme” em um
marco da mentalidade artística moderna são, na verdade,
polos de uma cisão mais ampla na produção teórica que se
defronta com essa estruturação da prática futurista, e de
modo geral com a de todos os grupos do mesmo período. As
abordagens historiográficas tomam o texto como documento
nu dos projetos motrizes do movimento; garantem a
validade da análise enfatizando seu caráter diretivo, “na
medid ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¹ PUCHNER, Martin. Poetry of the revolution: Marx, manifestoes and the avant-garde. Princeton: Princeton University Press, 2006. p. 93.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 120
Medida em que, na práxis escrituária vanguardista,
manifesto e programa se articulam, na maioria dos casos,
indissoluvelmente”2. As abordagens literárias, preocupadas
não só com o conteúdo exposto, mas também com a forma
em que ele é expresso, e a maneira como ela participa da
constituição histórica do gênero em questão, definem como
leitura mais apropriada aquela que trata o texto como objeto
em si, e não meramente como antecipação da produção de
outras obras, na medida em que, segundo uma
metalinguagem particular, a forma textual reproduz aquilo
que se proclama ou defende:
O manifesto constitui-se em obra de vanguarda por excelência
na medida em que articula uma proposta estética crítica (a
antiarte) e, ao mesmo tempo, é sua práxis (gesto polêmico e
contestatário)3.
Tamanha é a proeminência dessa estratégia no
futurismo que o formato do gênero é assimilado por alguns
autores como equivalente da própria proposta do
movimento: “a forma do manifesto se torna o próprio
conteúdo do futurismo”4; “o gênero central futurista
transforma a arte, então, em uma mistura de arte e
manifesto, que poderia ser chamada arte-manifesto”
(traduções nossas)5. Assim, qualquer análise que se debruce
sobre
sobre o “Manifesto Futurista” (título que substituirá
doravante o original) insere-se em um contexto maior de
significação, em que as obras individuais se entrelaçam em
um todo cuja coerência não pode ser garantida a princípio,
mas que estabelece relações de continuidade e
descontinuidade sensíveis entre elas. Abrem-se inúmeras
questões sobre as operações textuais que garantem a
constituição do grupo, a teatralidade futurista, seu
imaginário e suas relações com a política europeia do início
do século passado.
O que aqui se propõe é avaliar o texto de Marinetti de
um ponto intermediário entre as concepções historiográfica
e literária da teoria, tratando-o como de natureza artística e
tendo em mente a maneira complexa como se integra, tanto
aos outros escritos do autor, quanto à própria formação do
gênero que ajudou a consolidar como momento essencial da
modernidade artística, mas sem desprezar o modo como é
possível enxergar, no caráter programático com que se
apresenta, um caminho específico para essa própria
integração. Trata-se, em outras palavras, de avaliar o
conteúdo que ali se apresenta, não como pura norma de toda
a produção futurista, mas como arcabouço de imagens, temas
e teses que se acumulam, disponibilizando-se na
continuidade ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 GELADO, Viviane. Poéticas da transgressão. São Paulo: EdUFSCar, 2006. p. 38. 3 Ibidem, p. 39. 4 PUCHNER, op. cit., p. 75. 5 Ibidem, p. 93
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 121
continuidade do movimento como fonte de
desenvolvimentos possíveis, que podem reafirmar, adaptar
ou negar suas versões originais.
Esse processo se justifica pela presença,
particularmente na obra de Marinetti, de constantes
reutilizações e reelaborações de ideias que já haviam surgido
em momentos anteriores, com a liberdade típica daquilo que
Marjorie Perloff aponta como “a ênfase no artista como
improvisatore” (tradução nossa)6. Assim, a título de exemplo,
uma das teses do manifesto de 1909 – “Nós queremos
glorificar a guerra – única higiene do mundo”7 – torna-se
título de um texto publicado posteriormente, “Guerra, a única
higiene do mundo”8.
Como objeto de estudo particular, propõe-se
esclarecer a relação que o “Manifesto Futurista” estabelece
entre tecnologia, homem e natureza. Ao longo do texto,
surgem imagens e metáforas envolvendo a máquina, nunca
como ser isolado, mas como corpo que interage com os
mundos animal e humano, em última instância com o
desenvolvimento da história como fruto de determinadas
disposições de força. Essa interação se dá em meio a uma
lmfrfr
sobrecarga simbólica sensível, que deve ser compreendida
caso desejemos atingir uma leitura clara dos traços acima
apontados.
Quando da publicação do manifesto no Le Figaro, a
carreira de Marinetti encontrava-se em um período de
transição, tanto política quanto esteticamente. De particular
relevância é que sua produção poética concentrava-se ainda
sobre os mesmos paradigmas simbolistas que o futurismo
viria a negar mais tarde, com as propostas da parole in
libertà e outros recursos textuais. “[Marinetti] estava
escrevendo, ainda em 1909, versões decadentes de lírica
Baudelairiana” (tradução nossa)9. A densidade
surpreendente de imagens que se sobrepõem e encadeiam
em “Le Futurisme” pode ser, portanto, remetida aos
mecanismos propostos pelos próprios simbolistas e ao seu
louvor da obscuridade e da sugestão. Não se deve daí
depreender, entretanto, que a escrita de Marinetti possa ser
reduzida a uma atualização de velhas metas estéticas. Pelo
contrário: aqui, o jogo imagético é reapropriado objetivando
uma redação que produza impacto forte: para que um texto
se torne um manifesto, “é necessário violência e precisão”
(trad
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 PERLOFF, Marjorie. The futurist moment: avant-garde, avant guerre, and the new language of rupture. Chicago: The University Of Chicago Press, 2003. p. 81. 7 MARINETTI, Filippo Tommaso. O manifesto futurista. In: Gilberto Mendonça Teles. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: apresentação dos principais poemas metalinguísticos, manifestos, prefácios e conferências vanguardistas, de 1857 a 1972. 10 ed. Rio de Janeiro: Record, 1987. p. 92. 8 Ver PERLOFF, op. cit. 9 PERLOFF, op. cit., p. 67.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 122
(tradução nossa)10, diz o autor a Henri Maasen, em uma carta
enviada ainda naquele ano. As metáforas, metonímias e jogos
que preenchem o manifesto operam sempre ao lado de outra
figura de linguagem, qual seja, a hipérbole. É o constante
exagero do que se diz ou descreve que dá ao texto sua
potência primária, sua velocidade.
É nesse quadro, aliás, que surge uma de suas
qualidades mais interessantes: um elemento plástico muito
presente nas descrições. O vermelho e o negro, em particular,
saltam à vista se nos permitirmos alguma sinestesia. Há o
“ferro vermelho da alegria”11, “caldeiras infernais”, “negros
fantasmas que se mexem no ventre vermelho”12, o Sol que
surge de posse de uma “espada vermelha”13 em oposição à
noite que se passava em vigília. Surge gradualmente por trás
dessa coloração forte a ideia de fervor, calor, de fogo. Aqui é
Hjartarson quem dá uma primeira direção à análise, ao
sugerir que “Marinetti se apropria de teorias ocultistas
contemporâneas, integrando seus elementos mágicos e
proféticos ao projeto futurista e à sua concepção estética de
eleme
externalização da vontade” (tradução nossa).14 Os quatro
elementos naturais, figuras presentes no ideário ocultista,
surgem no “Manifesto Futurista” como significantes bem
delimitados por um código de oposições mútuas.
As menções ao fogo são inúmeras, passando, além dos
exemplos que já demos, pelas imagens de “frutos
apimentados”15, “violência (...) incendiária”16, pela
denominação dos futuristas como “incendiários de dedos
carbonizados”, e até pela concreta aparição de um “fogo nas
prateleiras das bibliotecas”17. De modo geral, esse elemento
está associado à impetuosidade criativa. A água, em oposição,
determina eventos destrutivos: são as “corredeiras e
redemoinhos de um dilúvio”, que levam os lugarejos festivos
“até o mar”; é o velho canal”18 que abaterá as bibliotecas; é a
morte que “escorre olhares veludosos do fundo das poças”19;
a sensibilidade que se verte na “urna funerária”20; o tubarão-
automóvel cuja destruição os pescadores assistem perplexos.
À terra, liga-se um gênero mais passivo de dano,
quando não uma conservação mumificante. Quando os
futuristas
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 HJARTARSON, Benedikt. Myths of rupture. In: Modernism: volume 1. Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2007. p. 182. 11 MARINETTI, op. cit., p. 91. 12 Ibidem, p. 89. 13Ibidem, p. 90. 14HJARTARSON, op. cit., p. 187. 15 MARINETTI, op. cit., p. 90. 16 Ibidem, p. 92. 17 Ibidem, p. 93. 18 Ibidem, p. 89. 19 Ibidem, p. 90. 20 Ibidem, p. 93.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 123
futuristas sofrem seu acidente, a “lama” é “fortificante”21; nas
enchentes, é o Pó, conteúdo que a água carrega, aquilo que
destrói; dão-se aos opositores do movimento picaretas e
martelos para que escavem “os fundamentos das cidades
veneráveis”22. O ar é, enfim, símbolo de um estado de
transição, que compreenderemos mais adiante. Marinetti
quer ver os Anjos primeiros voarem, cantar o “voo deslizante
dos aeroplanos”23, e mesmo estar ao lado de seu aeroplano
quando seus herdeiros matarem-no, sucedendo o “voo
brilhante de suas imagens”24. É às “estrelas inimigas”25, para
o “céu violeta”26, para o alto, enfim, que se lança seu
movimento e desafio.
Que atribuamos à aparição do céu e das estrelas a
presença do elemento aéreo, justifica-se por uma outra
característica desse conjunto semântico: os elementos
definem, além de princípios ativos, uma topologia própria,
que liga determinados tipos de ocorrência dos fenômenos
naturais a posições diferentes no espaço. Assim, a chama é
fenômeno interior, e a água destrói exteriormente; o ar situa-
se acima, a terra situa-se abaixo.
Ao longo de nossa análise, surgirão os usos dessa
estrutura. Esboçamo-la adiante, num diagrama composto de
dois eixos: um vertical, que se poderia chamar transitivo, e
outro horizontal, que se poderia chamar criativo. O círculo
denota a interioridade do corpo que engendra a criação, seja
ele o do futurista ou o da máquina. Os pontos extremos do
espaço cartesiano assim obtido corresponderão a momentos
futuros da interpretação: as combinações entre conservação
e destruição (terra + água), transitividade e destruição (ar +
água), entendidas como representantes de maneiras
diferentes de arruinar, antecipam já o que diremos do
maquinismo, posteriormente.
___________________________________________________________________________________ 21 Ibidem, p. 91. 22 Ibidem, p. 93. 23 Ibidem, p. 92. 24 Ibidem, p. 93. 25Ibidem, p. 89. 26 Ibidem, p. 90.
Figura 1: Estruturação dos quatro elementos
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 124
Para começar a sondar o sentido do “Manifesto
Futurista”, é preciso situar esse imaginário natural em relação
a outros recursos de que Marinetti se vale ao longo da obra. A
oposição (grosso modo) entre elementos criativos e
destrutivos, encontra um primeiro eco interessante na relação
que o autor estabelece entre biologia e tecnologia. Aqui, a
natureza e os frutos da sociedade não se dividem. Pelo
contrário, confundem-se forçosamente: “a ênfase na matéria e
sua interpenetração com o sujeito humano equivale à fusão
dos mundos orgânico e inorgânico” (tradução nossa)27. As
máquinas despontam, tanto como agentes, quanto como
objetos de fascínio. Mas ao mesmo tempo em que ajudam os
homens a dominar o mundo anímico (“nós íamos esmagando
sobre o umbral das casas os cães de guarda”28), elas guardam
aspectos animais: acariciam-se seus peitos, e é afinal em um
“tubarão atolado”29 que culmina o acidente de Marinetti. São
as locomotivas como “enormes cavalos de aço”30 e os
automóveis com “grossos tubos como serpentes de fôlego
explosivo”31 que ele quer cantar. A natureza (que compreende
os quatro elementos e o reino animal) é signo de energia e
descontrole, especialmente quando assimilada (sob a forma da
metáfora ou da analogia) pela tecnologia e pelos homens.
Estes, nos momentos em que se confundem com o
maquinário, fazem-no por outro caminho, compondo-se em
uma associação concreta, que não confunde suas
individualidades (o futurista sobre o veículo, por exemplo).
Daí a ambiguidade de uma poética que, como veremos,
procura promover “um assalto violento contra as forças
desconhecidas, para intimá-las a deitar-se diante dos
homens”32, mas que em última instância subjuga os próprios
humanos.
A relação entre os três componentes que aparecem
nas citações acima pode ser compreendida a partir de um
conjunto mais amplo de oposições permutáveis, em que os
termos em questão associam-se em duplas opostas ao
elemento restante, a partir de um traço discriminante,
producente de hierarquia. Quando máquina e animal se
assimilam, ganham controle sobre o fator humano. Quando
máquina e homem se compõem, ganham controle sobre o
fator natural. Mas homem e animal nunca se unem em um
combate contra a máquina. Neste caso, a assimilação permite
que os futuristas cacem como “novos leões”33 a própria
Morte, porém nada mais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 27 WELGE, op. cit., p. 550. 28 MARINETTI, op. cit., p. 90. 29 Ibidem, p. 91. 30 Ibidem, p. 92. 31 Ibidem, p. 91. 32 Ibidem, p. 91. 33 Ibidem, p. 90.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 125
Essa súbita emergência de uma figura antes estranha,
que impede que completemos um círculo de rivalidades
perfeito com a tríade já conhecida, é sintoma de uma fratura
mais profunda. Hewitt já a delineia ao reconhecer, como
oposição primordial na obra de Marinetti, a própria luta
entre o natural (como força de discórdia, particularmente na
figura do corpo biológico) e o humano (como polo de
concordância, particularmente na figura do Estado). A
máquina aparece como síntese desses dois potenciais:
É nos trabalhos iniciais que a máquina representa todas as
energias que tornam o capitalismo tão curiosamente
autotransgressor e produtivo. Ela é o símbolo dos antagonismos
produtivos que confrontam Homem e Natureza e alimentam a
produtividade histórica, por meio de sua regeneração dos
recursos naturais e energias, e dos objetos materiais que produz
(tradução nossa).34
Eis o “nascimento do Centauro”35: compósito de
homem e animal, a máquina executa essa mediação, no
caminho do texto, justamente com a predicação da
tecnologia, ora como potência semelhante à do mundo
animal, ora como extensão do movimento humano. Aqui, vale
a máxima de Lefebvre hhuhu
a máxima de Lefebvre segundo a qual “[a] história desdobra-
se em ‘natureza’ e ‘humano’. O homem desdobra-se em
‘natureza’ e ‘história’”36. Por um lado, a continuação da
história se dá com a união da energia animal com as
qualidades políticas (dominadoras) humanas na forma da
máquina; por outro, o homem é ser vivo que se contrapõe
aos frutos mecânicos de sua história. De fato, tudo que é
louvado no homem é, no “Manifesto Futurista”, remetido
àquilo que acentua a vida. Ele é proclamado perante os
“homens vivos da terra”37 pelos “jovens, fortes e vivos
futuristas”38, em oposição àqueles que “não se lembra[m]
mesmo de ter vivido”39. Aqui, o tema da força biológica
cruza-se com o da juventude, do novo. Em nosso tratamento,
optamos por pensar sua construção investigando os motivos
que o transformam em um traço pertinente da identidade do
grupo artístico.
O “Manifesto Futurista” pode ser encarado como um
grito de independência, um esforço de afirmação contrário
aos velhos. O plano pronominal é particularmente revelador
quanto a isso. Durante a primeira metade do texto, há uma
divisão entre “eu e meus amigos”40, e Marinetti lidera seus
companheiros. A partir do momento em que a declaração do
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________34 HEWITT, op. cit., p. 147. 35 MARINETTI, op. cit., p. 89. 36 LEFEBVRE, Henri. Introdução à modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969. p. 158. 37 MARINETTI, op. cit., p. 91. 38 Ibidem, p. 93. 39 Ibidem, p. 94. 40 Ibidem, p. 89.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 126
manifesto se anuncia explicitamente, porém, o texto se cinde
entre um “nós” – os futuristas – e um “você”, cisão que
introduz uma rica ambiguidade. Sempre que o “você” é
evocado, não se lhe dá a voz (“Suas objeções? Basta!”41), ou
fala-se por ele (“Você quer portanto apodrecer?”42). O
diálogo nunca é permitido, e inclusive o grupo ou indivíduo
representado por esse pronome é excluído do público alvo
do texto. Os futuristas surgem já como autoridade – “ditamos
nossas primeiras vontades”43 –, mas falam exclusivamente
para os “homens vivos”44, não para o interlocutor a quem
negam participação.
Mas se “você” não é alguém “vivo”, quem é ele?
Poderíamos pensá-lo como o próprio leitor, caso em que o
texto estabeleceria uma relação belicosa com ele desde o
início. Há, entretanto, mais a ser dito. O elemento bélico está
certamente presente, mas sua aparição no plano da
interlocução resolve-se no da nacionalidade e temporalidade.
Embora seja possível ver aí uma apologia do conflito entre
nações, prefigurando a retórica que faz do movimento “ao
mesmo tempo expansivo e centrado nacionalmente”
(tradução nossa)45, a briga principal do futurismo é da Itália
contra ela mesma, contra seu passado, mais especificamente.
Historicamente, podemos identificar esse conflito como uma
característica da nação recém-unificada, ambiciosa de
fortalecer-se e criar uma face que lhe seja própria. Assim,
Marinetti lança-se em uma discussão contra o acúmulo das
coisas velhas em seu país. Os alvos diretos da polêmica
pertencem à materialidade estética: põem-se em questão os
museus, os quadros, as esculturas, tomados como
instituições ou objetos cuja função principal é conservar. Não
obstante, o tema nacional revela-se subjacente a várias das
imagens que já mencionamos, completando a polissemia do
texto. Falar em canais ou em urnas funerárias é, sem sombra
de dúvidas, falar da herança romana da Itália. O futurismo
quer uma nação desembaraçada de si mesma, de tudo que é
idoso (na classificação de Marinetti, as coisas com mais de 40
anos de idade, e lembrando que a unificação completou 39
anos em 1909). Nesse sentido, pedir que “desviem o curso
dos canais para inundar as sepulturas dos museus” é pedir
que mudem o curso da história, da velharia romana, por
assim dizer.
Alguns outros fatores são evocados, ainda que em
vínculo indireto com a nação ou em oposição a ela,
simbolizando o mundo que se quer abandonar. O primeiro
deles é o Oriente, que aparece associado ao marasmo e à
morte nas figuras da mesquita e sua preguiça nativa, e das
huhu
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 41 Ibidem, p. 94. 42 Ibidem, p. 92. 43Ibidem, p. 91. 44Ibidem, p. 91. 45WELGE, op. cit., p. 550.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 127
argolas bizantinas que envolvem os cadáveres. O segundo é a
a lógica e a matemática. Enquanto é noite e a vigília
prossegue, os futuristas discutem nas “fronteiras extremas
da lógica”46, mas com o raiar do dia e sua saída alucinada, as
lâmpadas lhes ensinam a menosprezar seus “olhos
matemáticos”. No limite, é a atenção prestada aos
“raciocínios persuasivos”47, representados pela bela imagem
dos ciclistas contra o automóvel, que provoca o acidente. Na
verdade, o uso desse termo não pode passar de uma meia-
verdade: Marinetti não bate o veículo por descontrole, mas
porque fica entediado com as discussões dos dois, e prefere
sair logo delas.
Um terceiro fator é a religião, tema forte pela presença
do Vaticano em solo italiano, e que surge nas imagens dos
sonhos crucificados nos museus, na morte salpicada de
cruzes, na prece extenuada do canal. Pode-se concluir dessa
série que Marinetti rejeita o interesse pelo conhecimento de
suas máquinas ou pela espiritualidade. Propõe uma filosofia
da ação, do movimento de certo modo desprovido de cálculo,
como fica claro na ordem de que ele e os amigos “saiamos da
Sabedoria”, rumando à “embriaguez dos cães raivosos”48.
Essa teoria da pura ação antecipa um dos canais que
tornará posteriormente possível a aliança entre futuristas e
huhu
fascistas. Puchner49 assinala que a ênfase que os partidos
comunistas punham no conhecimento teórico recebia à
direita uma contrapartida que figurava como estímulo à
prática imediata, potente, desimpedida das barreiras do
pensamento. O sujeito futurista é aquele que se entrega à
potência criativa até seus limites, que maximiza sua ação
com doses cada vez maiores de energia. Seu vínculo com a
questão da máquina é o que nos acompanhará até o final da
análise.
A menção à “velha Itália” retoma a questão
vitalista/biológica num terceiro viés. Os museus são
cemitérios, diz-se, e os profissionais que lidam com o
passado, como professores e arqueólogos, são a “gangrena”50
da nação. Aí revela-se um traço fundamental do texto. A
gangrena é a falência por falta de circulação, por falta de
movimento. Na menção a esse detalhe, o manifesto encontra
sua constituição basilar: este é um texto sobre morte, e nele
não se opõem vida e necrose, mas tipos diferentes de morte,
como resultados de vidas distintas.
Pensemos na sequência temporal da obra. Marinetti
abre no presente, falando do que fazia até passar por sua
experiência de quase-morte, que lhe serve de inspiração para
declarar aquilo que quer e fará no futuro. O discurso vai,
entãh
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46 MARINETTI, op. cit., p. 89. 47 Ibidem, p. 90. 48 Ibidem, p. 90. 49 PUCHNER, op. cit., p. 82. 50 MARINETTI, op. cit., p. 92.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 128
então, ao pretérito, falando como a Itália era; volta ao
presente, com a reprovação da contemplação artística atual,
e salta para um futuro ainda mais distante, em que o grupo
futurista é extinto. Uma vez mais, enfim, retorna-se ao
presente para lançar o desafio às estrelas. Nessa sequência,
repete-se duas vezes uma estrutura que parte de um relato
pretérito, passando pelo momento atual e ultrapassando-o.
Mas o futuro aparece, ora como mero projeto, ora como fim
definitivo. O texto não narra o desenvolvimento desse projeto,
que fica, por assim dizer, a ser contado pelos próprios atos
dos artistas. Mas afinal por que isso tudo? Por que lançar um
mito escatológico sem uma gênese?
É que “a Mitologia e o Ideal místico estão
ultrapassados”. Marinetti quer “abalar as portas da vida”51.
Viver, no futurismo, não significa experimentar o mundo tal
qual um plano ótimo, mas esgotar essa própria vida, dar-se
“de comer ao Desconhecido”52. Ora, o desconhecido não é a
própria morte? Mas temos aqui duas mortes diferentes.
Marinetti pretende evitar a morte letárgica, ou seja, a
degenerescência pela imobilidade, pela retenção, pela
atenção ao passado, ou, mais simplesmente, a morte natural:
terra + água, destruição por definhamento. O que os
futuristas
futuristas desejam é a morte por esgotamento, a exaustão de
quem fez muito e se esvaiu: ar + água, destruição pelo
movimento. Se cantam o prazer, o trabalho e a revolta53, é
somente na medida em que eles consomem suas multidões.
Apenas assim se compreende a apologia da violência e da
velocidade. Ambas constituem movimentos centrífugos, que
retiram o homem de si mesmo. De certo modo, retiram-no do
próprio mundo.
Se para Perloff “o manifesto é situacional por operar
no tempo e espaço reais” (tradução nossa)54, a ambição do
documento é justamente abolir essas categorias, levando a
experiência ao absoluto55, onde o ser se esvai; e o meio para
essa superação é a velocidade, que se equivale à beleza56,
assim como a arte se equivale à Injustiça57, no compasso
exato de sua desmedida. Nota-se que o próprio manifesto
perde sua função com a concretização do ideal futurista –
morre, por assim dizer –, na medida em que, se sua
capacidade performativa é o processo de extinção de tudo
aquilo que se situa de maneira estanque em relação a um
referencial temporal ou espacial, o cumprimento de sua meta
nada mais é que a inscrição do caráter “manifestário”
huhuhu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 51 Ibidem, p. 89. 52 Ibidem, p. 90. 53 Ibidem, p. 92. 54 PERLOFF, op. cit., p. 90. 55 MARINETTI, op. cit., p. 92. 56 Ibidem, p. 91. 57 Ibidem, p. 94.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 129
na história, que passa a ser eterno movimento e aniquilação,
e elimina a necessidade de um objeto textual que execute
essa tarefa:
[O Futurismo] celebra a emoção não pelo aqui e agora, mas pelo
momento de seu desaparecimento. […] Nada deve ser
transformado em ontologia, nem mesmo a temporalidade que
nega toda ontologia, […] E o Futurismo não odeia nada mais do
que a nostalgia (tradução nossa).58
A oposição dinâmica entre homem, natureza e
máquina retorna, portanto, embasada em um ponto de vista
anterior ao que apresentamos, e que o engloba. Lembremos:
a tecnologia, quando assimilava características animais,
contrapunha-se ao homem na medida em que amplificava a
energia violenta daquilo que não é humano; quando
associada a caracteres humanos, contrapunha-se ao animal
na medida em que potencializava o impulso dominador do
homem. Ora, o esquema faltante, que associaria homem e
animal contra a máquina, pode ser finalmente entendido
como o conflito que torna possível as situações anteriores:
aquele que se dá entre vida e morte.
A máquina surge como aquilo que, não sendo orgânico,
e portanto, do ponto de vista da decomposição natural,
“eterno
“eterno”, supera as limitações da biologia. Sua única fraqueza
é a necessidade do toque humano para que possa ser gerada.
Ambos os princípios podem ser ilustrados com a cena do
acidente de carro: “A gente o acreditava morto, meu bom
tubarão [o automóvel], mas eu o despertei com um só
carinho no seu dorso todo-poderoso, e ei-lo ressuscitado,
correndo a toda velocidade sobre suas barbatanas”59. O
mecânico torna possível aquilo que Marinetti concebe como
a abolição do tempo e do espaço. Tomados como os limites
da própria vida, tempo e espaço são também limites da
criatividade humana; daí o interesse do futurista em
ultrapassá-los. A máquina se lhe afigura, portanto, como
ideal máximo, pois é ser que chega ao topo da ambição do
artista/político: cria incessantemente e exponencialmente.
Mas como para os seres vivos não é possível, apesar de tudo,
superar a mortalidade, resta-lhes apenas a alternativa de
aproximar-se incessantemente da condição maquínica, sem
nunca atingi-la inteiramente. Para o animal, essa não é
realmente uma escolha. Ser irracional, limita-se a viver, na
força de seus impulsos comuns, algo próximo da potência da
tecnologia. Para o homem, há a possibilidade de fazer uso da
máquina como amplificador de suas capacidades reais. É
nesse sentido que a tecnologia aparece no “Manifesto
Futurist
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
58 HEWITT, op. cit., p.108-109. 59 MARINETTI, op. cit., p. 91.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 130
Futurista”, como canal que potencializa a ação. Mas essa
amplificação acarreta, inevitavelmente, uma decomposição
do corpo humano, pois o submete a cargas de energia que ele
não foi concebido para suportar: “em sua economia, o corpo
torna-se um meio, um processo, e entra em um sistema de
troca energética que necessariamente destruirá sua entidade
autônoma” (tradução nossa)60. A caminhada rumo ao ideal
futurista vem à custa do esvaimento do homem. Marinetti
julga isso sem dúvida preferível à alternativa de conservar a
vida, mas torná-la medíocre. Assim chegamos à oposição
entre letargia e esgotamento, e encontramos seu lugar na
estrutura semântica do texto. A morte lenta é característica
do animal, que vive mais intensamente, mas degenera pelas
mãos da própria natureza. O homem está a princípio
submetido ao mesmo processo, sem nem a possibilidade de
viver os ímpetos enérgicos da irracionalidade animal –
quanto mais nos momentos em que se prende à lógica, sem
ultrapassar suas “fronteiras extremas”. É o caso do professor
e do arqueólogo. O sujeito futurista, indo na contramão, é
aquele que deplora essa condição, e incrementa sua vivência
com o uso da tecnologia, dominando o mundo à sua volta
tanto mais criativamente quanto mais acelera a chegada de
seu fim. Nesse sentido é que Somigli pode dizer: “Humano e
máquina
seu fim. Nesse sentido é que Somigli pode dizer: “Humano e
máquina geram-se um ao outro em um circuito fechado que
antecipa o desdobramento de uma genealogia linear”
(tradução nossa)61 – no sentido de que a máquina, filha do
homem, altera sua condição, mas no limite o supera em sua
linhagem.
De fato, do ponto de vista político (nacional), como
aponta Welge, “o futurismo vai em geral contra a
descentralização e dissolução do sujeito humano. (…) essas
tendências, em última análise, reforçam, e não debilitam, a
autonomia do sujeito” (tradução nossa)62, pois não se trata
de mergulhar a subjetividade em uma homogeneidade
ideológica, que a extingue como parte do todo. Mas, em todo
âmbito produtivo, o desenvolvimento da criatividade só pode
ser concretizado como pura “dissolução” do sujeito. A morte
violenta é o mais próximo que o homem consegue chegar da
imortalidade, propriedade exclusiva do ser mecânico.
Procuramos sintetizar nossas conclusões na Figura 2.
Os vértices do triângulo maior correspondem aos três polos
de nossa discussão. Cada lado forma uma dupla constituída
pelos elementos em suas extremidades. As alturas partindo
de cada vértice e extrapolando os lados opostos indicam a
oposição que se estabelece entre a dupla correspondente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 60 HEWITT, op. cit., p. 155. 61 SOMIGLI, Luca. Legitimizing the artist: manifesto writing and European modernism, 1885-1915. Toronto: Toronto University Press, 2003. p. 125. 62 WELGE, op. cit., p. 551.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 131
oposição que se estabelece entre a dupla correspondente
(lado) e o terceiro elemento (vértice), do ponto de vista
daquilo que é comum à dupla, e que está representado em
itálico no fim das setas. Nos pares de opostos resultantes, o
primeiro termo é sempre aquele equivalente à dupla, e o
segundo o equivalente ao termo restante. O triângulo interno
indica a morte como princípio de uma estruturação mais
básica, que opõe os três termos em função da maneira como
falecem (ou deixam de falecer), e que é indicada nos
parênteses abaixo dos nomes de cada elemento.
Diz Hjartarson: “os manifestos dos movimentos avant-
garde são performances retóricas complexas, visando à
transformação do sujeito moderno” (tradução nossa)63.
Compreende-se assim o espírito antimatemático dos
futuristas, e também o porque de retratarem seu fim. É que a
autodestruição (lembremos que a juventude futura admirará
a atual) é a real concretização do projeto de Marinetti para a
dupla subjetividade político-artística. Esse télos revela-se
mesmo na definição das fronteiras de seu grupo. Não são
todos que chegaram aos 30 anos, mas porque alguns já o
fizeram, Marinetti diz que “nós já dissipamos os tesouros, os
tesouros de força, de amor, de coragem e de áspera vontade
(...) a perder o fôlego”64. Vem então à tona a curiosa geografia
do fim do documento – aquilo que apontamos anteriormente
como uma topologia demarcada segundo os quatro
elementos naturais. Em seus últimos parágrafos, os futuristas
situam-se no cume do mundo. Falam de cima para baixo,
ordenam que seus ouvintes (os homens da “terra”)
“levantem antes a cabeça”65. Falam com o coração nutrido de
fogo, da potência criadora (portanto autodestruidora) do
presente, e lançam seu desafio às estrelas, ao “céu (...)
palpável e vivo”66, aos ares que anunciam a novidade
mortífera.
63 HJARTARSON, op. cit., p. 178. 64 MARINETTI, op. cit., p. 94. 65 Ibidem, p. 94. 66 Ibidem, p. 90.
_____________________________________________________________
Figura 2: Diagrama estrutural do “Manifesto Futurista”.
ARCÁDIA | Nº 1 | 2014 132
Quando já estiverem esgotados, os jovens de hoje
terão seus últimos momentos ao lado de uma fogueira
miserável – e o último som que ouvirão será o da chuva, que
traz em sua monotonia o anúncio do fim. Eis, finalmente, a
natureza “transitória” do ar: ele demarca justamente a
passagem da criação máxima à destruição máxima; o
momento da morte mesma, que, já em suas primeiras
aparições, anunciava-se indiscriminada na “boca imensa e
torta do vento”67.
67Ibidem, p. 90.
_____________________________________________________________