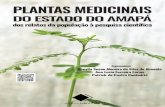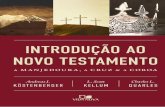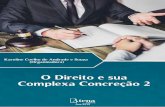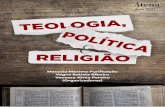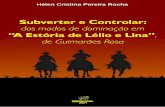TÉCNICO JUDICIÁRIO - Editora dince livraria public apostilas
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of TÉCNICO JUDICIÁRIO - Editora dince livraria public apostilas
TJCE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ
TÉCNICO JUDICIÁRIO
(Área Técnico-Administrativa)
Teoria, dicas e questões de provas FGV.
LÍNGUA PORTUGUESA
Flaviana Eufrásio
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEGISLAÇÃO ESQUEMATIZADA)
Prof. Valdeci Cunha Vanques de Melo
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
Prof. Valdeci Cunha
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Prof. Janilson Santos
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
Prof. Janilson Santos
ORÇAMENTO PÚBLICO Bruno Sales
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Prof. Valdeci Cunha
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO Prof. Walber Siqueira
2019
Copyright 2019 – DIN.CE Edções Técnicas.
TJCE – Técnico Judiciário – Área Técnica-Administrativa –p
Capa:
Irisena
Diagramação:
Irisena
Ilustração:
Irisena
Impressão:
Gráfica DIN.CE
Editoração Gráfica:
Gabriel
Acabamento:
Antônio / Jailson
Revisão:
Autores
Supervisão editorial:
Vanques de Melo
_______________________
NOTA DA EDITORA:
As informações e opiniões apresentadas nesta apostila são de inteira responsabilidade dos autores e/ou organizadores das respectivas matérias.
A Editora DIN.CE se responsabiliza apenas pelos vícios do produto no que se refere à sua edição, considerando a impressão e apresentação. Vícios de atualização, revisão ou opiniões são de responsabilidade do(s) autor(res) ou organizador(res), respondendo este(s) pelas sanções previstas na lei.
NOTA DO(S) AUTOR(ES) ORGANIZADOR(ES)
A matéria ora apresentada nesta apostila tem como objetivo auxiliar ao candidato na preparação ao cargo almejado. Todo o seu conteúdo é abordado de forma objetiva e resumido, o que nem sempre é suficiente para lograr o êxito almejado, qual seja, a aprovação. Sendo assim, sugerimos ao candidato que, na medida do possível, busque outras fontes de consulta.
ATENÇÃO!!
Possíveis alterações e correções deste material estarão disponíveis no site: www.editoradince.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Dúvidas, reclamações e sugestões:
(85) 3231.6298 / 9.8632.4802 (WhatsAp)
Rua Barão do Rio Branco, 1620 – Centro CEP: 60.025-060 - Fortaleza - Ceará
PREZADO(A) CONCURSANDO(A),
Você está adquirindo um produto elaborado por professores que atuam em cursinhos preparatórios nas respectivas áreas, portanto, confiável e de procedência. Todavia, por se tratar de apostila, é um material resumindo, porém, de significativa importância. No entanto, sugerimos, como forma de melhor preparo, a leitura de outras fontes tais como livros específicos, resumos e exercícios. Nosso objetivo é prepara-lo(a) para uma aprovação.
Possíveis falhas de impressão ou mesmo de digitação podem ocorrer, assim, caso seja constatado ou mesmo tenha dúvida em algum conteúdo ou gabarito, entre em contato pelo o e-mail dos professores ou diretamente pelo da editora [email protected] que lhe responderemos imediatamente.
Também dispomos do site www.editoradince.com.br onde serão disponibilizadas possíveis correções ou atualizações deste material.
No mais, desejamos boa sorte e que Deus lhe abençoe.
Fale conosco: [email protected]
Ou ainda: (85) 3231.6298 / 9.8632.4802 (WhatsApp)
NOSSOS PROFESSORES:
Prof. Adeildo Oliveira
Prof. Alexandre Américo
Prof. Augusto Sá
Prof. Augusto César
Prof. Ávila Prof. Brando
Prof. Deivis Cavalcante
Prof. Esmael Oliveira
Prof. Felipe Melo
Profa. Flaviana Eufrasio
Prof. Gustavo Brígido
Prof. Italo Trigueiro
Prof. Janilson Santos
Prof. Joanilson Jr.
Profª. Lúcia Sena
Prfa. Nádia Vasconcelos
Prof. Pedro Evaristo
Prof. Walber Siqueira
Prof. Wezeck Nogueira
Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. (Romanos 14)
Bem aventura o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. (Salmo, 1.2 e 2)
Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede receber e tê-las-ei (Marcos, 11.24)
COMO A FGV COBRA AS QUESTÕES?1
Normalmente as questões da prova objetiva são de múltipla escolha, ou seja, há cinco alternativas e o candidato precisa escolher apenas uma como correta. Uma exceção são as questões discursivas e específicas que pedem estudos de caso, como é o caso da OAB.
Algumas seleções são compostas de duas ou mais fases, e nesse caso o candidato deverá acertar no mínimo 50% da prova objetiva para passar para a próxima etapa.
Os enunciados costumam ser longos e cansativos, exigindo uma maior concentração. Os textos são bem trabalhados e o vocabulário repleto de linguagem metafórica. Muitas vezes o candidato precisará interpretar o enunciado para entender exatamente o que está sendo pedido. Uma dica boa é ler bastante, sempre, para se acostumar a textos grandes que devem aparecer na sua prova.
A FGV geralmente não segue um padrão nos concursos que organiza. Algumas provas podem ser mais complexas e outras de fácil compreensão, vai depender do nível de exigência do órgão que solicita o concurso.
A banca não costuma repetir questões de outras seleções e pode variar muito no conteúdo cobrado. Fique atento também às bibliografias exigidas, pois elas são cobradas e citadas com frequência nas provas da banca.
Prepare-se para questões relacionadas ao cargo que você irá disputar, pois a FGV tem a tradição de valorizar questões ligadas à rotina da função que você está concorrendo no concurso público.
1 Extraído do site https://www.espacojuridico.com/blog/category/fgv/
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
1
LÍNGUA PORTUGUESA (TJ/CE – 2019 – FGV)
Profª. Flaviana Eufrásio
Instagram: @flaviana.eufrasio E-mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/fafa.eufrasio
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EDITAL Nº 01/2019 | TJ/CE | FGV)
1. Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); 1.1. interpretação e organização interna. 2. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; 2.1. campos semânticos; 2.2. emprego de tempos e modos dos verbos em português. 3. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; 3.1. processos de formação de palavras; 3.2. mecanismos de flexão dos nomes e verbos. 4. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 4.1. processos de coordenação e subordinação; 4.2. concordância nominal e verbal; 4.3. transitividade e regência de nomes e verbos; 4.4. padrões gerais de colocação pronominal no português; 4.5. mecanismos de coesão textual. 5. Ortografia. 6. Acentuação gráfica. 7. Emprego do sinal indicativo de crase. 8. Pontuação. 9. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta.
ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO TEXTO E SEU SENTIDO: GÊNERO DO TEXTO (LITERÁRIO E NÃO
LITERÁRIO, NARRATIVO, DESCRITIVO E ARGUMENTATIVO)
As frases produzem significados diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas. Torna-se, assim, necessário sempre fazer um confronto entre todas as partes que compõem um texto. Ademais, é fundamental apreender as informações apresentadas por trás do texto e as inferências a que ele remete. Este procedimento justifica-se por um texto ser sempre produto de uma postura ideológica do autor diante de uma temática qualquer. É válido ressaltar que os diferentes tipos de textos devem-se, principalmente, às diferenças de finalidade/função e ao público destinatário de cada um deles, para isso é necessário atentar para as
características, a fim de diferenciar um texto literário de um texto não literário. Outrossim é válido registrar o tipo de linguagem empregada, se predomina a conotação ou a denotação. Entende-se por conotação quando a palavra pode ser
interpretada de diversas maneiras (sentido conotativo, figurado). • Exemplos: Henrique quebrou a cara. O Rodney é um ladrão de corações. Aquela mulher é uma cobra. Este tipo de recurso é muito usado em poemas e até no dia a dia, quando desejamos colocar uma carga forte de emoções em alguma expressão. Já na denotação, o termo é usado de forma literal.
(sentido denotativo, literal). • Exemplos: O tênis é velho. O vestido é lindo. A comida estava deliciosa. Aquele filme é muito ruim. Caso as palavras tivessem um sentido engessado, único e sem graça, os escritores não teriam espaço no idioma para usar a criatividade, por exemplo, mas como a língua portuguesa é um campo bem flexível, uma mesma palavra pode ter diversos sentidos. Dessa forma, dependendo do contexto, a mesma palavra pode ganhar um sentido diferente em cada frase. Definimos como polissemia esses múltiplos significados
que as palavras apresentam. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra
tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. • Exemplos: banco (instituição comercial financeira / assento). manga (parte da roupa / fruta). cabo (patente militar / acidente geográfico / cabo da vassoura / cabo da faca).
GÊNERO DO TEXTO (literário e não literário)
É necessário compreender o conceito do texto literário e não literário para, então, entender as suas demais atribuições. Ressalte-se que o uso de um ou de outro dependerá do objetivo que se quer expressar na construção do discurso. TEXTO LITERÁRIO
É um texto construído com ricos recursos e normas da literatura causando diferentes emoções ao leitor e expressando sentimentos de amor, raiva, alegria, dor etc. A musicalidade, as funções e os tons poéticos e artísticos, a criatividade, a estética da escrita, a organização das palavras e a linguagem com muita expressividade são algumas características encontradas em um texto literário. • Exemplos de textos literários:
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
2
Poemas, contos, fábulas, romances, peças teatrais, poesias, crônicas, minicontos, telenovelas, lendas, letras de músicas, entre outros. Características
1. Utiliza de linguagem bem elaborada com recursos artísticos e emotivos; 2. Faz parte de um universo imaginário, porém sem perder a interação do mundo real; 3. Há função poética e função emotiva; 4. As figuras de linguagem se fazem presente; 5. É construída de beleza, harmonia, musicalidade, ritmo, arte e pessoalidade; 6. O seu objetivo é tocar, marcar, fazer com que o leitor sinta além das palavras (tocar o coração); 7. É um texto imaginativo, surreal expressando um desejo do autor. Recria o mundo real a partir da imaginação do autor; 8. As palavras do texto literário sempre ganham novos significados. O autor maneja essas palavras de forma muito livre, a seu dispor para que possa ser bem encaixada estimulando ao teor do belo e da espontaneidade; 9. Subjetividade. • Exemplos de texto literário:
Poema XLIV
Saberás que não te amo e que te amo
posto que de dois modos é a vida, a palavra é uma asa do silêncio, o fogo tem uma metade de frio.
Eu te amo para começar a amar-te,
para recomeçar o infinito e para não deixar de amar-te nunca:
por isso não te amo ainda.
Te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos as chaves da fortuna e um incerto destino desafortunado.
Meu amor tem duas vidas para amar-te.
Por isso te amo quando não te amo e por isso te amo quando te amo.
Pablo Neruda. In: ―Cem Sonetos de Amor‖, Ed. L&PM, 2006.
TEXTO NÃO LITERÁRIO
É um texto construído com uma linguagem informativa, explicativa, esclarecedora e que tenha alguma utilidade para o leitor. Logo, ele é produzido em um tom claro, objetivo, direto e que não possa gerar nenhuma dúvida quanto a sua interpretação. As características que você poderá encontrar nesse texto não literário são: objetividade, informação, tutoriais, tangibilidade, inexpressivos, linguagem denotativa, dentre outras. • Exemplos de textos literários: Artigos científicos, receitas de culinárias, noticiários em jornais, revistas, anúncios publicitários, bulas de remédios, conteúdos educacionais, textos de livros didáticos, cartas comerciais, manuais de instrução, guias de beleza, entre outros. Características
1. É informativo, explicativo, que possui clareza ao que está sendo escrito; 2. O seu objetivo é levar uma informação ao leitor em sentido real, nada imaginativo; 3. Não necessita ser interpretado, pois é um texto em linguagem direta, concisa, com sentido real e claro; 4. É sempre de função referencial, ou seja, centrado em informar; 5. Linguagem impessoal (na 3ª pessoa); 6. Fatos e acontecimentos reais; 7. Linguagem denotativa (sentido real); 8. Objetividade. • Exemplo de texto não literário: 14 COISAS QUE VOCÊ NÃO DEVE JOGAR NA PRIVADA
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e
mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos.
Alguns produtos podem causar entupimentos: medicamento e preservativo; óleo de cozinha; ponta de cigarro; poeira de varrição de casa; tinta que não seja à base de água; querosene, gasolina, solvente.
Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a destinação final adequada.
MORGADO, M.; EMASA. In: ―Planeta Sustentável‖, jul./2013.
GÊNERO DO TEXTO (narrativo, descritivo e argumentativo)
É muito comum, na maioria das vezes, confundir tipologia textual com o gênero textual. É importante
evidenciar que a tipologia textual é o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida, facilmente reconhecida por suas características preponderantes. Os tipos que veremos a seguir são: a narração, a descrição e a argumentação.
TEXTO NARRATIVO
O propósito de um texto narrativo é contar uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. A narração da história é construída à volta de elementos narrativos, como o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. • Exemplo de texto narrativo:
Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção em um simples objeto da minha sala. Caminhei, paulatinamente, ao seu encontro e, à medida que me aproximava, sentia meu ego explodir em sensações indescritíveis.
Ali, diante dele, parei. Meu reflexo testemunhava as marcas do passado e trazia, à tona, as lembranças da infância e da adolescência. As imagens, agora, misturavam-se, comprometendo minha lucidez. Senti meu corpo flutuar e minha visão apagar-se, de forma que eu me concentrava em recordações, apenas.
Assim, momentos depois, revia meus irmãos e vizinhos correndo em volta da mesa, mamãe fazendo o jantar, papai lendo o jornal, os cães
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
3
brincando no jardim e meus amigos de colégio, antigos casos amorosos.
Recuperei o bom senso, por um instante, mas não durou mais que isso, pois, novamente, brotam outros pensamentos: o nascimento dos filhos e a ascensão profissional.
Minutos depois, tudo acabara. Diante de mim havia só um espelho, cujo reflexo já não era de um cenário fantasioso de minha mente.
Luana Stephanie de Medeiros. In: ―Além do Espelho‖.
Características
a) Existem três tipos de foco narrativo:
1. Narrador-personagem: é aquele que conta a história na qual é participante. Nesse caso ele é narrador e personagem ao mesmo tempo, a história é contada em 1ª pessoa. 2. Narrador-observador: é aquele que conta a história como alguém que observa tudo que acontece e transmite ao leitor, a história é contada em 3ª pessoa. 3. Narrador-onisciente: é o que sabe tudo sobre o enredo e as personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos íntimos. Narra em 3ª pessoa e sua voz, muitas vezes, aparece misturada com pensamentos dos personagens (discurso indireto livre). b) Estrutura:
1. Apresentação: é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá. 2. Complicação: é a parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Encadeados, os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax. 3. Clímax: é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. 4. Desfecho: é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. c) Tipos de Personagens:
Os personagens têm muita importância na construção de um texto narrativo, são elementos vitais. Podem ser principais ou secundários, conforme o papel que desempenham no enredo, podem ser apresentados direta ou indiretamente. d) Tipos de Discurso:
1. Discurso Direto: o narrador passa a palavra
diretamente para o personagem, sem a sua interferência. • Exemplo:
CASO DE DESQUITE
— Vexame de incomodar o doutor (a mão trêmula na boca). Veja, doutor, este velho caducando. Bisavô, um neto casado. Agora com mania de mulher. Todo velho é sem-vergonha. — Dobre a língua, mulher. O hominho é muito bom. Só não me pise, fico uma jararaca.
— Se quer sair de casa, doutor, pague uma pensão. — Essa aí tem filho emancipado. Criei um por um, está bom? Ela não contribuiu com nada, doutor. Só deu de mamar no primeiro mês. — Você desempregado, quem é que fazia roça?
2. Discurso Indireto: o narrador conta o que o
personagem diz, sem lhe passar diretamente a palavra. • Exemplo:
FRIO
O menino tinha só dez anos. Quase meia hora andando. No começo pensou num bonde. Mas lembrou-se do embrulhinho branco e bem feito que trazia, afastou a ideia como se estivesse fazendo uma coisa errada. (Nos bondes, àquela hora da noite, poderiam roubá-lo, sem que percebesse; e depois?... Que é que diria a Paraná?) Andando. Paraná mandara-lhe não ficar observando as vitrines, os prédios, as coisas. Como fazia nos dias comuns. Ia firme e esforçando-se para não pensar em nada, nem olhar muito para nada.
3. Discurso Indireto-Livre: ocorre uma fusão entre a
fala do personagem e a fala do narrador. É um recurso relativamente recente. Surgiu com romancistas inovadores do século XX. • Exemplo:
A MORTE DA PORTA-ESTANDARTE
Que ninguém o incomode agora. Larguem os
seus braços. Rosinha está dormindo. Não acordem Rosinha. Não é preciso segurá-lo, que ele não está bêbado... O céu baixou, se abriu... Esse temporal assim é bom, porque Rosinha não sai. Tenham paciência... Largar Rosinha ali, ele não larga não... Não!
E esses tambores? Ui! Que venham... É guerra... ele vai se espalhar... Por que não está malhando em sua cabeça?... (...) Ele vai tirar Rosinha da cama... Ele está dormindo, Rosinha... Fugir com ela, para o fundo do País... Abraçá-la no alto de uma colina...
TEXTO DESCRITIVO
O desígnio mais evidente de um texto descritivo é apresentar a descrição pormenorizada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito. A descrição pode ser mais objetiva ou mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes ou também detalhes específicos. Os textos descritivos não são, habitualmente, textos autônomos. O que acontece mais frequentemente é a existência de passagens descritivas inseridas em textos narrativos, havendo uma pausa na narração para a descrição de um objeto, pessoa ou lugar. • Exemplo de texto descritivo: ―Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
4
cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates.‖
Eça de Queiroz. In: ―O Primo Basílio‖.
TEXTO DISSERTATIVO (EXPOSITIVO E ARGUMENTATIVO)
O intuito principal de um texto dissertativo é informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Os textos dissertativos podem ser expositivos ou argumentativos. Um texto dissertativo-expositivo visa apenas expor um ponto de vista, não havendo a necessidade de convencer o leitor. Já o texto dissertativo-argumentativo visa persuadir e convencer o leitor a concordar com a tese defendida. a) Exemplo de texto dissertativo-expositivo:
Os Relatórios da ONU (Organização das
Nações Unidas) sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas, e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública.
Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a ―escassez hídrica‖ que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos indicam que a água doce do planeta está em risco visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas.
b) Exemplo de texto dissertativo-argumentativo:
Em pleno século XXI é salutar refletir sobre a
importância de preservação do meio ambiente bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades, foram gerados pela ação humana.
De tal modo, podemos pensar nas grandes construções, alicerçadas na urbanização desenfreada, ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias; porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa "sujidade". Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos.
Portanto, um conselho deveras importante: em vez de jogar o lixo (seja um panfleto ou papel de bala) nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente!
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Sobre os tipos textuais, é correto afirmar, exceto: (PC/SC | 2010 | ACAFE)
a) Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. b) Os tipos textuais são: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. c) Geralmente variam entre cinco e nove tipos. d) Possuem um conjunto ilimitado de características, que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. e) Os tipos de textos apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a influência do contexto de nossas atividades comunicativas. De maneira predeterminada, apresentam vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os diversos gêneros. 02. Considerando que os gêneros estão agrupados em cinco modalidades retóricas correspondentes aos tipos textuais, assinale a opção em que está correta a correspondência dos exemplos e as respectivas modalidades: (SEDUC/CE | 2018 | CEV/UECE
| Professor | adapt.) a) ARGUMENTAR: novela fantástica, texto de opinião, debate regrado. b) EXPOR: seminário, conferência, entrevista de especialista. c) NARRAR: fábula, curriculum vitae, lenda. d) DESCREVER: regulamento, regras de jogo, carta do leitor. e) INSTRUIR: manual, receita, crônica 03. Os gêneros permitem o tratamento da intrigante e difícil questão que indaga: Por que os membros de comunidades discursivas específicas usam a língua da maneira como fazem? Atente às respostas para esse questionamento apresentadas a seguir e assinale a que for incorreta: (SEDUC/CE | 2018 |
CEV/UECE | Professor | adapt.) a) Cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera de circulação. b) Todos os gêneros têm uma forma e função, bem como um estilo e um conteúdo. c) Os gêneros são modelos estanques com estruturas rígidas e com formas culturais. d) A determinação da língua se dá basicamente pela função e não pela forma. e) Essa categoria tem inúmeras possibilidades, são exemplos de gêneros a palestra, o gibi e a lista de compras. 04. O texto dissertativo-argumentativo é uma tipologia textual que não se realiza no gênero: (UFRR
| 2018 | Assistente Social) a) Manual de instruções. b) Resenha crítica. c) Debate. d) Artigo de opinião. e) Manifesto. ―Um crime bárbaro mobilizou a Polícia Militar na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, ontem. Um filho matou a mãe com mais de 20 facadas no pescoço, no Bairro Lagoinha Leblon. O rapaz, de 22 anos, se apresentou espontaneamente à 9ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP) e deu detalhes do crime. Segundo a polícia, o jovem informou que tinha um relacionamento difícil com a mãe e teria discutido com ela momentos antes de desferir os golpes.‖
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
5
Jovem em tratamento psiquiátrico mata a mãe. Estado de Minas, 07/10/2018, p. 14.
05. Os tipos textuais se constituem pelo modo de construção textual, caracterizado por sequências com características linguísticas próprias, predomínio de tempos verbais específicos, estrutura sintática entre outros elementos que demarcam esses tipos. O tipo textual predominante no texto acima é:
a) argumentativo. b) descritivo. c) injuntivo. d) narrativo. e) expositivo 06. Sobre os tipos e gêneros textuais, associe a coluna B à coluna A. (CETREDE | 2018 | Assist. Técnica)
COLUNA A
I. Tipo textual. II. Gênero textual. COLUNA B
(__) Carta. (__) Injunção. (__) Descrição. (__) Artigo. (__) Fábula. Marque a opção que apresenta a sequência correta:
a) II / I / I / II / II. b) I / I / I / I / II. c) I / II / II / I / I. d) I / I / II / II / II. e) II / II / I / I / I.
A MARCA DA SOLIDÃO
Deitado de bruços, sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino espia. Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma tenda de penumbra na tarde quente. Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há, dentro de cada uma delas, um diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais só visíveis aos olhos de quem é capaz de parar de viver para, apenas, ver. Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta.
Heloísa Seixas. ―Contos mais que mínimos‖. Rio de Janeiro: Tinta negra bazar, 2010. p. 47.
07. No texto acima, o substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino detém sua atenção é: (SABESP/SP | 2014 | FCC | Técnico
em Gestão) a) fresta. b) marca. c) alma. d) solidão. e) penumbra. ―Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava mentindo. Ele vira, realmente, o avião cair. Com os olhos da imaginação, decerto; mas para ele o avião tinha caído, e tinha incendiado, e tudo o mais. E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista. Tudo que precisava, naquele momento,
eram um lápis e um papel. No colégio onde fiz o segundo grau, havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. Se tivesse escrito o que dizia, seria um escritor; como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma questão de nomes, de palavras.‖ 08. Sobre os elementos destacados do segmento, é correto afirmar:
a) Na frase ―Agora, QUANDO lembro este fato, concluo que não estava mentindo.‖, a palavra destacada será corretamente substituída pelo pronome SE, que lhe é correspondente. b) Em todas as frases do fragmento a concordância está feita com respeito à norma culta da língua. c) O pronome ―ELE‖ que inicia o segundo período deve ser interpretado como remetendo ao autor do texto, que fala de algo que tem a ver com sua experiência pessoal, com a sua própria vida. d) Pela estrutura, o trecho é predominantemente informativo e apresenta a opinião da autora de fora imparcial e isenta, requisitos da linguagem jornalística. 09. Sobre a linguagem ―não literária‖ é correto afirmar, exceto:
a) É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. b) Sua principal característica é a objetividade. c) Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. d) Utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou preocupações artísticas.
TEXTO PARA A QUESTÃO 10
Um carteiro chega ao portão do hospício e grita: — Carta para o 9.326!!! Um louco pega o envelope, abre-o e vê que a carta está em branco, e um outro pergunta: — Quem te mandou essa carta? — Minha irmã. — Mas por que não está escrito nada? — Ah, porque nós brigamos e não estamos nos falando!
10. Acima decorre:
a) da identificação numérica atribuída ao louco. b) da expressão utilizada pelo carteiro ao entregar a carta no hospício. c) do fato de outro louco querer saber quem enviou a carta. d) da explicação dada pelo louco para a carta em branco. e) do fato de a irmã do louco ter brigado com ele.
TEXTO PARA A QUESTÃO 11
RESGATE NO CHILE
Assisti ao maior espetáculo da Terra numa operação de salvamento de vidas, após 69 dias de permanência no fundo de uma mina de cobre e ouro no Chile. Um a um os mineiros soterrados foram içados com sucesso, mostrando muita calma, saúde, sorrindo e cumprimentando seus companheiros de trabalho. Não se pode esquecer a ajuda técnica e material que os Estados Unidos, Canadá e China ofereceram à equipe chilena de salvamento, num gesto
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
6
humanitário que só enobrece esses países. E, também, dos dois médicos e dois ―socorristas‖ que, demonstrando coragem e desprendimento, desceram na mina para ajudar no salvamento.
Douglas Jorge. São Paulo/SP. Painel do Leitor, 17/10/2010. Disponível em <www.folha.com.br>.
11. Considerando o tipo textual apresentado, algumas expressões demonstram o posicionamento pessoal do leitor diante do fato por ele narrado. Tais marcas textuais podem ser encontradas nos trechos a seguir, exceto: (VUNESP)
a) ―Assisti ao maior espetáculo da Terra...‖ b) ―... após 69 dias de permanência no fundo de uma mina de cobre e ouro no Chile.‖ c) ―Não se pode esquecer a ajuda técnica e material...‖ d) ―... gesto humanitário que só enobrece esses países.‖ e) ―... demonstrando coragem e desprendimento, desceram na mina...‖
TEXTO PARA AS QUESTÕES 12 A 14
FÉRIAS NA ILHA DO NANJA
Meus amigos estão fazendo as malas,
arrumando as malas nos seus carros, olhando o céu para verem que tempo faz, pensando nas suas estradas — barreiras, pedras soltas, fissuras* — sem falar em bandidos, milhões de bandidos entre as fissuras, as pedras soltas e as barreiras...
Meus amigos partem para as suas férias, cansados de tanto trabalho; de tanta luta com os motoristas da contramão; enfim, cansados, cansados de serem obrigados a viver numa grande cidade, isto que já está sendo a negação da própria vida.
E eu vou para a Ilha do Nanja. Eu vou para a Ilha do Nanja para sair daqui.
Passarei as férias lá, onde, à beira das lagoas verdes e azuis, o silêncio cresce como um bosque. Nem preciso fechar os olhos: já estou vendo os pescadores com suas barcas de sardinha, e a moça à janela a namorar um moço na outra janela de outra ilha.
Cecília Meireles. In: ―O que se diz e o que se entende‖.
12. No primeiro parágrafo, ao descrever a maneira como se preparam para suas férias, a autora mostra que seus amigos estão: (DCTA/SP | 2013 | VUNESP |
Assistente em C&T) a) serenos. b) descuidados. c) apreensivos. d) indiferentes. e) relaxados. 13. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, assim como seus amigos, a autora viaja para: (DCTA/SP | 2013 | VUNESP | Assistente em C&T) a) visitar um lugar totalmente desconhecido. b) escapar do lugar em que está. c) reencontrar familiares queridos. d) praticar esportes radicais. e) dedicar-se ao trabalho. 14. Ao descrever a Ilha do Nanja como um lugar onde, ―à beira das lagoas verdes e azuis, o silêncio cresce como um bosque‖ (último parágrafo), a autora
sugere que viajará para um lugar: (DCTA/SP | 2013 |
VUNESP | Assistente em C&T) a) repulsivo e populoso. b) sombrio e desabitado. c) comercial e movimentado. d) bucólico e sossegado. e) opressivo e agitado.
TEXTO PARA A QUESTÃO 15
Grandes metrópoles em diversos países já aderiram. E o Brasil já está falando sobre isso. O pedágio urbano divide opiniões e gera debates acalorados. Mas, afinal, o que é mais justo? O que fazer para desafogar a cidade de tantos carros? Prepare-se para o debate que está apenas começando.
Superinteressante, dez./2012, p. 34 (com adaptações).
15. Marque N (não) para os argumentos contra o pedágio urbano; marque S (sim) para os argumentos a favor do pedágio urbano. (ESAF)
(__) A receita gerada pelo pedágio vai melhorar o transporte público e estender as ciclovias. (__) Vai ser igual ao rodízio de veículos em algumas cidades, que não resolveu os problemas do trânsito. (__) Se pegar no bolso do consumidor, então todo mundo vai ter que pensar bem antes de comprar um carro. (__) A gente já paga garagem, gasolina, seguro, estacionamento, revisão... e agora mais o pedágio? (__) Nós já pagamos impostos altos e o dinheiro não é investido no transporte público. (__) Quer andar sozinho dentro do seu carro? Então pague pelo privilégio! (__) O trânsito nas cidades que instituíram o pedágio urbano melhorou. A ordem obtida é:
a) S / N / N / S / S / S / N. b) S / N / S / N / N / S / S. c) N / S / /S / N / S / N / S. d) S / S / N / S / N / S / N. e) N / N / S / S / N / S / N.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B C A D A A B C D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C B D B * * * * *
INTERPRETAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INTERNA
Os concursos apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Portanto, o candidato deve compreender os níveis estruturais da língua por meio da lógica, além de necessitar de um bom léxico internalizado. Para ler e entender bem um texto basicamente deve-se alcançar os dois níveis de leitura: a informativa e de reconhecimento e a interpretativa. A primeira deve ser feita de maneira cautelosa por ser o primeiro contato com o novo texto. Desta leitura, extraem-se informações sobre o conteúdo abordado e prepara-se o próximo nível de leitura. Durante a interpretação propriamente dita, cabe destacar palavras-chave, passagens importantes,
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
7
bem como usar uma palavra para resumir a ideia central de cada parágrafo. Este tipo de procedimento aguça a memória visual, favorecendo o entendimento. No caso de textos literários, é preciso conhecer a ligação daquele texto com outras formas de cultura, outros textos e manifestações de arte da época em que o autor viveu. Se não houver está visão global dos momentos literários e dos escritores, a interpretação pode ficar comprometida. Aqui não se podem dispensar as dicas que aparecem na referência bibliográfica da fonte e na identificação do autor. A última fase da interpretação concentra-se nas perguntas e opções de resposta. São fundamentais marcações de palavras como não, exceto, errada, respectivamente, entre outros. Muitas vezes, em interpretação, trabalha-se com o conceito do "mais adequado", isto é, o que responde melhor ao questionamento proposto. Por isso, uma resposta pode estar certa para responder à pergunta, mas não ser a adotada como gabarito pela banca examinadora por haver uma outra alternativa mais completa. A descontextualização de palavras ou frases, certas vezes, são também um recurso para instaurar a dúvida do candidato. Leia a frase anterior e a posterior para ter a ideia do sentido global proposto pelo autor, desta maneira a resposta será mais consciente e segura. Podemos, tranquilamente, ser bem-sucedidos numa interpretação de texto. Para isso, devemos observar o seguinte: 1. Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto; 2. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vá até o fim, ininterruptamente; 3. Ler, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos umas três vezes ou mais; 4. Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas; 5. Voltar ao texto quantas vezes precisar; 6. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor; 7. Partir o texto em pedações (parágrafos, partes) para melhor compreensão; 8. Centralizar cada questão ao pedaço (parágrafo, partes) do texto correspondente; 9. Verificar, com atenção e cuidado, o enunciado de cada questão; 10. Cuidado com os vocábulos: destoa (= diferente de...), não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto, e outras; palavras que aparecem nas perguntas e que, às vezes, dificultam a entender o que se perguntou e o que se pediu; 11. Quando duas alternativas lhe parecem corretas, procurar a mais exata ou a mais completa; 12. Quando o autor apenas sugerir ideia, procurar um fundamento de lógica objetiva; 13. Cuidado com as questões voltadas para dados superficiais; 14. Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta, mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto; 15. Às vezes a etimologia ou a semelhança das palavras denuncia a resposta; 16. Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definido o tema e a mensagem; 17. O autor defende ideias e você deve percebê-las;
18. Os adjuntos adverbiais e os predicativos do sujeito são importantíssimos na interpretação do texto. • Exemplos: Ele morreu de fome. de fome: adjunto adverbial de causa, determina a causa na realização do fato (= morte de ―ele‖). • Exemplos: Ele morreu faminto faminto: predicativo do sujeito, é o estado em que ―ele‖ se encontrava quando morreu.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
TEXTO 1
―O liberalismo é uma teoria política e econômica que exprime os anseios da burguesia. Surge em oposição ao absolutismo dos reis e à teoria econômica do mercantilismo, defendendo os direitos da iniciativa privada e restringindo o mais possível as atribuições do Estado. Locke foi o primeiro teórico liberal. Presenciou na Inglaterra as lutas pela deposição dos Stuarts, tendo se refugiado na Holanda por questões políticas. De lá regressa quando, vitoriosa a Revolução de 1688, Guilherme de Orange é chamado para consolidar a nova monarquia parlamentar inglesa.‖
Maria Lúcia de Arruda Aranha. In: ―História da Educação‖.
01. Segundo o texto, Locke:
a) participou da deposição dos Stuarts. b) tinha respeito pelo absolutismo. c) teve participação apenas teórica no liberalismo. d) julgava ser necessário restringir as atribuições do Estado. e) não sofreu qualquer tipo de perseguição política. 02. Infere-se do texto que os ―burgueses‖ seriam simpáticos:
a) ao absolutismo. b) ao liberalismo. c) às atribuições do Estado. d) à perseguição política de Locke. e) aos Stuarts. 03. A Revolução de 1688 foi vitoriosa porque:
a) derrubou o absolutismo. b) implantou o liberalismo. c) preservou os direitos de iniciativa privada. d) baseou-se nas idéias liberais de Locke. e) permitiu que Locke voltasse da Holanda. 04. Das alterações feitas na passagem ―…que exprime os anseios da burguesia.‖, aquela que altera substancialmente seu sentido é:
a) a qual expressa os anseios da burguesia. b) a qual exprime os desejos da burguesia. c) que representa os anelos da burguesia. d) que expressa os valores da burguesia. e) que representa as ânsias da burguesia. 05. A teoria política do liberalismo se opunha:
a) a parte da burguesia. b) ao mercantilismo. c) à monarquia parlamentar. d) a Guilherme de Orange.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
8
e) ao absolutismo. 06. Infere-se do texto que Guilherme de Orange
a) não seria simpático aos burgueses. b) teria ligações com os reis absolutistas. c) teria ideias liberais. d) não concordaria com Locke. e) teria apoiado o exílio de Locke na Holanda.
TEXTO 2
BUROCRATAS CEGOS
―A decisão, na sexta-feira, da juíza Adriana Barreto de Carvalho Rizzotto, da 7ª Vara Federal do Rio, determinando que a Light e a CERJ também paguem bônus aos consumidores de energia que reduziram o consumo entre 100 kWh e 200 kWh fez justiça. A liminar vale para todos os brasileiros. Quando o Governo se lançou nessa difícil tarefa do racionamento, não contou com tamanha solidariedade dos consumidores. Por isso, deixou essa questão dos bônus em suspenso. Preocupada com os recursos que o Governo federal terá que desembolsar com os prêmios, a Câmara de Gestão da Crise de Energia tem evitado encarar essa questão, muito embora o próprio presidente da República, já tenha dito que o bônus será pago. Decididamente, os consumidores não precisavam ter lançado mão da Justiça para poder ter a garantia desse direito. Infelizmente, o permanente desrespeito ao contribuinte ainda faz parte da cultura dos burocratas brasileiros. Estão constantemente preocupados em preservar a máquina do Estado. Jamais pensam na sociedade e nos cidadãos. Agem como se logo mais na frente não precisassem da população para vencer as barreiras de mais essa crise.‖
―O Dia‖, Editorial, 19/08/2001.
07. De acordo com o texto:
a) a juíza expediu a liminar porque as companhias de energia elétrica se negaram a pagar os bônus aos consumidores. b) a liminar fez justiça a todos os tipos de consumidores. c) a Light e a CERJ ficarão desobrigadas de pagar os bônus se o Governo fizer a sua parte. d) o excepcional retorno dado pelos consumidores de energia tomou de surpresa o Governo. e) o Governo pagará os bônus, desde que as companhias de energia elétrica também o façam. 08. Só não se depreende do texto que:
a) os burocratas brasileiros desrespeitam sistematicamente o contribuinte. b) o governo não se preparou para o pagamento dos bônus. c) o chefe do executivo federal garante que os consumidores receberão o pagamento dos bônus. d) a Câmara de Gestão está preocupada com os gastos que terá o Governo com o pagamento dos bônus. e) a única forma de os consumidores receberem o pagamento dos bônus é apelando para a Justiça. 09. De acordo com o texto, a burocracia brasileira:
a) vem ultimamente desrespeitando o contribuinte. b) sempre desrespeita o contribuinte. c) jamais desrespeitou o contribuinte. d) vai continuar desrespeitando o contribuinte. e) deixará de desrespeitar o contribuinte.
10. A palavra que justifica a resposta ao item anterior é:
a) infelizmente. b) constantemente. c) cultura. d) jamais. e) permanente. 11. Os burocratas brasileiros:
a) ignoram o passado. b) não valorizam o presente. c) subestimam o passado. d) não pensam no futuro. e) superestimam o futuro. 12. Pode-se afirmar, com base nas ideias do texto:
a) A Câmara de Gestão defende os interesses da Light e da CERJ. b) O presidente da República espera poder pagar os bônus aos consumidores. c) Receber o pagamento dos bônus é um direito do contribuinte, desde que tenha reduzido o consumo satisfatoriamente. d) Os contribuintes não deveriam ter recorrido à Justiça, porque a Câmara de Gestão garantiu o pagamento dos bônus. e) A atuação dos burocratas brasileiros deixou a Câmara de Gestão preocupada.
TEXTO 3
―É consenso entre os economistas que o setor automobilístico é o que impulsiona a economia de qualquer país. QUATRO RODAS foi conferir e viu que os números são espantosos. A começar pelo mercado de trabalho. Estima-se que um emprego em uma fábrica de carros gera, indiretamente, 46 outros empregos. Por esse cálculo, 5 milhões de brasileiros dependem, em maior ou menor grau, dessa indústria. Até na construção civil a presença das rodas é enorme: 1 em cada 4 metros quadrados de espaço nas grandes cidades se destina a ruas ou estacionamentos. Na ponta do lápis, o filão da economia relacionado a automóveis movimentou, no ano passado, pelo menos 216 bilhões de dólares. Como o PIB brasileiro, nesse período, foi de 803 bilhões de dólares (e ainda não havia ocorrido a maxidesvalorização), cerca de 1 em cada 4 reais que circularam no país andou sobre rodas em 1998.‖
Revista ―Quatro Rodas‖, março/99.
13. Segundo o texto, a economia de um país:
a) é ajudada pelo setor automobilístico. b) independe do setor automobilístico. c) às vezes depende do setor automobilístico. d) não pode prescindir do setor automobilístico. e) fortalece o setor automobilístico. 14. A importância do setor automobilístico é destacada:
a) por boa parte dos economistas. b) pela maioria dos economistas. c) por todos os economistas. d) por alguns economistas. e) pelos economistas que atuam nessa área. 15. Pelo texto, verifica-se que:
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
9
a) alguns países têm sua economia impulsionada pelo setor automobilístico. b) o PIB brasileiro seria melhor sem o setor automobilístico. c) para os economistas, o setor automobilístico tem importância relativa na economia brasileira. d) cinco milhões de brasileiros têm seu sustento no setor automobilístico. e) em 1998, três quartos da economia brasileira não tinham relação com o setor automobilístico. 16. ―A começar pelo mercado de trabalho.‖ Das alterações feitas na passagem acima, aquela que lhe altera basicamente o sentido é:
a) a princípio pelo mercado de trabalho. b) começando pelo mercado de trabalho. c) em princípio pelo mercado de trabalho. d) principiando pelo mercado de trabalho. e) iniciando pelo mercado de trabalho. 17. Segundo o texto, o setor automobilístico:
a) está presente em segmentos diversos da sociedade. b) limita-se às fábricas de veículos. c) no ano de 1988 gerou salários de aproximadamente 216 bilhões de dólares. d) ficou imune à maxidesvalorização. e) gera, pelo menos, 47 empregos por fábrica de automóveis. 18. A palavra ou expressão que justifica a resposta ao item anterior é:
a) qualquer. b) gera. c) até. d) na ponta do lápis. e) no país.
TEXTO 4
―Para algumas pessoas, vida saudável é simplesmente evitar doenças. Na verdade o conceito é muito mais amplo, vai muito além. Hoje já sabemos que vários fatores influenciam a saúde, como: o relacionamento no meio familiar e no trabalho, o local em que se vive, o estado emocional e até mesmo o estado espiritual da pessoal. Se tudo isso não estiver harmônico, o indivíduo fica doente com mais facilidade. Portanto, para uma vida saudável é necessário encontrar um ponto de equilíbrio e, esse ponto é obtido com os valores do bem-estar físico, mental, social e espiritual.‖
19. A sequência que predomina no texto é a: (Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ | 2019 | Pró-Município) a) Narrativa. b) Dialogal. c) Descritiva. d) Argumentativa. 20. Em relação a produção de texto, mas especificamente na elaboração do texto argumentativo, o aluno deve: (Prefeitura de Itapiranga/SC
| 2018 | AMEOSC) a) Desestruturar as argumentações de forma a sustentar o debate. b) Narrar os acontecimentos cronologicamente, fazendo uso de figurações de estilo. c) Identificar o interlocutor e o assunto sobre o qual se posiciona e estabelecer interlocução explícita.
d) Estabelecer interlocução de forma a dar abertura às divergências, assim, enriquecendo as possibilidades de entendimento do texto.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B A D E C D E B E
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C D C E C A C D C
SEMÂNTICA SENTIDO E EMPREGO DOS VOCÁBULOS
CAMPOS SEMÂNTICOS
A semântica é o estudo do significado e a interpretação
(sentido) de uma palavra, frase ou expressão de um determinado contexto. Esse processo é importante no estudo de português para concursos porque o significado das palavras é essencial para quem fala e escreve. SINONÍMIA
Estudo das palavras sinônimas, ou seja, aquelas que possuem significados parecidos ou semelhantes. • Exemplos: A garota caminha pela calçada. A menina caminha pela calçada. Garota e Menina: O sentido das palavras dá a impressão de que falamos de uma pessoa jovem. • Exemplos: Maria recusou o presente do amigo. Maria rejeitou o presente do amigo. Recusou e Rejeitou: As duas formas dão a ideia de algo que não queremos. olhar → ver lábio → beiço. entender → compreender. habitar → morar. cara → rosto. mortal → letal. cavalo → corcel. bom → misericordioso. oposição → antítese. colóquio → diálogo. gritar → bradar. ANTONÍMIA
Estudo das palavras que possuem significados diferentes ou contrários. • Exemplos: Bom/Ruim É bom viajar de avião. É ruim viajar de avião. • Exemplos: Garota/Senhora A menina viajou sozinha com a irmã. A senhora viajou sozinha com a irmã.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
10
bonito → feio. ordem → anarquia. simétrico → assimétrico. alegre → triste. natural → artificial. ignorância → sabedoria. Ademais, é importante esclarecer que uma palavra possui por definição muitos significados os quais mudam dependendo do contexto onde ele é inserido. Para sabermos essas diferenças dentro dos contextos é preciso entender alguns termos e assim saber defini-los. HOMÔNÍMIA E PARÔNÍMIA
Homônimos são palavras com escrita ou pronúncia iguais, com significado (sentido) diferente. • Exemplos: ―A manga está uma delícia.‖ ―A manga da camisa ficou perfeita.‖ Tipos de homônimos: homógrafos, homófonos e homônimos perfeitos.
Homógrafos – mesma grafia e som diferente.
• Exemplos: ―Eu começo a trabalhar em breve.‖ ―O começo do filme foi ótimo.‖ Veja outros exemplos: molho (verbo) ≠ molho (substantivo) jogo (verbo) ≠ jogo (substantivo) colher (verbo) ≠ colher (substantivo) vede (v. ver) ≠ vede (v. vedar) apoio (verbo) ≠ apoio (substantivo) leste (verbo) ≠ leste (substantivo) Homófonos – grafia diferente e mesmo som.
• Exemplos: ―A cela do presídio está lotada.‖ ―A sela do cavalo está velha.‖ Outros exemplos: acético (ácido) ≠ ascético (contemplativo) acender (atear fogo) ≠ ascender (subir) acento (notação léxica) ≠ assento (lugar em que se senta) acerto (acordo) ≠ asserto (afirmação) apreçar (pôr o preço) ≠ apressar (tornar rápido) bucho (estômago) ≠ buxo (planta) cela (pequeno quarto) ≠ sela (arreio) cegar (tornar cego) ≠ segar (cortar, ceifar) cozer (cozinhar) ≠ coser (costurar) apreçar (pôr preço) ≠ apressar (acelerar) maça (arma) ≠ massa (substância) censo (recenseamento) ≠ senso (juízo) cerrar (fechar) ≠ serrar (cortar) concelho (divisão administrativa) ≠ conselho (aviso) Homônimos perfeitos – mesma grafia e som.
• Exemplos: ―Vou pegar dinheiro no banco.‖ ―O banco da praça quebrou.‖ Outros exemplos: amo (patrão) = Amo (verbo amar)
apontar (anotar) = Apontar (fazer a ponta) arma (instrumento de luta ou defesa) = Arma (verbo) atestar (encher) = Atestar (provar) casa (residência) = Casa (abertura para passar o botão) cedo (verbo) = cedo (advérbio de tempo) franco (moeda) = Franco (sincero) livre (adjetivo) = livre (v. livrar) somem (v. somar) = somem (v. sumir) Parônimos – palavras com escrita e pronúncia
parecidas, mas com significado (sentido) diferente. • Exemplos: ―O homem fez uma bela descrição da mulher.‖ ―Use a sua discrição, Paulo.‖ Outros exemplos: apóstrofe (chamamento) ≠ apóstrofo (sinal gráfico) atuar (agir) ≠ atoar (rebocar) arrolhar (tapar com rolha) ≠ arrulhar (produzir arrulhos) cavaleiro(que anda a cavalo)≠cavalheiro (gentil, cordial) comprimento (extensão) ≠ cumprimento (saudação) deferir (conceder) ≠ diferir (adiar, divergir) descrição (ato de descrever) ≠ discrição (reserva em atos e atitudes) emergir (vir à tona) ≠ imergir (mergulhar) emigrante (aquele que sai de um país) ≠imigrante (quem entra em outro país) eminente (destacado, ilustre, elevado) ≠iminente (prestes a acontecer) infringir (transgredir) ≠infligir (aplicar) ratificar (confirmar) ≠retificar (corrigir soar (emitir som) ≠suar (transpirar vultoso (volumoso, importante, grande) ≠vultuoso (congestão na face; inchado) Ambiguidades
Ambiguidade ou anfibologia é o nome dado, dentro da linguística na língua portuguesa, à duplicidade de sentidos, onde alguns termos, expressões, sentenças apresentam mais de uma acepção ou entendimento possível. Em outras palavras, ocorre quando, por falta de clareza, há duplicidade de sentido da frase. O uso da ambiguidade pode resultar na má interpretação da mensagem, ocasionando múltiplos sentidos. É importante lembrar que toda comunicação estabelece uma finalidade, uma intenção para com o interlocutor, e para que isso ocorra, a mensagem tem de estar clara, precisa e coerente. Os tipos comuns de ambiguidade, como vício de linguagem são: a) Uso indevido de pronomes possessivos • Exemplo: A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Qual quarto? o da mãe ou da filha? Para evitar ambiguidade: Corrigindo: A mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto. b) Colocação inadequada das palavras • Exemplo: A criança feliz foi ao parque. A criança ficou feliz ao chegar no parque, ou estava assim antes?
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
11
Corrigindo: Feliz, a criança foi ao parque. c) Uso de forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante • Exemplo: A estudante falou com o garoto que estudava enfermagem. Quem estuda enfermagem, a estudante ou o garoto? Corrigindo: A estudante de enfermagem falou com o garoto. d) Uso indevido de formas nominais • Exemplo: A moça reconheceu a amiga frequentando a academia. Quem estava na academia? A moça ou a amiga? Corrigindo: A moça reconheceu a amiga que estava frequentando a academia. Polissemia
Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego ―polysemos‖, que significa ―algo que tem muitos significados‖. Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. A polissemia constitui uma propriedade básica das unidades léxicas e um elemento estrutural da linguagem. O oposto da polissemia é a monossemia, onde uma palavra assume só um significado. • Exemplos: A manga da camisa está suja. (= parte da vestimenta que recobre o braço) Todos comeram a manga. (= fruta) A encanação precisa de uma nova manga. (= peça de metal nas encanações) A manga do candeeiro se queimou. (= tecido que envolve a chama nos candeeiros e lamparinas) A letra da música do Chico Buarque é incrível. A letra daquele aluno é inteligível Meu nome começa com a letra D. Logo, constatamos que a palavra ―letra‖ é um termo polissêmico, visto que abarca significados distintos dependendo de sua utilização. Hiperonímia e hiponímia
A hiperonímia indica uma relação hierárquica de significado que uma palavra superior estabelece com uma palavra inferior. A hiponímia indica, assim, essa mesma relação hierárquica de significado. Foca-se, no entanto, na perspectiva da palavra hierarquicamente inferior. • Exemplos: País é hiperônimo de Brasil. Mamífero é hiperônimo de cavalo. Jogo é hiperônimo de xadrez. Brasil é hipônimo de país. a) Os hiperônimos: Apresentam um sentido abrangente, pois transmitem a ideia de um todo e representam as características
genéricas de uma classe, permitindo a formação de subclasses associadas a elas. b) Os hipônimos: Apresentam um sentido restrito, pois transmitem a ideia de um item ou uma parte de um todo e representam as características específicas de uma subclasse, permitindo a associação a uma classe superior mais abrangente. • Exemplos:
Hiperônimo Hipônimos
Cor verde, azul, amarelo, vermelho…
Fruta maçã, banana, manga, abacaxi…
Veículo carro, automóvel, moto, bicicleta…
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Em que alternativa a expressão entre parênteses poderia substituir a palavra destacada, preservando o sentido original? (FGV)
a) ―(…) adota como estratégia produtiva as mesmas PRERROGATIVAS da produção em série que já vigoram em outras esferas industriais (…)‖. (previsões) b) ―(…) existem também razões de natureza INTRÍNSECA ao meio condicionando a televisão à produção seriada‖. (externa) c) ―Diante dessas CONTINGÊNCIAS, a produção televisual se vê permanentemente constrangida a levar em consideração as condições de recepção (…)‖. (contradições) d) ―(…) a produção televisual se vê permanentemente CONSTRANGIDA a levar em consideração as condições de recepção (…)‖. (forçada) e) ―(…) organizando a mensagem em painéis FRAGMENTÁRIOS e híbridos, como na técnica da colagem‖. (frágeis) 02. Observe, com atenção, nos fragmentos a seguir, as expressões em maiúsculo. (PUC/SP)
I. ―… porque Nhô Augusto se erguia e NUM ÁTIMO se vestia.‖ II. ―— … Eu podia ter arresistido, mas era negócio DE HONRA, COM SANGUE só p‘ra o dono…‖ III. ―— FEZ NA REGRA, E FEITO!‖ IV. ―… as ferraduras tiniram e DERAM FOGO no lajedo…‖ Aponte a alternativa que, respectivamente, substitui as expressões em maiúsculo, do ponto de vista do significado:
a) Num abrir e fechar de olhos, de pureza, com morte, fez conforme o combinado, faiscaram. b) Em parte, de brio, com ferimento, agiu de acordo com o costume, brilharam. c) Em curto espaço de tempo, de brio, com morte, agiu de acordo com o costume, faiscaram. d) Em parte, de grandeza, com ferimento, desobedeceu às normas, riscaram. e) Em curto espaço de tempo, de glória, com resistência, fez conforme o combinado, acenderam. ―O continente africano, que tantas vezes e por tanto tempo já foi o espelho sombrio e ESPOLIADO dos progressos da civilização ocidental, infelizmente continua SUJEITO A um processo que, no limite, resume-se a uma IMPLOSÃO CIVILIZATÓRIA.‖
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
12
03. Os termos em destaque podem ser substituídos, sem prejuízo do sentido do texto, respectivamente, por: (PUC-Campinas)
a) despojado / vassalo / destruição do progresso. b) herdeiro / obediente a / extinção da civilização. c) cheio de restos / tema de / matança de toda uma civilização. d) roubado / o agente de / devastação de todas as civilizações. e) privado / submetido a / destruição do próprio cerne da civilização. 04. Em todas as alternativas, o significado das palavras destacadas está corretamente identificado, EXCETO em: (UFMG)
a) esse ato não consiste numa decisão ―QUE VAI E NÃO VOLTA‖. (que vai e não volta = sem retorno). b) E também se desencadeia uma inter-relação entre a fonte do poder (a que criou e IMPLANTOU o imposto)… (implantou = implementou). c) … pois isto TAMPOUCO explica muita coisa, ou não explica nada. (tampouco = também não). d) Antes do momento em que se exerce, ele é somente uma CONJECTURA, uma presunção, algo que se acha que vai acontecer. (conjectura = suposição). e) Antes, tudo está sujeito a fatores no mais das vezes IMPREVISÍVEIS. (imprevisíveis = imprevidentes). 05. Assinale a ÚNICA alternativa em que a palavra ou expressão em destaque NÃO está adequadamente interpretada de acordo com seu sentido no texto: (UFU) a) ―O que existia antes, ‗cruzar‘ animais ou plantas para criar novas raças ou HÍBRIDOS, é coisa bem diferente…‖ = mistura de espécies diferentes. b) ―(…) mostraram que larvas da borboleta monarca que se alimentam de plantas IMPREGNADAS com o pólen de um tipo de milho transgênico morrem em grandes quantidades.‖ = imbuídas. c) ―(…) os alimentos modificados geneticamente irão solucionar um dos maiores problemas que AFLIGEM a humanidade, a fome.‖ = atormentam. d) ―(…) essa liberdade só pode funcionar se submetida a intensa SUPERVISÃO da comunidade científica…‖ = inspeção. e) ―(...) O DILEMA começa ao examinarmos os possíveis efeitos ambientais dos alimentos transgênicos...‖ = problema. 06. Numere a coluna com parênteses de acordo com os significados das palavras da coluna numerada a seguir. (UniTau)
1 – prevaricação. 2 – simoníaco. 3 – carisma. 4 – dogma. 5 – anímica. 6 – decoro 7 – oligarquia. (__) dignidade, honradez. (__) força divina conferida a alguém. (__) psíquico, relativo à alma. (__) falta com o dever por interesse ou por má fé. (__) venda ilícita de coisas sagradas ou espirituais. (__) governo por poucos e poderosos. (__) ponto fundamental indiscutível de doutrina ou sistema.
Correspondem corretamente:
a) 6 / 4 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7. b) 6 / 4 / 2 / 1 / 3 / 5 / 7. c) 6 / 3 / 5 / 1 / 2 / 7 / 4. d) 5 / 3 / 6 / 4 / 2 / 7 / 1. e) 4 / 2 / 5 / 6 / 1 / 3 / 7. 07. A palavra SANÇÃO com o significado de RATIFICAÇÃO ocorre apenas em: (FUVEST)
a) Aplicar SANÇÕES a grevistas não é direito nem dever de um presidente. b) Eventual SANÇÃO do presidente à nova lei, aprovada ontem, poderá desagradar a setores de todas as categorias. c) As SANÇÕES previstas na lei eleitoral não exercem influências significativas sobre a paixão dos militantes. d) O novo diretor prefere SANÇÕES a diálogos. e) O contrato prevê SANÇÕES para os inadimplentes. ―Agora os parlamentares concluem sua obra com a anuência unânime àquele dispositivo inconstitucional.‖
Folha de S. Paulo, 28/08/97.
08. A paráfrase correta do texto é: (FUVEST)
a) A maioria dos parlamentares aprova um certo dispositivo inconstitucional. b) Os parlamentares, sem exceção, aprovam o dispositivo inconstitucional anteriormente mencionado. c) Todos os parlamentares reprovam o dispositivo inconstitucional anteriormente mencionado. d) A maioria absoluta dos parlamentares boicotou um certo dispositivo inconstitucional. e) A maioria dos parlamentares conclui sua obra com indiferença à aprovação ou não de um certo dispositivo inconstitucional. 09. Na frase ―Busque Amor novas artes, novo engenho‖, assinale a alternativa que melhor contém o significado das palavras ―engenho‖ e ―arte‖, no verso transcrito acima: (FUVEST)
a) gênio/experiência e inspiração/destreza. b) índole/recursos e natureza/perícia. c) talento/invenção e técnica/artifício. d) inclinação/tendência e engano/dolo. e) instinto/regras e discernimento/preceitos. 10. Os pares acidente/incidente; cheque/xeque; vultoso/vultuoso; verão/estio são, respectivamente: (UEL) a) sinônimos, homônimos, parônimos e antônimos. b) parônimos, homônimos, parônimos e sinônimos. c) parônimos, parônimos, sinônimos e sinônimos. d) homônimos, homônimos, parônimos e sinônimos. e) sinônimos, parônimos, sinônimos e antônimos. 11. Estava _____ a _____ da guerra, pois os homens _____ nos erros do passado.
a) eminente / deflagração / incidiram. b) iminente / deflagração / reincidiram. c) eminente / conflagração / reincidiram. d) preste / conflaglação / incidiram. e) prestes / flagração / recindiram. 12. ―Durante a _____ solene era _____ o desinteresse do mestre diante da _____ demonstrada pelo político‖.
a) seção / fragrante / incipiência b) sessão / flagrante / insipiência.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
13
c) sessão / fragrante / incipiência. d) cessão / flagrante / incipiência. e) seção / flagrante / insipiência. 13. Na _____ plenária estudou-se a _____ de direitos territoriais a _____.
a) sessão / cessão / estrangeiros. b) seção / cessão / estrangeiros. c) secção / sessão / extrangeiros. d) sessão / seção / estrangeiros. e) seção / sessão / estrangeiros. 14. Há uma alternativa errada. Assinale-a:
a) A eminente autoridade acaba de concluir uma viagem. b) A catástrofe torna-se iminente. c) Sua ascensão foi rápida. d) Ascenderam o fogo rapidamente. e) Reacendeu o fogo do entusiasmo. 15. Há uma alternativa errada. Assinale-a:
a) cozer = cozinhar / coser = costurar. b) imigrar = sair do país / emigrar = entrar no país. c) comprimento = medida / cumprimento = saudação. d) consertar = arrumar / concertar = harmonizar. e) chácara = sítio / xácara = verso. 16. Nas passagens ―o português é derivado do latim...‖; ―o latim falado foi incorporando elementos linguísticos...‖ e ―Quando o Império Romano ruiu...‖, os termos em destaque significam, correta e respectivamente:
a) oriundo / absorvendo / desmoronou. b) origem / integrando / se consolidou. c) originário / buscando / desmantelou. d) fonte / descaracterizando / se desfez. e) procedente / modificando / ressurgiu. 17. Na frase ―A mãe é zelosa com seus filhos. Nada lhes falta‖, o significado contrário ao da palavra destacada é:
a) desleixada. b) rigorosa. c) cuidadosa. d) compreensiva. e) agressiva. 18. Muitos termos do texto aparecem ligados pela conjunção ―e‖; ocorre inadequação na troca de posição dos elementos sublinhados em:
a) ―... que coíba não somente os usos mas os abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação.‖ b) ―... que pune injúrias, difamações e calúnias.‖ c) ―bem como a violação dos direitos autorais, os plágios e outros recursos de apropriação indébita.‖ d) ―... os avanços da informática mais cedo ou mais tarde colocarão à disposição dos usuários e das autoridades.‖ e) ―Um jornal ou revista é processado se publicar sem autorização do autor um texto qualquer, ainda que em citação longa e sem aspas.‖
TEXTO PARA AS QUESTÕES 19 A 22
NÃO FALTOU SÓ ESPINAFRE
A crise não trouxe apenas danos sociais e
econômicos. Mostrou também danos morais. Aconteceu num mercadinho de bairro em
São Paulo. A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou à clientela.
Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão. Uma senhora havia arrematado todos os dez maços de espinafre. No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante.
Não tinha. Observaram que a verdura acabaria estragada. Ela explicou que ia cozinhar e congelar. Então, foram ao ponto: caramba, havia outras pessoas na fila, ela não poderia levar só o que consumiria de imediato?
―Não, estou pagando e cheguei primeiro‖, foi a resposta.
Compras exageradas nos supermercados, estoques domésticos, filas nervosas nos postos de combustível — teve muito comportamento na base de cada um por si.
Cabem nessa categoria as greves e manifestações oportunistas.
Governo, cedendo, também vou buscar o meu — tal foi o comportamento de muita gente.
Carlos A. Sardenberg. In: ―O Globo‖, 31/05/2018.
19. No contexto da passagem ―A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras...‖, o vocábulo ―diligente‖ indica:
a) inteligência. b) esperteza. c) honestidade. d) competência. e) eficiência. 20. O título dado ao texto — Não faltou só espinafre — indica que houve falta de algo mais, explicitado no texto:
a) ganância. b) egoísmo. c) solidariedade. d) vaidade. e) inteligência. 21. Em ―No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante.‖, tal pergunta teria valor de:
a) justificar a compra de todos os maços de espinafre. b) ironizar a atitude da senhora que comprara o espinafre. c) tentar identificar uma freguesa desconhecida. d) elogiar a preocupação da freguesa com seus clientes. e) indicar a necessidade maior de produtos pelos restaurantes. 22. Assinale a opção que apresenta o objetivo final do texto:
a) criticar as greves e o oportunismo político. b) mostrar a força dos movimentos populares. c) defender o direito à greve dos trabalhadores. d) destacar comportamentos inadequados nas crises. e) denunciar a falta de autoridade no país. 23. Os sinônimos de ―exilado‖, ―assustado‖, ―sustentar‖ e ―expulsão‖ são, respectivamente:
a) degredado, espavorido, suster e proscrição. b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição. c) degredado, espavorido, sustar e proscrição. d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição. e) degradado, espavorido, suster e prescrição. 24. Em ―O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva.‖, a palavra destacada é sinônima de:
a) imóvel. b) maravilhado.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
14
c) firme. d) sem respirar. e) indiferente. 25. Na passagem ―Ele é composto de movimentos circulares, concomitantes com respiratórios (...)‖, o adjetivo destacado é sinônimo de:
a) simultâneos. b) efêmeros. c) aleatórios. d) esporádicos. e) indispensáveis.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D C E E B C B B C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B A D B A A C E C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B D A B A * * * * *
SEMÂNTICA (II) EMPREGO DE TEMPOS E MODOS VERBAIS
Trata-se do tempo verbal, ou seja, se o verbo indica algo que já realizou, está realizando ou se ainda realizará. Temos três tempos verbais: Passado ou pretérito, presente e futuro.
1. Pretérito ou passado: Aconteceu antes do instante
que se fala. • Exemplo: Ontem fui à academia mais cedo. O pretérito pode ser: a) Pretérito perfeito: O fato passado foi concluído
totalmente. • Exemplo: Ele estudou toda a matéria hoje de manhã. b) Pretérito imperfeito: O fato passado não foi concluído
totalmente. • Exemplo: Ele conversava muito durante a aula. c) Pretérito mais-que-perfeito: O fato passado é anterior
a outro fato também passado e terminado. • Exemplo: Diogo falara de seus pais. → Atenção: O pretérito mais-que-perfeito apresenta
uma forma simples e duas compostas (uma no indicativo e outra, no subjuntivo). Em sua formação simples, ele é pouco usual na linguagem formal, sendo mais utilizado em textos poéticos. Já nas formas compostas, ele é bastante usado na linguagem coloquial (informal). Ele é formado pelo verbo ―ter‖ conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e o particípio do verbo principal.
• Exemplo: Quando eu cheguei na festa, ele já tinha saído 2. Presente: Acontece no instante da fala.
• Exemplo: Eu treino nesta academia. 3. Futuro: Acontecerá depois do instante da fala.
• Exemplo: Irei à academia daqui umas duas horas. O futuro pode ser: a) Futuro do presente: O fato acontece após o momento
da fala, mas já terminado antes de outro fato futuro. • Exemplo: Quando sua mãe chegar, eu contarei tudo para ela. b) Futuro do pretérito: Um fato futuro que pode ocorrer
depois de um fato passado. • Exemplo: Se eu tivesse os livros, estudaria nas férias. Emprego de modos verbais:
1. Indicativo – mostra uma certeza. A pessoa que fala é
precisa sobre o fato. • Exemplo: Eu gosto de feijoada. 2. Subjuntivo – Mostra incerteza. A pessoa fala mostra
dúvida sobre o fato. • Exemplo: Talvez eu viaje no final de semana. 3. Imperativo – mostra uma atitude de ordem ou
solicitação. • Exemplo: Não jogue bola agora. Formas nominais do verbo:
O verbo pode ter funções de nomes (nominais), como substantivo, adjetivo e advérbio. São chamadas de formas nominais do verbo o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum
tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque desempenham tanto função de verbo, como função de nome. Infinitivo
O infinitivo pode ser classificado em infinitivo pessoal (flexionado) e infinitivo impessoal (não flexionado). São utilizados em situações distintas. a) Infinitivo impessoal (não flexiona o verbo): dá
significado ao verbo de modo indefinido e vago. Ele deve ser usado em locuções verbais, sem sujeito definido, com sentido imperativo, entre outros.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
15
• Exemplo: É preciso amar. b) Infinitivo pessoal (flexiona o verbo): Ele deve ser
usado com sujeito definido, quando desejar determinar o sujeito, quando o sujeito da segunda oração for diferente e quando uma ação for correspondente. 1ª pessoa do singular: sem desinências. 2ª pessoa do singular: Radical + ES. 3ª pessoa do singular: sem desinências. 1ª pessoa do plural: Radical + MOS. 2ª pessoa do plural: Radical + DES. 3ª pessoa do plural: Radical + EM. Gerúndio
Pode servir como adjetivo ou advérbio. A ação está acontecendo no momento que se fala. • Exemplos: Eu estou falando com você Na escola havia meninos vendendo picolés. (função de adjetivo). Quando estava saindo de casa, vi um carro branco. (função de advérbio). Particípio
Resultado de uma ação que terminou, podendo flexionar em gênero número e grau. È usado na formação dos tempos compostos. • Exemplo: O João tem dormido cedo nas últimas semanas.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Uma revista de Educação mostrava o seguinte segmento: ―Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas, afluentes de rios ou a morfologia dos insetos para ter depois seus conhecimentos testados e avaliados por notas que não diferenciam as vocações ou interesses individuais. É uma avaliação cruel, que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa‖. O gerúndio ―obrigando‖ poderia ser adequadamente substituído pela seguinte forma desenvolvida: (DPE/RJ | 2019 | FGV | Técnico Superior Especializado - Administração de Empresas) a) e obrigam. b) e para obrigar. c) mesmo que obriguem. d) quando obrigam. e) à medida que obrigam.
02. Na sentença ―Toda vez que pinto um retrato perco um amigo.‖, as formas verbais sublinhadas mostram perfeita concordância de tempos; as formas verbais a seguir que mostram inadequação são: (AL/RO | 2018 | FGV | Analista Legislativo) a) pintava / perdia. b) pinte / tenho perdido. c) tivesse pintado / teria perdido. d) pintasse / perderia. e) pintara / tinha perdido. 03. Na oração ―Hoje vivemos num mundo de caixas-pretas.‖, o verbo em destaque na oração acima está flexionado no presente do indicativo. Todavia, sabe-se que ele apresenta essa mesma grafia quando flexionado na primeira pessoa do plural do: (SEDUC/MT | 2017 | IBFC | Técnico Administrativo Educacional) a) Pretérito Imperfeito do Indicativo. b) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. c) Futuro do Pretérito do Indicativo. d) Pretérito Perfeito do Indicativo. e) Pretérito-mais-que-perfeito. 04. ―A democracia não é o mais perfeito dos mundos, mas certamente sua prática tem trazido muitos benefícios ao convívio entre as pessoas, já que se trata de um exercício contínuo de tolerância; talvez não nos damos conta desses benefícios em função de alguns problemas, que já tinham sido detectados na Antiguidade por Platão, como a oportunidade de demagogos exerceram sua prática.‖ Com base no segmento de texto acima, assinale a opção que indica a forma verbal empregada equivocadamente: (AL/BA | 2014 | FGV | Técnico de Nível
Superior) a) tem trazido. b) se trata. c) damos. d) tinham sido detectados. e) exercerem. 05. A forma verbal abaixo corretamente conjugada é: (ALERJ | 2017 | FGV | Especialista Legislativo - Registro de Debates) a) Todos se entreteram com os novos jogos. b) Os turistas reouveram seus pertences. c) O repórter interviu na discussão. d) Quando o ver de novo, dar-lhe-ei o recado. e) Ele se manteu no cargo até o último momento. 06. O verbo destacado na frase ―Embora a água existente na Terra seja suficiente para todos‖ encontra-se conjugado no: (Prefeitura de Lagoa Alegre/PI
| 2019 | CC | Técnico em Enfermagem) a) presente do indicativo. b) imperativo afirmativo. c) presente do modo subjuntivo. d) futuro do modo subjuntivo. 07. Observe as correspondências entre os tempos do verbo ―manter‖.
I. Como usei a rolha de sabugo, a garrafa _____ um sabor de infância. II. Se eu não usasse o sabugo, ela não _____ o sabor de infância. III. Vou adorar, se ela _____ o sabor da infância. A opção que completa, corretamente, as três lacunas é: (Câmara de Porto Velho/RO | 2018 | IBADE)
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
16
a) manteve / manteria / mantiver. b) mantinha / manteria / mantivesse. c) mantenha / mantinha / manter. d) manterá / mantinha / manter. e) mantenha / mantivesse / manter. 08. Na passagem ―(...) seja na nossa carreira, seja no nosso trabalho, seja na família, seja no atingimento de algum objetivo.‖, pode-se notar que para dar ênfase ao valor da persistência, o autor empregou a forma verbal no: (Prefeitura de Maracanã/PA | 2019 |
CETAP) a) presente do subjuntivo. b) pretérito imperfeito do subjuntivo. c) futuro do subjuntivo. d) futuro do presente do indicativo. e) pretérito perfeito.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A B D C B C A A * *
MORFOLOGIA RECONHECIMENTO, EMPREGO E SENTIDO DAS
CLASSES GRAMATICAIS
As palavras da língua portuguesa são classificadas dentro de dez classes gramaticais, conforme reconhecidas pela maioria dos gramáticos: substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome. Uma palavra é enquadrada numa classe pelas suas características, embora existam muitas palavras que não são enquadradas nas classes tradicionais, pois não funcionam exatamente como nenhuma delas. As palavras denotativas parecem advérbios, mas não fazem o que o advérbio faz, isto é, não modificam verbo, adjetivo ou outro advérbio. Algumas classes são variáveis, seguem regras de concordância, ou seja, flexionam-se em número e gênero, como o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo. Outras permanecem invariáveis, sem flexão, sem concordância, como advérbios, conjunções, preposições. Observe: ―João é bonito, Joana é feia e seus filhos são medianos‖; ―João anda apressadamente e Joana, lentamente‖. Na primeira sentença há concordância de gênero e número. Isso porque ―bonito‖ é adjetivo, ―seus‖ é pronome e ―filhos‖ é substantivo, todas classes variáveis. No segundo, o termo ―lentamente‖ não varia, porque é advérbio, uma classe invariável. Também veremos que há uma estreita relação entre a classe da palavra e sua função sintática. Por exemplo, a palavra ―hoje‖ é um advérbio de tempo, da classe dos advérbios. Qual é sua função sintática? É expressão de uma circunstância de tempo, um adjunto adverbial de tempo. Já a palavra ―ele‖ pertence à classe dos pronomes, mas pode ter várias funções sintáticas, dependendo do contexto. Na frase ―ele é bonito‖, ― ele‖ é sujeito. Na Frase ―Contei a ele‖, tem função sintática de objeto indireto. Já na frase ―ela na verdade é ele‖, terá função sintática de predicativo do sujeito. Trarei detalhes sobre isso...=) Muitas vezes um conjunto de palavras equivale
a uma classe gramatical, podendo substituir essa palavra sem prejuízo à correção ou ao sentido. Aos conjuntos formados por palavras chamamos de locuções e serão classificadas de acordo com a classe que substituem. Por exemplo, podemos ter uma pessoa ―corajosa‖ (adjetivo) ou uma pessoa ―com coragem‖ (locução adjetiva). Observe que um conjunto de duas palavras, usada para qualificar o substantivo, substituiu perfeitamente o adjetivo que realizaria essa função.
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (I)
SUBSTANTIVO
O substantivo dá nome aos objetos e às coisas. Para transformar uma palavra de outra classe gramatical em um substantivo, basta precedê-lo de um artigo. • Exemplo: ―O não é uma palavra dura.‖ → Atenção: Artigos sempre precedem palavras
substantivadas, mas substantivos (que são substantivos em sua essência) não precisam necessariamente ser precedidos por artigos. Classificação
a) Quanto à existência de radical, o substantivo pode ser
classificado em: - Primitivo: palavras que não derivam de outras. • Exemplos: flor, pedra. - Derivado: vem de outra palavra existente na língua. O substantivo que dá origem ao derivado (substantivo primitivo) é denominado radical. • Exemplos: floreira, pedreira. b) Quanto ao número de radicais, pode ser classificado
em: - Simples: tem apenas um radical. • Exemplos: água, couve, sol. - Composto: tem dois ou mais radicais. • Exemplos: água-de-cheiro, couve-flor, girassol, lança-perfume. c) Quanto à semântica:
Quando se referir a especificação dos seres, pode ser classificado em: - Concreto: designa seres que existem ou que podem existir por si só. • Exemplos: casa, cadeira... - Abstrato: designa ideias ou conceitos, cuja existência está vinculada a alguém ou a alguma outra coisa. • Exemplos: justiça, amor, trabalho... - Próprio: denota um elemento específico dentro de um grupo, sendo grafado sempre com letra maiúscula. • Exemplos: Fernanda, Portugal, Brasília, Fusca... - Coletivo: um substantivo coletivo designa um conjunto de seres de uma mesma espécie no singular. No
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
17
entanto, vale ressaltar que não se trata necessariamente de quaisquer seres daquela espécie. • Exemplos: biblioteca, orquestra e turma. Flexão do substantivo
a) Quanto ao gênero:
Os substantivos flexionam-se nos gêneros masculino e feminino e quanto às formas, podem ser: - Substantivos biformes: apresentam duas formas originadas do mesmo radical. • Exemplos: menino/menina; traidor/traidora; aluno/aluna... - Substantivos heterônimos: apresentam radicais distintos e dispensam artigo ou flexão para indicar gênero. • Exemplos: bode/cabra; arlequim/colombina; arcebispo/arquiepiscopisa; bispo/episcopisa... - Substantivos uniformes: apresentam a mesma forma para os dois gêneros, podendo ser classificados em: - Epicenos: referem-se a animais ou plantas, e são invariáveis no artigo precedente, acrescentando a palavras macho e fêmea, para distinção do sexo do animal. • Exemplos: a onça macho/a onça fêmea; o jacaré macho/o jacaré fêmea; a foca macho/a foca fêmea. - Comuns de dois gêneros: o gênero é indicado pelo artigo precedente. • Exemplos: o dentista/a dentista. - Sobrecomuns: invariáveis no artigo precedente. • Exemplos: a criança, a testemunha, o indivíduo. b) Quanto ao número
Os substantivos apresentam singular e plural. • Os substantivos simples, para formar o plural, substituem a terminação em vogal ou ditongo oral por s; a terminação em ão, por ões, ães, e ãos. - As terminações em s, r, e z, por es; terminações em x são invariáveis; terminações em al, el, ol, ul, trocam o l por is, com as seguintes exceções: ―mal‖ (males), ―cônsul‖ (cônsules), ―mol‖ (mols), ―gol‖ (gols). - A terminação em il, é trocado o l por is (quando oxítono) ou o il por eis (quando paroxítono). • Os substantivos compostos flexionam-se da seguinte forma quando ligados por hífen: - se os elementos são ligados por preposição, só o primeiro varia. • Exemplo: pés-de-moleque. - se os elementos são formados por palavras repetidas ou por onomatopeia, só o segundo elemento varia. • Exemplos: tico-ticos, pingue-pongues. - nos demais casos, somente os elementos originariamente substantivos, adjetivos e numerais variam. • Exemplos: couves-flores, guardas-noturnos, amores-perfeitos, bem-amados, ex-alunos.
c) Quanto ao grau
Os substantivos possuem três graus, o aumentativo, o diminutivo e o normal que são formados por dois processos: Analítico: o substantivo é modificado por adjetivos que indicam sua proporção. • Exemplos: rato grande, gato pequeno. Sintético: modifica o substantivo através de sufixos que podem representar: - além de aumento ou diminuição, o desprezo ou um sentido pejorativo no aumentativo sintético. • Exemplos: gentalha, beiçorra. - o afeto ou sentido pejorativo no diminutivo sintético. • Exemplos: filhinho, livreco.
ADJETIVO
Tem a função de delimitar e qualificar o significado de um substantivo. • Exemplos: arredondada, azul, belo, feio, romântico... Locução adjetiva
As locuções adjetivas são a junção entre uma preposição e um substantivo, operando na frase como um adjetivo. • Exemplos: cachorro de rua; unhas de gato e nariz de águia... 1) A anteposição ou a posposição de alguns adjetivos aos substantivos implica mudança de sentido. • Exemplos: Grande homem (homem destacado). homem grande (relativo à altura). 2) Alguns nomes são pronomes adjetivos quando antepostos aos substantivos. • Exemplos: Certo homem (determinado homem). Homem certo (homem adequado). Tipos de Adjetivos
a) Adjetivo Simples: apresenta somente um radical. • Exemplos: pobre, magro, triste... b) Adjetivo Composto: apresenta mais de um radical. • Exemplos: superinteressante, luso-brasileiro... c) Adjetivo Primitivo: palavra que dá origem a outros adjetivos. • Exemplos: puro, bom, alegre... d) Adjetivo Derivado: palavras que derivam de substantivos ou verbos. • Exemplos: escultor (verbo esculpir), formoso (substantivo formosura)... Gênero dos Adjetivos
a) Adjetivos Uniformes - apresentam uma forma para os dois gêneros (feminino e masculino). • Exemplo: feliz...
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
18
b) Adjetivos Biformes - a forma varia conforme o gênero (masculino e feminino). • Exemplos: carinhoso, carinhosa... Número dos Adjetivos
Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. Regras em Flexão dos Adjetivos
Grau dos Adjetivos
Quanto ao grau, os adjetivos são classificados em:
1. Grau Comparativo: utilizado para comparar
qualidades. a) Comparativo de Igualdade: O professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. b) Comparativo de Superioridade: Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. c) Comparativo de Inferioridade: João é menos feliz que Pablo. 2. Grau Superlativo: utilizado para intensificar
qualidades. • Superlativo Absoluto: a) Analítico: A moça é extremamente organizada. b) Sintético: Luiz é inteligentíssimo. • Superlativo Relativo de: a) Superioridade: A menina é a mais inteligente da turma. b) Inferioridade: O garoto é o menos esperto da classe. Adjetivos Pátrios
Chamados também de "adjetivos gentílicos", os adjetivos pátrios indicam o local de origem ou nacionalidade da pessoa. • Exemplos: brasileiro, paulista, europeu, espanhol... Locução Adjetiva
A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. • Exemplos: Amor de mãe / Amor maternal. Doença de boca / Doença bucal. Pronome Adjetivo
Os pronomes adjetivos são aqueles em que o pronome exerce a função de adjetivo. Surgem acompanhados do substantivo, modificando-os. • Exemplos: Este livro é muito bom. (acompanha o substantivo livro). Aquela é a empresa onde ele trabalha. (acompanha o substantivo empresa).
ARTIGO
É o termo que vem antes do substantivo. • Exemplos: o, a, os, as, um, uma, uns, umas.
1. Artigo Definido: utilizado para apontar um ou mais
seres especificamente, nomes indicadores de ideias abstratas (vícios e virtudes), antes dos nomes dos idiomas, antes dos nomes de festas religiosas. • Exemplos: ―A Holanda vendeu seu petróleo.‖ ‗Ele sempre amou a justiça.‖ 2. Artigo Indefinido: deixa oculto o termo a qual ser se
refere. Ele generaliza o substantivo. • Exemplo: ―Um suspeito passou por aqui.‖
NUMERAL
É a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. • Exemplos: ―Os quatro últimos ingressos foram vendidos há pouco.‖ ―Eu quero café duplo, e você?‖ Existem mais algumas palavras consideradas numerais porque denotam quantidade, proporção ou ordenação. • Exemplos: década, dúzia, par, ambos (as), novena. Emprego do numeral
1. Para a designar datas, horas, capítulos e parágrafos. • Exemplos: 23 de junho; são 23h; capítulo 22, pág. 25. 2. Para designar titularidades, séculos e parte de obra, empregam-se os ordinais até o dez e os cardinais daí por diante. Se o numeral anteceder o substantivo empregam-se os ordinais. • Exemplos: século sexto e século vinte e um. 3. Em artigos de leis, decretos, portarias, regulamentos, usam-se os ordinais até o nove e os cardinais de dez em diante. • Exemplos: artigo segundo; inciso quarto e artigo vinte e dois. 4. ―Ambos‖ e ―ambas‖ são considerados numerais duais, pois sempre se referem a um par de coisas ou de pessoas. Logo, ―ambos os dois‖, ―ambos de dois‖ são expressões pleonásticas e devem ser evitadas em linguagem formal. • Exemplos: ―... porque um nasceu de outro, a não ser que ambos formem duas metades de um só.‖ (Machado de Assis) ―Assim dizendo, o pajé passou o cachimbo ao estrangeiro; e entraram ambos na cabana.‖ (José de Alencar) 5. Ao lado das grafias ―bilhão‖, ―trilhão‖ e ―quatrilhão‖, existem as menos usuais, mas igualmente corretas, ―bilião‖, ―trilião‖ e ―quatrilião‖. Esses numerais não apresentam flexão de gênero. • Exemplo: ―... dentre os 15 milhões de pessoas participantes.‖ ―Nike perde R$ 1 bilhão em valor de mercado após tênis estourar e causar lesão em promessa do basquete.‖
EXERCÍCIOS CORRELATOS
―Os pobres dos países ricos são menos pobres do que os pobres dos países pobres. Mas os ricos dos
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
19
países pobres não são mais pobres do que os ricos dos países ricos.‖ (Jô Soares)
01. Com base na leitura do texto acima, assinale o item em que está correta a identificação da classe a que pertencem as palavras destacadas:
a) menos pobres que os pobres / mais pobres que os ricos. (adjetivos). b) menos pobres que os pobres / mais pobres do que os ricos. (adjetivos). c) os ricos dos países pobres / os ricos dos países ricos. (substantivos). d) os pobres dos países ricos / os pobres dos países pobres. (adjetivos). 02. Há certo número de substantivos cuja significação varia de acordo com a mudança de gênero imposta a ele pela estrutura frasal em que ocorre: a partir dessa informação, assinale o item em que todas as palavras mudam de significado de acordo com o gênero em que são empregadas:
a) capital / nascente / cabeça. b) cura / diabete / edema. c) grama / sanduíche / plasma. d) motocicleta / apendicite / cisma. 03. Indique todos os casos em que estão corretas as formas do plural:
a) çidadões / cristãos / capelães / vulcões. b) órfãos / cristões / guardiões / bênçãos. c) melões / capitães / sótões / tabeliães. d) vilões / cidadãos / bênçãos / sótãos. 04. Em ―Ao começar a trovoada, o dentista mal teve tempo de estacionar seu carro na garagem.‖, os substantivos classificam-se como:
a) derivado, derivado e primitivo. b) derivado, primitivo e primitivo. c) primitivo, derivado e derivado. d) primitivo, primitivo e derivado. 05. Considerando que ―o grama: unidade de medida x a grama: capim‖, assinale a alternativa em que a palavra, passando para o feminino, não muda de sentido:
a) O rádio / A rádio. b) O colega / A colega. c) O estepe / A estepe. d) O cabeça / A cabeça. 06. Assinale a alternativa em que todas as palavras são do gênero feminino:
a) omoplata / apendicite / cal / ferrugem. b) cal / faringe / dó / alface / telefonema. c) criança / cônjuge / champanha / dó / afã. d) cólera / agente / pianista / guaraná / vitrina. 07. Nas palavras seguintes, há uma com erro de flexão:
a) irmãozinhos. b) papelzinhos. c) coraçõezinhos. d) heroizinhos. 08. Assinale a alternativa em que o adjetivo que qualifica o substantivo seja explicativo:
a) dia chuvoso. b) água morna. c) moça bonita. d) fogo quente.
09. Assinale a alternativa que contém o grupo de adjetivos gentílicos, relativos a ―Japão‖, ―Três Corações‖ e ―Moscou‖:
a) Oriental / Tricardíaco / Moscovita. b) Nipônico / Tricordiano / Soviético. c) Japonês / Trêscoraçoense / Moscovita. d) Nipônico / Tricordiano / Moscovita. 10. O item em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado é:
a) hibernal - de inverno. b) filatélico - de folhas. c) discente - de alunos. d) docente - de professor. 11. Em que caso a palavra destacada não tem valor de adjetivo?
a) Um branco, velho, pedia esmolas. b) Um velho, branco, pedia esmolas. c) Era um dia cinzento. d) O sabão usado desbotou o verde da camisa. 12. Os superlativos sintéticos eruditos de ―negro‖, ―veloz‖ e ―bom‖ são, respectivamente:
a) negríssimo / velocíssimo / ótimo. b) nigérrimo / velocíssimo / ótimo. c) nigérrimo / velocíssimo / boníssimo. d) negríssimo / velocíssimo / boníssimo. 13. O termo em destaque é um adjetivo desempenhando a função de um nome em:
a) ―O coitado está se queixando dela com toda razão.‖ b) ―É uma palavra assustadora.‖ c) ―Num joguinho aceita-se até o cheque frio.‖ d) ―Entre ter um caso e uma casinho há diferença.‖ 14. Assinalar a alternativa em que todas as palavras fazem o plural da mesma forma do termo grifado no trecho ―Portanto, repito, esse lamentável episódio...‖:
a) intelectual / verossímil / terrível. b) gradual / terrível / intelectual. c)impensável / inverossímil / indiscutível. d) indiscutível / jornal / atual. 15. Determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo:
a) Estes são os candidatos que lhe falei. b) Procure-o, ele é o médico! Ninguém o supera. c) Certeza e exatidão, estas qualidades não as tenho. d) Os problemas que o afligem não me deixam descuidado. 16. Em qual frase há erro quanto ao uso do artigo:
a) Nem todas opiniões são valiosas. b) Disse-me que conhece todo o Brasil c) Leu todos os dez romances do escritor. d) Andou por todo Portugal. 17. Em qual das alternativas colocaríamos o artigo definido feminino para todos os substantivos?
a) sósia / doente / lança-perfume. b) dó / telefonema / diabetes. c) clã / eclipse / pijama. d) cal / elipse / dinamite. 18. Os ordinais referentes aos números 80, 300, 700 e 90 são, respectivamente:
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
20
a) octagésimo / trecentésimo / septingentésirno / nongentésimo. b) octogésimo / trecentésimo / septingentésimo / nonagésimo. c) octingentésimo / tricentésimo / septuagésimo / nonagésimo. d) octogésimo / tricentésimo / septuagésimo / nongentésimo. 19. Assinale a opção em que o numeral tem valor hiperbólico:
a) Naquele estádio havia quinhentas pessoas. b) Mais de cem milhões de brasileiros choraram. c) Com mil anjos, estaremos sempre protegidos. d) Ele foi o quadragésimo colocado. 20. Triplo e tríplice são numerais:
a) Ordinal o primeiro e multiplicativo o segundo. b) Ambos ordinais. c) Ambos cardinais. d) Ambos multiplicativos.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B A D A B A B D D B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B A C B D D B C D
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (II)
PRONOME
É a palavra variável em gênero, número e pessoa que substitui ou acompanha um substantivo. Classificação dos Pronomes
1. Pronomes Pessoais
Número Pessoa Retos Oblíquos
Singular 1ª eu me, mim, comigo.
2ª tu te, ti, contigo.
3ª ele (a) se, si, consigo, o, a, lhe.
Plural 1ª nós nos, conosco
2ª vós vos, convosco.
3ª eles (as) se, si, consigo, os, as,
lhes.
Os pronomes oblíquos O, A, OS, AS podem assumir as seguintes formas. a) Lo, la, los, las: depois de verbos terminados em R, S, Z.
• Exemplo: Receber + o = Recebê-lo. b) No, na, nos, nas: depois de verbos terminados em ditongo nasal (am, em, ão, õe).
• Exemplo: Peguem + o = Peguem-no. c) Os oblíquos tônicos vêm precedidas de preposição. • Exemplo: Tinha dentro de si um medo enorme. d) Os pronomes pessoais do caso reto, funcionam sempre como sujeito. • Exemplo:
Ele compareceu à festa. 2. Pronomes Possessivos
Transmitem, principalmente, uma relação de posse, ou seja, indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso. • Exemplo: Minha casa é confortável.
Masculino Feminino
meu (s) minha (s)
teu (s) tua (s)
seu (s) sua (s)
nosso (s) nossa (s)
vosso (s) vossa (s)
3. Pronomes Demonstrativos
Situam quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Estes pronomes contraem-se com as preposições ―a‖, ―em‖ e ―de‖. • Exemplo: Este livro que estou nas mãos é do meu pai.
Situação no Espaço
Situação no Tempo
Pronomes Variáveis
Pronomes Invariáveis
Proximidade da pessoa que fala.
Presente. Este, esta,
estes, estas. Isto.
Proximidade da pessoa com quem
se fala.
Passado ou Futuro
próximos.
Esse, essa, esses, essas.
Isso.
Proximidade da pessoa
de quem se fala.
Passado Remoto.
Aquele, aquela, aqueles, aquelas.
Aquilo.
4. Pronomes Interrogativos
Referem-se sempre à 3ª pessoa gramatical e são utilizados para interrogar, ou seja, para formular perguntas de modo direto ou indireto. • Exemplo: Quantos anos você faz este ano?
Invariáveis Variáveis
Qual / Quais Que
Quanto / Quanta Quem
Quantos / Quantas -
5. Pronomes Relativos
Relacionam-se sempre com o termo da oração que está antecedente, servindo de elo de subordinação das orações que iniciam. • Exemplo: O garoto ao qual me referi está ali.
Invariáveis Variáveis
que o qual, a qual, os quais, as quais
quem cuja, cujo, cujas, cujos
onde / aonde quanto, quanta, quantos, quantas
6. Pronomes Indefinidos
Referem-se sempre à 3ª pessoa gramatical, indicando que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada e imprecisa. • Exemplo:
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
21
Nenhum de nós sabe nada.
Pessoas ou
Objetos
Indefinidos Variáveis
Masculino Feminino
algum, alguns. alguma, algumas.
nenhum, nenhuns. nenhuma, nenhumas.
muito, muitos. muita, muitas.
pouco, poucos. pouca, poucas.
tanto, tantos. tanta, tantas.
todo, todos. toda, todas.
outro, outros. outra, outras.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Assinale a frase em que se verifica uma transgressão ao registro culto e formal da língua no que se refere ao emprego do pronome relativo:
a) O resultado a que chegaram confirmou sua intuição. b) Os colegas de trabalho com quem não simpatizava foram excluídos do processo. c) Recebi o relatório de um gerente de cujo nome não me recordo. d) São várias as reivindicações por que estão lutando os trabalhadores. e) O funcionário o qual me referi não tem nenhuma dose de carisma. 02. Abaixo foram feitas alterações na redação da oração adjetiva no final do período ―É possível utilizar a política para acelerar a aquisição de direitos e o fim do déficit de reconhecimento que as atinge‖. Das alterações feitas, está incorreta quanto ao emprego do pronome relativo, de acordo com as normas da língua culta, a seguinte:
a) com que elas convivem. b) de que elas se envergonham. c) cuja existência está encoberta pelo preconceito. d) contra o qual elas tanto lutam. e) onde se reduz o papel da mulher na sociedade. 03. O pronome relativo que difere dos demais, nos trechos abaixo, quanto à função sintática, é:
a) ―... que aliado ao conhecimento e habilidades pode transformar-se.‖ b) ―... que tiverem atitude e criatividade.‖ c) ―... que passaram a existir.‖ d) ―... que ninguém está conseguindo ver.‖ e) ―... que duvidou e provou o contrário.‖ 04. A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta:
a) É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por exemplo). b) O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao substantivo mapa na expressão ―cujo mapa‖. c) O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número. d) O pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a coisas em geral. e) O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número. 05. Na passagem ―A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho; ____, porém, estavam mais gastos que ____.‖, assinale o item que completa convenientemente as lacunas:
a) esses / aquela.
b) estes / aquela. c) estes / esses. d) aqueles / esta. e) estes / esses. 06. Tendo em vista o emprego dos pronomes relativos, complete corretamente as lacunas da sentença: ―A desigualdade jurídica do feudalismo ____ alude o autor se faz presente ainda hoje nos países ____ terras existe visível descompasso entre a riqueza e a pobreza.‖
a) a qual / cujas. b) a que / em cujas. c) à qual / em cuja as. d) o qual / por cujas. e) ao qual / cuja as. 07. Assinale o item em que não aparece pronome relativo:
a) A menina que está ao seu lado é minha irmã. b) Temos que estudar mais. c) A estrada por que passei é estreita. d) A prova que faço não é difícil. e) A festa a que assisti foi ótima. 08. Encontramos pronome indefinido em:
a) ―Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado.‖ b) ―Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las.‖ c) ―A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa.‖ d) ―Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas.‖ e) ―Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa.‖ 09. Identifique a oração em que a palavra ―certo‖ é pronome indefinido:
a) Certo perdeste o juízo. b) Certo rapaz te procurou. c) Escolheste o rapaz certo. d) Marque o conceito certo. e) Não deixe o certo pelo errado. 10. Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das frases.
I. Quando saíres, avisa-nos que iremos ____. II. Meu pai deu um livro para _____ ler. III. Não se ponha entre _____ e ela. IV. Mandou um recado para você e para _____. Assinale-a:
a) contigo / eu / eu / eu. b) com você / mim / mim / mim. c) consigo / mim / mim / eu. d) consigo / eu / mim / mim. e) contigo / eu / mim / mim.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E E D E B B B A B E
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (III)
VERBO
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
22
É a palavra capaz de exprimir uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou um fato. Flexiona-se em modo, tempo, número e pessoa. • Exemplos: ação (correr); estado (ficar); fenômeno (chover); ocorrência (nascer); desejo (querer). Estrutura das Formas Verbais
Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos: a) Radical: é a parte invariável, que expressa o significado essencial do verbo. • Exemplos: fal-ei; fal-ava (radical fal-). b) Tema: é o radical seguido da vogal temática que indica a conjugação a que pertence o verbo. • Exemplo: fala-r. São três as conjugações: 1ª - Vogal Temática - A - (falar). 2ª - Vogal Temática - E - (vender). 3ª - Vogal Temática - I - (partir). c) Desinência modo-temporal: é o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. • Exemplos: falávamos (pretérito imperfeito do modo indicativo). falasse (pretérito imperfeito do subjuntivo). d) Desinência número-pessoal: é o elemento que designa a pessoa do discurso (1ª, 2ª ou 3ª) e o número (singular ou plural). • Exemplos: falamos (indica a 1ª pessoa do plural.) falavam (indica a 3ª pessoa do plural.) → Atenção: O verbo pôr, assim como seus derivados
(compor, repor, depor, etc.), pertencem à 2ª conjugação, pois a forma arcaica do verbo pôr era poer. A vogal ―e‖, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo: põe, pões, põem, etc. Classificação dos Verbos
Classificam-se em: a) Regulares: são aqueles que possuem as desinências
normais de sua conjugação e cuja flexão não provoca alterações no radical. • Exemplos: canto, cantei, cantarei, cantava e cantasse. b) Irregulares: são aqueles cuja flexão provoca
alterações no radical ou nas desinências. • Exemplos: faço, fiz, farei e fizesse. c) Defectivos: são aqueles que não apresentam
conjugação completa. São: impessoais, unipessoais e pessoais. - Impessoais: são os verbos que não têm sujeito.
Normalmente, são usados na terceira pessoa do singular. a) haver, quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou fazer (em orações temporais). • Exemplo: Havia poucos ingressos à venda. (havia = existiam). b) fazer, ser e estar (quando indicam tempo).
• Exemplo: Faz invernos rigorosos no Sul do Brasil. c) Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais: chover, ventar, nevar, gear, trovejar e amanhecer. - Unipessoais: conjugam-se apenas nas terceiras
pessoas do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais, como: bramar (tigre); bramir (crocodilo); cacarejar (galinha) e o coaxar (sapo) Os principais verbos unipessoais são: cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer e ser. • Exemplo: Cumpre trabalharmos bastante. d) Abundantes: são aqueles que possuem mais de uma
forma com o mesmo valor. Geralmente, esse fenômeno costuma ocorrer no particípio, em que, além das formas regulares terminadas em -ado ou -ido, surgem as chamadas formas curtas (particípio irregular). • Exemplo: imprimir: imprimido/impresso; eleger: elegido/eleito. e) Anômalos: são aqueles que incluem mais de um
radical em sua conjugação. • Exemplo: vou/ides/foste; ponho/pus. f) Auxiliares: são aqueles que entram na formação dos
tempos compostos e das locuções verbais. O verbo principal, quando acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Modos verbais e formas nominais: emprego
Modos Verbais: a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo pode ser explicitada pelo modo verbal. - O modo indicativo quando afirma, interroga ou nega
fatos, considerando que eles ocorreram, ocorrem ou ocorrerão. • Exemplo: Pedirão desculpas a você. - O modo subjuntivo expressa um fato considerado
pelo falante como uma possibilidade, um receio, um desejo. • Exemplo: Talvez peçam desculpas a você. - O modo imperativo, o falante dirige-se a um ouvinte
para dar uma ordem, um conselho ou fazer um pedido. • Exemplo: Peça logo desculpas. 1. Modo Indicativo
Presente a) Expressa um fato que ocorre no momento em que se fala. • Exemplo: As águas atingem um metro, afirma o locutor da TV. b) Expressa uma verdade científica, uma lei, um fato real que data de muito tempo e deve durar por tempo indefinido. É chamado de presente durativo. • Exemplo: O interior do planeta Terra gira mais depressa.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
23
c) Expressa uma ação habitual ou frequente. Nesse caso, é chamado de presente habitual ou frequentativo. • Exemplo:
Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã
(Chico Buarque)
d) Expressas fatos passados. É chamado de presente narrativo ou histórico. É bastante utilizado em textos jornalísticos, principalmente nas manchetes, para transmitir ao leitor a impressão de que os fatos são recentes. • Exemplo: Enchente provoca emergência no Paraná. e) É utilizado em lugar de futuro. • Exemplo: Volto terça-feira que vem. f) É utilizado para substituir o imperativo, expressando de forma delicada um pedido ou ordem. Compare as duas frases: • Exemplo: Resolva o problema. (imperativo) Você me resolve o problema? (presente) g) Substitui o futuro do subjuntivo. • Exemplo: Se você vem, traga-me o material. (presente) Se você vier, traga-me o material. (futuro do subjuntivo)
1ª conjugação (-ar) verbo
falar
2ª conjugação (-er) verbo
beber
3ª conjugação (-ir) verbo
dividir
Eu falo Eu bebo Eu divido
Tu falas Tu bebes Tu divides
Ele fala Ele bebe Ele divide
Nós falamos Nós bebemos Nós dividimos
Vós falais Vós bebeis Vós dividis
Eles falam Eles bebem Eles dividem
Pretérito Imperfeito a) Expressa um fato não concluído no passado. • Exemplo: Nos primeiros anos do século XX, o restrito círculo das sociedades industrializadas vivia momentos de euforia. b) Expressa um fato habitual ou repetido no passado. É chamado de pretérito imperfeito frequentativo. • Exemplo: Há sérios indícios de que os membros da realeza se casavam e se acasalavam no seio da mesma família. c) Quando se expressam dois fatos concomitantes, o processo que estava ocorrendo e que cessa quando ocorre outro é expresso pelo pretérito imperfeito. • Exemplo: O ônibus fazia a linha Rio-São Paulo e tombou quando o motorista desviou do engavetamento. d) É utilizado para iniciar narrativas, lendas, fábulas, em geral com o verbo ser, indicando tempo vago, impreciso. • Exemplo: Era uma vez um menino maluquinho... e) Substitui o futuro do pretérito. • Exemplo: Se eu pudesse ficar sem escrever, não escrevia. Escrevo porque não tem jeito.
f) Substitui o presente do indicativo para conotar maior polidez. • Exemplo: Queria que vocês caprichassem mais nos trabalhos (Quero que vocês caprichem mais...) g) É utilizado na linguagem infantil, principalmente para definir papéis nas brincadeiras. • Exemplo: ―Agora eu era o herói / E o meu cavalo só falava inglês...‖ (Chico Buarque)
1ª conjugação (-ar) verbo
amar
2ª conjugação (-er) verbo
comer
3ª conjugação (-ir) verbo permitir
Eu amava Eu comia Eu permitia
Tu amavas Tu comias Tu permitias
Ele amava Ele comia Ele permitia
Nós amávamos Nós comíamos Nós permitíamos
Vós amáveis Vós comíeis Vós permitíeis
Eles amavam Eles comiam Eles permitiam
Pretérito Perfeito a) Indica um processo completamente concluído em relação ao momento em que se fala. • Exemplo: O europeu chegou ao Novo Mundo com uma bagagem repleta de superstições e preconceitos e atirou-se às conquistas, sob a justificativa de estar a serviço de Deus e de Sua Majestade. b) A forma composta expressa um processo passado que se repetiu ou se repete até o presente. • Exemplo: Não tenho estudado música.
1ª conjugação (-ar) verbo
andar
2ª conjugação (-er) verbo
vender
3ª conjugação (-ir) verbo
partir
Eu andei Eu vendi Eu parti
Tu andaste Tu vendeste Tu partiste
Ele andou Ele vendeu Ele partiu
Nós andamos Nós vendemos Nós partimos
Vós andastes Vós vendestes Vós partistes
Eles andaram Eles venderam Eles partiram
Pretérito mais-que-perfeito a) Expressa um fato passado, que ocorreu antes de outro, também passado. Portanto, o mais-que-perfeito exprime um fato duplamente passado. - é passado em relação ao momento em que se fala; - é passado em relação ao momento em que se realizou outro fato. • Exemplo: Mentiu outra vez ao afirmar que falara tudo ao presidente do clube. b) Na linguagem literária, pode substituir o futuro do pretérito. • Exemplo: Descrever o abalo que sofreu Inocência ao dar, cara a cara, com Manecão fora impossível. c) É usado em orações optativas. • Exemplo: Quisera entender meu som tropical. d) Na linguagem coloquial prefere-se a forma composta. • Exemplos: Quando eu entrei na sala, o professor já entrara. / Quando eu entrei na sala, o professor já tinha entrado.
1ª conjugação (-ar) verbo encontrar
2ª conjugação (-er) verbo merecer
3ª conjugação (-ir) verbo
admitir
Eu encontrara Eu merecera Eu admitira
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
24
Tu encontraras Tu mereceras Tu admitiras
Ele encontrara Ele merecera Ele admitira
Nós encontráramos Nós merecêramos Nós admitíramos
Vós encontráreis Vós merecêreis Vós admitíreis
Eles encontraram Eles mereceram Eles admitiram
Futuro do Presente a) Exprime um fato (realizável ou não) posterior ao momento em que se fala. Portanto, no momento da fala, o fato é ainda inexistente. • Exemplo: Grêmio terá time completo contra o Flamengo. b) Pode evidenciar incerteza a respeito de um fato presente. • Exemplo: Terá o atual prefeito a mesma ousadia do anterior? c) Pode substituir o imperativo. - com valor categórico. • Exemplo: Serás derrotado, meu compadre! - com valor de sugestão. • Exemplo: Você fará tudo para ser aprovado no concurso, não é mesmo? A forma composta pode ser empregada:
a) para indicar que uma ação futura será realizada antes de outra. • Exemplo: Vocês serão vítimas das próprias armadilhas que terão construído. b) para indicar a certeza de uma ação futura. • Exemplo: Aí sim teremos compensado todos os nossos esforços. c) para indicar incerteza diante de um fato passado. • Exemplo: Essa última administração terá resolvido os problemas básicos da cidade.
1ª conjugação (-ar) verbo
cantar
2ª conjugação (-er) verbo
viver
3ª conjugação (-ir) verbo
cair
Eu cantarei Eu viverei Eu cairei
Tu cantarás Tu viverás Tu cairás
Ele cantará Ele viverá Ele cairá
Nós cantaremos Nós viveremos Nós cairemos
Vós cantareis Vós vivereis Vós caireis
Eles cantarão Eles viverão Eles cairão
Futuro do Pretérito a) Expressa um fato futuro em relação a outro já passado. • Exemplo: O proprietário deixou claro que haveria dificuldades. b) Substitui o presente do indicativo, para atenuar uma ordem ou um pedido. • Exemplo: Pediria que todos se manifestassem a respeito do assunto. c) Pode ser substituído pelo pretérito imperfeito do indicativo. • Exemplo: Ah! se eu fosse você, eu voltava para mim. d) Pode expressar incerteza, dúvida, possibilidade.
• Exemplo: Seria ele o responsável pelo fracasso da assembleia? A forma composta é empregada para:
a) indicar a possibilidade de um fato passado ter ocorrido. • Exemplo: Presumiu que teria visto o cometa. b) para indicar incerteza a respeito de um fato passado. • Exemplo: O acidente teria ocorrido na Rodovia dos Bandeirantes?
1ª conjugação (-ar) verbo
amar
2ª conjugação (-er) verbo aparecer
3ª conjugação (-ir) verbo
assistir
Eu amaria Eu apareceria Eu assistiria
Tu amarias Tu aparecerias Tu assistirias
Ele amaria Ele apareceria Ele assistiria
Nós amaríamos Nós apareceríamos Nós assistiríamos
Vós amaríeis Vós apareceríeis Vós assistiríeis
Eles amariam Eles apareceriam Eles assistiriam
2. Modo Subjuntivo
Os tempos do modo subjuntivo simples são 3: presente, pretérito imperfeito e futuro. Presente do Subjuntivo É empregado para expressar ações ou fatos do presente ou futuros. • Exemplo: É certo que ele vença. (presente) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo É aplicado para indicar uma ação passada, mas imprecisa. • Exemplo: Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo (presente). Futuro do Subjuntivo O futuro do subjuntivo é empregado nas orações subordinadas como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade no futuro. • Exemplo: Lavarei a roupa se tiver vontade. A forma composta é empregada:
a) Nas orações cuja ação foi finalizada anteriormente ao momento em que nos expressamos. • Exemplo: Penso que ele já tenha saído. b) Quando o verbo expressa uma ação anterior a outra. • Exemplo: Se eu tivesse falado a verdade, minha irmã não estaria de castigo. c) Nas orações que indicam uma ação futura que terminará antes de outra acontecer. • Exemplo: Quando tiverem chegado, a festa começará. Conjugação de verbos no modo subjuntivo compostos
Formação do pretérito perfeito: presente do subjuntivo do verbo ter + particípio do verbo principal.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
25
Formação do pretérito mais-que-perfeito: pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ter + particípio do verbo principal.
Presente Pretérito
Imperfeito Futuro
Que eu ame
Se eu amasse
Quando eu amar
Que tu ames
Se tu amasses
Quando tu amares
Que ele ame
Se ele amasse
Quando ele amara
Que nós amemos
Se nós amássemos
Quando nós amarmos
Que vós ameis
Se vós amásseis
Quando vós amardes
Que ele amem
Se eles amassem
Quando eles amarem
3. Modo Imperativo
Há duas formas de imperativo: afirmativa e negativa.
Tanto o imperativo afirmativo, como o negativo usam-se somente em orações absolutas, em orações principais, ou em orações coordenadas. Podem exprimir:
Expressam Imperativo Afirmativo
Imperativo Negativo
Ordem / Comando
Faz como eu falei Não abras a
porta!
Exortação / Conselho
Peça! Não te atrases.
Convite / Solicitação
Vem! Revela a tua astúcia.
Não venhas hoje.
Súplica Deixa-me ir. Não me deixes
sozinho.
Formação do Imperativo Afirmativo Com exceção da 2ª pessoa do singular (tu) e da 2ª pessoa do plural (nós), o imperativo afirmativo é conjugado da mesma forma que o presente do subjuntivo. Formação do Imperativo Negativo No imperativo negativo, por sua vez, todas as pessoas são conjugadas da mesma forma que o presente do subjuntivo.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de verbos abundantes:
a) foi elegido pelas mulheres, apesar de haver eleito a maioria dos homens. b) por haver aceitado as condições do acordo, seus documentos foram entregues ao escrivão. c) antes de chover, ele tinha cobrido o carro. d) tem fazido muito calor ultimamente. e) por ter morto um animal indefeso, o caçador foi matado pelos índios. 02. ―Acredito que Maria tenha feito a lição‖, passando-se a oração sublinhada para a voz passiva, o verbo ficará assim:
a) foi feita.
b) tenha sido feita. c) esteja sendo feita. d) tenha estado feita. e) seja feita. 03. Assinale a alternativa que corretamente completa os espaços em branco:
―É preciso que ________ novidades interessantes que ________ e ________ ao mesmo tempo.‖
Corresponde corretamente:
a) surjam / divertem / instruam. b) surjam / divirtam / instruam. c) surjam / divirtam / instruem. d) surgem / divertem / instruem. e) surgem / divirtam / instruam. 04. Considere as frases:
I. ―Eles querem que nós (fazer) o trabalho.‖ II. ―Fazemos esforços para que todos (caber) na sala.‖ Flexionando corretamente os verbos indicados, teremos:
a) façamos / cabem. b) fazemos / caibam. c) fazemos / coubessem. d) façamos / caberem. e) façamos / caibam. 05. A frase ―Procure compreender seus pais‖ está na 3ª pessoa do singular. Passando-a à 2ª pessoa do singular, teremos:
a) procuras compreender vossos pais. b) procurai compreender teus pais. c) procura compreender seus pais. d) procura compreender teus pais. e) N.R.A. 06. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Observe que na primeira lacuna a forma verbal é do imperativo afirmativo e, na segunda, a forma verbal é do imperativo negativo. Além disso, note que é a forma verbal ―Vencerás‖ que determina a pessoa gramatical a ser usada nas duas formas do imperativo.
―________, não ________ e vencerás.‖
Corresponde corretamente:
a) lute / desista. b) lutai / desisti. c) luta / desistas. d) lutas / desiste. e) lutai / desista. 07. Na passagem ―Caso ________ realmente interessado, ele não ________ de falar.‖, corresponde corretamente:
a) estiver / haja. b) esteja / houvesse. c) estivesse / haveria. d) estivesse / havia. e) estiver / houver. 08. O modo verbal que expressa uma atitude duvidosa, incerta é:
a) indicativo. b) imperativo.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
26
c) subjuntivo. d) imperativo e subjuntivo. e) N. D. A. 09. Observando a correlação temporal entre a forma verbal destacada na frase e a forma verbal que você iria colocar no espaço, complete as frases abaixo:
I. teremos amigos quando nós ________ ricos. (ficar) II. teríamos amigos, se nós ________ ricos. (ficar) III. tínhamos amigos quando nós ________ ricos. (ser) IV. tivemos amigos quando nós ________ ricos. (ser) V. temos amigos enquanto ________ ricos. (ser) Corresponde corretamente:
a) ficamos / ficássemos / seremos / seremos / somos. b) ficamos / ficarmos / fomos / somos / fomos. c) fiquemos / ficássemos / éramos / somos / somos. d) ficarmos / ficamos / somos / fumos / somos. e) ficarmos / ficássemos / éramos / fomos / somos. 10. O verbo destacado na frase ―Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia. Ufa!!!‖, se encontra no tempo:
a) futuro. b) passado. c) presente. d) pretérito-mais-que-perfeito. e) n. r. a. 11. O trecho ―Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia.‖, apresenta:
a) quatro verbos. b) um verbo. c) dois verbos. d) três verbos. e) cinco verbos 12. Marque a alternativa cuja flexão verbal esteja incorreta:
a) Faz mais de cinco anos que estou esperando. b) Havia muitas pessoas estranhas na escola hoje. c) Houve muitas perguntas impertinentes. d) Há muitas formas de resolvermos essa questão. e) Houveram vezes que pensei em desistir. 13. A análise do emprego dos tempos verbais em ―Há algum tempo, venho estudando as piadas" revela que, semanticamente, as duas formas em destaque indicam, nessa ordem, as noções de:
a) passado e continuidade. b) presente e projeto futuro. c) simultaneidade e presente. d) ordem e suposição. e) futuro e constatação. 14. Na passagem ―Ao chegar da fazenda, espero que já tenha terminado a festa‖, assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais destacadas:
a) futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo. b) infinitivo, presente do subjuntivo. c) futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo. d) infinitivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. e) infinitivo, pretérito perfeito do subjuntivo. 15. Considerando as formas verbais destacadas nas três frases abaixo, a opção com a correta classificação de tempos e modos é, respectivamente:
I. Pelo menos não descumpra suas obrigações. II. Talvez chova no final do dia. III. Digita este documento, por gentileza, Teresinha. Corresponde corretamente:
a) imperativo negativo / presente do subjuntivo / imperativo afirmativo. b) presente do subjuntivo / presente do subjuntivo / imperativo afirmativo. c) imperativo negativo / presente do subjuntivo / presente do indicativo. d) presente do subjuntivo / presente do subjuntivo / presente do indicativo. e) imperativo negativo / presente do indicativo / imperativo afirmativo. 16. Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em:
a) ―... afrontava os perigos (…) para vir vê-la à cidade.‖ b) ―Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua...‖ c) ―Continuaram ainda a dialogar com certo azedume.‖ d) ―Tinha-me esquecido de contar-lhe que eu fizera uma promessa...‖ e) ―... e encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna.‖ 17. A sequência correta que complementa a oração ―O acordo não _______ as reivindicações, a não ser que _______ os nossos direitos e _______ da luta.‖, é:
a) substitui / abdicamos / desistimos. b) substitue / abdicamos / desistimos. c) substitui / abdiquemos / desistamos. d) substitui / abidiquemos / desistimos. e) substitue / abdiquemos / desistamos. 18. Na passagem ―Não ________. Você não acha preferível que ele se ________ sem que você o ________?‖, assinale a resposta correspondente à alternativa que completa corretamente as lacunas:
a) interfere / desdiz / obriga. b) interfira / desdisser / obrigue. c) interfira / desdissesse / obriga. d) interfere / desdiga / obriga. e) interfira / desdiga / obrigue. 19. Marque a frase em que o verbo está empregado no futuro do pretérito:
a) ―O exército dos EUA em horas poria Noriega para fora do Panamá.‖ b) ―Em Santa Catarina, as concessionárias de transportes coletivos tiveram seus contratos prorrogados sem a necessidade de novas licitações.‖ c) ―Um dos 84 deputados estaduais vai estar ausente da assinatura da Constituição Paulista.‖ d) ―A campanha de Brizola vai entrar em crise daqui a alguns dias.‖ e) ―A visita de Gorbatchev poderá causar manifestações políticas.‖ 20. ―Pensemos no avião, pensemos no caminhão, pensemos no navio, mas não esqueçamos o trem.‖ Das alterações feitas no final da frase acima, a INACEITÁVEL, por apresentar a forma verbal em modo ou tempo diferente do da forma destacada, é:
a) mas não receemos do trem. b) mas não nos riamos do trem. c) mas não renunciemos ao trem. d) mas não descreiamos do trem. e) mas não duvidamos do trem.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
27
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B B B E D C C C E A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E A E A B C E A E
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (IV)
ADVÉRBIO
Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, mas pode se referir a uma oração inteira. Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias. De acordo com a circunstância que exprime, o advérbio pode ser de:
Lugar aqui, fora, longe, cá, atrás, ali, antes...
Tempo hoje, logo, cedo, já, breve, nunca...
Modo bem, mal pior, à toa, depressa...
Afirmação sim, certamente, decerto, deveras...
Negação não, nem, nunca, jamais...
Dúvida acaso, talvez, porventura, quiçá...
Intensidade muito, tão, demais, pouco, nada, tudo...
Exclusão apenas, salvo, senão, somente...
Inclusão ainda, até, mesmo, também...
Ordem depois, primeiro...
→ Atenção: As palavras muito, bastante, podem
aparecer como advérbio e como pronome indefinido. - Advérbio: refere-se a um verbo, adjetivo, ou a outro advérbio e não sofre flexões. Exemplo: Eu corri muito. - Pronome indefinido: relaciona-se a um substantivo e sofre flexões. Exemplo: Eu corri muitos quilômetros.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Na frase ―As negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho‖, as palavras destacadas são, respectivamente: (UM/SP)
a) adjetivo / adjetivo. b) advérbio / advérbio. c) advérbio / adjetivo. d) numeral / adjetivo. e) numeral / advérbio. 02. A opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo é:
a) Possivelmente viajarei para São Paulo. b) Maria tinha aproximadamente 15 anos. c) As tarefas foram executadas concomitantemente. d) Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. e) jamais eu acreditarei nessa história. 03. Classifique a locução adverbial que aparece em ―Machucou-se com a lâmina‖:
a) modo. b) instrumento. c) causa. d) concessão. e) fim. 04. Qual das frases abaixo possui advérbio de modo?
a) Realmente ela errou. b) Antigamente era mais pacato o mundo. c) Lá está teu primo. d) Ela fala bem. e) Estava bem cansado. 05. ―É um aborrecimento quando os vejo e gostaria de não vê-los mais‖ as palavras destacadas são, respectivamente:
a) adjetivo / artigo / advérbio. b) adjetivo / pronome / pronome. c) substantivo / pronome / advérbio. d) substantivo / artigo / pronome. e) verbo / pronome / preposição. 06. Assinale a alternativa em cuja frase a palavra ―bastante‖ possa ser corretamente classificada como advérbio:
a) Há bastante comida para o jantar. b) O vinho não é o bastante. c) Ele já foi bastante rico. d) Chega, você já falou o bastante. e) Ele é o bastante para mim. 07. Assinale a alternativa que indica a frase em que a forma adverbial ―-mente‖ mostra uma formação diferente das demais:
a) ―Você nunca realmente perde até parar de tentar.‖ b) ―Não podemos fazer tudo imediatamente, mas podemos fazer alguma coisa já.‖ c) ―O que você sabe é meramente um ponto de partida. Assim, mova-se.‖ d) ―Difícil compreender como no vasto mundo falta espaço precisamente para os pequenos.‖ e) ―Só um economista econômico imagina que um problema de economia é estritamente econômico.‖ 08. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada é um advérbio:
a) Essa definição aparece por último, como informal e recente. b) Nada podia ser igual ao que a realeza usava. c) Não foi possível manter controle por muito tempo. d) As classes mais pobres passavam a ter acesso a cópias dos acessórios reais. e) Alguém pediu a sua opinião? 09. Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O rápido garoto terminou o exercício. II. O garoto anda muito rápido. a) Em I e II, ―rápido‖ é um advérbio. b) Em I e II, ―rápido‖ é um adjetivo. c) Em I, ―rápido‖ é advérbio e, em II, é adjetivo. d) Em I, ―rápido‖ é adjetivo e, em II, é advérbio. e) Em nenhuma das opções ―rápido‖ é advérbio. 10. Morfologicamente, a expressão sublinhada na frase ―Estava à toa na vida‖, é classificada como locução:
a) adjetiva. b) adverbial. c) prepositiva. d) conjuntiva. e) substantiva.
GABARITO
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
28
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B C B D C C A D D B
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (V)
CONJUNÇÃO
É a classe de palavra invariável que liga duas orações entre si, estabelecendo um vínculo de coordenação ou subordinação. → Atenção: Em alguns casos, a conjunção pode
funcionar como nexo entre duas palavras de mesma função sintática. • Exemplo: Pedro e Giovana foram ao centro da cidade. As conjunções são classificadas em: Coordenativas
São aquelas que ligam duas orações independentes. São divididas em cinco tipos:
Aditivas (adição)
e, nem, bem assim, também, não só... mas também...
Adversativas (oposição)
porém, contudo, todavia, entretanto, senão, ainda assim...
Alternativas (opção)
Ou, ou... ou, ora... ora, nem... nem, seja... seja...
Conclusivas (conclusão)
Logo, portanto, por isso, pois (posposto ao verbo), então...
Explicativas (explicação)
que, porque, pois (anteposto ao verbo), porquanto...
Essas conjunções unem orações que apresentam a mesma função sintática. Subordinativas
As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra, são as adverbiais que introduzem orações adverbiais e as integrantes (QUE, SE) que introduzem orações substantivas.
Causais (causa)
que, porque, porquanto, como, se, desde que, visto que, visto como, de modo que...
Concessivas (contrário)
que, embora, conquanto, ainda que, posto que, bem que, quando mesmo, por mais
que...
Conformativas (conformidade)
como, conforme, consoante, segundo...
Consecutivas (consequência)
que (precedido de ―tal, tão, tanto‖), sem que, de modo que, de sorte que...
Condicionais (condição)
se, caso, contanto que, sem que, a não ser que, salvo se, exceto se, a menos
que...
Comparativas (comparação)
como, assim como, tal e qual, tal qual, mais que, menos que, feito (= como)...
Finais (finalidade)
que (=para que), porque (=para que), para que, a fim de que...
Proporcionais (proporção)
à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais..., quanto menos...
Temporais (tempo)
enquanto, desde que, logo que, assim que, mal, antes que, depois que, até que,
sempre que...
EXERCÍCIOS CORRELATOS
―Não gostava muito de novelas; porém admirava a técnica de seus atores.‖
01. Comece com: Admirava a técnica... (UEL/PR)
a) visto como. b) enquanto. c) conquanto. d) porquanto. e) à medida que. ―A serem considerados os resultados, o trabalho foi eficiente.‖
02. Comece com: O trabalho foi eficiente... (UEL/PR)
a) desde que. b) ainda que. c) a menos que. d) embora. e) por isso. 03. Em ―ouviram-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas...‖, a partícula ―como‖ expressa uma ideia de: (PUC/SP)
a) Causa. b) Explicação. c) Conclusão. d) Proporção. e) Comparação. 04. ―Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila.‖ Os dois pontos (:) do período poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção: (FUVEST/SP)
a) portanto. b) e. c) como. d) pois. e) embora. 05. Na frase: ―Ele deve passar fome, pois está muito magro‖, a palavra ―pois‖ funciona como articular das orações e estabelece entre elas a relação de: (IBFC/MG) a) soma. b) oposição. c) explicação. d) exclusão. e) condição. 06. Com base na questão anterior, é possível classificar a conjunção ―pois‖. A partir disso, poderíamos substituí-la adequadamente pelo conectivo: (IBFC/MG)
a) por que. b) porquê. c) por quê. d) porque. e) N.R.A. 07. No período ―o projeto obteve tanto sucesso, que os alunos foram convidados a apresentá-los no exterior.‖, a conjunção subordinativa destacada exprime ideia de: (FUNCAB/AC)
a) comparação. b) conformidade. c) conclusão. d) causa. e) consequência.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
29
08. A forma que substitui adequadamente a palavra ―mas‖, no trecho ―Mas será que é só na química que podemos errar em dosagens a ponto de causar algum mal quem sabe até a morte?‖, mantendo o sentido original, com coerência e coesão é: (CAIP |
IMES) a) Por isso. b) No entanto. c) Assim. d) Portanto. e) Logo. 09. Na sentença ―Mariza saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus‖, as duas orações do período estão unidas pela palavra ―e‖, que, além de indicar adição, introduz a ideia de: (FINEP | 2011 | CESGRANRIO |
Técnico) a) oposição. b) condição. c) consequência. d) comparação. e) união. ―Preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais, o que torna mais fácil a tarefa de alimentar o mundo. Mas eles também impõem custos aos consumidores, aumentando a pobreza e o descontentamento.‖
10. A 2ª afirmativa introduz, em relação à 1ª, noção de: (TCE/AP | 2002 | FCC | Técnico de Controle Externo)
a) condição. b) temporalidade. c) consequência. d) finalidade. e) restrição. ―Contudo, se o roubo é comumente o crime da miséria e da aflição, se esse crime apenas é praticado por essa classe de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade (direito terrível e talvez desnecessário) apenas deixou a vida como único bem, [...] as penas em dinheiro contribuirão tão-somente para aumentar os roubos, fazendo crescer o número de mendigos, tirando o pão a uma família inocente para dá-lo a rico talvez criminoso.‖
Cesare Beccaria.
11. A palavra ou locução que, usada no espaço entre colchetes deixado no período, fortalece a conexão lógica entre as orações adverbiais condicionais e o que ele afirma a seguir é: (SEJUS/RO | 2010 | FUNCAB)
a) inclusive. b) além disso. c) então. d) por outro lado. e) mesmo. 12. ―... e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca…‖; a oração grifada traz uma ideia de: (DETRAN/RN | 2010 | FGV | Assessor Técnico –
Contabilidade) a) Causa. b) Consequência. c) Condição. d) Conformidade. e) Concessão. 13. Em qual período o se é uma conjunção integrante? (UFAL | 2010 | COPEVE | Advogado)
a) ―Paraquedista se prepara para romper a barreira do som com salto da estratosfera.‖ b) ―Um tecido comum pegaria fogo se fosse exposto diretamente a essa radiação.‖ c) ―Sabe-se também que a alimentação materna pode ter impacto na chance de a criança vir a desenvolver câncer.‖ d) ―Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de forma trágica, vítima de uma overdose de medicamentos que até hoje não se sabe se foi intencional, acidental ou provocada por alguma misteriosa conspiração política.‖ e) ―Não fale rápido demais. Se sua dicção não for boa, ninguém irá entender o que você diz.‖ 14. ―Já a produção de petróleo não é suficiente para atender à demanda, embora a dependência externa no setor tenha conhecido…‖ O termo ―embora‖, nesse fragmento, estabelece relação lógico-semântica de: (INB | 2006 | CONSULPLAN | Analista de
Sistemas) a) Condição. b) Adição. c) Conformidade. d) Concessão. e) Tempo. 15. A palavra destacada em ―Pois é, não jogo futebol, mas tenho alma de artilheiro…‖, exprime ideia de: (Pref. de Congonhas/MG | 2010 | CONSULPLAN | Técnico de Laboratório – Informática) a) escolha. b) contraste, oposição. c) finalidade. d) explicação. e) soma, adição.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C A E D C D E B C E
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E D D B * * * * *
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (VI)
PREPOSIÇÃO
As preposições, além de seu papel de ligar palavras entre si, têm valor semântico, isto é, significado próprio, sendo evidenciado pela relação que ele estabelece entre os termos. De acordo com essa relação, inúmeros são os valores semânticos que as preposições exprimem.
Preposições a, ante, até, após, de, com, contra,
desde, em entre, para, perante, por (per) sem, sob, sobre, trás...
Locuções Prepositivas
ao lado de, além de, depois de, através de, dentro de, abaixo de, a par de...
Valor semântico da preposição
Entre eles, citam-se:
Assunto O sacerdote falou da fraternidade.
Causa A criança estava trêmula de frio.
Origem As tulipas vêm da Holanda.
Matéria Ganhou uma correntinha de ouro.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
30
Oposição Agiu contra todos.
Posse Esta casa é de meu pai.
Lugar Os livros estão sobre a mesa da sala.
Meio Vim de ônibus.
Delimitação É uma pessoa rica de virtudes.
Conformidade Como é teimoso! Saiu ao avô.
Instrumento Redigiu os artigos a lápis.
Fim Saíram para pescar bem cedinho.
Distância Daqui a dois quilômetros há um bar.
Num período, uma preposição pode unir-se a outra palavra, passando a constituir com ela um só vocábulo. Se nessa ligação a preposição permanecer com todos os seus fonemas, diz-se que há combinação.
• Exemplos: ao (a + o); aos (a + os); aonde (a + onde). Por conseguinte, quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração.
• Exemplos: do (de + o), dum (de + um) desta (de + esta), no (em + o), neste (em + este), nisso (em + isso). Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase.
• Exemplos: à = contração da preposição a + o artigo a. àquilo = contração da preposição a + a primeira vogal do pronome aquilo.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque nas frases:
I. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. II. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. III. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. IV. A pequena casa de madeira foi destruída a machado. Corresponde corretamente:
a) modo / companhia / modo / modo. b) causa / modo / finalidade / instrumento. c) modo / modo / causa / causa. d) modo / causa / finalidade / instrumento. e) companhia / causa / semelhança / modo. 02. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é: (FUVEST/SP)
a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente. c) No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame [...]. d) [...] uma janela com gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado... e) [...] coava a luz suja do saguão. 03. Em ―Foi quando meu marido me abandonou com dois filhos‖, a preposição destacada indica:
a) modo. b) tempo. c) companhia. d) instrumento. e) causa. 04. No título do poema ―Canção do Exílio‖, a preposição tem o mesmo valor semântico que a grifada na frase: (Pref. Angra dos Reis/RJ | 2008 | CEPERJ)
a) Nem sempre o seu silêncio é de ouro.
b) Ele se nutre de saudades. c) O poeta morria de amores pela pátria. d) De noite, seu sofrimento aumentava. e) O poeta admirava de longe os primores nacionais. 05. No trecho ―O Rio não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada por mais de dois milhões de favelados, e inchou, à exaustão, uma máquina administrativa que não funciona...‖, a preposição a — que está contraída com o artigo a — traduz uma relação de: (UFPA)
a) fim. b) causa. c) concessão. d) limite. e) modo. 06. Assinale a opção em que a preposição ―com‖ traduz uma relação de instrumento: (CESGRANRIO)
a) ―Teria sorte nos outros lugares, com gente estranha.‖ b) ―Com o meu avô cada vez mais perto de mim, o Santa Rosa seria um inferno.‖ c) ―Não fumava, e nenhum livro com força de me prender.‖ d) ―Trancava-me no quarto fugindo do aperreio, matando-as com jornais.‖ e) ―Andavam por cima do papel estendido com outras já pregadas no breu.‖ 07. Assinale a alternativa em que a norma culta não aceita a contração da preposição de: (INATEL)
a) Aos prantos, despedi-me dela. b) Está na hora da criança dormir. c) Falava das colegas em público. d) Retirei os livros das prateleiras para limpá-los. e) O local da chacina estava interditado. ―O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora.‖
08. No texto acima, os vocábulos em destaque são respectivamente: (FAU/Santos)
a) preposição e artigo. b) preposição e preposição. c) artigo e artigo. d) artigo e preposição. e) artigo e pronome indefinido. 09. As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência: (Fameca/SP)
I. Saí com ela. II. Ficaram sem um tostão. III. Esconderam o lápis de Maria. IV. Ela prefere viajar de navio. V. Estudou para passar. Corresponde corretamente:
a) falta / companhia / posse / meio / fim. b) companhia / falta / posse / fim / meio. c) companhia / posse / falta / meio / fim. d) companhia / falta / meio / posse / fim. e) companhia / falta / posse / meio / fim. ―O que desejava... Ah! Esquecia-se. Agora se descordava da viagem que tinha feito pelo sertão, a cair de fome.‖ (Graciliano Ramos)
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
31
10. A alternativa em que a preposição ―de‖ expressa a mesma ideia que possui em ―a cair de fome‖ é: (UFAC) a) De tanto gritar, sua voz ficou rouca. b) De grão em grão, a galinha enche o papo. c) De noite todos os gatos são pardos. d) Chegaram cedo de Cruzeiro do Sul. e) Trazia no bolso uma caneta de prata.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D D C E E C B A E A
EMPREGO DAS CLASSES DAS PALAVRAS (VII)
INTERJEIÇÃO
Uma palavra invariável, que representa um recurso da linguagem afetiva, de modo que expressa sentimentos, sensações, estados de espírito, sendo sempre acompanhadas de um ponto de exclamação (!). As interjeições são consideradas ―palavras-frases‖ na
medida em que representam frases-resumidas, formadas por sons vocálicos (Ah! Oh! Ai!), por palavras (Droga! Psiu! Puxa!) ou por um grupo de palavras, nesse caso, chamadas de locuções interjetivas (Meu Deus! Ora bolas!). Apesar de não possuírem uma classificação rigorosa, posto que a mesma interjeição pode expressar sentimentos ou sensações distintas, as interjeições ou locuções interjetivas são classificadas em:
Advertência Olhe!, Atenção!, Fogo!, Olha lá!, Alto lá!,
Calma!, Cuidado!
Afugentamento Fora!, Toca!, Xô!, Xô pra lá!, Passa!, Sai!,
Roda!, Rua!
Agradecimento Graças a Deus!, Obrigado!, Agradecido!
Apelo Socorro!, Ei!, Ô!, Oh!, Alô!
Alegria Ah!, Eh!, Oh!, Oba!, Êba!, Viva!, Olé!
Êita!
Alívio Ufa!, Arre!, Ah!, Eh!, Puxa!, Ainda bem!
Ânimo Coragem!, Força!, Ânimo!, Avante!, Eia!,
Vamos!
Aplauso Muito bem!, Bem!, Bravo!, Bis!, Boa!,
Apoiado!, Ótimo!
Chamamento Alô!, Olá!, Hei!, Psiu!, ô!, oi!, psiu!, psit!,
ó!
Concordância Claro!, Certo!, Sem dúvida!, Tá! Ótimo!,
Então!, Sim!, Pois não!
Contrariedade Droga!, Porcaria!, Credo!
Desculpa Perdão!, Opa!, Desculpa!, Foi mal!
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Quais dos grupos de palavras são formados por interjeição:
a) Vida / Casa / Palavra / Cruzada. b) Documentar / Texto / Moscas! / Questione! c) Ei! / Marta / Sai! / Entretanto. d) Oh! / Claro! / Oba! / Atenção! e) Atenção! / A tensão / Rua Gaspar Dutra / Correr. 02. Qual dos sentidos das interjeições está correto?
a) Credo! - Repulsa. b) Vamos! - Dúvida.
c) Puxa! - Intenção. d) Firme! - Repulsa. e) Hum! - Desejo. 03. Marque a única alternativa que não é composta apenas por Interjeições ou Locuções Interjetivas:
a) Uau! / Psiu! / Que horror! b) Ai de mim! / Ora bolas! / Psiu! c) Oh, céus! / Alto lá! / Quem me dera! d) Au, au, au! / Puxa vida! / Alô! e) Oba! / Viva! / Ufa! 04. No trecho: ―Mas pesquisar alguns sinônimos não faz mal a ninguém: posse, regalia, concessão, direito. Opa, direito?‖ As palavras sublinhadas correspondem, pela ordem, a: (FAPESE)
a) pronome possessivo, adjetivo, advérbio, interjeição. b) pronome indefinido, advérbio, substantivo, interjeição. c) pronome relativo, conjunção, verbo, adjetivo. d) conjunção, adjetivo, substantivo, pronome pessoal. e) numeral, substantivo, verbo, conjunção aditiva. 05. ―Nossa Senhora! Como você pôde fazer isso!‖ A locução interjetiva destacada expressa:
a) espanto. b) saudação. c) satisfação. d) desejo. e) animação. 06. Assinale a oração que expressa pena:
a) Chega! Não aguento mais! b) Quem me dera ganhar uma herança! c) Pobre coitado! Nem casa tem. d) Bravo! Cante mais uma vez. e) Avante! É pra frente que se olha! 07. Indique a alternativa em que aparece uma interjeição: (Instituto Excelência)
a) Bravo! Vou indicar esse espetáculo aos meus amigos. b) Ela chorou um rio de lágrimas. c) Corra, pois precisamos chegar o quanto antes. d) Toc-toc, ele bateu na minha porta outra vez! e) Miau-miau, o gatinho pedia por leite. 08. ―Coragem! Novas oportunidades hão de surgir.‖ A interjeição sublinhada expressa: (CONSESP)
a) alegria. b) animação. c) admiração. d) aplauso. e) alívio.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D A D B A C A B * *
PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS MECANISMOS DE FLEXÃO DOS NOMES E
VERBOS
Ao se decompor uma palavra, podem-se encontrar nela os seguintes elementos mórficos (elementos que a formam): RADICAL: é o elemento primitivo, último e irredutível que encerra a ideia principal do vocábulo. Alguns gramáticos distinguem o radical da raiz.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
32
• Exemplos: terra / terraço / terremoto / terraplanagem / terreiro →
perceba que o radical ―terr-‖ se mantém constante nos vocábulos. AFIXOS: são elementos que se acrescem aos radicais com a finalidade de formar novas palavras. Classificam-se em: a) prefixos: são os afixos que vêm antes do radical. • Exemplos: IN-feliz / DES-leal / ANFI-teatro / RE-fluir... b) sufixos: são os afixos que vêm depois do radical. • Exemplos: Mulher-AÇA / social-ISMO / feliz-MENTE / leal-DADE... DESINÊNCIAS: são elementos mórficos que se acrescem ao final de um vocábulo e expressam as flexões de gênero, de número, de modo, de tempo e de pessoa. Podem ser: a) desinências nominais → indicam o gênero e o número
dos nomes.
Radical Desinência de
Gênero Desinência de
Número
Marac o s
Menin a s
b) desinências verbais → indicam o modo e o tempo, o
número e a pessoa dos verbos.
Radical Vogal
Temática
Desinência Modo-
Temporal
Desinência Número-Pessoal
Am a -sse -mos
Beb- e -sse -mos
Convém estabelecer alguns conceitos: a) Palavras primitivas → são aquelas que não se
formaram a partir de um vocábulo preexistente. São também denominadas de ―derivantes‖. • Exemplos: terra / pedra / ferro / luz / janela / carro... b) Palavras derivadas → são aquelas formadas a partir
de um vocábulo preexistente. • Exemplos: terraço / pedreira / ferrugem / luzeiro / janelaço / carroçaria... c) Palavras simples → são aquelas que apresentam um
único radical. • Exemplos: água / guarda / perfume / perna... d) Palavras compostas → são aquelas que apresentam
dois ou mais radicais. • Exemplos: água-benta / guarda-chuva / lança-perfume / pernalta...
→ Atenção: As palavras que possuem um radical
comum são denominadas de palavras ―cognatas‖. A partir desses conhecimentos, podemos afirmar que, na língua portuguesa, existem dois grandes processos de formação de palavras: derivação e composição.
1. DERIVAÇÃO
É o processo através do qual se obtém uma palavra nova (derivada) a partir de uma palavra já existente (primitiva). Esse fenômeno se dá, frequentemente, pelo acréscimo de afixos (prefixos ou sufixos). Dessa forma, temos: a) Derivação prefixal ou prefixação → acréscimo de
prefixos à palavra primitiva. • Exemplos: INfeliz / DESleal / REver... b) Derivação sufixal ou sufixação → acréscimo de
sufixos à palavra primitiva. • Exemplos: amorOSO / felizMENTE / bebeDOURO... c) Derivação sufixal e prefixal → acréscimo não
simultâneo de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. • Exemplos: INfelizMENTE / DESlealDADE / INutilIZAR... d) Derivação parassintética ou parassíntese →
acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. • Exemplos: anoitecer / apedrejar / subterrâneo... e) Derivação regressiva → formação de substantivos
denotadores de ação através de um processo de redução verbal. Substitui-se a terminação de um verbo pelas desinências ―-a‖, ―-e‖, ―-o‖.
VERBO (primitivo) SUBSTANTIVO (derivado)
abalar abalo
afagar afago
alcançar alcance
buscar busca
castigar castigo
f) Derivação imprópria ou conversão → ocorre pela
mudança da classe gramatical de uma palavra. Na maioria dos casos, substantivos se tornam adjetivos e vice-versa, adjetivos se transformam em advérbios e vice-versa, infinitivos se tornam substantivos, ou palavras invariáveis passam a ser substantivos. • Exemplos: ―Os bons sempre superam os maus.‖ (adjetivos substantivados) ―Quando criança, pintava o sete na ausência dos pais.‖ (numeral substantivado) ―Esperar é uma arte que todos deveriam exercitar.‖ (infinitivo substantivado) ―Todos na sessão falavam alto.‖ (adjetivo adverbializado) 2. COMPOSIÇÃO
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
33
É o processo por meio do qual duas ou mais palavras, ou dois ou mais radicais, se associam para formar uma nova palavra. Dois são os processos de composição na língua portuguesa: a) Composição por aglutinação → ocorre quando há
supressão ou perda de elementos fonéticos entre as palavras que se unem. • Exemplos: perna + alta = pernalta. puxa + avante = puxavante. boca + aberta = boquiaberta. pedra + óleo = petróleo. perna + longo = pernilongo. em + boa + hora = embora. b) Composição por justaposição → ocorre quando as
palavras se juntam sem que haja alteração mórfica nelas. • Exemplos: passa + tempo = passatempo. vai + vém = vaivém. mal + me + quer = malmequer. sempre + viva = sempre-viva. porco + espinho = porco-espinho. guarda + chuva = guarda-chuva. 3. OUTROS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS
Ao lado dos dois grandes processos de formação de palavras da língua portuguesa (derivação e composição), há outros igualmente importantes. São eles: a) redução ou abreviação vocabular → ocorre pela
redução de um vocábulo, ou seja, reduz-se uma palavra ao máximo sempre mantendo seu sentido original. • Exemplos: auto → redução de ―automóvel‖. quilo → redução de ―quilograma‖. extra → redução de ―extraordinário‖. foto → redução de fotografia. moto → redução de motocicleta.
b) Hibridismo → ocorre quando a palavra é formada por
elementos provenientes de línguas diferentes. • Exemplos: automóvel = auto (grego) + móvel (latim). televisão = tele (grego) + visão (latim). abreugrafia = abreu (português) + grafia (grego). alcoômetro = álcool (árabe) + metro (grego). c) Onomatopeia → ocorre quando se formam palavras
que buscam representar os sons dos seres, das coisas, da natureza. • Exemplos: vapt-vupt! tique-taque. toc-toc! miau! d) Siglonimização → é o processo de formação das
siglas. • Exemplos:
FGTS = Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. IBOPE = Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. CEP = Código de Endereçamento Postal. DNER = Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. SENAC = Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. e) Neologismos → palavras deixam de ser usadas e
tornam-se arcaicas, e palavras novas são criadas. A esse processo de criação lexical dá-se o nome de neologismo. • Exemplos: deletar = apagar. clicar = dar cliques com o mouse. bebemorar = junção de beber e comemorar. indescartável = que não pode ser descartável. microcurso = curso de pequena extensão. lulistas = partidários do presidente Lula.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. O prefixo e o sufixo que compõem a palavra ―despenteada‖ encontram similaridade de sentido em: (FATEC/SP)
a) imaginava. b) deslealdade. c) dissílabo. d) infelicidade. e) impossibilitado. 02. Assinale a alternativa cujo prefixo ―sub-‖ tem o sentido de posteridade: (UFRJ)
a) sublinhar. b) subsequente. c) subdesenvolvimento. d) subjacente. e) submisso. 03. Assinale as séries cujos processos de formação de palavras são, respectivamente, parassíntese, derivação regressiva, derivação prefixal e sufixal e hibridismo:
a) embarcar / abandono / enriquecer / televisão. b) encestar / namoro / infelizmente / sociologia. c) enfraquecer / cinema / deslealdade / burocracia. d) enlatar / castigo / desafio / geologia. e) entrega / busca / inutilidade / sambódromo. 04. Em ―super-homem, desleal e pré-história‖ o processo de derivação foi:
a) prefixação. b) derivação imprópria. c) sufixação. d) derivação progressiva. e) derivação progressiva. 05. O item em que a significação, entre parênteses não está de acordo com o prefixo é:
a) descanso (dificuldade, privação). b) inexistente (negação). c) composição (companhia, combinação). d) induzir (movimento para dentro). e) previsão (anterioridade). 06. Das palavras abaixo, aquela cujo prefixo apresenta sentido diferente das demais é:
a) inútil.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
34
b) irrealidade. c) imigrante. d) imperfeito. e) interminável. 07. Assinale o item em que uma das palavras não completa a série de cognatos:
a) decair / cadente / queda / caduco. b) pedreiro / apedrejar / petrificar / petróleo. c) regimento / regicida / regente / Regina. d) pedalar / pedestre / bípede / pedicure. e) corante / colorido / incolor / cordial. 08. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas por derivação sufixal:
a) duradouro / inativo / pára-quedas / preconcebido. b) cabecear / celeste / cooperar / objeto. c) movediço / mourisco / chuvinha / bebedeira. d) terreno / campal / injusto / conteúdo. e) hebreu / mineiro / doente / banana. 09. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas apenas por derivação prefixal:
a) contradizer / extraoficial / pintura / papel. b) ilegal / prefácio / percorrer / progresso. c) exportar / justapor / bispado / glóbulo. d) internacional / anterior / areal / meia. e) ultrapassar / refazer / advocacia / bronquite. 10. Marque relação incorreta quanto ao processo de formação das palavras:
a) brancura — derivação sufixal. b) quero-quero — composição por justaposição. c) alvejar — derivação parassintética. d) braços — forma primitiva. e) desdobrar — derivação prefixal e sufixal. 11. Ao apresentar a forma ―encorujar-se‖, possibilita que entendamos que ela é derivada do substantivo coruja, com o acréscimo de:
a) um prefixo e de um sufixo que deriva verbos de substantivos. b) um prefixo que deriva adjetivos de substantivos e de um sufixo. c) um radical e de um sufixo que deriva verbos de substantivos. d) um prefixo e de um sufixo que deriva adjetivos de substantivos. e) uma desinência verbal que indica modo, tempo e pessoa. 12. Indique nas colunas abaixo o numeral correspondente aos corretos processos de formação das palavras.
I. peixe-espada. II. livraria. III. deter. IV. planalto. V. desalmado. (__) composição por aglutinação. (__) composição por justaposição. (__) derivação parassintética. (__) derivação por sufixo. (__) derivação por prefixo. Correspondem corretamente:
a) IV / V / I / III / II. b) IV / I / V / II / III.
c) V / I / III / II / IV. d) III / II / I / IV / V. e) II / I / III / V / IV. 13. Na frase ―Ela tem um quê misterioso‖, o processo de formação da palavra destacada chama-se:
a) composição. b) aglutinação. c) justaposição. d) derivação imprópria. e) parassíntese.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E B B A A C E C B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B D * * * * * * *
SINTAXE
RELAÇÕES DE COORDENAÇÃO ENTRE ORAÇÕES E
ENTRE TERMOS DA ORAÇÃO
A sintaxe é a parte da gramática que estuda a estrutura da frase, analisando as funções que as palavras desempenham numa oração e as relações que estabelecem entre si. A sintaxe estuda também as relações existentes entre as diversas orações que formam um período. Para realizar a análise sintática de uma oração, é necessário identificar e classificar o verbo. É a partir dele que se descobre qual o sujeito da oração, se há a indicação de qualidade, estado ou modo de ser do sujeito, se ele pratica uma ação ou se a sofre, se há complemento verbal, se há circunstância (adjunto adverbial), etc. Às vezes o verbo não se apresenta sozinho em uma oração. Em muitos casos, surgem dois ou mais verbos juntos, para indicar que se pratica ou se sofre uma ação, ou que o sujeito possui uma qualidade. A essa junção, dá-se o nome de locução verbal. Toda locução verbal é formada por um verbo auxiliar (ou mais de um) e um verbo principal (somente um). Antes de tudo, é fundamental aprender o conceito de frase, oração e período. 1. Frase
É todo enunciado linguístico capaz de estabelecer um processo de comunicação, ou seja, é todo enunciado que possui sentido completo. • Exemplos: Silêncio!, Fogo! Muito bem! 2. Oração
É toda estrutura linguística centrada em um verbo ou uma locução verbal. Podemos afirmar ser toda estrutura que se biparte em sujeito e predicado, e, excepcionalmente, só em predicado, quando a declaração se encerra em si mesma sem referência particular a nenhum ser.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
35
• Exemplos: ―Raspou, achou, ganhou!‖, Amanhã o governo deve anunciar um novo pacote econômico. 3. Período
É a frase formada por uma ou mais oração. Classifica-se: a) Simples: formado por uma única oração, denominada
absoluta. • Exemplo: Ainda existem pessoas honestas neste país? b) Composto: formado por mais de uma oração.
• Exemplo:
I. ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE OS TERMOS DA ORAÇÃO
Segundo uma análise sintática, a oração se encontra dividida em: - termos essenciais; - termos integrantes; - termos acessórios. a) Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. b) Os termos integrantes da oração são o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, o complemento nominal e o agente da passiva. c) Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo.
• Exemplos: I. Amanhã, a Madalena pagará suas dívidas ao banco. Sujeito: a Madalena. Predicado: pagará suas dívidas ao banco. Objeto direto: suas dívidas. Objeto indireto: ao banco. Adjunto adverbial: amanhã. Adjunto adnominal: a, suas. II. O diretor está livre de compromissos. Sujeito: o diretor. Predicado: está livre de compromissos. Predicativo do sujeito: livre. Complemento nominal: compromissos. - Termos Essenciais
Sujeito e Predicado
Para que a oração tenha significado, são necessários os termos essenciais: o sujeito e o predicado. a) Sujeito
É termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Exemplo: As praias estão cada vez mais poluídas.
| (sujeito)
b) Predicado
É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. • Exemplo: As praias estão cada vez mais poluídas.
| (predicado)
Os verbos no predicado
Em todo predicado existe necessariamente um verbo ou uma locução verbal. Para analisar a importância do verbo no predicado, devemos considerar dois grupos distintos: os verbos nocionais e os não nocionais.
a) Os verbos nocionais são os que exprimem processos; em outras palavras, indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. • Exemplos: acontecer / considerar / desejar / julgar / pensar / querer / suceder / chover / correr fazer / nascer / pretender / raciocinar... → Atenção: Esses verbos são sempre núcleos dos
predicados em que aparecem. b) Os verbos não nocionais exprimem estado; são mais conhecidos como verbos de ligação. • Exemplos: ser / estar / permanecer / continuar / andar / passar / persistir / virar / ficar / acabar / tornar-se... → Atenção: Os verbos não nocionais sempre fazem
parte do predicado, mas não atuam como núcleos. Para perceber se um verbo é nocional ou não nocional, é necessário considerar o contexto em que é usado: assim, na oração: ―Ela anda muito rápido‖, o verbo andar exprime uma ação, atuando como um verbo nocional. Já na oração: ―Ela anda triste‖, o verbo exprime um estado, atuando como verbo não nocional. Predicação verbal
É o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação.
a) Verbos intransitivos
Além dos verbos transitivos, existem verbos que não requerem a presença de complementos verbais dado apresentarem significados completos, como os verbos ―viver‖, ―nascer‖, ―morrer‖, ―casar‖, entre outros. b) Verbos transitivos diretos
Num verbo transitivo direto, o objeto direto completa o significado do verbo respondendo, principalmente, às perguntas ―o quê?‖ e ―quem?‖. Habitualmente, não são utilizadas preposições antes de um objeto direto. • Exemplo: Verbo fazer: Fazer o quê? Fazer um bolo, exercícios, os deveres... c) Verbos transitivos indiretos
• Exemplo:
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
36
Verbo precisar: Precisar de quê? Precisar de dinheiro, de ajuda, de uma ideia... d) Verbos transitivos diretos e indiretos
Num verbo transitivo direto e indireto, tanto objeto direto como o objeto indireto completam o significado do verbo. Habitualmente, o objeto direto indica coisas e responde à pergunta o quê?, sem o auxílio de uma preposição, e o objeto indireto indica pessoas, respondendo às perguntas a quem? de quem? para quem? em quem?, com o auxílio de uma preposição. Os verbos transitivos diretos e indiretos são também chamados de verbos bitransitivos. • Exemplos: Verbo emprestar: Emprestar o quê? A quem? Emprestar o vestido à irmã, o livro ao amigo, o carro ao filho... - Termos Integrantes da Oração
Os principais termos integrantes da oração são os complementos verbais (objeto direto e objeto indireto), o complemento nominal e o agente da passiva.
O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto podem também ser considerados termos integrantes da oração, por atuarem como complementos nominais e verbais. Essa classificação não é, contudo, unânime. a) Objeto Direto
É o termo da oração que indica o elemento que sofre a ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo direto. • Exemplos: Minha filha está lendo o livro no jardim. Nunca experimentei essa receita. b) Objeto Indireto
É um termo preposicionado que indica o elemento ao qual se destina ação verbal. Completa o sentido de um verbo transitivo indireto. • Exemplos: O filho não obedeceu ao pai. Neste momento, eu preciso de sua ajuda. c) Complemento Nominal
O complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de um nome, como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto sem esse complemento, como: alheio a; cheio de; descontente com; perito em; devoção por. • Exemplos: Minha vizinha está cheia de dores. Ainda não estou pronta para o teste. d) Agente da Passiva
O agente da passiva é um termo que existe apenas em orações na voz passiva analítica. Indica quem pratica a ação, correspondendo ao sujeito da voz ativa. É um
termo preposicionado, introduzido pela preposição por e suas formas flexionadas (pelo, pela, pelos, pelas). • Exemplos: A apresentação foi realizada pela professora de Filosofia. Todo o trabalho foi feito por mim. e) Predicativo do Sujeito
O predicativo do sujeito é um termo que existe apenas nos predicados nominais. Atribui uma qualidade ao sujeito, caracterizando-o. • Exemplos: Meu melhor amigo está tão triste. Você anda agitada desde ontem. f) Predicativo do Objeto
O predicativo do objeto é um termo que existe apenas nos predicados verbo-nominais. Atribui uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto, caracterizando-os. • Exemplo: Eu considero este assunto importantíssimo! - Termos Acessórios da Oração
São aqueles que podem ser retirados da frase sem alterar sua estrutura sintática, uma vez que não são indispensáveis. O seu uso, contudo, poderá ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida. Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo.
a) Adjunto Adnominal
Atribuem características ao substantivo que acompanham. Podem ser representados por um artigo, por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um pronome adjetivo e por um numeral adjetivo. • Exemplos: Aquele livro velho é meu. Meu filho tem uma camisa preta. Observação! Não confunda! O adjunto adnominal é frequentemente confundido com o complemento nominal. O adjunto adnominal é dispensável, sendo uma informação acessória. Refere-se a um substantivo concreto e pode ser ou não precedido de uma preposição. O complemento nominal é uma informação obrigatória. Vem sempre precedido de uma preposição e está ligado a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. b) Adjunto Adverbial
O adjunto adverbial é usado para indicar uma circunstância, transmitindo uma ideia de tempo, modo, intensidade, lugar, afirmação, dúvida...
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
37
Existem adjuntos adverbiais de afirmação, de negação, de causa, de lugar, de tempo, de intensidade, de companhia, de dúvida, de concessão, de instrumento, de meio, de modo, de condição, de finalidade, de assunto, de direção, de exclusão, de frequência, de matéria, de conformidade. • Exemplos: A mãe abriu, lentamente, a porta do quarto da filha. Amanhã, a funcionária virá ao escritório assinar o contrato. c) Aposto
O aposto fornece novas informações sobre um dos termos da oração, estando sintaticamente relacionado com ele. O aposto desenvolve, explica, enumera, esclarece, detalha, especifica outro termo da oração. • Exemplos: Sempre fui apaixonada por Pedro, o mais simpático de todos os meninos. As minhas duas primas, Cátia e Beth, moram no Rio de Janeiro. d) Vocativo
O vocativo não é um dos termos acessórios da oração. é um termo independente que não se relaciona sintaticamente com os outros termos da oração. • Exemplos: Mariana, venha! Vamos ouvir, minha gente!
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Assinale a alternativa que contenha, respectivamente: um pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito e um pronome pessoal do caso oblíquo funcionando como objeto direto: (FMU-
Fiam/SP) a) Eu comecei a reforma da Natureza por este passarinho b) E mais uma vez me convenci da ―tortura‖ destas coisas. c) Todos a ensinavam a respeitar a Natureza. d) Ela os ensina a fazer ninhos nas árvores. e) Ela não convencia ninguém disso. 02. Em: ―Chamou-se um eletricista para a instalação dos fios‖ o termo destacado é: (FCC)
a) objeto direto. b) sujeito. c) objeto indireto. d) agente da passiva. e) predicativo do sujeito. 03. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos. (FEI/SP)
I. Insistiu em que permanecesse no clube. II. Não há duvida de que disse a verdade. III. É preciso que aprendas ser independente. IV. A verdade é que não saberia viver sem ela. Correspondem corretamente:
a) sujeito / objeto direto / complemento nominal / predicativo do sujeito. b) predicativo do sujeito / complemento nominal / objeto direto / sujeito. c) sujeito / predicativo do sujeito / objeto indireto / complemento nominal. d) objeto indireto / complemento nominal / sujeito / predicativo do sujeito. e) complemento nominal / sujeito / predicativo do sujeito / objeto indireto. 04. Indique a frase que apresenta a palavra ―se‖ como pronome apassivador: (EPAMIG/MG)
a) ―Se não chego a tempo...‖ b) ―Afastou-se o diretor, pisando forte.‖ c) Apagaram-se as luzes. d) Precisa-se de responsabilidade. e) Deu-se pressa em sair. 05. No período: ―Falsos conceitos, meia ciência por parte de professores, complicação e pedantismo de nomenclatura vazia, tudo isso produziu e produz nos alunos uma sadia aversão pela análise lógica.‖. A expressão ―pela análise lógica‖ é: (FOC/SP)
a) adjunto adnominal. b) agente da passiva. c) complemento nominal. d) objeto indireto. e) objeto direto. 06. Assinale a alternativa correspondente ao período em que há agente da passiva: (UEL/PR)
a) O rapaz foi preso por um investigador, compadre do Bertolão. b) O coração não resistiu à prova. c) Não o sabíamos doente. d) Tão grande e forte, não era resistente à bebida. e) Seu apartamento fora interditado poucas horas depois do crime.
―E agora, José? A festa acabou A luz apagou O povo sumiu
A noite esfriou...‖ (Carlos Drummond de Andrade)
07. Em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que: (FEBASP)
a) os verbos são todos transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. b) os verbos são todos transitivos diretos, embora o objeto direto não esteja expresso; e os verbos estão no pretérito perfeito. c) o primeiro e o segundo verbos são transitivos diretos e os últimos são d) transitivos indiretos e estão no pretérito mais-que-perfeito. e) todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito. 08. No período ―Quando enxotada por mim foi pousar na vidraça‖, qual a função sintática de ―por mim‖? (UFU/MG) a) objeto direto. b) sujeito. c) objeto indireto. d) complemento nominal. e) agente da passiva.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
38
09. Não me preocupa o futuro. Julgo-me capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Os termos destacados são, respectivamente: (ESPM/SP)
a) sujeito / objeto direto / objeto direto / objeto indireto. b) objeto indireto / objeto direto / objeto indireto / complemento nominal. c) objeto direto / objeto direto / predicativo do objeto / adjunto adnominal. d) objeto indireto / sujeito / sujeito / objeto direto. e)objeto direto / sujeito / predicativo do objeto / objeto direto. 10. Analise as seguintes frases:
I. Alugam-se vagas. II. Precisa-se de faxineiros. III. Paraibana expansiva machucou-se. Os termos destacados exercem, respectivamente, a função sintática de: (FMU/SP)
a) objeto direto / objeto indireto / objeto direto. b) sujeito / sujeito / sujeito. c) sujeito / objeto indireto / objeto direto. d) sujeito / objeto indireto / sujeito. e) sujeito / sujeito / objeto direto. 11. Dos termos destacados, só não é predicativo do sujeito: (Univ. Fed. de Ouro Preto/MG)
a) ―Os outros fingiam acreditar, desconfiados.‖ b) ―Manarairema esperou impaciente.‖ c) ―… enquanto os homens andavam ativos…‖ d) ―Se eles são soberbos, nós também…‖ e) ―Ninguém almoçou direito, receando…‖ ―Dois pais conversam sobre o futuro dos filhos: – O que seu filho vai ser quando terminar o primeiro grau? – pergunta um deles. – Pelo jeito, acho que vai ser um velho de barbas brancas… – responde o outro‖.
12. Analisando-se morfológica e sintaticamente os termos ―um‖ em destaque acima, pode-se afirmar que são, respectivamente: (U. Cuiabá/MT)
a) artigo indefinido e adjunto adnominal / artigo indefinido e adjunto adnominal. b) pronome adjetivo e objeto direto / artigo indefinido e objeto direto. c) pronome substantivo indefinido e sujeito / artigo indefinido e adjunto adnominal. d) pronome adjetivo definido e adjunto adnominal / numeral cardinal e sujeito. e) pronome adjetivo definido e adjunto adnominal / numeral cardinal e objeto direto. 13. Na frase ―Apesar de vistosa, a construção acelerada daquele edifício deixou-nos insatisfeitos novamente.‖, os termos em destaque no período são, respectivamente: (UM/SP)
a) adjunto adnominal / objeto indireto / adjunto adverbial. b) complemento nominal / objeto direto / adjunto adverbial. c) adjunto adnominal / objeto direto / predicativo do objeto. d) complemento nominal / objeto direto / predicativo do objeto. e) adjunto adnominal / objeto indireto / adjunto adnominal. 14. Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que lhe é adjunto adnominal: (UFSC)
a) ―… anuncio-lhe: Filho, amanhã vai comigo. b) O peixe caiu-lhe na rede. c) Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais. d) Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã. e) Sim, alguém lhe propôs emprego. 15. Nos enunciados abaixo, há adjuntos adnominais e apenas um complemento nominal. Assinale a alternativa que contém o complemento nominal: (FUVEST/SP) a) faturamento das empresas. b) ciclo de graves crises. c) energia desta nação. d) história do mundo. e) distribuição de poderes e renda.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B D C C A D E E D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E C D B E * * * * *
SINTAXE (II)
ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE AS ORAÇÕES
Os períodos compostos são formados por várias orações. As orações estabelecem entre si relações de coordenação ou de subordinação.
Período composto por coordenação
São formados por orações independentes. Apesar de estarem unidas por conjunções ou vírgulas, as orações coordenadas podem ser entendidas individualmente porque apresentam sentidos completos. As orações coordenadas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, conforme a ideia que transmitem: de
adição, de oposição, de alternância, de conclusão e de explicação relativamente à oração anterior. a) Aditivas: expressam ideia de adição,
acrescentamento. Normalmente indicam fatos, acontecimentos ou pensamentos dispostos em sequência. As conjunções coordenativas aditivas típicas são "e" e "nem" (= e + não). Introduzem as orações coordenadas sindéticas aditivas. • Exemplo: Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. As orações sindéticas aditivas podem também estar ligadas pelas locuções não só... mas (também), tanto... como, e semelhantes. Essas estruturas costumam ser usadas quando se pretende enfatizar o conteúdo da segunda oração. • Exemplos: Chico Buarque não só canta, mas também (ou como também) compõe muito bem. Não só provocaram graves problemas, mas (também) abandonaram os projetos de reestruturação social do país.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
39
→ Atenção: Como a conjunção "nem" tem o valor da
expressão "e não", condena-se na língua culta a forma "e nem" para introduzir orações aditivas. • Exemplo: Não discutimos várias propostas, nem (= e não) analisamos quaisquer soluções. b) Adversativas: exprimem fatos ou conceitos que se
opõem ao que se declara na oração coordenada anterior, estabelecendo contraste ou compensação. "Mas" é a conjunção adversativa típica. Além dela, empregam-se: porém, contudo, todavia, entretanto e as locuções no entanto, não obstante, nada obstante. Introduzem as orações coordenadas sindéticas adversativas. • Exemplos: ―O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade.‖ (Ferreira Gullar) O país é extremamente rico; o povo, porém, vive em profunda miséria. Tens razão, contudo controle-se. Janaína gostava de cantar, todavia não agradava. O time jogou muito bem, entretanto não conseguiu a vitória. → Atenção: Algumas vezes, a adversidade pode ser
introduzida pela conjunção ―e‖. Isso ocorre normalmente em orações coordenadas que possuem sujeitos diferentes. • Exemplo: Deus cura, e o médico manda a conta. Nesse ditado popular, é clara a intenção de se criar um contraste. Observe que equivale a uma frase do tipo: ―Quem cura é Deus, mas é o médico quem cobra a conta!‖ → Atenção: A conjunção ―mas‖ pode aparecer com valor
aditivo. • Exemplo: Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. c) Alternativas: expressam ideia de alternância de fatos
ou escolha. Normalmente é usada a conjunção "ou". Além dela, empregam-se também os pares: ora...ora, já...já, quer...quer..., seja...seja, etc. Introduzem as orações coordenadas sindéticas alternativas. • Exemplos: Diga agora ou cale-se para sempre. Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. d) Conclusivas: exprimem conclusão ou consequência
referentes à oração anterior. As conjunções típicas são: logo, portanto e pois (posposto ao verbo). Usa-se ainda: então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, etc. Introduzem as orações coordenadas sindéticas conclusivas. • Exemplos: Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. O time venceu, por isso está classificado.
Aquela substância é toxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. A situação econômica é delicada; devemos, pois, agir cuidadosamente. e) Explicativas: indicam uma justificativa ou uma
explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. As conjunções que merecem destaque são: que, porque e pois (obrigatoriamente anteposto ao verbo). Introduzem as orações coordenadas sindéticas explicativas. • Exemplos: Vou embora, que cansei de esperá-lo. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. → Atenção: Cuidado para não confundir as orações
coordenadas explicativas com as subordinadas adverbiais causais. Observe a diferença entre elas: a) Orações Coordenadas Explicativas: caracterizam-
se por fornecer um motivo, explicando a oração anterior. • Exemplo: A criança devia estar doente, porque chorava muito. (O choro da criança não poderia ser a causa de sua doença.) b) Orações Subordinadas Adverbiais Causais:
exprimem a causa do fato. • Exemplo: Henrique está triste porque perdeu seu emprego. (A perda do emprego é a causa da tristeza de Henrique.) Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a precedente e que esta é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial causal.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Em ―Teimou em contratar os serviços de uma empresa, se bem que não houvesse necessidade.‖, reinicie com ―Não havia necessidade…‖:
a) porém. b) ainda que. c) visto que. d) portanto. e) porque. 02. No fragmento ―Podemos falar qualquer coisa: estou absolutamente calmo‖, os dois-pontos do período acima poderiam ser substituídos pela conjunção: (UCDB/MT)
a) e. b) portanto. c) logo. d) pois. e) mas. 03. Assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética:
a) Defenda a vida, denuncie a violência contra a mulher. b) Ele trabalha em casa e possui um escritório de advocacia.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
40
c) A tecnologia é um bem, mas é instrumento de muitos crimes. d) Quer chova, quer não, iremos à igreja. e) Cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. 04. Em ―Ele não conversa mais comigo, portanto, vou ignorá-lo também.‖, a oração em destaque é:
a) Oração coordenada sindética aditiva. b) Oração coordenada sindética conclusiva. c) Oração coordenada sindética explicativa. d) Oração coordenada assindética. e) Oração coordenada sindética adversativa. 05. A única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa é: (AOCP)
a) Não vou comer pizza, nem tomar refrigerante. b) Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar. c) Previna-se: use camisinha. d) Irei de ônibus ou pegarei um táxi. e) Estou doente, por isso, não irei trabalhar. ―Wolton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes.‖
06. O trecho destacado é uma oração: (AOCP)
a) coordenada sindética aditiva. b) coordenada sindética adversativa. c) coordenada sindética conclusiva. d) coordenada assindética. e) coordenada sindética explicativa. 07. A oração ―Negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas‖, é coordenada: (IBADE) a) assindética. b) aditiva. c) adversativa. d) conclusiva. e) completiva nominal.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A D A B D B D * * *
SINTAXE (III)
PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO
São formados por orações dependentes uma da outra. Como as orações subordinadas apresentam sentidos incompletos, não podem ser entendidas de forma separada. As orações subordinadas dividem-se em três grupos, de acordo com a função sintática que desempenham e a classe de palavras a que equivalem. Podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Para notar as diferenças que existem entre esses três tipos de orações, tome como base a análise do período abaixo: Forma das Orações Subordinadas
Observe o exemplo abaixo de Vinícius de Moraes:
―Eu sinto | que em meu gesto existe o teu gesto.‖ Oração Principal | Oração Subordinada Observe que na Oração Subordinada temos o verbo ―existe‖, que está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. As orações subordinadas que apresentam verbo em qualquer dos tempos finitos (tempos do modo do indicativo, subjuntivo e imperativo), são chamadas de orações desenvolvidas ou explícitas. Podemos modificar o período acima. Veja: ―Eu sinto | existir em meu gesto o teu gesto.‖ Oração Principal | Oração Subordinada Conforme a função sintática que desempenham, as orações subordinadas são classificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais.
1. Orações Subordinadas Substantivas
Têm valor de substantivo e vêm introduzidas, geralmente, por conjunção integrante (que, se). → Atenção: Observe que a oração subordinada
substantiva pode ser substituída pelo pronome ―isso‖. Assim, temos um período simples: • Exemplo: É fundamental ―ISSO‖ ou ―ISSO‖ é fundamental.
(sujeito) | (sujeito) Dessa forma, a oração correspondente a ―isso‖ exercerá a função de sujeito. a) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva: exerce
a função sintática de sujeito do verbo da oração principal • Exemplo: Foi anunciado que Jorge será o novo diretor. Estruturas típicas que ocorrem na oração principal:
a) Verbos de ligação + predicativo, em construções do
tipo: ―É bom / É útil / É conveniente / É certo / Parece certo / É claro / Está evidente / Está comprovado...‖ • Exemplo: É bom que você compareça à minha festa. b) Expressões na voz passiva, como:
―Sabe-se / Soube-se / Conta-se / Diz-se / Comenta-se / É sabido / Foi anunciado / Ficou provado...‖ • Exemplo: Sabe-se que Aline não gosta de Pedro. → Atenção: Quando a oração subordinada substantiva
é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na 3ª pessoa do singular. b) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta:
exerce função de objeto direto do verbo da oração principal.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
41
As orações subordinadas substantivas objetivas diretas desenvolvidas são iniciadas por: Conjunções integrantes ―que‖ (às vezes elíptica) e ―se‖. c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta:
atua como objeto indireto do verbo da oração principal. Vem precedida de preposição. • Exemplo: A empresa precisa de que todos os funcionários sejam assíduos. → Atenção: Em alguns casos, a preposição pode estar
elíptica na oração. • Exemplo: Ana não gosta (de) que a chamem de senhora. (oração subordinada substantiva objetiva indireta) d) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal: completa um nome que pertence à oração
principal e também vem marcada por preposição. • Exemplo: Tenho esperança de que tudo será melhor no futuro! → Atenção: Observe que as orações subordinadas
substantivas objetivas indiretas integram o sentido de um verbo, enquanto que orações subordinadas substantivas completivas nominais integram o sentido de um nome. Para distinguir uma da outra, é necessário levar em conta o termo complementado. Essa é, aliás, a diferença entre o objeto indireto e o complemento nominal: o primeiro complementa um verbo, o segundo, um nome. e) Oração Subordinada Substantiva Predicativa:
exerce papel de predicativo do sujeito do verbo da oração principal e vem sempre depois do verbo ser. • Exemplo: O importante é que minha filha é feliz. → Atenção: Em certos casos, usa-se a preposição
expletiva ―de‖ para realce. • Exemplo: A impressão é de que não fui bem na prova. f) Oração Subordinada Substantiva Apositiva: exerce
função de aposto de algum termo da oração principal. • Exemplo: Apenas quero isto: que você desapareça da minha vida!
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Na seguinte passagem ―Pode-se dizer que a tarefa crítica é puramente formal.‖, temos uma oração destacada que é ____ e um ―se‖ que é ____: (PUC/SP) a) substantiva objetiva direta / partícula apassivadora. b) substantiva predicativa / índice de indeterminação do sujeito. c) relativa / pronome reflexivo. d) substantiva subjetiva / partícula apassivadora. e) adverbial consecutiva / índice de indeterminação do sujeito.
02. Em ―Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais‖, a oração é: (FCE/SP)
a) substantiva completiva nominal. b) substantiva objetiva indireta. c) substantiva predicativa. d) substantiva objetiva direta. e) substantiva subjetiva. 03. No trecho ―Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade?‖, há oração subordinada substantiva apositiva em: (UCMG) a) Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como pasmados. b) As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. c) Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito: não admira que ela me preferisse. d) Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada. e) Nós tínhamos confiança de que Deus nos salvaria. ―Já era noite. Parecia viável que todos entendessem que, naquele momento, deviam-se lembrar de que nada é eternamente assim. Mas nada acontecia. A verdade é que todos estavam extasiados e certos de que não há prazeres no mundo.‖
04. As orações destacadas são, respectivamente, subordinadas substantivas: (CEFET/MG)
a) subjetiva, subjetiva, subjetiva e completiva nominal. b) subjetiva, objetiva direta, subjetiva e completiva nominal. c) objetiva direta, subjetiva, predicativa e objetiva indireta. d) subjetiva, objetiva indireta, predicativa e completiva nominal. e) objetiva direta, objetiva indireta, predicativa e objetiva indireta 05. No período ―Todos tinham certeza de que seriam aprovados.‖, a oração destacada é: (FIT/SP)
a) substantiva objetiva indireta. b) substantiva completiva nominal. c) substantiva apositiva. d) substantiva subjetiva. e) n.d.a. ―Ouvindo-te dizer: Eu te amo, creio, no momento, que sou amado. No momento anterior e no seguinte como sabê-lo.‖
06. O pronome o está no lugar da oração: (FAAP/SP)
a) ouvindo-te. b) dizer. c) eu te amo. d) que sou amado. e) como saber. 07. Em ―É necessário que todos se esforcem.‖, a oração destacada é: (F. Objetivo/SP)
a) substantiva objetiva direta. b) substantiva objetiva indireta. c) substantiva completiva nominal. d) substantiva subjetiva. e) substantiva predicativa.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
42
08. No período ―Enfim resolveu o Leão sair para fazer sua pesquisa, verificar se ainda era o Rei dos Animais‖, a oração em destaque é: (UFAC)
a) subordinada adverbial condicional. b) subordinada substantiva objetiva indireta. c) subordinada adverbial concessiva. d) subordinada substantiva objetiva direta. e) subordinada substantiva predicativa. 09. Assinale a alternativa em que a oração destacada é uma subordinada completiva nominal: (FEI/SP)
a) Este é o relatório de que lhe falei ontem. b) Lembraram-se de que a reunião fora adiada. c) Insisto em que partas logo. d) Espalhou-se a notícia de que ele chegou. e) É preciso amar as pessoas. 10. A alternativa em que se encontra uma oração subordinada substantiva objetiva direta iniciada com a conjunção se é: (PUCC/SP)
a) Só obteremos a aprovação se tivermos encaminhado corretamente os papéis. b) Haverá racionamento de águas em todo o país, se persistir a seca. c) Falava como se fosse especialista no assunto. d) Se um deles entrasse, todos exigiriam entrar também. e) Queria saber dos irmãos se alguém tinha alguma coisa contra o rapaz. 11. Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa? (UFPA)
a) Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares. b) Sou favorável a que o aprovem. c) Desejo-te isto: que sejas feliz. d) O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular. e) Lembre-se de que tudo passa neste mundo. 12. Nos trechos ―… não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, e um ou dois minutos de prazer‖ e ―Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras‖, o ―que‖ está introduzindo, respectivamente, orações: (PUC/SP)
a) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta. b) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva direta. c) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva subjetiva. d) subordinada substantiva completiva nominal, subordinada adjetiva explicativa. e) subordinada adjetiva explicativa, subordinada substantiva predicativa. 13. As orações subordinadas substantivas que aparecem no período abaixo são todas subjetivas, exceto: (UFV/MG)
a) Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. b) É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. c) Ignoras quanto custou meu relógio. d) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos. e) Convinha-nos que você estivesse presente à reunião 14. Na frase ―Argumentei que não é justo que o padeiro ganhe festas.‖, as orações destacadas, introduzidas por que, são, respectivamente: (UFU/MG)
a) ambas subordinadas substantivas objetivas diretas. b) ambas subordinadas subjetivas.
c) subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva subjetiva. d) subordinada objetiva direta e coordenada assindética. e) subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva predicativa. 15. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa: (PUCC/SP)
a) Espero que venhas hoje. b) O aluno que trabalha é bom. c) Meu desejo é que te formes logo. d) És tão inteligente como teu pai. e) n.d.a.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B E D B D D D D E
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A C C C * * * * *
SINTAXE (IV)
2. Orações Subordinadas Adverbiais
São aquelas que exercem a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Dessa forma, podem exprimir circunstância de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, etc. Quando desenvolvidas, vêm introduzidas por uma das conjunções subordinativas (com exclusão das integrantes). Classifica-se de acordo com a conjunção ou locução conjuntiva que a introduz. • Exemplo: Durante a madrugada, eu olhei você dormindo. (oração subordinada adverbial)
Naquele momento, senti uma das maiores emoções de minha vida. Quando vi a estátua, senti uma das maiores emoções de minha vida. No primeiro período, ―naquele momento‖ é um adjunto adverbial de tempo, que modifica a forma verbal ―senti‖. No segundo período, esse papel é exercido pela oração ―Quando vi a estátua‖, que é, portanto, uma oração subordinada adverbial temporal. Essa oração é desenvolvida, pois é introduzida por uma conjunção subordinativa (quando) e apresenta uma forma verbal do modo indicativo (―vi‖, do pretérito perfeito do indicativo). Seria possível reduzi-la, obtendo-se: • Exemplo: Ao ver a estátua, senti uma das maiores emoções de minha vida. A oração em destaque é reduzida, pois apresenta uma das formas nominais do verbo (―ver‖ no infinitivo) e não é introduzida por conjunção subordinativa, mas sim por uma preposição (―a‖, combinada com o artigo ―o‖). → Atenção: A classificação das orações subordinadas
adverbiais é feita do mesmo modo que a classificação dos adjuntos adverbiais. Baseia-se na circunstância expressa pela oração.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
43
Circunstâncias expressas pelas orações subordinadas adverbiais
a) Oração Subordinada Adverbial Causal: a ideia de
causa está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato, ao motivo do que se declara na oração principal. É ―aquele ou aquilo que determina um acontecimento‖. • Exemplo: Ele não pode esperar porque tem hora marcada no médico. - Conjunções e locuções ―causais‖: porque, como (sempre introduzido na oração anteposta à oração principal), pois, pois que, já que, uma vez que, visto que... b) Oração Subordinada Adverbial Consecutiva:
exprime um fato que é consequência, que é efeito do que se declara na oração principal. • Exemplo: A Luísa esperou tanto tempo que adormeceu no sofá. - Conjunções e locuções ―consecutivas‖: que (precedido de tal, tanto, tão, tamanho)... c) Oração Subordinada Adverbial Final: indica a
intenção, a finalidade daquilo que se declara na oração principal. • Exemplo: Eles ficaram vigiando para que nós chegássemos a casa em segurança. - Conjunções e locuções ―finais‖: a fim de que, que, porque (= para que) e para que... d) Oração Subordinada Adverbial Temporal:
acrescenta uma ideia de tempo ao fato expresso na oração principal, podendo exprimir noções de simultaneidade, anterioridade ou posterioridade. • Exemplo: Mal você foi embora, ele apareceu. - Conjunções e locuções ―temporais‖: quando, enquanto, mal, assim que, logo que, todas as vezes que, antes que, depois que, sempre que, desde que... e) Oração Subordinada Adverbial Condicional:
exprimem o que deve ou não ocorrer para que se realize ou deixe de se realizar o fato expresso na oração principal. Condição é ―aquilo que se impõe como necessário para a realização ou não de um fato‖. • Exemplo: Se o Paulo vier rápido, eu espero por ele. - Conjunções e locuções ―condicionais‖: se, caso, contanto que, desde que, salvo se, exceto se, a não ser que, a menos que, sem que, uma vez que (seguida de verbo no subjuntivo)... f) Oração Subordinada Adverbial Concessiva: indica
concessão às ações do verbo da oração principal, isto é, admitem uma contradição ou um fato inesperado. A ideia
de concessão está diretamente ligada ao contraste, à quebra de expectativa. • Exemplo: Embora eu esteja atrasada para o trabalho, continuarei esperando por ele. - Conjunções e locuções ―concessivas‖: embora, conquanto e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que... g) Oração Subordinada Adverbial Comparativa:
estabelece uma comparação com a ação indicada pelo verbo da oração principal. • Exemplo: Júlia se sentia como se ainda tivesse dezesseis anos. - Conjunções ou locuções ―comparativas‖: como, tão... como (quanto), mais (do) que, menos (do) que... h) Oração Subordinada Adverbial Conformativa:
indica ideia de conformidade, ou seja, exprime uma regra, um modelo adotado para a execução do que se declara na oração principal. • Exemplo: Ficaremos esperando por você, conforme combinamos ontem. - Conjunções e locuções ―conformativas‖: conforme, como, consoante e segundo (todas com o mesmo valor de conforme)... i) Oração Subordinada Adverbial Proporcional:
exprime ideia de proporção, ou seja, um fato simultâneo ao expresso na oração principal. • Exemplo: Quanto mais eu estudava, mais tinha a sensação de não saber nada. - Conjunções e locuções ―proporcionais‖: à proporção que, à medida que, ao passo que... Há ainda as estruturas: quanto maior... (maior), quanto maior... (menor), quanto menor... (maior), quanto menor... (menor), quanto mais... (mais), quanto mais... (menos), quanto menos... (mais) quanto menos... (menos).
EXERCÍCIOS CORRELATOS
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 03
[1] ―Cada pessoa [2] que chegava [1] se punha na ponta dos pés, [3] embora não pudesse ver‖.
01. Há no texto três orações, e estão numeradas. A primeira — cada pessoa se punha na ponta dos pés — chama-se: (FAAP/SP)
a) absoluta. b) principal. c) coordenada assindética. d) coordenada sindética. e) subordinada.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
44
02. A segunda oração — que chegava — é subordinada: (FAAP/SP)
a) substantiva objetiva direta. b) adverbial causal. c) adverbial final. d) adjetiva. e) substantiva completiva nominal. 03. A terceira — embora não pudesse ver — oferece uma ideia de: (FAAP/SP)
a) causa. b) fim. c) condição. d) concessão. e) consequência. 04. No período: ―É possível discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização e o consumo.‖, a oração destacada é: (FUVEST/SP)
a) subordinada adverbial causal, reduzida de particípio. b) subordinada objetiva direta, reduzida de infinito. c) subordinada objetiva direta, reduzida de particípio. d) subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinito. e) subordinada substantiva predicativa, reduzida de infinito. 05. No período ―A soldadela invade o campo da disputa, enquanto a grita aumenta em berros e assobios rudes.‖, a oração em destaque é: (UM/SP)
a) coordenada sindética temporal. b) coordenada adverbial temporal. c) subordinada substantiva temporal. d) subordinada adjetiva temporal. e) subordinada adverbial temporal.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B E D D E * * * * *
SINTAXE (V)
3. Orações Subordinadas Adjetivas
São naquelas que possuem valor e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale. As orações vêm introduzidas por pronome relativo e exercem a função de adjunto adnominal do antecedente. • Exemplo: Esta foi uma redação | bem-sucedida. Substantivo | Adjetivo (adjunto adnominal). Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedida. Nesse caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. • Exemplo: Esta foi uma redação | que fez sucesso. Oração principal | Oração subordinada adjetiva. Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que. Além de conectar (ou relacionar) duas orações, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração
subordinada: ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. → Atenção: Para que dois períodos se unam num
período composto, altera-se o modo verbal da segunda oração. • Exemplo: Refiro-me ao aluno que é estudioso. Essa oração é equivalente a: Refiro-me ao aluno o qual estuda. Forma das Orações Subordinadas Adjetivas
Quando são introduzidas por um pronome relativo e apresentam verbo no modo indicativo ou subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas são chamadas desenvolvidas. Além delas, existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que não são introduzidas por pronome relativo (podem ser introduzidas por preposição) e apresentam o verbo numa das formas nominais (infinitivo, gerúndio ou particípio). • Exemplo: Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Classificação das Orações Subordinadas Adjetivas
Na relação que estabelecem com o termo que caracterizam, as orações subordinadas adjetivas podem atuar de duas maneiras diferentes. Há aquelas que restringem ou especificam o sentido do termo a que se referem, individualizando-o. Nessas orações não há marcação de pausa, sendo chamadas subordinadas adjetivas restritivas.
Existem também orações que realçam um detalhe ou amplificam dados sobre o antecedente, que já se encontra suficientemente definido, as quais denominam-se subordinadas adjetivas explicativas.
a) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva
• Exemplo: Jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Nesse período, observe que a oração em destaque restringe e particulariza o sentido da palavra ―homem‖: trata-se de um homem específico, único. A oração limita o universo de homens, isto é, não se refere a todos os homens, mas sim àquele que estava passando naquele momento. b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa
• Exemplo: O homem, que se considera racional, muitas vezes age animalescamente. Nesse período, a oração em destaque não tem sentido restritivo em relação a palavra ―homem‖: na verdade, essa oração apenas explicita uma ideia que já sabemos estar contida no conceito de ―homem‖.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
45
→ Atenção: A oração subordinada adjetiva explicativa é
separada da oração principal por uma pausa, que, na escrita, é representada pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas: de fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas; as restritivas, não. As orações subordinadas adjetivas podem...
a) Vir coordenadas entre si: • Exemplo: É uma realidade que degrada e assusta a sociedade. (e = conjunção) b) Ter um pronome como antecedente: • Exemplo: Não sei o que vou almoçar. (o = antecedente) (que vou almoçar = Oração Subordinada Adjetiva Restritiva)
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. A alternativa que apresenta oração subordinada adjetivas restritiva é: (AOCP)
a) A irmã, que era cega, foi à festa com ele. b) Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. c) Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo meu amor. d) Gosto de ver o galo, que canta, de manhã. e) Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. 02. A única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa é:
a) Lá no porto estava um navio que apitava. b) Gosto de ouvir os pássaros a cantar de tarde. c) Este é o cão treinado pelo meu filho. d) As crianças que brincam ao ar livre são mais felizes. e)Os cães, que são animais domésticos, necessitam de muitos cuidados. 03. O elemento destacado introduz uma oração subordinada adjetiva, exceto: (AOCP | adapt.)
a) ―Das 97.549 armas de fogo que foram registradas em nome de empresas de segurança...‖ b) ―‗As empresas que atuam com segurança externa costumam ser as mais visadas.‖ c) ―‗Podemos dizer ainda que, para cada funcionário de empresa regularizada...‘‖ d) ―‗...existem problemas no setor que devem ser investigados pela PF.‘‘ e) ―Os vigilantes acompanhavam um caminhão que transportava um insumo industrial...‖ 04. Há no período uma oração subordinada adjetiva: (UF/PA) a) Ele falou que compraria a casa. b) Não fale alto, que ela pode ouvir. c) Vamos embora, que o dia está amanhecendo. d) Em time que ganha não se mexe. e) Parece que a prova não está difícil. 05. Assinale a alternativa que corresponde a uma oração subordinada adjetiva restritiva:
a) Gosto de pessoas que são otimistas.
b) A árvore, que sempre brincava quando criança, foi cortada. c) Estes jogos, que sempre me divertiram, não me interessam mais. d) Gosto de ouvir o galo cantar de manhã. e) As crianças, que são seres em desenvolvimento, necessitam da presença dos pais.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B E C D A * * * * *
CONCORDÂNCIA NOMINAL
É a relação que se estabelece entre as classes de palavras (nomes). É o que faz que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. • Exemplo: Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso, pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo ―obras‖. ―Estas‖ e não ―estes‖ obras, pronome que está no plural, já que a oração refere que são três e não apenas uma obra maravilhosa. E por que ―maravilhosas‖ e não ―maravilhoso‖? Porque o substantivo está no plural e feminino, ou seja, tudo muito bem combinado. Regras
1. Adjetivo e um substantivo
O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. • Exemplo: Que pintura bonita! 1.1. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. • Exemplo: Que bonita pintura e poema! 1.2. Quando há mais do que um substantivo, e o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. • Exemplos: Que pintura e poema bonito! Que poema e pintura bonita! Que pintura e poema bonitos! Que poema e pintura bonitos! 2. Substantivo e mais do que um adjetivo
Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas: 2.1. Colocando o artigo antes do último adjetivo. • Exemplo: Adoro a comida italiana e a chinesa.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
46
2.2. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. • Exemplo: Adoro as comidas italiana e chinesa. 3. Números Ordinais
3.1. Nos casos em que há número ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. • Exemplos: A segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. 3.2. Nos casos em que há número ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. • Exemplo: As casas segunda e terceira. 4. Verbo ―ser‖ e adjetivo
4.1. Quando o verbo "ser" vem acompanhado de um adjetivo, esse adjetivo deve ser usado sempre no masculino. • Exemplo: Paciência é necessário. 4.2. Mas, se o substantivo vem acompanhado de um artigo ou outra palavra que o modifique, o adjetivo deve concordar com esse modificador. • Exemplo: A paciência é necessária. 5. ―Um e outro‖, ―Nem um nem outro‖...
5.1. Quando um substantivo é antecedido pelas expressões "um e outro", "nem um nem outro", o substantivo fica no singular. • Exemplo: Nem um nem outro problema foi resolvido. Mas, se o substantivo estiver acompanhado de adjetivo, esse sim vai para o plural. • Exemplo: Nem um nem outro problema difíceis foram resolvidos. 5.2. ―É proibido‖, ―é necessário‖, ―é preciso‖, ―é bom‖... quando se refere a sujeito de sentido genérico, o adjetivo fica sempre no masculino singular: • Exemplos: É proibido entrada de estranhos no recinto. Fruta é bom para a saúde. Mas, se o sujeito for determinado por artigos ou pronomes, a concordância é feita normalmente. • Exemplos: É proibida a entrada. É necessária sua compreensão.
6. As palavras ―bastante‖, ―meio‖, ―pouco‖, ―muito‖, ―caro‖, ―barato‖, ―longe‖, ―só‖...
a) com valor de adjetivo, concordam normalmente com o substantivo. • Exemplos: Estas frutas estão caras. Já é meio-dia e meia. (hora) b) com valor de advérbio, são invariáveis. • Exemplos: A porta, meio aberta, deixava ver o interior da sala. As frutas custaram caro? → Atenção: A palavra bastante tem dois valores
gramaticais. Para distingui-los, lembre-se de que, como advérbio, ela equivale a ―muito, demais‖ e é invariável; como adjetivo, equivale a ―muito (a)‖, ―muito(as)‖ e é variável. • Exemplos: Ele conhece bastantes países. Ele trabalhou bastante neste inverno. 7. Os adjetivos anexo, obrigado, mesmo, próprio, só, incluso, apenso, leso, quite concordam com o substantivo a que se referem.
• Exemplos: Seguem anexas as notas. Inclusas as notas promissórias. Ela mesma providenciou. 8. Os advérbios ―só‖ (equivalente a ―somente‖), ―menos‖, ―pseudo‖ e ―alerta‖ e a expressão ―em anexo‖ são sempre invariáveis.
• Exemplos: Ela só espera uma nova oportunidade. Vou tomar um sorvete com menos calorias. Os vizinhos estavam alerta para impedir a violência. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. 9. ―Pseudo‖ e ―Todo‖ – usados em termos compostos ficam invariáveis.
• Exemplos: A pseudo-sabedoria dos tolos é bem grande. A fé todo-poderosa que nos guia é nossa salvação. 10. O adjetivo possível, nas expressões superlativas o mais possível, o melhor possível, o menos possível, o pior possível, concorda em número com o artigo.
• Exemplos: Os alimentos eram o mais baratos possível. (ou os mais baratos possíveis) 11. Tal e qual – tal, como todo determinante, concorda em gênero e número com o determinado.
• Exemplos: Tal opinião é absurda. Tais razões não me movem. → Atenção: Em correlação, tal qual também procedem à
mesma concordância.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
47
• Exemplos: Ele não era tal quais seus primos. Os filhos são tais qual o pai. Os boatos são tais quais as notícias.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Preencha as lacunas.
I. Seguem ____ várias propostas. II. Ouvi histórias as mais mirabolantes ____. III. A criança estava ____ sonolenta. Correspondem corretamente:
a) anexas / possíveis / meio. b) anexas / possível / meio. c) anexo / possíveis / meia. d) anexo / possíveis / meia. 02. Assinale a concordância incorreta:
a) Tinha belos olhos e boca. b) Todos se moviam cautelosamente, alertas ao perigo. c) Os braços e as mãos trêmulas erguiam-se para o céu. d) A terceira e a quarta séries tiveram bom índice de aprovação. 03. Assinale o item com erro de concordância:
a) Compramos dois mil e quarenta folhas de papel especial. b) Comprei oitocentos gramas de pão. c) Fizemos uma observação na página trezentos e dois d) Você ainda reside na casa dois? 04. Preencha as lacunas corretamente assinalando o adequado complemento.
I. Segue a documentação ____. II. Pedro está ____ com a tesouraria. III. Os vigias estão sempre ____. IV. Maria estava ____ encabulada. Correspondem corretamente:
a) anexo / quites / alerta / meio. b) anexo / quites / alertas / meia. c) anexa / quite / alerta / meio. d) anexa / quite / alertas / meio. 05. Preencha as lacunas.
I. Achei o chefe e sua filha muito ____. II. Vão ____ as listas do material. III. Suas Excelências estavam ____ de suas esposas. Correspondem corretamente:
a) simpáticos / anexas / acompanhadas. b) simpática / anexo / acompanhada. c) simpáticos / anexas / acompanhados. d) simpáticas / anexo / acompanhados. 06. Há concordância incorreta:
a) A nau ia afundando a olhos vistos. b) Os tratados luso-brasileiros foram revogados. c) Comprei dois vestidos verde-limão. d) Pintou paisagens as mais belas possível. 07. Assinale a frase incorretamente escrita:
a) Estavam meio atônito com a nota. b) Faltava meio capítulo para o fim.
c) Ela ficou meia aborrecida contigo. d) Já passava de meio-dia e meia. 08. Assinale a concordância injustificável:
a) Foi necessária toda a documentação pedida para a matrícula. b) É bom ter muita cautela nesse caso. c) É necessário habilidade para resolver este problema. d) Na presente situação, é válido a justificativa trazida por ele. 09. Assinale a concordância incorreta:
a) Os fatos falam por si só. b) Ele estuda História e Mitologia Grega. c) Estes produtos custam cada vez mais caro. d) Ela mesma nos agradeceu. 10. Assinale a frase que contém erro:
a) Os jogadores estavam meio fracos. b) A moça estava toda de preto. c) Era um crime de leso-patriotismo. d) Rui conhece as línguas alemãs e japonesas.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A B A C C D C D A D
TRANSITIVIDADE E REGÊNCIA DE NOMES
É a maneira de um nome (substantivo, adjetivo e advérbio) relacionar-se com seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Exemplos de regência de alguns nomes:
1. Amor
• Exemplos: Tenha ―amor a‖ seus livros. Meu ―amor pelos‖ animais me conforta. Cultivemos o ―amor da‖ família. O amor ―para com‖ a Pátria. 2. Ansioso
• Exemplos: Olhos ―ansiosos de‖ novas paisagens. Estava ―ansioso por‖ vê-la. Estou ―ansioso para‖ ler o livro. Exemplos de nomes transitivos e suas respectivas preposições:
1. Acessível a...
• Exemplo: Isto é acessível a todos. 2. Acostumado a, com...
• Exemplos: Estou acostumado a comer pouco. Estamos acostumados com as novas ferramentas. 3. Afável com, para com...
• Exemplo: O professor tem sido afável para com seus alunos.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
48
4. Agradável a...
• Exemplo: Sou agradável a ti. 5. Alheio a, de...
• Exemplos: Ele vive alheio a tudo. João está alheio de carinho fraternal. 6. Apto a, para...
• Exemplos: Estou apto a trabalhar. Joana está apta para desenvolver suas funções. 7. Aversão a, por...
• Exemplos: Ele tem aversão a pessoas. Paula tem aversão por itens supérfluos. 8. Benefício a
• Exemplo: Pilates é um grande benefício à saúde. 9. Capacidade de, para...
• Exemplos: Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Joaquim tem capacidade para o trabalho. 10. Capaz de, para...
• Exemplos: Ele é capaz de tudo. A empresa é capaz para trabalhar com projetos. 11. Compatível com...
• Exemplo: Seu computador é compatível com este. 12. Contrário a...
• Exemplo: Esse modo de vida é contrário à saúde. 13. Curioso de, por...
• Exemplos: Luís é curioso de tudo. Vitória é curiosa por natureza 14. Descontente com...
• Exemplo: Estamos descontentes com nosso sistema político. 15. Essencial para...
• Exemplo: Esse livro é essencial para aprender matemática. 16. Fanático por...
• Exemplo: Ele é fanático por histórias em quadrinhos. 17. Imune a, de...
• Exemplos: O Brasil não ficou imune à crise econômica. Estamos imunes de pagar os impostos. 18. Inofensivo a, para...
• Exemplos: O vírus é inofensivo a seres humanos Os danos que sofreu são inofensivos para sua saúde. 19. Junto a, de...
• Exemplos: Comprei a casa junto a sua.
Estava junto de Miguel, quando aconteceu o acidente. 20. Livre de...
• Exemplo: Este sabonete está livre de parabenos. 21. Simpatia a, por...
• Exemplos: José tem simpatia as causas populares. Tenho muito simpatia por Ana. 22. Tendência a, para...
• Exemplos: Viviana tem tendência à mentira. As meninas têm tendência para a moda. 23. União com, de, entre...
• Exemplos: A união com Regina foi fracassada. Na reação química, ocorreu uma união de substâncias. A união entre eles é muito bonita.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à regência (nominal e verbal) recomendada pela norma culta é: (FUVEST | 2001)
a) O governador insistia em afirmar que o assunto principal seria ―as grandes questões nacionais‖, com o que discordavam líderes pefelistas. b) Enquanto Cuba monopolizava as atenções de um clube, do qual nem sequer pediu para integrar, a situação dos outros países passou despercebida. c) Em busca da realização pessoal, profissionais escolhem a dedo aonde trabalhar, priorizando à empresas com atuação social. d) Uma família de sem-teto descobriu um sofá deixado por um morador não muito consciente com a limpeza da cidade. e) O roteiro do filme oferece uma versão de como conseguimos um dia preferir a estrada à casa, a paixão e o sonho à regra, a aventura à repetição. 02. Sobre a regência verbal e nominal, estão corretas as seguintes proposições, exceto:
a) Quando o termo regente é um nome, isto é, um substantivo, um adjetivo ou advérbio, temos um caso de regência nominal. Exemplo: Este é o livro sobre o qual lhe falei. b) Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência verbal. Exemplo: Eu gosto de música e literatura. c) Chamamos de regência a relação de interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se combinam para formar os enunciados linguísticos (frases, orações etc.). d) Quando o verbo for transitivo direto, ele exigirá o emprego de uma preposição entre o termo regente e o termo regido. e) Os verbos intransitivos não possuem complemento. Há, em alguns casos, adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los. Os verbos de ligação e os verbos impessoais sempre serão intransitivos. Exemplo: O menino parece triste. 03. Assinale a opção em que todos os adjetivos devem ser seguidos pela mesma preposição: (IBGE)
a) ávido / bom / inconsequente. b) indigno / odioso / perito.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
49
c) leal / limpo / oneroso. d) orgulhoso / rico / sedento. e) oposto / pálido / sábio. ―Os navios negreiros, _____ donos eram traficantes, foram revistados. Ninguém conhecia o traficante _____ o fazendeiro negociava.‖
04. Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição, que completam corretamente as lacunas acima: (IBGE)
a) nos quais / que. b) cujos / com quem. c) que / cujo. d) de cujos / com quem. e) cujos / de quem. 05. Em ―Os encargos _____ nos obrigaram são aqueles _____ o diretor se referia.‖, completa-se corretamente com: (UNIFIC)
a) de que / que. b) a cujos / cujos. c) por que / que. d) cujos / cujo. e) a que / a que. ―As mulheres da noite _____ o poeta faz alusão ajudam a colorir Aracaju, _____ coração bate de noite, no silêncio.‖
06. A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é: (FTM-Aracaju/SE)
a) as quais / de cujo. b) a que / no qual. c) de que / o qual. d) às quais / cujo. e) que / em cujo. 07. Assinale a opção cuja lacuna não pode ser preenchida pela preposição entre parênteses: (CESGRANRIO) a) uma companheira desta, ____ cuja figura os mais velhos se comoviam. (com) b) uma companheira desta, ____ cuja figura já nos referimos anteriormente. (a) c) uma companheira desta, ____ cuja figura havia um ar de grande dama decadente. (em) d) uma companheira desta, ____ cuja figura andara todo o regimento apaixonado. (por) e) uma companheira desta, ____ cuja figura as crianças se assustavam. (de) ―Toda comunidade, ____ aspirações e necessidades devem vincular-se os temas da pesquisa científica, possui uma cultura própria, ____ precisa ser preservada.‖
08. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas acima: (CESGRANRIO)
a) cujas / de que. b) a cujas / que. c) cujas / pela qual. d) cuja / que. e) a cujas / de que. 09. Na frase ―Embora pobre e falto ____ recursos, foi fiel ____ ele, que ____ queria bem com igual constância.‖, completa-se corretamente as lacunas com: (CESCEM)
a) em / a / o.
b) em / para / o. c) de / para / o. d) de / a / lhe. e) de / para / lhe. 10. As palavras ―ansioso‖, ―contemporâneo‖ e ―misericordioso‖ regem, respectivamente, as preposições: (CESCEA)
a) em / de / para. b) de / a / de. c) por / com / de. d) de / com / para com. e) com / a / a.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E D B D E D E B D C
CONCORDÂNCIA VERBAL
Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. 1. Sujeito simples
Regra geral: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. • Exemplos: Nós vamos ao cinema. O verbo (vamos) está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito (nós). Casos Especiais a) O sujeito é um coletivo - o verbo fica no singular. • Exemplo: A multidão gritou pelo rádio. → Atenção: Se o coletivo vier especificado, o verbo
pode ficar no singular ou ir para o plural. • Exemplos: A multidão de fãs gritou. A multidão de fãs gritaram. b) Coletivos partitivos (metade, a maior parte, maioria, etc.) – o verbo fica no singular ou vai para o plural. • Exemplos: A maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. 2. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes
Neste caso, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade. • Exemplos: Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. (eu, 1ª pessoa + tu, 2ª pessoa + ele, 3ª pessoa), ou seja, a 1ª pessoa do singular tem prioridade e, no plural, ela equivale a nós, ou seja, ―nós chegaremos‖.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
50
Jair e eu conseguimos comprar um apartamento (eu, 1ª pessoa + Jair, 3ª pessoa). Aqui também é a 1ª pessoa do singular que tem prioridade. No plural, ela equivale a nós, ou seja, ―nós conseguimos‖. 3. Sujeito seguido por ―tudo‖, ―nada‖, ―ninguém‖, ―nenhum‖, ―cada um‖...
Neste caso, o verbo fica no singular. • Exemplo: Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. 4. Sujeitos ligados por ―com‖.
Quando semelhante à ligação "e", o verbo vai para o plural. • Exemplo: O ator com seus convidados chegaram às 6 horas. → Atenção: Mas, quando ―com‖ representar ―em
companhia de‖, o verbo concorda com o antecedente e o segmento ―com‖ é grafado entre vírgulas. • Exemplo: O pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. 5. Sujeitos ligados por ―nem‖
Neste caso, o verbo vai para o plural. • Exemplo: Nem chuva nem frio são bem recebidos. 6. Sujeitos ligados por ―ou‖
Os verbos ligados pela partícula "ou" vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito: • Exemplo: Doces ou chocolate desagradam ao menino. Quando a partícula ―ou‖ é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. • Exemplo: A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Mas, quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. • Exemplo: Laís ou Elisa ganhará mais tempo. 7. Sujeitos ligados por ―não só, mas também‖, ―tanto, quanto‖, ―não só, como‖...
Nesses casos, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. • Exemplos: Tanto Rafael como Marina participaram da mostra. Tanto Rafael como Marina participou da mostra. 8. Sujeitos ligados por ―como‖; ―assim como‖; ―bem como‖...
O verbo é conjugado no plural. • Exemplo: O trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. 9. Pronome relativo ―quem‖
Neste caso, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome ―quem‖. • Exemplo: Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei. 10. Pronome relativo "que"
Neste caso, o verbo concorda com o antecedente do pronome ―que‖. • Exemplos: Fui eu que levou. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. 11. Sujeito coletivo
Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. • Exemplo: A multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. • Exemplos: A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. 12. Expressão ―um dos que‖
Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. • Exemplos: Ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. 13. Coletivos partitivos
O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como ―a maioria de‖, ―a maior parte de‖, ―grande número de‖. • Exemplos: Grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. 14. Expressões ―mais de‖, ―menos de‖, ―cerca de‖...
Nestes casos o verbo concorda com o numeral. • Exemplos: Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. → Atenção: Nos casos em que ―mais de‖ é repetido
indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
51
• Exemplo: Mais de uma professora se abraçaram. 15. Partícula ―se‖
No caso em que a palavra ―se‖ é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na 3ª pessoa do singular. • Exemplo: Confia-se em todos. No caso em que a palavra ―se‖ é partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. • Exemplos: Construiu-se uma igreja. Construíram-se novas igrejas. 16. Verbos impessoais
Nestes casos, o verbo sempre é conjugado na 3ª pessoa do singular. • Exemplos: Havia muitos copos naquela mesa. Houve dois meses sem mudanças. Os verbos auxiliares (deve, vai) acompanham os verbos principais. → Atenção: O verbo existir não é impessoal. Veja:
• Exemplos: Existem sérios problemas na cidade. Devem existir sérios problemas na cidade. 17. Verbos ―dar‖, ―soar‖ e ―bater‖ + hora (s)
Quando usados na indicação de horas, possuem sujeito (relógio, hora, horas, badaladas...), e com ele devem concordar. • Exemplos: Deu uma hora que espero. Soaram duas horas. O sino da igreja bateu cinco badaladas. Bateram cinco badaladas no sino da igreja. Soaram dez badaladas no relógio da escola. 18. Locuções ―é muito‖, ―é pouco‖, ―é mais de‖, ―é menos de‖
Nestes casos, em que as locuções indicam preço, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular. • Exemplo: Três vezes é muito. 19. Indicações de datas
Há duas variações: uma na qual o verbo concorda com a palavra dia. • Exemplos: Hoje são 2 de maio. Hoje é dia 2 de maio.
20. O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural
Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. • Exemplos: Estados Unidos é uma nação poderosa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. 21. Sujeito composto
Regra geral: o verbo vai para o plural. • Exemplos: Tu e ele se tornarão amigos. (3ª pessoa do plural) Se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. • Exemplo: Irei eu e minhas amigas. b) Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por ―e‖ — o verbo concordará com os dois núcleos. • Exemplo: A jovem e a sua amiga seguiram a pé. Se o sujeito estiver posposto, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. • Exemplo: Seguiria a pé a jovem e a sua amiga. 22. Os núcleos do sujeito são sinônimos (ou quase) e estão no singular
O verbo poderá ficar no plural (concordância lógica) ou no singular (concordância atrativa). • Exemplos: A angústia e ansiedade não o ajudavam a se concentrar. A angústia e ansiedade não o ajudava a se concentrar. 23. Quando há gradação entre os núcleos
O verbo pode concordar com todos os núcleos (lógica) ou apenas com o núcleo mais próximo. • Exemplos: Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Uma palavra, um gesto, um olhar bastava. 24. Concordância com o infinitivo
a) Infinitivo pessoal e sujeito expresso na oração: - não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono. • Exemplo: Esperei-as chegar. - é facultativa a flexão do infinitivo se o sujeito não for representado por pronome átono e se o verbo da oração
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
52
determinada pelo infinitivo for causativo (mandar, deixar, fazer) ou sensitivo (ver, ouvir, sentir e sinônimos). • Exemplos: Mandei sair os alunos. Mandei saírem os alunos. - flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de pronome átono e determinante de verbo não causativo nem sensitivo. • Exemplo: Esperei saírem todos. b) Infinitivo pessoal e sujeito oculto. - não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio. • Exemplo: Passamos horas a comentar o filme. (comentando) - é facultativa a flexão do infinitivo quando seu sujeito for idêntico ao da oração principal. • Exemplos: Antes de (tu) responder, (tu) lerás o texto. Antes de (tu) responderes, (tu) lerás o texto. - é facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e está indicado por algum termo do contexto. • Exemplos: Ele nos deu o direito de contestar. Ele nos deu o direito de contestarmos. - é obrigatória a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e não está indicado por nenhum termo no contexto. • Exemplos: Não sei como saiu sem notarem o fato. c) Quando o infinitivo pessoal está em uma locução verbal - não se flexiona o infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal, quando em virtude da ordem dos termos da oração, sua ligação com o verbo auxiliar for nítida. • Exemplo: Acabamos de fazer os exercícios. - é facultativa a flexão do infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal, quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto. • Exemplos: Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidar e reclamar dela. Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidarmos e reclamarmos dela. 25. Concordância com o verbo ser
a) Quando, em predicados nominais, o sujeito for representado por um dos pronomes: tudo, nada, isto,
isso, aquilo — o verbo ―ser‖ ou ―parecer‖ concordarão com o predicativo. • Exemplos: Tudo são flores. Aquilo parecem ilusões. → Atenção: Poderá ser feita a concordância com o
sujeito quando se quer enfatizá-lo. • Exemplo: Aquilo é sonhos vãos. b) O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos: que ou quem. • Exemplos: Que são gametas? Quem foram os escolhidos?
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Já ____ muitos anos que se alteraram algumas regras de acentuação, mas ____ muitas pessoas que ainda ____ ao grafar certas palavras. (UM/SP)
a) deve fazer / há / hesitam. b) devem fazer / tem / excitam. c) deve fazerem / há / hesita. d) deve fazer / tem / hesitam. e) fazem / há / excitam. 02. Aponte a concordância menos aceitável: (FCMS)
a) Isto são sintomas menos sérios. b) Aquilo são lembranças de um triste passado. c) Paula foi os sonhos de toda a família. d) Aquela jovem tinha duas personalidades. e) Pedrinho eram as preocupações da família. 03. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase: (FCMS)
a) O que há de mais terrível nas cenas de violência transmitidas pela TV estão nas reações de indiferença de alguns espectadores. b) Não se devem responder aos sacrifícios humanos com o cinismo de quem se julga superior. c) Não se levante contra o pessimista as acusações de imobilismo moral e inconsequência política. d) Ainda que não houvessem outras razões, o surdo idealismo dos pessimistas bastaria para os aceitarmos. e) Os otimistas não julguem os pessimistas, nem estes àqueles, pois ambos convergem para alguma forma de idealismo. 04. Assinale o item correspondente à frase em que a concordância verbal esteja correta: (PUC/SP)
a) Discutiu-se a semana toda os acordos que têm de ser assinados nos próximos dias. b) Poderá haver novas reuniões, mas eles discutem agora sobre que produtos recairão, a partir de janeiro, a taxa de exportação. c) Entre os dois diretores deveria existir sérias divergências, pois a maior parte dos funcionários nunca os tinha visto juntos. d) Faltava ainda dez votos, e já se comemoravam os resultados. e) Eles hão de decidir ainda hoje, pois faz mais de dez horas que estão reunidos naquela sala.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
53
05. Já ____ uns doze anos que ele não voltava à terra natal, por isso não sabia que lá ____ ocorrido mudanças. (UEL/PR)
a) deviam fazerem / havia. b) devia fazer / haviam. c) devia fazer / havia. d) deviam fazer / haviam. e) deviam fazer / havia. 06. Quanto às normas de concordância verbal, a frase inteiramente correta é: (FCC)
a) Mais gente, assim como o fez a juíza brasileira, deveriam ponderar as sábias palavras que escolheu Disraeli para convocar a ação dos justos. b) A muitas pessoas incomodam reconhecer que sua omissão diante da barbárie as torna cúmplices silenciosas dos contraventores e criminosos. c) É comum calarmos diante dos descalabros a que costumam dar destaque o noticiário da imprensa, e acabamos, assim, por consenti-los. d) Quando não se opõem à ação do homem acanalhado, quando ocorre essa grave omissão, os homens justos deixam de fazer valer seu peso político. e) Se tivessem havido firmes reações aos descalabros dos canalhas, estes não desfrutariam, com sua falta de escrúpulo, de um caminho já inconsequência política. 07. Assinale a oração em que o verbo não concorda em número e pessoa com o sujeito, ferindo os princípios da concordância: (UM/SP)
a) Faltam ainda alguns passos seguros para a aquisição de uma vida pacífica. b) Existem criações sensatas capazes de superar até as mais espantosas maldades. c) As desilusões que a perturbam hoje já passaram alguns dias comigo. d) De sinceras intenções, as pessoas estão saturadas. e) Exatamente irreais, suas palavras só contem valores supérfluos. ―Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital mostram inequivocamente o seu rosto inumano, revelam a lógica perversa que as (I) dominam (II) internamente e que, antes, podiam ser escamoteadas (III) a pretexto do confronto com o socialismo: criam, por um lado, grande riqueza e concentração de poder à custa da devastação da natureza, da exaustão da força de trabalho e de uma estarrecedora pobreza. A utilização crescente da informatização e da robotização criam (IV), ao dispensar o trabalho humano, os desempregados estruturais, hoje, totalmente descartáveis. E soma-se (V) aos milhões só nos países do Primeiro Mundo.‖
Leonardo Boff. ―Depois de 500 anos: que Brasil queremos?‖. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 41 (com adaptações).
08. Assinale a opção que corresponde a palavra ou expressão destacada no texto acima que foi empregada de acordo com as regras de concordância: (ESAF)
a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V. 09. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher de modo correto a lacuna da frase: (FCC)
a) Se a cada um de nós efetivamente ____ (perturbar) os que agem mal, a impunidade seria impossível. b) ____-se (dever) aos homens de ação o aperfeiçoamento estrutural de uma sociedade. c) Nas palavras dos piores contraventores ____ (costumar) haver insolentes alusões à moralidade. d) Aos bons cidadãos não ____ (ocorrer) que os maus contam com o silêncio da sociedade para seguirem sendo o que são. e) Aqueles de quem não ____ (advir) qualquer reação contra os desonestos acabam estimulando a corrupção. 10. Acredito que ____ muitas enchentes, pois ____ fatos que ____ afirmá-lo. (UEL/PR)
a) haverão / ocorre / permitem. b) haverá / ocorre / permitem. c) haverá / ocorrem / permitem. d) haverão / ocorre / permite. e) haverão / ocorrem / permite. 11. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase: (FCC)
a) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável, de aspirarem a tão pouco. b) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções, não nos devem fazer crer que sejamos capazes de sonhar mais do que as gerações passadas. c) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam. d) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos de ontem. e) Ao pretender que se mobilize os estudantes para as exigências do mercado de trabalho, o professor de nossas escolas impede-os de sonhar. 12. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase: (FCC)
a) Para que não ____ (restringir) o sonho de um jovem, as imposições do mercado de trabalho devem ter sua importância relativizada. b) Seria essencial que nunca ____ (faltar) aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a liberdade inclusa nos sonhos. c) Entre as duas hipóteses que ____ (examinar), considera o autor que o elemento comum é redução da capacidade de sonhar. d) Não se ____ (delegar) às escolas a missão exclusiva de preparar os jovens para sua inserção no mercado de trabalho. e) É pena que ____ (faltar) aos jovens a referência dos sonhos que seus pais já tenham alimentado em sua época de adolescentes. 13. Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de O Globo. Assinale a opção que apresenta erro de concordância: (ESAF)
a) Para sustentar um crescimento duradouro nos moldes do registrado no ano passado, a economia brasileira precisa se preparar, multiplicando seus investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Mas leva algum tempo até que atinjam a fase de maturação. b) Nesse período, seria preferível que a economia crescesse em ritmo moderado, na faixa de 4% a 5% ao ano, para evitar pressões indesejáveis sobre os preços ou uma demanda explosiva por importações, o que
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
54
poderia comprometer em futuro próximo as contas externas do país. c) O Brasil felizmente tem uma economia de mercado, na qual controles artificiais não funcionam ou causam enormes distorções. As iniciativas de política econômica para se buscar um equilíbrio conjuntural deve, então, se basear nos conhecidos mecanismos de mercado. d) No caso do Banco Central, o instrumento que tem mais impacto sobre as expectativas de curto prazo, sem dúvida, é a taxa básica de juros, que estabelece um piso para a remuneração dos títulos públicos e, em consequência, para as demais aplicações financeiras e operações de crédito não subsidiado. e) Se a taxa de juros precisa agir sozinha na busca desse equilíbrio conjuntural, o aperto monetário pode levar os agentes econômicos a reverem seus planos de investimento, e com isso o ajuste se torna mais moroso, sacrificando emprego e renda. 14. Considerando-se as normas de concordância verbal, há uma incorreção na frase: (FCC)
a) Tão rápidos quanto os ―cliques‖ das mágicas maquininhas são o prazer e o enfado que caracterizam as modernas sessões de fotografia. b) Não é de se crer que todos os produtos com alta tecnologia cheguem a se banalizar, já que a banalidade está nas circunstâncias em que se venham a utilizá-los. c) Não compete nem aos cientistas nem aos produtores responsabilizar-se pelas consequências da utilização do que nos oferecem. d) Quantos mais inventos haja, mais impulsivos hão de ser nossos desejos de os consumir, como vem sucedendo no caso dos engenhos eletrônicos. e) Seria de se esperar que se associassem à moderna tecnologia apenas os benefícios reais, que a ela se tributassem tão somente vantagens inequívocas. 15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: (FATEC)
a) Devem haver outras razões para ele ter desistido. b) Foi então que começou a chegar um pessoal estranho. c) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. d) Não se admitirá exceções. e) Basta-lhe dois ou três dias para resolver isso.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A E E E B D E A A C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A C B B * * * * *
TRANSITIVIDADE E REGÊNCIA DOS VERBOS
É a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos (termos regentes) e os termos que se seguem a ele, os quais completam o seu sentido (termos regidos).
• Exemplos: Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. No primeiro exemplo, morar é um verbo transitivo indireto, pois exige preposição (morar em algum lugar). No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois não exige preposição (implicar algo, e não
implicar em algo). Assim, na forma padrão, a oração ―Isso implica em mudança de horário‖ não está correta. Vamos ver exemplos de alguns verbos e entender como eles são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais do que uma forma de regência. 1. Abraçar: pede objeto direto.
• Exemplo: Eu o abracei pelo seu aniversário. 2. Agradar: pede objeto direto, quando significa acariciar,
fazer carinhos. • Exemplo: O pai a agradava. No sentido de ser agradável exige objeto indireto. • Exemplo: A resposta não lhe agradou. 3. Ajudar: pede objeto direto ou indireto.
• Exemplo: Nós sempre os ajudamos nas dificuldades. ―Tendes vossos pais; ajudai-lhes a levar a sua cruz‖ (Colóquios Aldeões, 24) 4. Aspirar: pede objeto direto, quando significa sorver,
chupar, atrair o ar aos pulmões. • Exemplo: Aspiramos o perfume das flores. No sentido de ―ambicionar‖, ―desejar‖, pede objeto indireto. Em tal caso não admite o seu objeto indireto representado por pronome átono. • Exemplos: Jamais aspirou a ela (e não: lhe aspirou) Todos aspiram a vós (e não: vos aspiram) 5. Assistir: pede objeto indireto iniciado pela preposição
a, quando significa estar presente a, presenciar. Em tal caso não admite o seu objeto indireto representado por pronome átono. • Exemplos: Ontem assistimos ao jogo. Não pude assistir a ele. (e não: lhe assistir). No sentido de ajudar, prestar socorro ou assistência, servir acompanhar pede indiferentemente objeto direto e indireto. • Exemplos: O médico assistiu o doente. (objeto direto). O médico o assistiu. O médico assistiu ao doente. (objeto indireto). O médico lhe assistiu. → Atenção: Este último emprego ocorre com mais
frequência. No sentido de morar, residir — emprego que é clássico e popular — constrói-se com a preposição em: • Exemplo: ―Entre os que assistiam em Madri...‖ No sentido de assistir o direito, caber pede objeto indireto de pessoa: • Exemplo: Não lhe assiste o direito de reclamar. 6. Atender: pede objeto direto ou indireto.
• Exemplo:
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
55
―Assevera D. Francisco M.de Melo que na criação destes corpos consultivos D. João IV atendera mais os desejos dos que aspiravam aos lugares do que as próprias opiniões.‖ → Atenção: Se o complemento é expresso por pronome
átono, a tradição da língua dá preferência às formas o a, os, as em vez de lhe, lhes. • Exemplo: ―Não querem que el-rei o atenda.‖ 7. Atingir: não se constrói com a preposição a em
linguagem do tipo: • Exemplos: A quantia atingiu cinco mil reais (e não: a cinco mil reais) O progresso atingiu um ponto surpreendente. 8. Chamar: no sentido de solicitar a presença de alguém,
pede objeto direto. • Exemplo: Eu chamei José. Eu o chamei. No sentido de dar nome, apelidar pede objeto direto ou indireto e predicativo do objeto, com ou sem preposição. • Exemplos: Chamavam-lhe tolo. Chamavam-lhe de tolo. Nós o chamamos tolo. Nós o chamamos de tolo. No sentido de invocar pedindo auxílio ou proteção, rege objeto direto com a preposição por como posvérbio. 9. Chegar: pede a preposição a junto à expressão
locativa: • Exemplo: Cheguei ao Colégio com pequeno atraso. O emprego da preposição em, neste caso, corre vitorioso na língua coloquial e já foi consagrado entre escritores modernos. 10. Conhecer: pede objeto direto.
• Exemplos: Todos conheceram logo o José. Ela a conhecem no baile. 11. Convidar: pede objeto direto.
• Exemplo: Não os convidaram ao passeio. 12. Custar: no sentido de ser difícil, ser custoso, tem por
sujeito aquilo que é difícil. • Exemplo: Custam-me estas respostas. Se o verbo vem seguido de um infinitivo, este pode ou não vir precedido da preposição a. • Exemplos: Custou-me resolver estes problemas. Custou-me a resolver estes problemas. Na linguagem coloquial, o sujeito é a pessoa a quem o fato é difícil. • Exemplo: Custei resolver estes problemas. 13. Esperar: pede objeto direto puro ou precedido da
preposição por. • Exemplos: Todos esperavam Antônio. Todos esperavam por Antônio. 14. Esquecer: pede objeto direto da coisa esquecida.
• Exemplo: Não os esquecemos. A coisa esquecida pode aparecer como sujeito e a pessoa passa a objeto indireto. • Exemplo: Esqueceram – nos os livros. / Esqueceu-te o meu aniversário. Esquecer-se, pronominal, pede objeto indireto encabeçado pela preposição de. • Exemplo: Esqueci-me dos livros. 15. Implicar: no sentido de produzir como consequência,
acarretar, pede objeto direto. • Exemplo: Tal atitude não implica desprezo. São esses os benefícios que a recuperação implica. → Atenção: Deve-se evitar o emprego da preposição
em neste sentido: Isso implicava em desprezo. 16. Ir: pede a preposição a ou para junto à expressão de
lugar. • Exemplo: Fui à cidade. / Foram para França. → Atenção: Segundo Evanildo Bechara:
―Nem sempre é indiferente o emprego de a ou para depois do verbo ir e outros que denotam movimento. A preposição a ora denota a simples direção, ora envolve a ideia de retorno. A preposição para lança a atenção do nosso ouvinte para o ponto terminal do movimento ou não condiciona a ideia de volta ao local de partida. Nesta última acepção pode trazer para a ideia de transferência demorada ou definitiva para o lugar.‖ → Atenção: Deve-se evitar a construção popular: Fui na
academia. 17. Morar: pede a preposição em junto à expressão de
lugar. • Exemplo: Atualmente eu moro em Curitiba. Com os verbos residir, situar e derivados, emprega-se a preposição em. • Exemplo: João reside na Rua das Carmelitas. / Prédio sito na Av. Marechal Deodoro. 18. Obstar: pede o objeto indireto.
• Exemplo: ―E certo que outros entendiam serem úteis os castigos materiais para obstar ao progresso das heresias...‖ Com objeto indireto oracional pode omitir-se a preposição. 19. Obedecer: pede objeto indireto.
• Exemplos: Os alunos obedeceram ao professor. Nós lhe obedecemos. 20. Pagar: pede objeto direto do que se paga e indireto
de pessoa a quem se paga. • Exemplos:
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
56
Pagaram as compras (obj. dir.) ao comerciante. (obj. ind.) Pagamos-lhe a consulta. 21. Perdoar: pede objeto direto de coisa perdoada e
indireto de pessoa a quem se perdoa. • Exemplos: Eu lhe perdoei os erros. Não lhe perdoamos. 22. Presidir: pede objeto direto ou indireto com a
preposição a. • Exemplos: Tu presidiste a reunião. (objeto direto) Tu presidiste à reunião. (objeto indireto) Pode-se dizer ainda: Tu presidiste na reunião. Ninguém lhe presidiu. Ninguém presidiu a ela. 23. Preferir: pede a preposição a junto ao seu objeto
indireto. • Exemplos: Prefiro o cinema ao teatro. Prefiro estudar a ficar sem fazer nada. → Atenção: Erra-se empregando-se depois deste verbo
alocução do que. • Exemplo: Prefiro estudar do que ficar sem fazer nada. Recomenda-se que não se construa este verbo com os advérbios: mais e antes: prefiro mais, prefiro antes. 24. Proceder: no sentido de iniciar, executar alguma
coisa, pede objeto indireto com a preposição a. • Exemplo: O juiz vai proceder ao julgamento. 25. Querer: no sentido de desejar pede objeto direto.
• Exemplo: Eu quero uma casa no campo. Significando querer bem, gostar, pede objeto indireto de pessoa. • Exemplo: Despede-se o filho que muito lhe quer. 26. Responder: pede, na língua padrão, objeto indireto
de pessoa ou coisa a que se responde, e direto do que se responde. • Exemplos: ―O marido respondia a tudo com as necessidades políticas.‖ ―Não respondera Cristina senão termos agradecidos à escolha...‖ → Atenção: O objeto indireto pode ser representado por
pronome átono. • Exemplo: Vou responder-lhe. Admite ser construído na voz passiva. • Exemplo: ―... um violento panfleto contra o Brasil que foi vitoriosamente respondido por De Angelis.‖ 27. Satisfazer: pede objeto direto ou indireto.
• Exemplos:
Satisfaço o seu pedido. Satisfaço ao seu pedido. 28. Servir: no sentido de estar ao serviço de alguém, pôr
sobre a mesa uma refeição, pede objeto direto. • Exemplos: Este criado há muito que o serve. Ela acaba de servir o almoço. No sentido de prestar serviço, pede objeto indireto com a preposição a. • Exemplo: Sempre servia aos amigos. No sentido de ser de utilidade, pede objeto indireto iniciado por a ou para ou representado por pronome (átono ou tônico) • Exemplo: Isto não lhe serve; só serve para ela. No sentido de oferecer alguma coisa a alguém: • Exemplo: Ela nos (obj. indir.) serviu gostosos docinhos. (obj. dir.) 29. Socorrer: no sentido de prestar socorro pede objeto
direto de pessoa. • Exemplo: Todos correram para socorrê-lo. Pronominal, com sentido de valer-se, pede objeto indireto iniciado pelas preposições a ou de. • Exemplos: Socorreu-se ao empréstimo. Socorremo-nos dos amigos nas dificuldades. 30. Suceder: no sentido de substituir, ser o sucessor de,
pede objeto indireto. • Exemplos: D. Pedro I sucedeu a D. João VI. Nós lhe sucedemos na presidência do Clube. 31. Ver: pede objeto direto.
• Exemplo: Nós o vimos na cidade. 32. Visar: no sentido de mirar, dar o visto em alguma
coisa, pede objeto direto. • Exemplos: Visavam o chefe da rebelião. O inspetor visou o diploma. No sentido de pretender, aspirar, propor-se, pede de preferência objeto indireto iniciado pela preposição a. • Exemplo: ―Estas lições visam ao estudo da linguagem.‖ (Evanildo Bechara. In: ―Lições de Português pela Análise Sintática‖, 17ª edição, 2005). Observações
1. Os verbos transitivos indiretos não admitem voz
passiva. Não são aceitas pela norma culta tais construções: • Exemplos: O filme foi assistido por nós. Corrija-se: Nós assistimos ao filme. Altos cargos são aspirados por todos. Corrija-se: Todos aspiram a altos cargos
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
57
→ Atenção: Estas construções passivas tendem a ser
usadas com mais frequência e algumas delas já se toleram nos meios cultos. Pagar → Os operários foram pagos. Responder → As cartas serão respondidas. Obedecer → O professor deve ser obedecido. Assistir → A missa foi assistida por todos. Apelar → A sentença foi apelada. Perdoar → Os devedores seriam perdoados. Aludir → Todas essas coisas poderão ser aludidas por
ele. 2. A norma culta não aceita o mesmo complemento para
verbos de regências diferentes. São incorretas as frases, tipo: ―Assisti e gostei do filme.‖ Deve-se dizer... ―Assisti ao filme e gostei dele.‖ ou ―Gostei do filme a que assisti.‖ 3. O pronome relativo pode funcionar com complemento
de verbo. Neste caso estará sujeito à regência do verbo do qual é o complemento. • Exemplos: Este é o curso a que aspiro. (aspiro a quê? a que = ao curso) São estas as verdades em que creio. (creio em quê? em que = nas verdades) 4. Os pronomes oblíquos — o, a, os, as, lo, la, los, las,
no, na, nos, nas — são complementos de VTD, ao passo que os pronomes lhe, lhes são complementos de VTI. • Exemplos: Visitei-o no hospital. Preciso vê-lo. Enviei-lhe um telegrama. 5. Os verbos assistir (ver), aspirar (pretender) e visar (ter
por objetivo) apesar de serem transitivos indiretos não aceitam os pronomes lhe, lhes como complementos. Aceitam apenas as formas a ele. a ela, a eles, a elas. • Exemplos: Aspira à vaga? - Sim, aspiro a ela. Assistiu ao filme? - Sim, assisti a ele. 6. ―A preposição que serve a dois termos coordenados
pode vir repetida ou calada junto ao segundo (e aos mais termos), conforme haja ou não desejo de enfatizar o valor semântico da preposição.‖ (Evanildo Bechara. In: ―Gramática Escolar da Língua Portuguesa‖) • Exemplos: As alegrias de infância e de juventude. / As alegrias de infância e juventude. Precisava da ajuda dos pais e dos parentes. / Precisava da ajuda dos pais e parentes.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. A frase em que a regência está totalmente de acordo com o padrão culto é: (FCC)
a) Esperavam encontrar todos os documentos que os estudiosos se apoiaram para descrever a viagem de Colombo.
b) Estavam cientes de que teriam muito a fazer para conseguir os registros de que dependiam. c) Encontraram-se referências à coerção que marinheiros mais experientes faziam contra os mais novos que trabalhassem mais arduamente. d) Foram informados que esboços da inóspita região circundada com imensas pedras podiam ser consultados. e) Havia registro de uma insatisfação em que os insurretos às atitudes arbitrárias de um navegante foram impedidos de lhe inquirir. ―Desde que passou a gozar de um prestígio absoluto, o fator velocidade impôs-se como parâmetro das ações humanas, sobrepondo-se a qualquer outro critério.‖
02. Substituem de modo adequado as expressões sublinhadas, respectivamente e sem prejuízo para o sentido da frase acima: (FCC)
a) desfrutar de um / investiu como / destituindo a. b) a alçar-se num / investiu-se a um / preterindo. c) firmar-se como / determinou-se como / corroborando a. d) favorecer-se de um / consagrou-se a um / eximindo-se de. e) desfrutar de um / firmou-se como / sobrepujando. 03. Em ―A crescente demanda por produtos agropecuários…‖, pode-se reproduzir o mesmo tipo de regência que organiza o segmento assinalado acima no trecho também grifado em: (FCC)
a) Produzir mais a custos menores. b) Nos últimos dez anos. c) Tal desempenho foi considerado inviável ou impossível. d) Havendo limitada disponibilidade de recursos. e) O setor agropecuário era estático. ―O New York Times publicou uma galeria de rostos e nomes, expôs rostos e nomes ao longo de vários números, evocou esses rostos e nomes para que o público não olvidasse esses nomes e rostos.‖
04. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por: (FCC)
a) expôs a eles / evocou-lhes / lhes olvidasse. b) expô-los / evocou a eles / olvidasse-os. c) expôs-lhes / evocou-os / os olvidasse. d) expôs eles / evocou-lhes / olvidasse eles. e) expô-los / evocou-os / os olvidasse. 05. Assinale a alternativa em que a regência verbal não siga o padrão culto de linguagem: (FGV)
a) A inscrição no concurso implica a aceitação das normas do edital. b) Todos os servidores devem obedecer às leis que os regem. c) Preferiu a poltrona à cadeira. d) Eu avisei-lhes da necessidade de se revisar o documento. e) Eles anuíram à decisão. 06. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase: (FCC)
a) Há em nosso mundo paisagens belas, em cujas faz bem pousar os olhos. b) São belas paisagens, cuja sedução nos leva a contemplá-las.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
58
c) Há paisagens aonde nosso olhar se demora prazerosamente. d) São belezas de um tempo onde o homem não tinha tanta pressa. e) A reação de que toda beleza nos impõe é a calma da contemplação. ―Ao final do ano vêm as frustrações e, já que não podemos evitar as frustrações, descarregamos essas frustrações nas costas dos outros, atribuindo aos outros a responsabilidade por nossa decepção.‖
07. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por: (FCC)
a) podemos evitar-lhe / descarregamos elas / atribuindo-lhes. b) as podemos evitar / as descarregamos / atribuindo-os. c) as podemos evitar / descarregamo-las – atribuindo-lhes. d) podemos evitá-las / descarregamos-lhes / lhes atribuindo. e) podemos as evitar / as descarregamos / lhes atribuindo. 09. Em ―Você se lembra do rosto dela naquele instante?‖, obedeceu-se às regras de regência verbal. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido: (FGV)
a) Prefiro questões de gramática do que de interpretação. b) Aspiraram à vaga de piloto da companhia aérea. c) Os médicos assistiram o paciente. d) Perdoamos-lhes as dívidas. e) Pagaram-lhe bem. 10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta: (FUVEST) a) Não tenho dúvidas que ele vencerá. b) O escravo ama e obedece a seu senhor. c) Prefiro estudar de que trabalhar. d) O livro que te referes é célebre. e) Se lhe disseram que não o respeito, enganaram-no.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B E D E D B C C A E
PADRÕES DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a colocação pronominal, na Língua Portuguesa, restringe-se praticamente à perfeita disposição dos pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. São três as posições relativas do pronome em relação ao verbo: - próclise: pronome oblíquo colocado antes do verbo. - mesóclise: pronome oblíquo colocado no meio do
verbo. - ênclise: pronome oblíquo colocado antes do verbo.
Existe uma ordem de prioridade na colocação pronominal: 1º tente fazer próclise, depois mesóclise e em último caso, ênclise.
Próclise: é a colocação pronominal antes do verbo. A
próclise é usada: 1. Quando o verbo estiver precedido de palavras que
atraem o pronome para antes do verbo. São elas: a) Palavras de sentido negativo: não, nunca, ninguém, jamais, entre outros. • Exemplo: Não se esqueça de mim. b) Advérbios: ontem, muito, bem, aqui, talvez, entre outros. • Exemplo: Agora se negam a depor. c) Conjunções subordinativas: quando, embora, caso, se, entre outros • Exemplo: Soube que me negariam. d) Pronomes relativos: que, quem, cujo, o qual, onde, entre outros. • Exemplo: Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. e) Pronomes indefinidos: todos, outro, certo, qualquer, entre outros. • Exemplo: Poucos te deram a oportunidade. f) Pronomes demonstrativos: este, isso, aquele, entre outros. • Exemplo: Disso me acusaram, mas sem provas. 2. Orações iniciadas por palavras interrogativas.
• Exemplo: Quem te fez a encomenda? 3. Orações iniciadas por palavras exclamativas.
• Exemplo: Quanto se ofendem por nada! 4. Orações que exprimem desejo (orações optativas).
• Exemplo: Que Deus o ajude. Lista de Atratores da próclise
Advérbio / Conjunção / Palavra negativa / Pronome indefinido / Pronome interrogativo / Pronome relativo. Caso Facultativo
Após pronomes pessoais do caso reto não é obrigatória a próclise. • Exemplo: ―Eu me garanto‖ e ―Eu garanto-me‖ estão corretos. Mesóclise: é a colocação pronominal no meio do verbo.
A mesóclise é usada: 1. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou
futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. • Exemplos: Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
59
Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem... Ênclise:
Em gramática, denomina-se ênclise a colocação dos pronomes oblíquos átonos depois do verbo. • Exemplo: observou-me. É usada principalmente nos casos: a) Quando o verbo inicia a oração (a não ser sob licença poética, não se devem iniciar orações com pronomes oblíquos). b) Quando o verbo está no imperativo afirmativo. c) Quando o verbo está no infinitivo impessoal. d) Quando o verbo está no gerúndio (sem a preposição em). → Atenção: Não deve ser usada quando o verbo está
no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Neste caso é utilizada a mesóclise. → Atenção: Os pronomes oblíquos átonos o, a, os, as
assumem as formas lo, la, los, las quando estão ligados a verbos terminados em r, s ou z. Nesse caso, o verbo perde sua última letra e a nova forma deverá ser reacentuada de acordo com as regras de acentuação da língua. • Exemplos: ―tirar-a‖ torna-se ―tirá-la‖; ―faz-os‖ torna-se ―fá-los‖; ―comes-o‖ torna-se ―comê-lo‖ (não há mudança de acentuação); ―Vou comer-o‖ torna-se ―vou comê-lo‖. No caso de verbos terminados em m, õe ou ão, ou seja, sons nasálicos, os pronomes o, a, os, as assumem as formas no, na, nos, nas, e o verbo é mantido inalterado. • Exemplos: ―peguem-os‖ torna-se ―peguem-nos‖; ―põe-as‖ torna-se ―põe-nas‖; ―explorarão-as‖ torna-se ―explorarão-nas‖. → Atenção: Em linguagem coloquial, no Brasil, é
comum utilizar o pronome reto em substituição ao pronome oblíquo. • Exemplo: ―peguem eles!‖. Este tipo de construção não é adequada em linguagem formal.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. No fragmento ―Quando ____ as provas, ____ imediatamente.‖, completa-se corretamente as lacunas com: (FCC)
a) lhes entregarem, corrijam-as. b) lhes entregarem, corrijam. c) lhes entregarem, corrijam-nas. d) entregarem-lhes, corrijam-as. e) entregarem-lhes, as corrijam. 02. Em ―Acredito que todos ____ dizer que não ____‖, completa-se adequadamente com: (FCC)
a) lhe irão, se precipite. b) lhe irão, precipite-se. c) irão-lhe, se precipite. d) irão lhe, precipite-se. e) ir-lhe-ão, se precipite.
03. Na frase ―Devemos ____ da tempestade.‖, completa-se corretamente com: (Santa Casa)
a) resguardar-mos-nos. b) resguardar-nos. c) resguardarmos-nos. d) resguardarmo-nos. e) resguarda-nos. 04. Há um erro de colocação pronominal em:
a) Sempre a quis como namorada. b) Os soldados não lhe obedeceram as ordens. c) Todos me disseram o mesmo. d) Recusei a ideia que apresentaram-me. e) Quando a cumprimentaram, ela desmaiou. 05. Numa das frases abaixo, a colocação do pronome pessoal átono não obedece às normas vigentes. Assinale-a: (UFF)
a) Ter-lhe-iam falado a meu respeito? b) Tenho prevenido-o várias vezes. c) Quem nos dará as razões? d) Nunca nos diriam inverdades. e) Haviam-no procurado por toda parte. 06. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal desobedece ao que preceitua a gramática: (UM/SP)
a) Há muitas estrelas que nos atraem atenção. Jamais dar-te-ia tantas explicações, se não fosse pessoa de tanto merecimento. b) A este compete, em se tratando de corpo da pátria, revigorá-lo com o sangue do trabalho. c) Não o realizaria, entretanto, se a árvore não se mantivesse verde sob a neve. d) Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem.. e) Nenhuma das anteriores. 07. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal: (UM/SP)
a) Você não devia calar-se. b) Não lhe darei qualquer informação. c) O filho não o entendeu. d) Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. e) Ninguém quer aconselhá-lo. 08. Assinale o único período em que há inadequação na colocação pronominal: (CESESP/PE)
a) Nenhuma das questões lhe desagradou. b) Que Deus me ajude! c) Quanto nos custa manter a calma! d) A prova, fi-la sem afobação. e) Todos retirar-se-iam cedo. 09. Sabendo-se que solecismos são desvios indevidos de regência, concordância e colocação, indique a alternativa que não apresenta nenhum desses desvios, segundo a norma culta: (PUCC/SP)
a) Liliana, te amo perdidamente. b) Quando saírem com nós, talvez nos contem o caso. c) As meninas não devem se preocupar com a maquiagem. d) Entre mim e você, sempre houve compreensão. e) Esta revista é para mim ler. 10. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal oblíquo poderia ser colocado em duas outras posições: (UM/SP)
a) Deixei de cumprimentá-lo.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
60
b) Eles queriam-me enganar. c) Não te prejudicarei nunca. d) Os amigos tinham se retirado. e) Creio que ele não me dará explicações.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C A B D B B D E D B
MECANISMOS DE COESÃO TEXTUAL
A coesão é um aspecto importante na construção textual e ela se define por uma sequência de elementos como palavras, frases, parágrafos, entre outros, os quais, quando ajustados, conferem uma relação lógica dentro do texto. Tipos de Coesão
Os tipos de coesão ligam os argumentos de forma lógica. Quando utilizados de modo correto, colaboram para que todo o texto seja coeso. Veja quais são eles: 1. Referência: ocorre quando um termo faz menção a
outro que está presente dentro do texto, buscando assim evitar a repetição. Alguns termos somente são assimilados mediante os mecanismos de coesão conhecidos por anáfora e catáfora. a) Anáfora é a referência a um componente
anteriormente dito. • Exemplo: Aquele que recebe um auxílio não deve esquecê-lo, aquele que o concede jamais deve lembrá-lo. No exemplo acima temos as palavras lo e o, que fazem referência ao termo auxílio, caso não existisse essa substituição à frase ficaria redundante. b) Catáfora é a antecipação de uma palavra, de modo
que ela contribua com a ligação do texto. Exemplo: • Exemplo: Existe algo que jamais volta: o passado. Neste exemplo a palavra algo está antecipando o que virá depois, que será o termo passado. → Atenção: Quando um conectivo não é usado
corretamente, há prejuízo na coesão. Observe: • Exemplo: A escola possui um excelente time de futebol, portanto até hoje não conseguiu vencer o campeonato. O conectivo ―portanto‖ confere ao período valor de conclusão, porém não há verdadeira relação de sentido entre as duas frases: a conclusão de não vencer não é possuir um excelente time de futebol. Logo, só podemos empregar um conector que expresse ideia adversativa, são eles: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. O período reescrito de forma adequada, fica assim: A escola possui um excelente time de futebol, (mas, porém, contudo, entretanto, não obstante, no entanto) até hoje não conseguiu vencer o campeonato.
Há de se convir que um texto também deve ser claro, estando essa qualidade relacionada diretamente aos elementos coesivos (ligação entre as partes), por isso existem os ―mecanismos de coesão‖ que são meios
pelos quais ocorre a coesão em um texto. Mecanismos de Coesão
1. Coesão por substituição: consiste na colocação de
um item em lugar de outro(s) elemento(s) do texto, ou até mesmo de uma oração inteira. • Exemplo: ―Ele comprou um carro. Eu também quero comprar um.‖ ―Ele comprou um carro novo e eu também.‖ Observe que ocorre uma redefinição, ou seja, não há identidade entre o item de referência e o item pressuposto. O que existe, na verdade, é uma nova definição nos termos: um, também. Comparemos com outro exemplo: ―Comprei um carro vermelho, mas Pedro preferiu um verde.‘ O termo ―vermelho‖ é o adjunto adnominal de carro. Ele é, então, o modificador do substantivo. Todavia, esse termo é silenciado e, em seu lugar, faz-se presente a porção especificativa ―verde‖. Logo, trata-se de uma redefinição do referente. 2. Coesão por elipse: ocorre quando elemento do texto
é omitido em algum dos contextos em que deveria ocorrer. • Exemplo: — Pedro vai comprar o carro? — Vai! Houve a omissão dos termos Paulo (sujeito) e comprar o carro (predicado verbal), todavia essa não prejudicou nem a correção gramatical nem a clareza do texto. Exemplo clássico de coesão por elipse. 3. Coesão por Conjunção: estabelece relações
significativas entre os elementos ou orações do texto, através do uso de marcadores formais — as conjunções. Essas podem exprimir valor semântico de adição, adversidade, causa, tempo… • Exemplos: Perdeu as forças e caiu. (adição) Perdeu as forças, mas permaneceu firme. (adversidade) Perdeu as forças, porque não se alimentou. (causa) Perdeu as forças, quando soube a verdade. (tempo) Observe que todas as relações de sentido estabelecidas entre as duas porções textuais são feitas por meio dos conectores: e, mas, porque, quando. 4. Coesão Lexical: é obtida pela seleção vocabular. Tal
mecanismo é garantido por dois tipos de procedimentos: a) Reiteração (repetição): ocorre por repetição do
mesmo item lexical ou através de hiperônimos, sinônimos ou nomes genéricos. • Exemplos:
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
61
O aluno estava nervoso. O aluno havia sido assaltado. (repetição do mesmo item lexical) Uma menina desapareceu. A garota estava envolvida com drogas. (coesão resultante do uso de sinônimo) Havia muitas ferramentas espalhadas, mas só precisava achar o martelo. (coesão por hiperônimo: ferramentas é o gênero de que martelo é a espécie) Todos ouviram um barulho atrás da porta. Abriram-na e viram uma coisa em cima da mesa. (coesão resultante de um nome genérico) Nos exemplos acima, observamos que retomar um referente por meio de uma expressão genérica ou por hiperônimo é um recurso natural de um texto. b) Coesão por colocação ou contiguidade: consiste no
uso de termos pertencentes a um mesmo campo semântico. • Exemplos: Houve um grande evento nas areias de Copacabana, no último dia 02. O motivo da festa foi este: o Rio sediará as olimpíadas de 2016. 5. Paralelismo: ocorre quando diferentes conteúdos
utilizam as mesmas estruturas: • Exemplos: ―Eia eletricidade, nervos doentes da Matéria. Eia telegrafia, sem fios, simpatia metálica do Inconsciente!‖ ―Na manhã de um sábado, 25 de abril, andava tudo alvoroço em casa de José Lemos. Preparava-se o aparelho de jantar dos dias de festas, lavavam-se as escadas e os corredores, enchiam-se os leitões e os perus para serem para serem assados no forno da padaria defronte; tudo era movimento; alguma coisa ia acontecer.‖ Coerência
É o encadeamento lógico das ideias de um texto, de modo que elas se complementem. A coesão é um aspecto importante na construção textual, ela se define por uma sequência de elementos como palavras. Todo texto bem elaborado segue uma lógica e deve ter a sua estrutura bem definida. Isso, na maioria dos casos, significa que esse texto contém uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Além disso, é imprescindível obedecer às normas de coerência e coesão, para que a mensagem do texto tenha sentido e seja harmoniosa ao leitor. • Exemplos: ―Fui à nutricionista, ela modificou minha alimentação e me recomendou exercícios físicos, porque eu estava acima do peso.‖ As frases acima podem ser compreendidas pelo leitor, pois existe uma lógica no sentido de cada uma delas. Se modificarmos as frases exemplificadas acima, temos:
―Fui à nutricionista, ela não modificou minha alimentação e não recomendou exercícios físicos, porque eu estava acima do peso.‖ Com o sentido modificado elas se tornam incoerentes, pois não existe sentido na mensagem que cada uma transmite. Um dos motivos que podem causar a má elaboração do texto é a falta de coerência, por isso deve-se ter muita atenção no momento de escrevê-lo.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
EXCERTO I
A situação de um trabalhador
―Paulo Henrique de Jesus está há quatro meses desempregado. Com o Ensino Médio completo, ou seja, 11 anos de estudo, ele perdeu a vaga que preenchia há oito anos de encarregado numa transportadora de valores, ganhando R$ 800,00. Desde então, e com 50 currículos já distribuídos, só encontra oferta para ganhar R$ 300,00, um salário mínimo. Ele aceitou trabalhar por esse valor, sem carteira assinada, como garçom numa casa de festas para fazer frente às despesas.‖
O Globo, 20/07/2005.
EXCERTO II
Uma interpretação sobre o acesso ao mercado de
trabalho
―Atualmente, a baixa qualificação da mão-de-obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil.‖
01. A relação que se estabelece entre a situação (I) e a interpretação (II) e a razão para essa relação aparece em: (IBMEC)
a) II explica I – Nos níveis de escolaridade mais baixos há dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. b) I reforça II – Os avanços tecnológicos da Terceira Revolução Industrial garantem somente o acesso ao trabalho para aqueles de formação em nível superior. c) I desmente II – O mundo globalizado promoveu desemprego especialmente para pessoas entre 10 e 15 anos de estudo. d) II justifica I – O desemprego estrutural leva a exclusão de trabalhadores com escolaridade de nível médio incompleto. e) II complementa I – O longo período de baixo crescimento econômico acirrou a competição, e pessoas de maior escolaridade passam a aceitar funções que não correspondem a sua formação. ―Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa Cocanha perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos.‖
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
62
Revista Língua Portuguesa, n° 40.
02. A coesão do texto é construída principalmente a partir do (a):
a) repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. b) substituição de palavras por sinônimos como ―lúgubre‖ e ―morbidez‖, ―melancolia‖ e ―nostalgia‖. c) emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos: ―sua‖, ―seu‖, ―esse‖, ―nosso‖, ―ele‖. d) emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o texto. e) emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como ―iminência‖, ―sempre‖, ―depois‖. 03. No trecho ―Montes Claros cresceu tanto, / (…), / que já tem cinco favelas‖, a palavra ―que‖ contribui para estabelecer uma relação de consequência. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade, apresentam esse mesmo tipo de relação: (IBMEC) a) ―Meu Deus, por que me abandonaste / se sabias que eu não era Deus / se sabias que eu era fraco.‖ b) ―No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu / a ninar nos longes da senzala — e nunca se esqueceu / chamava para o café.‖ c) ―Teus ombros suportam o mundo / e ele não pesa mais que a mão de uma criança.‖ d) ―A ausência é um estar em mim. / E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, / que rio e danço e invento exclamações alegres.‖ e) ―Penetra surdamente no reino das palavras. / Lá estão os poemas que esperam ser escritos.‖
O mundo é grande O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe No breve espaço de beijar.
Carlos Drummond de Andrade. ―Poesia e Prosa‖.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.
04. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: (IBMEC)
a) oposição. b) comparação. c) conclusão. d) alternância. e) finalidade.
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06
―[...] publicou-se há dias o recenseamento
do Império, do qual se colige que 70% da nossa população não sabem ler.
Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo nome, às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem São sinceros, francos, ingênuos. As letras fizeram-se para frases; o algarismo não tem frases, nem retórica.
Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país, dirá:
— Quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo o seu destino, força é que este povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas Câmaras; as Câmaras são a representação nacional. A opinião pública deste país é o magistrado último, o supremo tribunal dos homens e das coisas. Peço à nação que decida entre mim e o Sr. Fidélis Teles de Meireles Queles; ela possui nas mãos o direito a todos superior a todos os direitos.
A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade:
— A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler; desses uns 9% não leem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o Sr. Meireles Queles; é não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer; nem se realmente pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos votam como vão à festa da Penha, — por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de Estado.
Replico eu: — Mas, Sr. Algarismo, creio que as
instituições... — As instituições existem, mas por e para
30% dos cidadãos. Proponho uma reforma no estilo político. Não se deve dizer: ―consultar a nação, representantes da nação, os poderes da nação‖; mas — ―consultar os 30%, representantes dos 30%, poderes dos 30%‖. A opinião pública é uma metáfora sem base; há só a opinião dos 30%. Um deputado que disser na Câmara: ―Sr. Presidente, falo deste modo porque os 30% nos ouvem...‖ dirá uma coisa extremamente sensata.
E eu não sei que se possa dizer ao algarismo, se ele falar desse modo, porque os 30% nós não temos base para os nossos discursos, e ele tem o recenseamento.
Machado de Assis. In: ―Obra Completa‖, Ed Nova Aguilar, v. III, p. 344-5.
05. Assinale a alternativa que melhor corresponde à ideia central do texto: (IBMEC)
a) Enquanto os algarismos são objetivos, as frases são subjetivas. b) O algarismo, por sua natureza objetiva, é um argumento irretorquível. c) A Constituição, por expressar-se por meio de palavras, não garante a democracia d) Cidadãos iletrados não podem pleitear seus direitos. e) A realidade dos fatos desmascara a utopia dos ideais democráticos. 06. Os pronomes prestam-se à coesão textual por sua função anafórica palavras, orações e frases expressas no texto. Observe os fragmentos: (IBMEC)
I. ―publicou-se há dias o recenseamento do Império, do qual se colige que 70% da nossa população não sabem
ler.‖ II. ―Eles dizem as coisas pelo nome, às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem.‖ III. ―A isto responderá o algarismo com a maior
simplicidade:‖
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
63
É correto afirmar que:
a) o pronome relativo do qual retoma a palavra recenseamento; o pronome oblíquo o, a palavra nome, e o pronome demonstrativo isto, a frase anterior. b) o pronome relativo do qual retoma a palavra império; o pronome oblíquo o, a palavra outro e o pronome demonstrativo isto, a palavra direitos. c) o pronome relativo do qual retoma a palavra recenseamento; o pronome oblíquo o, a palavra outro e o pronome demonstrativo isto, a palavra direitos. d) o pronome relativo do qual retoma a palavra império; o pronome oblíquo o, nome feio e o pronome demonstrativo isto, a frase anterior. e) o pronome relativo do qual retoma a palavra recenseamento; o pronome oblíquo o, nome feio e o pronome demonstrativo isto, a palavra direitos. ―(...) Nesse instante assomava à porta um parente nosso, o Ver. Padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar – Vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais perturbou-se: — Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente. (...)‖
07. O fragmento sublinhado acima poderia ser reescrito, com o emprego de um conectivo. A reescritura que preserva o sentido original do fragmento é: (UERJ)
a) caso nos visse a todos naquele estado de aflição. b) porém nos viu a todos naquele estado de aflição. c) quando nos viu a todos naquele estado de aflição. d) não obstante nos ver a todos naquele estado de aflição. e) no entanto nos viu a todos naquele estado de aflição. ―(…) Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto, e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. (…)‖
08. O vocábulo em destaque faz referência a uma palavra já enunciada no texto. Essa palavra a que se refere o vocábulo lhes é:
a) soluços. b) páginas. c) senhoras. d) momentos. e) comoventes.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E C A D A C C C * *
ORTOGRAFIA
Ortografia é a parte da gramática que determina a correta escrita dos vocábulos em nossa língua. LETRA E ALFABETO
Nosso alfabeto é composto por 26 letras, incluindo K, W e Y, que são utilizadas em palavras estrangeiras.
NOTAÇÕES LÉXICAS
Além das letras, nossa língua usa diversos sinais auxiliares com o intuito de indicar alguns fonemas especiais. São: acentos (agudo, circunflexo e grave), til, apóstrofo, cedilha e hífen. Sendo este último, de grande relevância. O EMPREGO DO HÍFEN
O hífen é usado com vários fins em nossa ortografia, geralmente, sugerindo a ideia de união semântica. - Letras iguais, separa com hífen (-). - Letras diferentes, junta. - O ―H‖ não tem personalidade. Separa (-). - O ―R‖ e o ―S‖, quando estão perto das vogais, são dobrados. Mas não se juntam com consoantes. O hífen é empregado:
1) Para ligar pronomes oblíquos átonos a verbos e à palavra "eis". • Exemplos: obedecer-lhe / chamar-se-á. 2) Em substantivos compostos, cujos elementos conservam sua autonomia fonética ou primeiro elemento é numeral. • Exemplos: Amor-perfeito / arco-íris e primeiro-ministro. 3) Nos topônimos compostos iniciados pelos adjetivos grã, grão, por forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por artigos. • Exemplos: Grã-Bretanha, Baía de Todos-os-Santos e Traga-Mouros. 4) Nas palavras que designam espécies botânicas e zoológicas. • Exemplos: couve-flor, erva-doce; andorinha-grande, cobra-d'água. 5) Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. • Exemplos: além-mar / aquém-fronteiras. 6) Usa-se o hífen sempre que o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. • Exemplos: inter-regional, anti-inflacionário, sub-bibliotecário, tele-entrega, etc. EMPREGO DAS INICIAIS MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS
1) Utiliza-se inicial maiúscula: a) No começo de um período, verso ou citação direta. • Exemplos: Disse o Padre Antonio Vieira: ―Estar com Cristo em qualquer lugar, ainda que seja no inferno, é estar no Paraíso‖. → Atenção: No início dos versos que não abrem
período, é facultativo o uso da letra maiúscula. b) Nos nomes reais ou fictícios. • Exemplos: Pedro, Saci e D. Quixote. c) Nos topônimos, reais ou fictícios. • Exemplos: Rio de Janeiro e Pasárgada. d) Nos nomes mitológicos. • Exemplos: Dionísio, Atlas, Netuno.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
64
e) Nos nomes de festas e festividades. • Exemplos: Natal, Páscoa, Ramadã. f) Em siglas, símbolos ou abreviaturas consagradas (nacionais ou internacionais). • Exemplos: IBGE, ONU e Sr., V. Ex.ª. g) Nos nomes que designam altos conceitos religiosos, políticos ou nacionalistas. • Exemplos: Estado, Nação, Pátria, Igreja (Católica Apostólica Romana), União, etc. → Atenção: Esses nomes escrevem-se com inicial
minúscula quando são empregados em sentido geral ou indeterminado. • Exemplo: Todos amam sua pátria. 1.1 Emprego FACULTATIVO de letra maiúscula:
a) Nos nomes de logradouros públicos, templos e edifícios. • Exemplos: Rua da Liberdade ou rua da Liberdade. → Atenção: Depois de dois pontos, não se tratando de
citação direta, usa-se letra minúscula. • Exemplo: ―Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incenso, mirra.‖ (Manuel Bandeira) O EMPREGO DO ―I e E‖
É comum, portanto, o emprego em: 1) Nas terceiras pessoas do presente do indicativo e na conjugação dos verbos terminados em ―-IAR‖. • Exemplos: cai, sai, corrói, vario, estagio e assobio. 2) No prefixo grego ―anti‖, que indica ação contrária E
nas terminações em ―-ANO‖ (significando aquele que pertence) • Exemplos: antídoto, antissepsia, antimoral e anti-horário / Freudiano, camoniano e açoriano. 3) Nos ditongos nasais ―ãe‖ e ―õe‖. • Exemplos: mãe / dispõe. 4) No prefixo grego ―ante-‖ que indica anterioridade. • Exemplos: antediluviano, antessala e antecâmara. 5) Nas formas dos verbos terminados em ―-OAR‖ e ―-UAR‖. • Exemplos: abençoe, perdoe, magoe, efetue e continue. O EMPREGO DO ―C e Ç‖
É comum, portanto, o emprego em: 1) Em vocábulos de origem tupi ou africana. • Exemplos: açaí, cacimba, miçanga e Araci. 2) Em palavras de origem latina. • Exemplos: absorto (absorção); marte (marcial) e ato (ação). 3) Em palavras de origem árabe. • Exemplos: açafrão e alface. 4) Nos sufixos ―-AÇA, -AÇO, -AÇÃO, -ECER, -IÇA, -NÇA, -UÇO‖. • Exemplos: carcaça, noviço, anoitecer e armação.
5) Após vários ditongos. • Exemplos: fauce, feição, foice e louça. O EMPREGO DO ―G e J‖
É comum, portanto, o emprego da letra J, em: 1) Diversas palavras de origem latina. • Exemplos: jeito e cereja. 2) Várias palavras de origem africana e tupi-guarani. • Exemplos: beiju, jenipapo, jerimum, jiboia, jeribá, jirau e pajé. 3) Palavras derivadas de outras que se grafam com ―J‖. • Exemplos: laranjeira, viajei, viajem (verbo), gorjeta e rijo. 4) Flexões (subjuntivos) dos verbos terminados em –―JAR‖. • Exemplos: arranje, arranjemos, despeje e despejes. 5) Sufixos ―-age, -igem, -ugem, -ege, -oge ,-ágio,-égio,-ógio, -úgio‖. • Exemplos: aragem, miragem, relógio, plágio. 6) Depois da vogal ―A‖ em início de vocábulos. • Exemplos: agente, agiota, agenda, agitar, ágio. O EMPREGO DO ―S‖
É comum, portanto, o emprego em: 1) Correlação dos verbos com ―ND‖ e ―PEL‖ formarão substantivos e adjetivos com ―NS‖ ―PULS‖. • Exemplos: pretender (pretensão) e suspenso (suspensivo). 2) Nos sufixos ―-ENSE –ESA -ÊS, -ISA, -OSA, -OSO‖, dos adjetivos. • Exemplo: burguesa, sacerdotisa e gostoso. 3) Após a maioria dos ditongos. • Exemplos: causa e lousa. 4) Conjugação do verbo dos verbos ‗PÔR e ―QUERER‖. • Exemplos: quisesse, quis, puseste e puseram. O EMPREGO DO ―SS‖
É comum, portanto, o emprego em: 1) Correlação dos verbos com ―CED‖, ―GRED‖, ―PRIM‖ e ―TIR‖ formarão substantivos com ―CESS‖, ―GRES‖, ―PRESS‖ e ―SSÃO‖. • Exemplos: ceder (cessão); agredir (agressão); progredir (progressão, progressivo); comprimir (compressão; compressivo); imprimir (impressão, impressor); admitir (admissão, admissível); discutir (discussão) e repercutir (repercussivo).
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Na frase ―Os alimentos não perecíveis ficam armazenados na despensa.‖. Sobre a palavra ―despensa‖, é correto afirmar que:
a) está grafada de forma incorreta, o correto seria ―dispensa‖. b) está grafada corretamente.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
65
c) ―dispensa‖ e ―despensa‖ possuem o mesmo significado. d) ―despensa‖ vem do verbo ―despensar‖. e) ―dispensa‖ e ―despensa‖ são homônimas homógrafas. 02. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente:
a) É utilizada para a colocação da argamaça durante a operação de acentamento de tijolos. b) Durante a limpeza, utilizaram todo o detergente que havia. c) A hijienização de todas as salas foi feita ontem. d) O cabo da enchada quebrou e não temos colher de pedreiro. e) Nós havíamos planejado essa viajem há muitos anos. 03. Na oração ―Concerteza todos se esforçaram para obter o melhor desempenho, mas nem sempre isso é possível.‖, ocorre um erro de:
a) ortografia. b) pontuação. c) plural de adjetivo. d) plural de substantivo. e) semântica. 04. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra escrita da forma incorreta:
a) Para o exame de sangue, é necessário fazer jejum de 8 horas. b) Não esitou e subiu ao palco para cantar. c) O concerto estava lindo e a orquestra sincronizada. d) Descobriu o esconderijo onde guardava os chocolates. e) O assessor mentiu o tempo todo. 05. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das palavras: ―rabu_ento‖ / ―en_ofre‖ / ―desli_e‖ / ―a_en_ão‖:
a) j / ch / s / c / ss. b) g / x / z / sc / s. c) j / x / z / sc / ç. d) g / ch / s / c / ç. e) g / x / z / ss / ç. 06. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
a) folhajem / vilareijo / encherto. b) mecher / giló / desumano. c) conservação / excesso / limpesa. d) fachada / estiagem / visualização. e) catequisar / exímio / enchuto. 07. Entre as palavras abaixo, aquela que apresenta forma correta é:
a) incolume. b) perfido. c) parco. d) amago. e) nodoa. 08. Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está incorreto:
a) micro-organismo. b) anti-herói. c) auto-avaliação. d) micro-ônibus. e) força-tarefa.
09. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas de acordo com a norma culta e com o padrão da língua portuguesa:
a) As pessoas estão a tornar-se superfúlas. b) Toda regra tem excessão. c) Literatura de entreterimento não a agradava. d) Não tenha receio, pois eu a protegerei. e) A água ferve a 100ºC. Logo, este é seu ponto de ebolição. 10. Analise as frases e complete as lacunas com a sequência correspondente.
I. As multas _____ aos motoristas que cometem infrações de trânsito aumentaram. II. Esta proposta financeira necessita da _____ do responsável. III. O asilo da cidade promoverá uma festa _____. IV. A cidade precisa de _____ atuantes. V. A chuva parou o _____ de veículos daquela avenida. Estão corretas:
a) infringidas, rúbrica, beneficiente, cidadãos, tráfego. b) infligidas, rubrica, beneficente, cidadões, tráfico. c) infligidas, rubrica, beneficiente, cidadões, tráfico. d) infringidas, rúbrica, beneficente, cidadãos, tráfego. e) infligidas, rubrica, beneficente, cidadãos, tráfego.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B B A B B D C C D E
ACENTUAÇÃO GRÁFICA
É fundamental identificar, em primeiro lugar, a sílaba tônica dos vocábulos. Observe as regras de acentuação a seguir. MONOSSÍLABOS
1) Acentuam-se com acento agudo os monossílabos terminados em ―a, e‖ e ―o‖ abertos e com circunflexo os finalizados em ―e, o‖ fechados. • Exemplos: chá, pá, dó, ré, mês, rês e pôs. OXÍTONAS
Levam acento todas as oxítonas terminadas em ―a (s)‖, ―e(s)‖, ―o(s)‖ e ―em (ens)‖. • Exemplos: cajá, até, cipó. Armazém e parabéns. PAROXÍTONAS
É comum, portanto, serem acentuadas: 1) Todas as paroxítonas, exceto os terminados por –a (s), -e (s), -o(s) (desde que não formem ditongos), -am, -em e ens: • Exemplos: útil, caráter, pólen, tórax, bíceps, glória, série, empório, jóquei, órfão e órgão. 2) Palavras terminadas: - l, -r, -x e –n. • Exemplos: afável, incrível, caráter, mártir, hífen, próton, látex, tórax. → Atenção: Quando grafadas no plural, não recebem
acento: polens, hifens.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
66
3) Ditongo oral (crescente ou decrescente), seguido ou não de ―s‖: história, série, água, mágoa... → Atenção: De acordo com a nova ortografia, os
ditongos terminados em –ei e –oi não são mais acentuados. PROPAROXÍTONAS
Todas as proparoxítonas são acentuadas, sem exceção: médico, álibi, ômega, etc. HIATOS
1) Acentuam-se as letras ―i‖ e ―u‖ desde sejam a segunda vogal tônica de um hiato e estejam sozinhas ou seguidas de –s na sílaba. • Exemplos: caí (ca-í), país (pa-ís), baú (ba-ú) e etc. 2) Não recebem acento o ―i‖ seguido de ―nh‖ e ―i‖ e o ―u‖ quando aparecem repetidos. • Exemplos: rainha, xiita, juuna e creem. ACENTO DIFERENCIAL
O acento diferencial foi eliminado na última reforma ortográfica, em 2008. Assim, apenas as palavras seguintes devem receber acento: 1) Pôde (3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder) para diferenciar de pode (3ª pessoa do singular do presente do indicativo desse verbo); 2) Têm (3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ter) e seus derivados (contêm, detêm, mantêm etc.) para diferenciar do tem (3ª pessoa do singular do presente do indicativo desse verbo e seus derivados); 3) O verbo pôr para diferenciar da preposição por.
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Conforme as normas de acentuação vigentes assinale a única alternativa correta:
a) árduos / táxi / cômodo. b) caricáta / miúdo / alergia. c) martir / acre / diálogo. d) colméia / estatueta / ímã. e) biceps / órfãs / pôs. 02. Observe as alternativas abaixo e assinale a opção em que todas das palavras são proparoxítonas:
a) fábula / picolé / trânsito. b) química / física / geografia. c) agrotóxico / orgânico / saúde. d) inglês / elástico / mamífero. e) plástico / córrego / pântano. 03. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas do texto são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica:
a) história / cenário / saúde. b) exigências / técnico / além. c) tecnológicas / saúde / rápida. d) é / já / além. e) cenário / área / benefícios.
04. Assinale a alternativa em que todas as palavras contêm a penúltima sílaba tônica, ou seja, em que todas são paroxítonas:
a) Bola / órgão / possível. b) Roma / Fraiburgo / Pará. c) Cidade / mosquito / calor. d) Tatu / informação / inseto. e) Cartucho / lâmpada / coronel. 05. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados corretamente:
a) você / gratuíto / lápis / régua. b) parabéns / ítem / hífen / oásis. c) paletó / pajé / café / jiló. d) amém / amável / rúbrica / além. e) purê / chapéu / proíbido / ideia. 06. De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa correta:
a) Assim como o vocábulo ―remédios‖, a forma verbal da oração: ―Eu sempre remédio a situação lá em casa.‖, também está corretamente acentuada. b) Derivados do substantivo ―Portugal‖, os vocábulos português e portuguêses devem ser acentuados. c) Se a forma verbal ―fabrico‖ não é acentuada, logo também não se deve acentuar o substantivo ―fabrica‖. d) Os vocábulos ―remédios‖ e ―farmácia‖ são acentuados pela mesma regra. e) O vocábulo frequêntes está corretamente acentuado, portanto, poderia substituir ―comuns‖. 07. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente acentuadas:
a) sací / relógio / órgão / urubu / chinés. b) farmacéutico / lapis / armazém / tatu. c) favor / ninguém / bíceps / torax / ceu. d) semântica / refém / álbum / sutil / erudito. e) discurso / baú / virus / dócil / bíceps / anéis. 08. Em um estabelecimento comercial foi colocada uma placa indicando ―Papelaria Camalia‖. Um estudante deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra Camalia? Levando o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação e, especialmente, do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia das palavras. Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, três alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra Camalia:
I. Se a sílaba tônica for o ma, a escrita deveria ser Camália, pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente. II. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser Camalía, pois i e a estariam formando hiato. III. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser Camalia, pois não haveria razão para o uso do acento gráfico. A conclusão está correta apenas em:
a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) I e III. 09. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) idéia / jiboia / co-orientador. b) idéia / jibóia / coorientador. c) ideia / jiboia / coorientador.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
67
d) ideia / jibóia / co-orientador. e) idéia / jibóia / co-orientador. 10. Assinale a alternativa correta quanto às regras de acentuação gráfica:
a) cérebro, ergométrica, evidências são acentuados porque são proparoxítonos. b) fácil, saudável, hábil são acentuados devido à mesma regra de acentuação. c) memória, também, difícil são acentuados devido à mesma regra de acentuação. d) mês, também, já são acentuados porque são oxítonos. e) exercícios, neurônios, universitários são acentuados porque são paroxítonas terminadas em o (seguidas ou não de s).
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A E E A C D D E C B
EMPREGO DO SINAL INDICATIVO DE CRASE
Primeiramente convém não confundir o acento grave com a crase. Esta é o fenômeno, ocorrência, fusão, contração, junção; já aquele é o índice, o acento com o qual se marca a existência da crase. Crase, portanto, é a junção, a contração de duas vogais idênticas. Dessa forma:
Quando usar a crase?
1. Se o verbo da oração exigir a preposição a e, em
seguida, houver um artigo e um substantivo feminino. • Exemplo: prep. + artigo + substantivo feminino
| Júlia levou sua irmã (a + a = à) praça. Eles desobedeceram às normas de segurança.
| prep. a (exigida pelo verbo) + artigo as + subs. feminino → Atenção: Em uma oração, se você puder substituir o
substantivo feminino por um masculino e este for antecedido por ―ao‖, haverá crase. • Exemplos: Eles desobedeceram aos pais / Eles desobedeceram às normas. Júlia levou sua irmã ao teatro / Júlia levou sua irmã à praça 2. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas.
Locuções adverbiais. • Exemplos: às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite, às três horas; Locuções prepositivas. • Exemplos: à frente de, à beira de, à exceção de; Locuções conjuntivas. • Exemplos: à proporção que, à medida que. 3. Ao indicar horas específicas.
• Exemplo: A reunião ocorrerá às duas horas da tarde. |
Horas específicas. → Atenção: Quando a hora aparecer de forma genérica,
não haverá crase. • Exemplo: Passarei em sua casa a uma hora qualquer para conhecer o bebê.
| Hora genérica.
4. Usa-se crase nas expressões à moda de / à maneira
de. • Exemplo: Prefiro comida à francesa.
| A expressão à moda de está implícita em à francesa. 5. Antes dos substantivos casa e terra, desde que não
tenham o sentido de lar e terra firme, respectivamente. • Exemplo: Residência de outras pessoas.
| Ela voltou à casa dos avós após a viagem. mas... Ela voltou a casa após a viagem
| seu próprio lar – não há crase.
Chegamos à terra natal de nossos antepassados.
| lugar específico.
mas... Voltei a terra firme após um mês velejando. (não há crase). 6. Usa-se crase com pronomes demonstrativos e
relativos quando vierem precedidos da preposição a. • Exemplo: Ele não obedeceu àquela norma de segurança.
| verbo transitivo indireto pede a presença da preposição a (a + aquela = àquela). Eis um excelente resumo sobre as regras da crase: Casos em que a crase é proibida
1. Com palavras masculinas, posto que não admitem o
artigo feminino ―a‖. • Exemplo: O convite foi enviado a Fábio. 2. Com pronomes pessoais e demonstrativos, por não
admitirem o acompanhamento do artigo ―a‖. • Exemplo: Não revelarei a ela o nosso segredo.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
68
(Nesse exemplo, ―a‖ é preposição, pois quem revela, revela algo a alguém.). 3. No ―a‖, na forma singular, antes de palavras no plural.
• Exemplo: O artigo se remete a ideias inovadoras. 4. Com verbos.
• Exemplo: Os alunos foram chamados a rever os erros cometidos na prova. 5. Entre palavras repetidas.
• Exemplo: Os réus estavam frente a frente. 6. Com a palavra ―terra‖ como antônima de ―água‖.
• Exemplo: O navio chegou a terra. (terra firme) 7. Com a palavra ―casa‖ e com nomes de cidade, quando
não houver especificações. • Exemplo: Naquela tarde, fomos a casa. Situações nas quais o uso da crase é opcional
1. Com nomes femininos.
• Exemplo: O convite foi feito à Maria. / O convite foi feito a Maria. 2. Com pronomes possessivos (que expressam a ideia
de posse). • Exemplo: Ele agradeceu à minha mãe. / Ele agradeceu a minha mãe. 3. Com a palavra até.
• Exemplo: Ela foi dirigindo até à avenida. / Ela foi dirigindo até a avenida. MANDAMENTOS DA CRASE
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase: (IBGE)
a) O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. b) Este resultado estatístico poderia pertencer à qualquer população carente. c) Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. d) A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. e) Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. 02. Assinale a opção em que o ―a‖ sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase: (IBGE | adapt.)
a) Fui a Lisboa receber o prêmio. / Paulo começou a falar em voz alta. b) Pedimos silêncio a todos. Pouco a pouco, a praça central se esvaziava. c) Esta música foi dedicada a ele. / Os romeiros chegaram a Bahia. d) Bateram a porta fui atender. / O carro entrou a direita da rua. e) Todos a aplaudiram. / Escreva a redação a tinta. 03. Disse ____ ela que não insistisse em amar ____ quem não ____ queria: (UF/RS)
a) a / a / a. b) a / a / à. c) à / a / a. d) à / à / à. e) a / à / à. 04. Quanto ____ suas exigências, recuso-me ____ levá-las ____ sério. (UF/RS)
a) às / à / a. b) a / a / a. c) as / à / à. d) à / a / à. e) as / a / a. 05. Já estavam ____ poucos metros da clareira, ____ qual foram ter por um atalho aberto ____ foice. (UC/BA) a) à / à / a. b) a / à / a. c) a / a / à. d) à / a / à. e) à / à / à. 06. Afeito ____ solidão, esquivava-se ____ comparecer ____ comemorações sociais. (UC/BA)
a) à / a / a. b) à / à / a. c) à / a / à. d) a / à / a. e) a / a / à. 07. Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta: (TTN)
―Comunicamos ____ Vossa Senhoria que encaminhamos ____ petição anexa ____ Divisão de Fiscalização que está apta ____ prestar ____ informações solicitadas.‖
a) a / a / à / a / as. b) à / a / à / a / às. c) a / à / a / à / as. d) à / à / a / à / às. e) à / a / à / à / as. 08. Somente ____ longo prazo será possível ajustar-se esse mecanismo ____ finalidade ____ que se destina. (UF/RS)
a) a / à / a. b) à / a / à. c) à / à / à. d) à / a / a. e) à / à / a. 09. Entregue a carta ____ homem ____ que você se referiu ____ tempos. (UF/RS)
a) aquele / à / á. b) àquele / à / há. c) aquele / a / a.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
69
d) àquele / à / à. e) àquele / a / há. 10. Há crase: (BB)
a) Responda a todas as perguntas. b) Avise a moça que chegou a encomenda. c) Volte sempre a esta casa. d) Dirija-se a qualquer caixa. e) Entregue o pedido a alguém na portaria. 11. A casa fica ____ direita de quem sobe a rua, ____ duas quadras da avenida do Contorno. (Carlos
Chagas/BA) a) à / há. b) a / à. c) a / há. d) à / a. e) à / à. 12. Não nos víamos ____ tanto tempo, que ____ primeira vista não ____ reconheci. (Carlos Chagas/BA)
a) a / à / a. b) a / à / há. c) há / a / há. d) há / à / a. e) a / a / a. 13. Aconselhei-o ____ que, daí ____ pouco, assistisse ____ novela. (Santa Casa)
a) a / à / a. b) a / a / à. c) a / a / a. d) à / à / a. e) à / a / à. 14. Observe as alternativas e assinale a que não contiver erro em relação à crase: (CESESP/PE)
a) Rabiscava todos os seus textos à lápis para depois escrevê-los à máquina. b) Sem dúvida que, com novos óculos, ele veria a distância do perigo, aquela hora do dia. c) Referia-se com ternura ao menino, afeto às meninas e, com respeito, a várias pessoas menos íntimas. d) Àquela distância, os carros só poderiam bater; não obedeceram as regras do trânsito. e) Fui à Maceió provar um sururu à região. 15. ____ noite, todos os operários voltaram ____ fábrica e só deixaram o serviço ____ uma hora da manhã. (FUVEST)
a) Há / à / à. b) A / a / a. c) À / à / à. d) À / a / há. e) A / à / a. 16. Garanto ____ você que compete ____ ela, pelo menos ____ meu ver, tomar as providências para resolver o caso. (CESCEM)
a) a / a / a. b) à / à / a. c) a / à / à. d) a / à / a. e) à / a / à. 17. Sentou ____ máquina e pôs-se ____ reescrever uma ____ uma as páginas do relatório. (CESCEM)
a) a / a / à. b) a / à / a. c) à / a / a.
d) à / à / à. e) à / à / a. 18. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas no período: ―Agradeço ____ Vossa Senhoria ____ oportunidade para manifestar minha opinião ____ respeito.‖ (MACK)
a) à / a / à. b) à / a / a. c) a / a / à. d) a / a / a. e) à / à / a. 19. ____ dias não se conseguem chegar ____ nenhuma das localidades ____ que os socorros se destinam. (Santa Casa)
a) Há / à / a. b) A / a / à. c) À / à / a. d) Há / a / a. e) À / a / à. 20. Fique ____ vontade; estou ____ seu inteiro dispor para ouvir o que tem ____ dizer. (Santa Casa)
a) a / à / a. b) à / a / a. c) à / à / a. d) à / à / à. e) a / a / à.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B D A B B A A A E B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D B C C A C D D B
PONTUAÇÃO
Pontuar é, antes de mais nada, dividir o discurso, separar-lhe as partes quando for necessário. Pontuar é, no mais das vezes, uma necessidade sintática. Isto quer dizer que, para se pontuar bem, deve-se estar atento às funções sintáticas desempenhadas pelos termos e pelas orações, bem como à localização de tais termos e orações no período. O emprego dos sinais de pontuação pode alterar o sentido e a função sintática de um termo, ou seja, a pontuação, em muitos casos, implicará alterações semânticas e sintáticas. Observe as alterações de sentido e de função sintática entre os pares a seguir: • Exemplos: 1. Ninguém compreende Maria. → Maria é uma pessoa
difícil de se compreender. O termo ―Maria‖ é o objeto direto. Ninguém compreende, Maria. → Maria passa a ser a
interlocutora com quem se fala. O termo ―Maria‖ é agora o vocativo. 2. O empregado falará brevemente com o novo diretor. →
O vocábulo ―brevemente‖ funciona como advérbio de tempo.
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
70
O empregado falará, brevemente, com o novo diretor. →
O vocábulo ―brevemente‖ funciona como advérbio de modo. Para que bem se efetue esse domínio, empreguem-se os sinais de pontuação os quais se dividem em sinais de pausa e sinais de entonação ou melódicos. → Atenção: Quando o último elemento de uma série
enumerativa vier precedido da conjunção ―e‖, a vírgula é dispensada. Neste caso, diz-se que se fez uma ―enumeração fechada‖, pois o último elemento, introduzido pelo conectivo aditivo ―e‖, finaliza o pensamento, o que não permite inferir que haja outros elementos não mencionados. Não se deve empregar a vírgula antes das conjunções ―e‖, ―ou‖, ―nem‖ quando estas ligarem palavras ou mesmo orações de pequena extensão. • Exemplos: ―Todo ele era atenção e interrogação.‖ (Machado de Assis) ―Nem um nem outro lhe deve ficar obrigado.‖ (A. Herculano) Sinais de pausa:
a) a vírgula (,). b) o ponto (.). c) o ponto e vírgula (;). Sinais de entonação ou melódicos:
a) os dois-pontos (:). b) o ponto de exclamação (!). c) o ponto de interrogação (?). d) as reticências (...). e) as aspas (― ‖). f) os parênteses (( )). g) os colchetes ([ ]). h) o travessão (—). 1. O emprego do ponto (.)
O ponto, ou ponto final, é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é, ainda, utilizado nas abreviações. • Exemplos: ―Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos.‖ ―Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão.‖ ―O filme recebeu várias indicações para o Óscar.‖ ―Esse acontecimento remonta ao ano 300 a.C., segundo afirmam os nossos historiadores.‖ ―Sr. João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado.‖ 2. O emprego da vírgula (,)
a) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. • Exemplo: ―Tivera pai, mãe, marido, dois filhos. Todos aos poucos tinham morrido.‖ (nesse exemplo a vírgula separa uma série de objetos diretos do verbo ―ter‖.) b) Quando elementos que têm mesma função sintática aparecem unidos pelas conjunções e, nem e ou, não se usa vírgulas, a não ser que as conjunções apareçam repetidas:
• Exemplos: ―Tenho muito cuidado com meus livros e meus DVDs.‖ ―Ou você, ou sua esposa deve comparecer à escola de seu filho.‖ c) Para indicar que uma palavra, geralmente verbo, foi suprimida. • Exemplo: Patrícia, a todos os seus irmãos, deu um presente de Natal; ao marido, apenas um beijo. (A vírgula após ―marido" está indicando a supressão do verbo ―dar‖.) d) Isolar vocativo. • Exemplo: ―— E agora, meu marido, aceito ou não o emprego?‖ e) Isolar aposto. • Exemplo: ―Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade que tem belas mulheres.‖ f) Isolar complemento verbal ou nominal antecipados. • Exemplo: ―Um medo terrível, eu senti naquele momento.‖ (inversão do objeto direto) g) Isolar adjunto adverbial antecipado. • Exemplo: ―Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a cadeia.‖ h) Isolar nome de lugar, quando se transcrevem datas. • Exemplo: ―Fortaleza, 21 de janeiro de 2001.‖ i) Isolar conjunções intercaladas. • Exemplo: ―A ferida já foi tratada. É preciso, porém, cuidar para que não infeccione.‖ j) Intercalar expressões como ―em suma‖, ―isto é‖, ―ou seja‖, ―vale dizer‖, ―a propósito‖. • Exemplo: ―Preciso dar uma maquiada no texto, ou seja, subentender algumas ideias.‖ Uso da vírgula entre orações
A vírgula é usada para: a) Separar as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas que não sejam introduzidas pela conjunção e: • Exemplo: ―Cheguei, peguei o livro, voltei correndo para o curso.‖ É aconselhável usar a vírgula quando a conjunção ―e‖: - aparece repetida no período: • Exemplo: ―Passaram aqui para perguntar, e questionar, e amolar, e comprometer.‖ - aparece entre orações de sujeitos diferentes: • Exemplo: O tempo estava nublado, e o piloto desistiu do voo. - não tem sentido de adição: • Exemplo: ―A moça apertou a campainha, e ninguém veio atender.‖ (o ―e‖ tem valor de conjunção adversativa)
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
71
→ Atenção: A vírgula é de rigor antes do ―e‖ aditivo
quando vem repetido antes de cada oração (polissíndeto), quando o ―e‖ possui valor adversativo, ou quando a oração introduzida pelo ―e‖ apresenta sujeito diverso da oração assindética anteposta. Preparou-se profundamente para o concurso, e não conseguiu ser aprovado nem na primeira etapa. b) Isolar orações intercaladas. • Exemplo: ―E o ladrão, perguntei eu, foi condenado ou não?‖ c) Isolar orações adjetivas explicativas. • Exemplo: ―As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.‖ d) Isolar orações adverbiais. • Exemplo: ―Fiquei tão alegre com esta ideia, que ainda agora me treme a pena na mão.‖ e) Isolar orações reduzidas. • Exemplo: ―Para serenar a roda, propus novo chope.‖ 3. Ponto e Vírgula (;)
O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa que a vírgula e ora mais breve que o ponto. • Exemplos: ―Os empregados, que ganham pouco, reclamam; os patrões, que não lucram, reclamam igualmente.‖ ―Joaquim celebrou seu aniversário na praia; não gosta do frio e nem das montanhas.‖ ―Os conteúdos da prova são: Geografia; História; Português.‖ 4. Dois Pontos (:)
Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. • Exemplos: ―Na matemática as quatro operações essenciais são: adição, subtração, multiplicação e divisão.‖ ―Joana explicou: — Não devemos pisar na grama do parque.‖ 5. Ponto de Exclamação (!)
O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. • Exemplos: ―Que horror!, Ganhei!‖ 6. Ponto de Interrogação (?)
O ponto de interrogação é utilizado para interrogar, perguntar. Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas-livre.
• Exemplos: ―Quer ir ao cinema comigo?‖ ―Será que eles prefere jornais ou revistas?‖ 7. Reticências (...)
As reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. • Exemplos: ―Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças…‖ ―Não sei… Preciso pensar no assunto.‖ 8. Aspas (― ‖)
É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. • Exemplos: Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia ―o bom‖. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme: ―Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas.‖ 9. Parênteses ( () )
Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. • Exemplos: ―O funcionário (o mais mal-humorado que já vi) fez a troca dos artigos.‖ ―Cheguei à casa cansada, jantei (um sanduíche e um suco) e adormeci no sofá.‖ 10. Travessão (—)
O Travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. • Exemplos: ―Muito descontrolada, Paula gritou com o marido: — Por favor, não faça isso agora pois teremos problemas mais tarde.‖ ―Maria — funcionária da prefeitura — aconselhou-me que fizesse assim.‖
EXERCÍCIOS CORRELATOS
01. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação: (TJ/SP)
a) É certo que um acordo, embora, às vezes, possa haver condições não almejadas pelas partes, torna-se mais vantajoso, após anos de litigância, do que a expectativa de uma decisão desfavorável. b) É certo, que um acordo, embora às vezes possa haver condições, não almejadas, pelas partes, torna-se mais vantajoso após anos de litigância, do que a expectativa de uma decisão, desfavorável. c) É certo, que um acordo, embora, às vezes, possa haver, condições não almejadas pelas partes, torna-se, mais vantajoso, após anos de litigância, do que a expectativa de uma decisão desfavorável. d) É certo que um acordo, embora, às vezes, possa haver, condições não almejadas, pelas partes, torna-se
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
72
mais vantajoso após anos de litigância do que a expectativa de uma decisão desfavorável. e) É, certo, que, um acordo embora às vezes possa haver condições não almejadas pelas parte torna-se mais vantajoso, após, anos de litigância do que a expectativa de uma decisão desfavorável. 02. Assinale o texto de pontuação correta: (UFRS)
a) Eu, posto que creia no bem não sou daqueles que negam o mal. b) Eu, posto que creia, no bem, não sou daqueles, que negam, o mal. c) Eu, posto que creia, no bem, não sou daqueles, que negam o mal d) Eu, posto que creia no bem, não sou daqueles que negam o mal. e) Eu, posto que creia no bem, não sou daqueles, que negam o mal. 03. Assinale a alternativa em que o texto esteja corretamente pontuado: (FUVEST/SP)
a) Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo sem chapéu trazendo pela mão, uma menina de quatro anos. b) Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja, um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão, uma menina de quatro anos. c) Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de quatro anos. d) Enquanto eu, fazia comigo mesmo, aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de quatro anos. e) Enquanto eu fazia comigo mesmo, aquela reflexão, entrou na loja, um sujeito baixo, sem chapéu trazendo, pela mão, uma menina de quatro anos. 04. Assinale o item em que o texto está corretamente pontuado: (CEFET/PR)
a) Não nego, que ao avistar a cidade natal tive uma sensação nova. b) Não nego que ao avistar, a cidade natal, tive uma sensação nova. c) Não nego que, ao avistar, a cidade natal, tive uma sensação nova. d) Não nego que ao avistar a cidade natal tive uma sensação nova. e) Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. 05. Está inteiramente correta a pontuação da seguinte frase: (FCC)
a) Ao longo do tempo, verificou-se que o homem é capaz de se valer de suas experiências, sobretudo as mais marcantes, para se prevenir contra tudo o que possa vir a representar uma ameaça para ele. b) Ao longo do tempo verificou-se, que o homem, é capaz de se valer de suas experiências, sobretudo as mais marcantes para se prevenir contra tudo, o que possa vir a representar uma ameaça para ele. c) Ao longo do tempo, verificou-se que o homem é capaz, de se valer de suas experiências, sobretudo, as mais marcantes, para se prevenir, contra tudo o que possa vir a representar, uma ameaça para ele. d) Ao longo do tempo verificou-se que, o homem, é capaz de se valer, de suas experiências, sobretudo as mais marcantes para se prevenir contra tudo o que o que possa vir a representar: uma ameaça para ele. e) Ao longo do tempo, verificou-se, que o homem é capaz de se valer de suas experiências, sobretudo as
mais marcantes para se prevenir contra tudo o que possa vir a representar: uma ameaça para ele. 06. Em: ―A menina, conforme as ordens recebidas, estudou.‖: (FMU)
a) há erro na colocação das vírgulas. b) a primeira vírgula deve ser omitida. c) a segunda vírgula deve ser omitida. d) a forma de colocação das vírgulas está correta. e) n.d.a. 07. Os trechos a seguir tiveram sinais de pontuação suprimidos e alterados. Aponte aquele cuja pontuação permaneceu gramaticalmente correta: (UM/SP) a) A ideia do ministro extraordinário dos Esportes, Édson Arantes do Nascimento, o Pelé de colocar na cadeia ―os meninos‖ que participam de brigas entre torcidas organizadas é para ficar no jargão esportivo, uma ―bola fora‖. b) Parece que, o Pelé do milésimo gol, que pedia escola para ―esses meninos‖, também era bem mais sábio do que o que hoje lhes propõe ―cadeia‖. c) Os otimistas olham e dizem: Ah, está meio cheio. Mas os pessimistas, vêem o mesmo copo, a mesma quantidade de água e acham que está meio vazio. d) A pesquisa, descrita na edição de hoje da revista científica britânica ―Nature‖, é mais um dado na busca pelos cientistas de compreender os mecanismos moleculares da embriogênese, ou seja, a formação e o desenvolvimento dos seres vivos. e) Como os bens públicos não podem ser penhorados os precatórios entram em ordem cronológica no orçamento do governo. 08. É preciso suprimir uma ou mais vírgulas na seguinte frase: (FCC)
a) É possível que, em vista da quantidade e de seu poder de sedução, as ficções de nossas telas influenciem nossa conduta de forma determinante. b) Independentemente do mérito dos professores, as escolas devem, com denodo, estimular os sonhos dos alunos. c) É uma pena que, hoje em dia, tantos e tantos jovens substituam os sonhos pela preocupação, compreensível, diga-se, de se inserir no mercado de trabalho. d) O fato de serem, os adolescentes de hoje, tão ―razoáveis‖, faz com que a decantada rebeldia da juventude dê lugar ao conformismo e à resignação. e) Se cada época tem os adolescentes que merece, conforme opina o autor, há também os adolescentes que não merecem os adultos de sua época. 09. Assinale a alternativa correspondente ao período de pontuação correta: (FESB/SP)
a) Na espessura do bosque, estava o leito da irara ausente. b) Na espessura, do bosque; estava o leito, da irara ausente. c) Na espessura do bosque; estava o leito, da irara, ausente. d) Na espessura, do bosque estava o leito da irara ausente. e) Na espessura, do bosque estava, o leito da irara ausente. 10. Assinale a alternativa em que o texto está pontuado corretamente: (FUVEST/SP)
a) Matias, cônego honorário e, pregador efetivo estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico.
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
73
b) Matias, cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão, quando começou o idílio psíquico. c) Matias cônego honorário e pregador efetivo estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. d) Matias cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. e) Matias, cônego honorário e, pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A D C E A D D D A B
REESCRITA DE FRASES: SUBSTITUIÇÃO, DESLOCAMENTO, PARALELISMO; VARIAÇÃO
LINGUÍSTICA: NORMA CULTA
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo
Este item será abordado como um tema integrado, pois a separação acarretaria em uma ruptura no aprendizado, considerando que um é interligado ao outro, pois a substituição de palavras ou de trechos tem tudo a ver com a retextualização. Figuras de estilo, figuras ou desvios de linguagem são nomes dados a alguns processos que priorizam a palavra ou o todo para tornar o texto mais rico e expressivo ou buscar um novo significado, possibilitando uma reescritura correta de textos. Paralelismo
É a correspondência de funções gramaticais e semânticas existentes nas orações. Além de melhorar a compreensão de texto, o fato de respeitar o paralelismo torna a sua leitura mais agradável. • Exemplos: Não só canta, como bolos é sua especialidade. Não só canta, como faz bolos com especialidade. Apenas na segunda oração há a presença de paralelismo... Isso porque há uma relação de equivalência dos termos. O núcleo do primeiro período é o verbo cantar. O núcleo do segundo período é o verbo fazer. Assim, a oração apresenta uma estrutura simétrica, o que ocorre através dos dois verbos (canta, faz). Na primeira oração, o núcleo do primeiro período é o verbo cantar. No segundo período, porém, o núcleo é o substantivo bolos. Daí decorre que não houve correspondência entre ambos os períodos (canta, bolos). Lembre-se: Para que o paralelismo esteja presente no discurso, é preciso que haja simetria estrutural! Há dois tipos de paralelismo: sintático e semântico. 1. Paralelismo sintático
O paralelismo sintático, ou paralelismo gramatical, observa a ligação existente entre as funções sintáticas ou morfológicas dos elementos da oração.
• Exemplos: a) O que espero das férias: viagens, praia e visitar lugares diferentes. Há aqui uma quebra na estrutura da oração, a partir do momento em que se utiliza o verbo visitar em vez de continuar a sequência morfológica com substantivos. O ideal seria: O que espero das férias: viagens, praia e visitas a lugares diferentes. b) Quando eu der a notícia, eles ficariam tristes. Neste caso, ocorreu uma alternância nos tempos verbais. No primeiro período o verbo está no futuro do subjuntivo, o que obriga que o verbo do segundo período esteja no futuro do presente e não no futuro do pretérito. O correto seria assim: Quando eu der a notícia, eles ficarão tristes. Outra alternativa seria: Quando eu desse a notícia, eles ficariam tristes. 2. Paralelismo semântico
O paralelismo semântico observa a correspondência de valores existentes no discurso. • Exemplos: a) O evento durou o dia todo e algumas dores nos pés. O sentido da oração foi interrompido. No que respeita à duração da festa era esperado algo como ―O evento durou o dia todo e adentrou a noite.‖, por exemplo. b) Preocupado, perguntou o quanto a namorada gostava dele. Ela respondeu que gostava milhares de reais que ele tinha no banco. Também neste caso, há ausência de paralelismo. A namorada deveria dizer que gostava muito ou pouco do namorado. Não faz sentido tentar estabelecer uma relação entre valor sentimental e quantia financeira. Casos frequentes
1) não só ... mas também Sem paralelismo: Não só corrigiu os seus erros e é a ajuda do seu grupo de estudos. Com paralelismo: Não só corrigiu os seus erros, mas também ajudou o seu grupo de estudos. 2) por um lado ... por outro Sem paralelismo: Por um lado, eu concordo com a atitude dela, por outro, eu acho que ela fez o que era certo. Com paralelismo: Por um lado, eu concordo com a atitude dela, por outro, fico preocupada com as consequências. 3) quanto mais ... mais
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
74
Sem paralelismo: Quanto mais eu o vejo, talvez não case com ele. Com paralelismo: Quanto mais eu o vejo, mais certeza tenho que não quero casar com ele. 4) tanto ... quanto Sem paralelismo: Tanto foram convidados adultos e crianças. Com paralelismo: Tanto foram convidados adultos quanto crianças. 5) ora ... ora, seja ... seja Sem paralelismo: Ora faz os deveres, mas não faz tudo. Com paralelismo: Ora faz os deveres, ora não faz. Variação linguística
―Há uma grande diferença se fala um deus ou um herói; se um velho amadurecido ou um jovem impetuoso na flor da idade; se uma matrona autoritária ou uma dedicada; se um mercador errante ou um lavrador de pequeno campo fértil. (...)‖ Todas as pessoas que falam uma determinada língua conhecem as estruturas gerais, básicas, de funcionamento podem sofrer variações devido à influência de inúmeros fatores. Tais variações, que às vezes são pouco perceptíveis e outras vezes bastantes evidentes, recebem o nome genérico de variedades ou variações linguísticas. Nenhuma língua é usada de maneira uniforme por todos os seus falantes em todos os lugares e em qualquer situação. Sabe-se que, numa mesma língua, há formas distintas para traduzir o mesmo significado dentro de um mesmo contexto. Suponham-se, por exemplo, os dois enunciados a seguir: Veio me visitar um amigo que eu morei na casa dele faz tempo. Veio visitar-me um amigo em cuja casa eu morei há anos. Qualquer falante do português reconhecerá que os dois enunciados pertencem ao seu idioma e têm o mesmo sentido, mas também que há diferenças. Pode dizer, por exemplo, que o segundo é de gente mais ―estudada‖. Isso é prova de que, ainda que intuitivamente e sem saber dar grandes explicações, as pessoas têm noção de que existem muitas maneiras de falar a mesma língua. É o que os teóricos chamam de variações linguísticas. As variações que distinguem uma variante de outra se manifestam em quatro planos distintos, a saber: fônico, morfológico, sintático e lexical.
a) Variações Fônicas
São as que ocorrem no modo de pronunciar os sons constituintes da palavra. Os exemplos de variação fônica são abundantes e, ao lado do vocabulário, constituem os domínios em que se percebe com mais nitidez a
diferença entre uma variante e outra. Entre esses casos, podemos citar: - a queda do ―r‖ final dos verbos, muito comum na linguagem oral no português: falá, vendê, curti (em vez de curtir), compô. - o acréscimo de vogal no início de certas palavras: eu me alembro, o pássaro avoa, formas comuns na linguagem clássica, hoje frequentes na fala caipira. - a queda de sons no início de palavras: ocê, cê, ta, tava, marelo (amarelo), margoso (amargoso), características na linguagem oral coloquial. - a redução de proparoxítonas a paroxítonas: Petrópis (Petrópolis), fórfi (fósforo), porva (pólvora), todas elas formam típicas de pessoas de baixa extração social. - a pronúncia do ―l‖ final de sílaba como ―u‖ (na maioria das regiões do Brasil) ou como ―l‖ (em certas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina) ou ainda como ―r‖ (na linguagem caipira): quintau, quintar, quintal; pastéu, paster, pastel; faróu, farór, farol. - deslocamento do ―r‖ no interior da sílaba: largato, preguntar, estrupo, cardeneta, típicos de pessoas de baixa extração social. b) Variações Morfológicas
São as que ocorrem nas formas constituintes da palavra. Nesse domínio, as diferenças entre as variantes não são tão numerosas quanto as de natureza fônica, mas não são desprezíveis. Como exemplos, podemos citar: - o uso do prefixo hiper- em vez do sufixo -íssimo para criar o superlativo de adjetivos, recurso muito característico da linguagem jovem urbana: um cara hiper-humano (em vez de humaníssimo), uma prova hiper difícil (em vez de dificílima), um carro hiper possante (em vez de possantíssimo). - a conjugação de verbos irregulares pelo modelo dos regulares: ele interviu (interveio), se ele manter (mantiver), se ele ver (vir) o recado, quando ele repor (repuser). - a conjugação de verbos regulares pelo modelo de irregulares: vareia (varia), negoceia (negocia). - uso de substantivos masculinos como femininos ou vice-versa: duzentas gramas de presunto (duzentos), a champanha (o champanha), tive muita dó dela (muito dó), mistura do cal (da cal). - a omissão do ―s‖ como marca de plural de substantivos e adjetivos (típicos do falar paulistano): os amigo e as amiga, os livro indicado, as noite fria, os caso mais comum. - o enfraquecimento do uso do modo subjuntivo: Espero que o Brasil reflete (reflita) sobre o que aconteceu nas últimas eleições; Se eu estava (estivesse) lá, não deixava acontecer; Não é possível que ele esforçou (tenha se esforçado) mais que eu. c) Variações Sintáticas
Dizem respeito às correlações entre as palavras da frase. No domínio da sintaxe, como no da morfologia, não são tantas as diferenças entre uma variante e outra. Como exemplo, podemos citar: - o uso de pronomes do caso reto com outra função que não a de sujeito: encontrei ele (em vez de encontrei-o) na rua; não irão sem você e eu (em vez de mim); nada houve entre tu (em vez de ti) e ele. - o uso do pronome lhe como objeto direto: não lhe
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
75
(em vez de ―o‖) convidei; eu lhe (em vez de ―o‖) vi ontem. - a ausência da preposição adequada antes do pronome relativo em função de complemento verbal: são pessoas que (em vez de: de que) eu gosto muito; este é o melhor filme que (em vez de a que) eu assisti; você é a pessoa que (em vez de em que) eu mais confio. - a substituição do pronome relativo ―cujo‖ pelo pronome ―que‖ no início da frase mais a combinação da preposição ―de‖ com o pronome ―ele‖ (=dele): É um amigo que eu já conhecia a família dele (em vez de... cuja família eu já conhecia). - a mistura de tratamento entre tu e você, sobretudo quando se trata de verbos no imperativo: Entra, que eu quero falar com você (em vez de contigo); Fala baixo que a sua (em vez de tua) voz me irrita. - ausência de concordância do verbo com o sujeito: Eles chegou tarde (em grupos de baixa extração social); Faltou naquela semana muitos alunos; Comentou-se os episódios. d) Variações Léxicas
É o conjunto de palavras de uma língua. As variantes do plano do léxico, como as do plano fônico, são muito numerosas e caracterizam com nitidez uma variante em confronto com outra. Eis alguns, entre múltiplos exemplos possíveis de citar: - a escolha do adjetivo maior em vez do advérbio muito para formar o grau superlativo dos adjetivos, características da linguagem jovem de alguns centros urbanos: maior legal; maior difícil; Esse amigo é um carinha maior esforçado. - as diferenças lexicais entre Brasil e Portugal são tantas e, às vezes, tão surpreendentes, que têm sido objeto de piada de lado a lado do Oceano. Em Portugal chamam de cueca aquilo que no Brasil chamamos de calcinha; o que chamamos de fila no Brasil, em Portugal chamam de bicha; café da manhã em Portugal se diz pequeno almoço; camisola em Portugal traduz o mesmo que chamamos de suéter, malha, camiseta. Designações das Variantes Lexicais:
a) Arcaísmo: diz-se de palavras que já caíram de uso e,
por isso, denunciam uma linguagem já ultrapassada e envelhecida. É o caso de reclame, em vez de anúncio publicitário; na década de 60, o rapaz chamava a namorada de broto (hoje se diz gatinha ou forma semelhante), e um homem bonito era um pão; na linguagem antiga, médico era designado pelo nome físico; um bobalhão era chamado de coió ou bocó; em vez de refrigerante usava-se gasosa; algo muito bom, de qualidade excelente, era supimpa. b) Neologismo: é o contrário do arcaísmo. Trata-se de
palavras recém-criadas, muitas das quais mal ou nem estraram para os dicionários. A moderna linguagem da computação tem vários exemplos, como escanear, deletar, printar; outros exemplos extraídos da tecnologia moderna são mixar (fazer a combinação de sons), robotizar, robotização. c) Estrangeirismo: trata-se do emprego de palavras
emprestadas de outra língua, que ainda não foram aportuguesadas, preservando a forma de origem. Nesse caso, há muitas expressões latinas, sobretudo da linguagem jurídica, tais como: habeas-corpus (literalmente, ―tenhas o corpo‖ ou, mais livremente,
―estejas em liberdade‖), ipso facto (―pelo próprio fato de‖, ―por isso mesmo‖), ipsis litteris (textualmente, ―com as mesmas letras‖), grosso modo (―de modo grosseiro‖, ―impreciso‖), sic (―assim, como está escrito‖), data venia (―com sua permissão‖). As palavras de origem inglesas são inúmeras: insight (compreensão repentina de algo, uma percepção súbita), feeling (―sensibilidade‖, capacidade de percepção), briefing (conjunto de informações básicas), jingle (mensagem publicitária em forma de música). Do francês, hoje são poucos os estrangeirismos que ainda não se aportuguesaram, mas há ocorrências: hors-concours (―fora de concurso‖, sem concorrer a prêmios), tête-à-tête (palestra particular entre duas pessoas), esprit de corps (―espírito de corpo‖, corporativismo), menu (cardápio), à la carte (cardápio ―à escolha do freguês‖), physique du rôle (aparência adequada à caracterização de um personagem). d) Jargão: é o lexo típico de um campo profissional
como a medicina, a engenharia, a publicidade, o jornalismo. No jargão médico temos uso tópico (para remédios que não devem ser ingeridos), apneia (interrupção da respiração), AVC ou acidente vascular cerebral (derrame cerebral). No jargão jornalístico chama-se de gralha, pastel ou caco o erro tipográfico como a troca ou inversão de uma letra. A palavra lide é o nome que se dá à abertura de uma notícia ou reportagem, onde se apresenta sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial. Quando o lide é muito prolixo, é chamado de nariz-de-cera. Furo é notícia dada em primeira mão. Quando o furo se revela falso, foi uma barriga. Entre os jornalistas é comum o uso do verbo repercutir como transitivo direto: ―— Vá lá repercutir a notícia de renúncia!‖ (esse uso é considerado errado pela gramática normativa). e) Gíria: é o lexo especial de um grupo (originariamente
de marginais) que não deseja ser entendido por outros grupos ou que pretende marcar sua identidade por meio da linguagem. Existe a gíria de grupos marginalizados, de grupos jovens e de segmentos sociais de contestação, sobretudo quando falam de atividades proibidas. A lista de gírias é numerosíssima em qualquer língua: ralado (no sentido de afetado por algum prejuízo ou má sorte), ir pro brejo (ser malsucedido, fracassar, prejudicar-se irremediavelmente), cara ou cabra (indivíduo, pessoa), bicha (homossexual masculino), levar um lero (conversar). f) Preciosismo: diz-se que é preciosista um léxico
excessivamente erudito, muito raro, afetado: Escoimar (em vez de corrigir); discrepar (em vez de discordar); cinesíforo (em vez de motorista); obnubilar (em vez de obscurecer ou embaçar); conúbio (em vez de casamento); chufa (em vez de caçoada, troça). g) Vulgarismo: é o contrário do preciosismo, ou seja, o
uso de um léxico vulgar, rasteiro, obsceno, grosseiro. É o caso de quem diz, por exemplo, de saco cheio (em vez de aborrecido), se ferrou (em vez de se deu mal, arruinouse), feder (em vez de cheirar mal), ranho (em vez de muco, secreção do nariz). Tipos de Variação
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
76
Não tem sido fácil para os estudiosos encontrar para as variantes linguísticas um sistema de classificação que seja simples e, ao mesmo tempo, capaz de dar conta de todas as diferenças que caracterizam os múltiplos modos de falar dentro de uma comunidade linguística. O principal problema é que os critérios adotados, muitas vezes, se superpõem, em vez de atuarem isoladamente. As variações mais importantes, para o interesse do concurso público, são os seguintes: a) Sociocultural: Esse tipo de variação pode ser
percebido com certa facilidade. Por exemplo, alguém diz a seguinte frase: ―Tá na cara que eles não teve peito de encará os ladrão.‖ (frase 1) ―Obviamente faltou-lhe coragem para enfrentar os ladrões.‖ (frase 2) Que tipo de pessoa comumente falaria de uma ou de outra? Quem comumente usaria se expressaria através de cada tipo de frase? Sem dúvida, associamos à frase 1 os falantes pertencentes a grupos sociais economicamente menos abastados. Pessoas que, muitas vezes, não tiveram a oportunidade de frequentar nem a escola primária, ou, quando muito, fizeram-no em condições pouco adequadas. Por outro lado, a frase 2 é mais comum aos falantes que tiveram possibilidades socioeconômicas melhores e puderam, por isso, ter um contato mais duradouro com a escola, com a leitura, com pessoas de um nível cultural mais elevado e, dessa forma, ―aperfeiçoaram‖ o seu modo de utilização da língua. Convém ficar claro, no entanto, que a diferenciação feita acima está bastante simplificada, uma vez que há diversos outros fatores que interferem na maneira como o falante escolhe as palavras e constrói as frases. b) Geográfica: é, no Brasil, bastante grande e pode ser
facilmente notada. Ela se caracteriza pelo acento linguístico, que é o conjunto das qualidades fisiológicas do som (altura, timbre, intensidade), por isso é uma variante cujas marcas se notam principalmente na pronúncia. Ao conjunto das características da pronúncia de uma determinada região dá-se o nome de sotaque: sotaque mineiro, sotaque nordestino, sotaque gaúcho etc. A variação geográfica, além de ocorrer na pronúncia, pode também ser percebida no vocabulário, em certas estruturas de frases e nos sentidos diferentes que algumas palavras podem assumir em diferentes regiões do país. — Mas você tem medo dele... [de um feiticeiro chamado Mangolô!]. — Há-de-o!... Agora, abusar e arrastar mala, não faço. Não faço, porque não paga a pena... De primeiro, quando eu era moço, isso sim!... Já fui gente. Para ganhar aposta, já fui, de noite, foras d‘hora, em cemitério... (...). Quando a gente é novo, gosta de fazer bonito, gosta de se comparecer. Hoje, não, estou percurando é sossego... c) Histórica: as línguas não são estáticas, fixas,
imutáveis. Elas se alteram com o passar do tempo e com
o uso. Muda a forma de falar, mudam as palavras, a grafia e o sentido delas. Essas alterações recebem o nome de variações históricas. Os dois textos a seguir são de Carlos Drummond de Andrade. Neles, o escritor, meio em tom de brincadeira, mostra como a língua vai mudando com o tempo. No texto I, ele fala das palavras de antigamente e, no texto II, fala das palavras de hoje.
TEXTO I
ANTIGAMENTE
Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e prendadas. Não fazia anos; completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levantam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. (...) Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca; e também tomava cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano; os quais, de pouco siso, se metiam em camisas de onze varas, e até em calças pardas; não admira que dessem com os burros n‘agua. (...) Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, lombrigas; asthma os gatos, os homens portavam ceroulas, bortinas a capa de goma (...). Não havia fotógrafos, mas retratistas, e os cristãos não morriam: descansavam. Mas tudo isso era antigamente, isto é, doutora.
TEXTO II
ENTRE PALAVRAS
Entre coisas e palavras — principalmente entre palavras — circulamos. A maioria delas não figura nos dicionários de há trinta anos, ou figura com outras acepções. A todo momento impõe-se tornar conhecimento de novas palavras e combinações de. Você que me lê, preste atenção. Não deixe passar nenhuma palavra ou locução atual, pelo seu ouvido, sem registrá-la. Amanhã, pode precisar dela. E cuidado ao conversar com seu avô; talvez ele não entenda o que você diz. O malote, o cassete, o spray, o fuscão, o copião, a Vemaguet, a chacrete, o linóleo, o nylon, o nycron, o ditafone, a informática, a dublagem, o sinteco, o telex... Existiam em 1940? Ponha aí o computador, os anticoncepcionais, os mísseis, a motoneta, a Velo-Solex, o biquíni, o módulo lunar, o antibiótico, o enfarte, a acupuntura, a biônica, o acrílico, o tá legal, a apartheid, o som pop, as estruturas e a infraestrutura. Não esqueça também (seria imperdoável) o Terceiro Mundo, a descapitalização, o desenvolvimento, o unissex, o bandeirinha, o mass media, o Ibope, a renda per capita, a mixagem. Só? Não. Tem seu lugar ao sol a metalinguagem, o servomecanismo, as algias, a coca-cola, o superego, a Futurologia, a homeostasia, a Adecif, a Transamazônica, a Sudene, o Incra, a Unesco, o Isop, a OEA, e a ONU. Estão reclamando, porque não citei a conotação, o conglomerado, a diagramação, o ideologema, o idioleto,
Profª. Flaviana Eufrásio LÍNGUA PORTUGUESA.
77
o ICM, a IBM, o falou, as operações triangulares, o zoom, e a guitarra elétrica. (...) Viagens pelo crediário, Circuito fechado de TV Rodoviária. Argh! Pow! Click! Não havia nada disso no Jornal do tempo de Venceslau Brás, ou mesmo, de Washington Luís. Algumas coisas começam a aparecer sob Getúlio Vargas. Hoje estão ali na esquina, para consumo geral. A enumeração caótica não é uma invenção crítica de Leo Spitzer. Está aí, na vida de todos os dias. Entre palavras circulamos, vivemos, morremos, e palavras somos, finalmente, mas com que significado? Carlos Drummond de Andrade, ―Poesia e Prosa‖, Rio de Janeiro, Nova Aguiar, 1988. d) De Situação: aquelas que são provocadas pelas
alterações das circunstâncias em que se desenrola o ato de comunicação. Um modo de falar compatível com determinada situação é incompatível com outra: ―Ô mano, ta difícil de te entendê.‖ Esse modo de dizer, que é adequado a um diálogo em situação informal, não tem cabimento se o interlocutor é o professor em situação de aula. Assim, um único indivíduo não fala de maneira uniforme em todas as circunstâncias, excetuados alguns falantes da linguagem culta, que servem invariavelmente de uma linguagem formal, sendo, por isso mesmo, considerados excessivamente formais ou afetados. São muitos os fatores de situação que interferem na fala de um indivíduo, tais como o tema sobre o qual ele discorre (em princípio ninguém fala da morte ou de suas crenças religiosas como falaria de um jogo de futebol ou de uma briga que tenha presenciado), o ambiente físico em que se dá um diálogo (num templo não se usa a mesma linguagem que numa sauna), o grau de intimidade entre os falantes (com um superior, a linguagem é uma, com um colega de mesmo nível, é outra), o grau de comprometimento que a fala implica para o falante (num depoimento para um juiz no fórum escolhem-se as palavras, num relato de uma conquista amorosa para um colega fala-se com menos preocupação).
EXERCÍCIOS CORRELATOS
GUERRA E MÍDIA
―O século XX foi marcado por grandes guerras de repercussão mundial em razão de seu alcance e do número de países envolvidos. Já o século XXI apresenta guerras locais ou regionais, mas que de certa forma se tornam mundiais pelo número de espectadores. Isso se dá graças à tecnologia de informação, que envolve direta ou indiretamente cidadãos de quase todo o mundo. A guerra on-line como ocorre hoje, ou seja, transmitida em tempo real, mobiliza as pessoas e se torna assunto de conversas, tema de programas transmitidos na televisão, objeto de comentaristas e especialistas de diferentes áreas. Enfim, a guerra ‗do outro‘ passa a ser a guerra de todos.‖
Renato Mocellin.
01. No trecho final do texto ―Enfim, a ‗guerra do outro‘ passa a ser a guerra de todos". Nesse segmento a função textual do vocábulo ―enfim‖ é:
a) explicar algo. b) retificar um erro. c) resumir em conclusão. d) concluir por oposição. e) marcar uma oposição. 02. Na frase ―Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia...‖, o uso do futuro do pretérito, nesse segmento, tem valor de:
a) probabilidade. b) certeza. c) dúvida. d) conclusão. e) condição. 03. No fragmento ―O que me interessou foi um comentário marginal...‖, o vocábulo destacado significa: (NCE/RJ)
a) subliminar. b) maldoso. c) anormal. d) desprezível. e) paralelo. 04. Em ―Primeiro, ele disse que a publicidade não pode tudo, ou melhor, que nem todas as atitudes humanas são ditadas pela propaganda.‖, a expressão ―ou melhor‖ indica:
a) retificação. b) esclarecimento. c) alternância. d) incerteza. e) ratificação.
05. As palavras que formam o poema — LUXO e LIXO — pertencem a campos semânticos contrários que significam respectivamente: (IBADE)
a) dispensável / produtivo. b) discrição / pureza. c) modéstia / resto. d) ostentação / imprestável. e) recato / sujeira. ―Nietzsche tem uma frase terrível que Harold Bloom usou como epígrafe do seu livro ‗Shakespeare — A invenção do humano‘: ‗Aquilo para o qual encontramos palavras é algo que já morreu em nossos corações.‘ Estranho pensamento (significando, se não me falha a interpretação, que só podemos falar ou escrever sobre o que não nos apaixona mais) para inaugurar um livro como o de Bloom, um tijolo de 745 páginas escritas com evidente paixão. Talvez o que Nietzsche quisesse dizer era que só encontramos palavras racionais para tratar de fatos quando os fatos já não desafiam a razão ou aceleram o coração. Outra frase de
LÍNGUA PORTUGUESA Profª. Flaviana Eufrásio.
78
Nietzsche, esta mais conhecida e menos enigmática é: ‗O que não nos mata, nos torna mais fortes‘.‖
06. As palavras sublinhadas no texto podem ser substituídas, correta e respectivamente, sem alterar o sentido do texto, por: (UFSC)
a) inusitado / coerentes / milagrosa. b) inusitado / certas / obscura. c) distante / lógicas / obscura. d) distante / coerentes / oculta. e) terrível / certas / obscura. 07. Analise as frases abaixo e identifique a seguir as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às frases: (FEPESE)
I. É indubitável que as minhocas agem sobre o meio transformando-o. II. A diferença é que a minhoca faz isso por instinto e nós profissionais o fazemos por vontade, por arbítrio. (__) Em I, a palavra ―indubitável‖ pode ser substituída por ―incontestável‖, sem prejuízo de significado no texto. (__) Em I e II, o pronome oblíquo ―o‖ funciona como objeto direto e refere-se a ―o meio‖ e ―isso‖, respectivamente. (__) Em I e II, a conjunção ―que‖ introduz oração subordinada substantiva predicativa. (__) Em II, o pronome oblíquo ―o‖ pode ser posposto ao verbo na forma ―fazemo-lo‖, sem desvio da norma culta da língua escrita. (__) Em II, a palavra ―arbítrio‖ pode ser substituída por ―coação‖, sem prejuízo de significado no texto. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a sequência correta:
a) V / V / V / F / V. b) V / V / F / V / F. c) V / F / V / V / F. d) F / V / V / F / V. e) F / F / F / V / F. ―O sucesso da educação linguística é transformar o falante em um 'poliglota' dentro de sua própria língua nacional.‖
Evanildo Bechara. ―Moderna Gramática Portuguesa‖. Rio de Janeiro: Lucerna, 37ª edição, 2001, p. 38.
08. Com base na afirmação de Evanildo Bechara e em seus conhecimentos sobre norma padrão e variantes linguísticas, assinale a alternativa correta:
a) Ser poliglota da própria língua implica falar direito e não cometer erros. b) As aspas são empregadas para indicar que o termo poliglota foi empregado em sentido denotativo. c) Pode-se inferir que o poliglota a que o autor se refere seja alguém capaz de transitar entre diferentes falares. d) Os falantes devem usar a norma padrão de sua própria língua nacional. e) O sucesso da educação linguística, segundo o autor, consiste em capacitar os falantes para o uso da variante de maior prestígio. 09. No trecho: ―Por que estou me saindo com essa conversa mole?‖ o autor mostra que procura, no seu texto, empregar uma linguagem:
a) correta, sob o ponto de vista linguístico, a fim de adequar-se ao veículo da publicação.
b) cuidadosa, a fim de se fazer compreender por um leitor leigo no tema. c) imparcial, própria de um texto de caráter eminentemente jornalístico. d) objetiva, comum a quem vai tratar de conhecimento científico. e) simples, de modo a se identificar com o seu público leitor e a atraí-lo.
10. A respeito do texto verbal e da imagem da capa pode-se afirmar que:
I. O desemprego é apresentado de forma otimista, pois o verbo ―sorrir‖ cria o contraste entre desemprego e recolocação. II. A imagem sugere um ―pé na bunda‖, que no vocabulário informal é usado para quem perdeu o emprego. III. Há um certo grau de formalidade no tratamento do leitor, o que garante certo distanciamento de seu público. IV. A antítese ―melhor‖ e ―pior‖ cria no leitor a expectativa positiva em relação ao assunto que será tratado na revista. É correto o que se afirma em:
a) I, II e IV. b) I, III, IV. c) I e IV somente. d) II e IV somente. e) II e III somente.
GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C A E B D B B C E A
―Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.‖
(Salmos 20:7)
CONTATO E REDES SOCIAIS DA PROFESSORA
Instagram: @flaviana.eufrasio E-mail: [email protected] Facebook: www.facebook.com/fafa.eufrasio
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 1
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
Vanques de Melo
Valdeci Cunha
2019.2
Atualizado pelas Leis:
16.676, de 21.11.2018;
16.505, de 22.02.2018 e
16.905, de 10.06.2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Lei nº 16.397, de 14.11.2017 - Organização Judiciária do Estado do Ceará ................................................ 1
Bateria de exercícios ................................................ 39
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - LEI Nº 16.397, DE
14 DE NOVEMBRO DE 2017.
LIVRO I
DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a organização
judiciária do Estado do Ceará, compreendendo a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, observados os princípios definidos nas Constituições Federal e Estadual.
As normas de organização judiciária são
aquelas que regulam o funcionamento da estrutura do
Poder Judiciário, mediante a atribuição de funções e
divisão da competência de seus órgãos, singulares ou
colegiados, e por meio do regramento de seus serviços
auxiliares. Não são de organização judiciária as regras
que disciplinam o processo, ou seja, a atividade
jurisdicional voltada ao exercício do direito de ação,
com todos os seus desdobramentos. O que se
normatiza pela organização judiciária são a estrutura
do Poder Judiciário e a forma de constituição e de
funcionamento de seus órgãos.
ATENÇÃO:
Deve-se ressaltar que, conforme dispõe o art. 152
desta lei, o Código de Organização Judiciária,
instituído pela Lei 12.334/1994, não foi totalmente
revogado pela Lei 16.397/2017, mas apenas os Livros
I e II (Títulos I, II e V) e o Livro III, restando em vigor
os demais dispositivos daquele código.
Art. 2º Ao Poder Judiciário do Estado do Ceará é
assegurada autonomia administrativa e financeira.
Art. 3º Compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a iniciativa de lei que disponha sobre a organização judiciária estadual e a criação de unidades judiciárias, bem como a elaboração de seu regimento interno, disciplinando a
composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina dos seus serviços.
Por força do que dispõe o artigo 96, inciso I,
letra a, da CF, é da competência privativa dos tribunais
a elaboração de seus regimentos internos, dispondo a
respeito da competência e do funcionamento dos
respectivos órgãos judiciários e administrativos. A
regra constitucional expressamente determina que,
para o regramento por meio dos regimentos internos,
deverão ser observadas as normas de processo e as
“garantias processuais das partes”.
Também compete privativamente aos
tribunais, de acordo com a regra da letra b do
inciso I do artigo 96 da CF, organizar suas secretarias
e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados.
ATENÇÃO:
A iniciativa de lei que disponha sobre a
organização judiciária estadual é prevista no art. 125,
§ 1º da CF.
TÍTULO II
DA DIVISÃO JUDICIÁRIA
CAPÍTULO ÚNICO
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS
Art. 4º O território do Estado do Ceará, para fins
de administração do Poder Judiciário estadual, divide-se em Comarcas sedes e comarcas vinculadas, as quais,
por sua vez, se dividem em distritos judiciários, na forma descrita no anexo I desta Lei.
Comarca é um termo que caracteriza a divisão
de uma região onde existem fronteiras, ou seja, onde
as divisões territoriais são de responsabilidade de um
ou mais juízes de direito.
Esta divisão é baseada na área territorial onde
um juiz de primeiro grau irá exercer sua jurisdição e
pode abranger um ou mais municípios. Isto depende
do número de habitantes e de eleitores existentes
naquela área, além de outros aspectos, como o tipo de
movimentação forense existente na região.
Cada comarca poderá então contar com vários
juízes ou ser representada apenas por um. Neste caso,
ele terá todas as competências destinadas ao órgão de
primeiro grau.
O local que corresponde a lotação de um juiz é
a vara judiciária. Nas comarcas pequenas, uma única
vara pode receber todos os assuntos relativos à Justiça.
Art. 5º As comarcas do interior do Estado serão
agrupadas em zonas judiciárias.
Art. 6º Em cada município haverá sede de
comarca, dependendo a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta Lei, mediante apuração pelo Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. Os municípios que não forem
sedes de comarcas serão qualificados como comarcas vinculadas, formando com as respectivas sedes uma única jurisdição, observado o disposto no art. 12 desta Lei.
Art. 7º As comarcas classificam-se em 3 (três) entrâncias, denominadas: inicial, intermediária e final,
de acordo com o constante do anexo I, observados, para fins de reclassificação, os critérios previstos no art. 20 desta Lei.
CUIDADO:
Território: comarcas sedes e comarcas
vinculadas=> distritos judiciários.
Comarcas: inicial, intermediária e final.
Parágrafo único. A Comarca do Crato, atualmente
de entrância intermediária, fica classificada como de entrância final.
2 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 8º A distribuição das varas e o número de
juízes serão proporcionais à efetiva demanda judicial e à respectiva população, devendo o Tribunal de Justiça zelar para que todas as comarcas que contem com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes tenham, pelo menos, 2 (duas) unidades judiciárias.
Seção I
Das Zonas Judiciárias
Art. 9º À exceção da Comarca de Fortaleza, as
comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias, na forma do anexo II desta Lei, todas dotadas de juízes auxiliares com jurisdição no território respectivo, cuja atuação dependerá de prévia designação da Presidência do Tribunal de Justiça.
Art. 10. A composição das zonas judiciárias
observará, tanto quanto possível, a regionalização para fins de planejamento que decorrer de legislação estadual.
Parágrafo único. A zona judiciária poderá ter mais
de uma sede, de modo a atender à racionalidade e à eficiência do serviço.
Seção II
Das Comarcas Sedes
Art. 11. As comarcas constituem circunscrições
com unidades judiciárias implantadas, observados os requisitos estabelecidos nesta Lei, cujos limites corresponderão aos de um município, ou aos de um agrupamento de 2 (dois) ou mais deles, caso em que um será considerado a sua sede, figurando os demais como comarcas vinculadas.
Seção III
Das Comarcas Vinculadas
Art. 12. As comarcas vinculadas são
circunscrições que correspondem aos municípios que não constituem sedes de comarcas, integrando, enquanto nessa condição, a jurisdição de comarcas implantadas, a cujo juízo ficam afetos os respectivos serviços judiciais.
=> Vide art. 134 desta lei.
§ 1º O Tribunal de Justiça, por deliberação de seu
Órgão Especial, observados aspectos como a demanda e a disponibilidade de recursos humanos e materiais determinará a reunião de todos os acervos processuais para tramitação na comarca sede, assegurando, neste caso, que o protocolo de petições e documentos, bem como atendimento ao público, expedição de certidões possam ser feitos tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, se a
comarca sede contar com mais de uma unidade jurisdicional, o acervo será distribuído entre elas, observados os mesmos critérios para fixação de suas competências quanto aos demais feitos.
§ 3º As audiências e/ou quaisquer atos
processuais que exijam comparecimento de pessoas em juízo serão realizados obrigatoriamente na comarca vinculada.
§ 4º A extinção, transformação ou transferência de
comarcas somente poderão ocorrer mediante Lei.
Art. 13. Sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, a prestação jurisdicional na comarca vinculada ficará sob a responsabilidade de juiz titular de unidade instalada na sede, em sistema de rodízio anual onde houver mais de uma, ou ainda por juiz auxiliar da respectiva Zona Judiciária, mediante prévia designação do Tribunal de Justiça em quaisquer dos casos.
Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da Justiça
zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo, a cada 15 (quinze) dias, para a realização de audiências e/ou quaisquer outros atos necessários para uma célere prestação jurisdicional.
=> Vide arts. 39 e ss. desta lei.
Art. 14. O Tribunal de Justiça adotará providências
para assegurar que as comarcas vinculadas sejam dotadas de recursos humanos e materiais em volume proporcional à demanda, podendo, para tanto, firmar convênios com os respectivos municípios e outros entes públicos, regulando, por ato normativo a ser expedido pelo Órgão Especial, as verbas indenizatórias devidas a magistrados e servidores em razão dos deslocamentos de sua sede.
=> Vide arts. 22 e ss. desta lei.
Seção IV
Dos Distritos Judiciários
Art. 15. Os distritos judiciários, integrantes das
respectivas comarcas, terão a denominação e os limites correspondentes aos da divisão administrativa dos municípios.
Art. 16. Os distritos judiciários que, a critério do
Tribunal de Justiça, atendam a adequados requisitos populacionais e socioeconômicos, contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais, a ser criado por lei, e um juizado de paz.
=> Vide art. 129 desta lei.
§ 1º Nas comarcas de significativa extensão
territorial, cada distrito judiciário disporá, no mínimo, de um registrador civil das pessoas naturais, instituído por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.
§ 2º Os indicadores de que trata o caput serão
considerados com base em dados regularmente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na forma do art. 38 da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
=> Lei Federal nº 8.935/1994;
Art. 38. O juízo competente zelará para que os
serviços notariais e de registro sejam prestados com
rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente,
podendo sugerir à autoridade competente a
elaboração de planos de adequada e melhor prestação
desses serviços, observados, também, critérios
populacionais e sócio-econômicos, publicados
regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
§ 3º A instalação do distrito judiciário estará
consumada com a posse da primeira pessoa que desempenhar a delegação de oficial do registro civil de pessoas naturais, após a criação da serventia por lei e provimento mediante aprovação em concurso público de provas e títulos.
Seção V
Da Implantação e Instalação de Comarcas
Art. 17. São requisitos para a implantação de
comarcas:
I - população mínima de 15.000 (quinze mil)
habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população;
II - haver registrado média anual de casos novos,
considerado o triênio anterior ao da implantação, igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) daquela registrada,
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 3
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
§ 1º A aferição do número de demandas de que trata o inciso II, do caput, será feita pela secretaria do juízo a que pertencer a comarca vinculada, com base no domicílio de, pelo menos, uma das partes envolvidas nos litígios, lavrando-se certidão que será acompanhada de relatório consolidado dos feitos identificados como relativos à comarca a ser implantada, para fins de apreciação pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º O Tribunal de Justiça publicará, em sua
página eletrônica, anualmente, até o dia 31 de março, resumo do quantitativo de casos novos ingressados no último triênio, incluído o resultado do ano imediatamente anterior, estratificado por zona, comarca e unidade, bem como a média, por magistrado, mediador e conciliador, no âmbito do Poder Judiciário Estadual.
§ 3º Para os fins de que trata este artigo, os dados
sobre a população e o eleitorado serão os oficialmente apurados e divulgados, respectivamente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Art. 18. Atendidos os requisitos estabelecidos no
artigo anterior, o Tribunal de Justiça, após a deliberação do Tribunal Pleno, providenciará o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa, do qual deverá constar, também, a proposta de criação dos cargos necessários para prover o juízo a ser implantado, e dos respectivos ofícios extrajudiciais.
Art. 19. Após a entrada em vigor da lei que
autorizar a implantação de nova comarca, o Tribunal de Justiça disciplinará, por meio de resolução, as providências necessárias à respectiva instalação.
Parágrafo único. Quando da instalação de nova
comarca, os feitos em tramitação que tenham pelo menos uma das partes com domicílio na jurisdição da unidade a ser implantada, desde que ainda não julgados, serão encaminhados para a nova sede do juízo, obedecida a legislação processual em vigor.
Seção VI
Da Elevação de Comarca
Art. 20. Para a elevação de comarca entre
entrâncias devem ser observados requisitos relativos à população, eleitorado e demanda, nos seguintes termos:
I - da entrância inicial para a intermediária:
a) população mínima de 30.000 (trinta mil) habitantes; eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população; e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.300 (um mil e trezentos) feitos; ou
b) população mínima de 40.000 (quarenta mil) habitantes; eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população; e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.200 (um mil e duzentos) feitos; ou
c) população mínima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes; eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população; e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.100 (um mil e cem) feitos;
II - da entrância intermediária para a final:
população mínima de 200.000 (duzentos mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população; ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 8.000 (oito mil) feitos.
§1º. Aos juízes das unidades judiciárias que forem
elevadas será assegurado o direito de permanecerem nas respectivas funções até serem removidos ou promovidos, fazendo jus à percepção da diferença de subsídios. (Acrescentado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
§ 2º. Por ocasião do pedido de promoção, o juízes
de unidades judiciárias que foram elevadas poderão requerer que esta se efetive nas unidades de que eram titulares, cabendo ao Órgão Especial, na mesma sessão, deliberar sobre ambas as pretensões. (Acrescentado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
§ 3º. Na hipótese de deferimento do pedido de
manutenção do magistrado na mesma unidade, o Órgão Especial deliberará, também na mesma sessão, sobre o provimento da unidade que permanecer vaga, promovendo um dos candidatos remanescentes, observado o critério originalmente fixado, seja por antiguidade ou merecimento, procedendo, neste último caso, à recomposição da lista. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Parágrafo único. Aos juízes das unidades
judiciárias que forem elevadas será assegurado o direito de permanecerem nas respectivas funções até serem removidos ou promovidos, fazendo jus à percepção da diferença de subsídios.
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
Para o exercício da função jurisdicional
a Constituição Federal dispõe, no art. 92, a respeito
dos órgãos do Poder Judiciário. Segundo essa regra,
“são órgãos do Poder Judiciário:
I - O Supremo Tribunal Federal e o Conselho
Nacional de Justiça;
II - O Superior Tribunal de Justiça;
III - Os Tribunais Regionais Federais e os juízes
Federais; IV - Os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - Os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - Os Tribunais e Juízes Militares;
VII - Os Tribunais e Juízes dos Estados e do
Distrito Federal e Territórios.
Na organização judiciária dos Estados (e do
Distrito Federal) há, como órgãos de primeiro grau,
os juízes de Direito, togados e vitalícios, e, como
órgãos de segundo grau, os Tribunais de Justiça. De
conformidade com o art. 98 da CF, são também órgãos
da Justiça dos Estados e do Distrito Federal os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais (inciso I),
“providos por juízes togados, ou togados e leigos”
(criados pela Lei 9.099/95) e os juízes de paz (inciso
II). Na esfera da jurisdição penal há também o
Tribunal do Júri, previsto no inciso XXXVIII do
artigo 5º da CF.
Art. 21. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Tribunal de Justiça;
=> Vide art. 3º e 4º do Regimento Interno do TJ-
CE.
II - as Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, e da Fazenda Pública;
=> Vide art. 43 e ss. desta lei.
III - os Tribunais do Júri;
4 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
=> Vide arts. 44 e ss. desta lei.
IV - os Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis
e Criminais, e da Fazenda Pública;
=> Vide arts. 72 e ss. desta lei.
V - os Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher;
=> Vide art. 76 desta lei.
VI - a Auditoria Militar;
=> Vide art. 46 desta lei.
VII - os Juízes de Direito;
=> Vide art. 52 desta lei.
VIII - os Juízes de Direito Substitutos;
=> Vide art. 96 desta lei.
IX - a Justiça de Paz;
=> Vide art. 106 desta lei.
X- outros órgãos criados por lei.
§ 1º Os órgãos judiciários são independentes em
seus desempenhos, ressalvada a estrutura recursal e observado o sistema de relações entre os poderes estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
CAPÍTULO II
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Art. 22. A Justiça Estadual em segundo grau é
constituída pelo Tribunal de Justiça.
Art. 23. O Tribunal de Justiça, com sede na Capital
e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, compõe-se de 43 (quarenta e três) desembargadores, nomeados na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
§ 1° O Tribunal de Justiça terá sua estrutura
administrativa definida em lei específica, no seu regimento interno e nas resoluções que vier a editar.
§ 2° O Tribunal de Justiça poderá funcionar
descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de ampliar o acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
§ 3° Ao Tribunal de Justiça é atribuído o
tratamento de “egrégio Tribunal” e a seus membros o de “Excelência”, com o título de desembargadores, os quais conservarão, bem assim as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria.
Art. 24. Compete ao Tribunal de Justiça:
I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu
regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina dos seus serviços;
II - organizar suas secretarias e serviços auxiliares
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva;
III - prover, na forma prevista nas Constituições
Federal e Estadual, os cargos necessários à administração da justiça;
IV - aposentar e conceder licença, férias e outros
afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados;
V - encaminhar as propostas orçamentárias do
Poder Judiciário Estadual ao Poder Executivo;
VI - solicitar, quando cabível, a intervenção federal
no Estado, nas hipóteses de sua competência;
VII - propor ao Poder Legislativo, mediante projeto
de lei, observadas as Constituições Federal e Estadual:
a) a alteração da organização judiciária, ressalvado o disposto no art. 42, § 1º, desta Lei;
b) a alteração do número de seus membros;
c) a criação e a extinção de cargos de juiz e de serviços auxiliares da justiça;
d) a fixação da remuneração dos magistrados, dos servidores, dos serviços auxiliares da justiça e dos juízes de paz;
e) a alteração dos valores, forma de cálculo e de recolhimento das despesas dos processos judiciais e das custas extrajudiciais e emolumentos.
Art. 25. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Vice-Governador, os deputados estaduais, os juízes estaduais, os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os prefeitos, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
b) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa e Presidência da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado ou de algum de seus órgãos, do Procurador-Geral de Justiça, no exercício de suas atribuições administrativas, ou na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do Ministério Público, do Procurador-Geral do Estado, do Chefe da Casa Militar, do Chefe do Gabinete do Governador, do Controlador e do Ouvidor-Geral do Estado, do Defensor Público Geral do Estado, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
c) os mandados de injunção contra omissão das autoridades referidas na alínea anterior;
d) os habeas corpus nos processos, cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição;
e) as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência;
f) as ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 128 da Constituição Estadual;
g) as representações para intervenção em municípios;
h) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuição para a prática de atos processuais;
i) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
j) matérias disciplinares relativas aos magistrados;
II - julgar, em grau de recurso, as causas não
atribuídas à competência dos órgãos recursais dos juizados especiais;
III- velar pelo exercício da atividade correicional
respectiva;
IV- dar posse aos juízes de direito substitutos,
organizar e rever, anualmente, a lista de antiguidade dos magistrados por classe e entrância, conhecendo das reclamações, para fins de promoção e acesso ao Tribunal de Justiça;
V- decidir sobre remoção e permuta de
magistrados e organizar lista tríplice dos juízes, para fins de promoção e acesso por merecimento, bem como decidir sobre a promoção e acesso por antiguidade;
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 5
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
VI- eleger:
a) os membros do Órgão Especial e seus respectivos suplentes, dando-lhes posse na mesma sessão;
b) os membros do Conselho da Magistratura e respectivos suplentes;
c) os desembargadores e os juízes efetivos e substitutos do Tribunal Regional Eleitoral, apreciando a recondução, dentre os inscritos na classe dos magistrados do Estado;
VII- aprovar a indicação dos juízes para fins de
substituição e auxílio à Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça e ao Tribunal;
VIII- conceder licença e férias ao Presidente do
Tribunal e autorizar seu afastamento, quando o prazo for superior a 15 (quinze) dias;
IX- solicitar, quando cabível, a intervenção federal
no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República;
X- homologar os concursos públicos para
provimento de cargos na estrutura do Poder Judiciário;
XI- deliberar:
a) indicação de juiz de direito substituto ao cargo de juiz de direito, na forma da legislação pertinente;
b) perda do cargo de juiz de direito substituto, por maioria absoluta dos membros, na hipótese prevista no inciso I, do art. 95, da Constituição Federal;
c) pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará com vistas à concessão de afastamento de magistrados e de servidores para a prestação de serviço exclusivamente à Justiça Eleitoral;
d) liberação de magistrados e servidores para frequentar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento;
XII- deliberar sobre remoção, disponibilidade e
aposentadoria de magistrados, quando por interesse público, em decisão por voto da maioria absoluta dos membros efetivos;
XIII- formar:
a) listas tríplices para o preenchimento das vagas do Tribunal de Justiça reservadas aos juízes, advogados e membros do Ministério Público;
b) lista a ser encaminhada à Presidência da República para a nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral;
XIV- exercer as demais funções que lhe forem
atribuídas por lei.
Seção I
Dos Órgãos Julgadores
Art. 26. O Tribunal de Justiça tem como órgãos
julgadores: o Tribunal Pleno, o Órgão Especial, a Seção de Direito Público, a Seção de Direito Privado, a Seção Criminal, as Câmaras de Direito Público, as Câmaras de Direito Privado e as Câmaras Criminais.
Art. 27. O Tribunal Pleno é constituído pela
totalidade dos membros da Corte, sendo presidido pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente ou pelo desembargador mais antigo.
Art. 28. O Órgão Especial é composto por 19
(dezenove) desembargadores, escolhidos na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e exercerá atribuições
administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno.
Art. 29. As Seções de Direito Público, de Direito
Privado e Criminal são formadas, respectivamente, pelos integrantes das Câmaras de Direito Público, de Direito Privado e Criminais.
Art. 30. Cada Câmara será composta por 4
(quatro) Desembargadores, sendo os julgamentos tomados pelo voto de 3 (três) deles.
Art. 31. A composição, a organização e o
funcionamento dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça serão disciplinados no seu regimento.
Seção II
Dos Órgãos Diretivos
Subseção I
Das Disposições Preliminares
Art. 32. O Tribunal de Justiça é dirigido pelo
Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Corregedor-Geral da Justiça.
Art. 33. O Tribunal de Justiça, pela maioria
absoluta dos membros efetivos, por votação secreta, elegerá, dentre os desembargadores, os titulares dos cargos de direção, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição.
Parágrafo único. São considerados inelegíveis os
desembargadores que tenham exercido quaisquer dos cargos de direção, por período de 4 (quatro) anos, ou o cargo de Presidente do Tribunal, até que se esgotem todos os nomes.
Art. 34. Considerar-se-á eleito, para cada cargo de
direção, o desembargador que obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros efetivos do Tribunal.
§ 1º Computados os votos, se nenhum
desembargador alcançar a maioria absoluta, será realizado novo escrutínio, concorrendo apenas os 2 (dois) desembargadores mais votados para cada cargo de direção, no primeiro escrutínio.
§ 2º No segundo escrutínio, será eleito aquele que
obtiver a maioria dos votos.
§ 3º No caso de empate, por ocasião do segundo
escrutínio, considerar-se-á eleito o mais antigo no Tribunal.
§ 4º Persistindo o empate, considerar-se-á eleito o
mais antigo na carreira e, seguidamente, ainda em caso de empate, o mais idoso.
§ 5º Será adotada, para eleição de cada um dos
cargos diretivos do Tribunal, cédula única na qual serão incluídos, na ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos desembargadores que se tenham habilitado previamente.
Art. 35. A eleição ocorrerá, no mínimo, 60
(sessenta) dias antes do término do mandato e com ela terá início o processo de transição, a ser encerrado com as respectivas posses.
Art. 36. Vagando os cargos de Presidente do
Tribunal, de Vice-Presidente ou de Corregedor-Geral da Justiça, no curso do primeiro ano de mandato, proceder-se-á, dentro de 25 (vinte e cinco) dias, à eleição do sucessor para o tempo restante, ressalvando-se que aquele que for eleito Presidente do Tribunal não poderá ser reconduzido para o período subsequente.
§ 1º Vagando os cargos de Presidente ou de Vice-
Presidente do Tribunal, com menos de 12 (doze) meses para o término do mandato, a substituição, durante o período que restar, far-se-á do Presidente pelo Vice-
6 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Presidente do Tribunal, e deste pelo desembargador mais antigo, sendo que, nessa hipótese, não haverá óbice a que o substituto concorra à próxima eleição.
§ 2º Vagando o cargo de Corregedor, com menos
de 12 (doze) meses para o término do mandato, realizar-se-á nova eleição, ressalvando-se que o eleito exercerá a função pelo período remanescente do mandato, não lhe sendo impedido concorrer no pleito imediatamente posterior.
Subseção II
Da Presidência
Art. 37. Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além
das atribuições de representar o Poder Judiciário em suas relações com os demais Poderes e de superintender todo o serviço da justiça, incumbe o desempenho das competências estabelecidas em lei específica que trata da organização administrativa do Poder Judiciário* e no
regimento interno, bem assim:
=>*Ver Lei nº 16.208, de 03.04.2017.
I - votar no Tribunal Pleno e no Órgão Especial nos
pedidos de intervenção da União Federal no Estado e deste nos municípios, em processos de habeas corpus, nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, bem como nos incidentes de inconstitucionalidade das leis ou atos normativos, proferindo voto de qualidade nos demais casos quando ocorrer empate, e a solução não estiver de outro modo regulada;
II - suspender a execução de liminar ou de
sentença, nos casos previstos na Legislação Federal;
III - relatar e votar, perante o órgão julgador
competente, o recurso contra decisão que tenha proferido em causas de sua competência, nos casos em que não tenha havido exercício de retratação;
IV - processar e ordenar o pagamento das
requisições judiciais resultantes de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, segundo atos normativos do Conselho Nacional de Justiça e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Subseção III
Da Vice-Presidência
Art. 38. Compete ao Vice-Presidente auxiliar o
Presidente do Tribunal no exercício de suas atribuições, substituindo-o nas ausências, férias, licenças, suspeições e impedimentos, com a mesma posição hierárquica, bem como:
I - relatar exceção de suspeição não reconhecida,
oposta ao Presidente do Tribunal;
II - presidir a distribuição dos processos no
Tribunal, bem como assinar as atas e livros respectivos, organizados e guarnecidos pela Secretaria Judiciária;
III - deliberar acerca de pedido de desistência de
ação, incidente ou recurso nos feitos ainda não distribuídos;
IV - despachar, nos termos das leis processuais
vigentes, os recursos interpostos de decisões do Tribunal para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, apreciando-lhes a admissibilidade;
V- apreciar, nos termos das leis processuais
vigentes, os pedidos de concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos de decisões do Tribunal para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça;
VI - superintender o Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes – NUGEP, que funcionará vinculado à Vice-
Presidência, ao qual compete, dentre outras atribuições, a de uniformizar o gerenciamento dos procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência, previstos na Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);
VII - ordenar a restauração de autos de processos
administrativos, quando desaparecidos no Tribunal de Justiça.
Subseção IV
Da Corregedoria-Geral da Justiça
Art. 39. A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de
fiscalização, disciplina e orientação dos juízes de primeiro grau, dos juízes de paz, dos servidores e dos serviços notariais e de registro, será dirigida por um desembargador, denominado Corregedor-Geral.
Parágrafo único. A Corregedoria elaborará seu
regimento interno, que será submetido à aprovação do Tribunal Pleno, do qual constarão as atribuições do Corregedor-Geral, dos juízes corregedores auxiliares e de seus demais órgãos.
Art. 40. O Corregedor-Geral da Justiça será
auxiliado em suas atividades por juízes de primeiro grau, na proporção de 1 (um) para cada 100 (cem) juízes efetivos em exercício no Estado, submetendo-se a referendo do Conselho Nacional de Justiça as convocações que, eventualmente, excederem a 6 (seis).
Art. 41. São ações próprias da Corregedoria-Geral
da Justiça:
I - orientar e fiscalizar os serviços judiciais e
extrajudiciais em todo o Estado;
II - avaliar o desempenho dos juízes em estágio
probatório para o fim de vitaliciamento;
III - fiscalizar as secretarias das unidades judiciais
de primeiro grau e as serventias extrajudiciais;
IV - realizar correições e inspeções em comarcas,
varas e serventias;
V - editar atos normativos para:
a) instruir autoridades judiciais, servidores do Poder Judiciário, notários e registradores;
b) evitar irregularidades;
c) corrigir erros e coibir abusos com ou sem cominação de pena;
VI - realizar sindicâncias e propor a abertura de
processos administrativos disciplinares;
VII - aplicar as penas disciplinares cominadas aos
ilícitos administrativos praticados por seus servidores;
VIII - responder a consultas a respeito do correto
funcionamento do Poder Judiciário de primeiro grau e das serventias extrajudiciais.
CAPÍTULO III
DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU
Seção Única
Da Composição
Art. 42. A Justiça de primeiro grau é composta pelos seguintes órgãos:
I - Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, e da Fazenda Pública;
II - Tribunais do Júri;
III - Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e
Criminais, e da Fazenda Pública;
IV - Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher;
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 7
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
V - Auditoria Militar;
VI - Juízes de Direito;
VII - Juízes de Direito Substitutos;
VIII - Justiça de Paz.
§ 1º O Tribunal de Justiça, por sua composição
plenária, com a aprovação por 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante resolução, poderá alterar a competência dos órgãos previstos neste artigo, bem como a sua denominação, e ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, sem aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional.
§ 2º A criação de novas varas ou juizados
dependerá da existência de cargos de servidores correspondentes à lotação paradigma do juízo, a ser estimada de acordo com as normas específicas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, observados, tanto quanto possível, os parâmetros aplicáveis a unidades similares.
CAPÍTULO IV
DA COMARCA DE FORTALEZA
Seção I
Dos Órgãos Colegiados
Subseção I
Das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e Da Fazenda Pública
Art. 43. As Turmas Recursais serão em número de
3 (três), sendo 2 (duas) Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 1 (uma) Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, cada uma delas com 3 (três) membros titulares, todas sediadas na Comarca de Fortaleza, com jurisdição e competência em todo o território do Estado.
§ 1º As Turmas Recursais serão presididas, em
regime de rodízio, por um de seus membros, com mandato de 2 (dois) anos, iniciando pelo membro mais antigo, sem recondução até que se esgote a ordem de antiguidade de seus integrantes.
§ 2º O Presidente será substituído, nos períodos
de férias, afastamentos ou impedimentos, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão.
§ 3º Compete às Turmas Recursais processar e
julgar:
I - o mandado de segurança e o habeas corpus contra ato de Juiz de Direito dos Juizados
Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais, e contra seus próprios atos;
II - os recursos interpostos contra sentenças dos
Juizados Especiais Cíveis; Criminais; Cíveis e Criminais; e da Fazenda Pública;
III - os embargos de declaração opostos a seus
acórdãos;
IV - as homologações de desistência e transação,
nos feitos que se achem em pauta;
V - agravo de instrumento interposto contra
decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
VI - conflito de competência entre juízes de
Juizados Especiais.
§ 4º Compete ao Presidente de cada Turma
Recursal exercer juízo de admissibilidade em recursos interpostos às suas decisões ou acórdãos, bem como prestar as informações que lhe forem requisitadas.
§ 5º Os Juízes das Turmas Recursais serão
substituídos em suas faltas, afastamentos, férias, licenças, ausências e impedimentos nos termos de resolução aprovada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça que regulamente a matéria.
§ 6º O Tribunal de Justiça, por seu Órgão Especial,
poderá constituir, mediante resolução, tantas Turmas Recursais quantas forem necessárias à prestação jurisdicional, em caráter temporário ou permanente, desde que mediante a destinação de cargos já existentes, sem aumento da despesa.
Subseção II
Do Tribunal do Júri
Art. 44. O Tribunal do Júri funcionará em cada
comarca, obedecidas, na sua composição e funcionamento, as normas estabelecidas em lei.
Parágrafo único. Nas Comarcas de Fortaleza e
do interior, as sessões do Tribunal do Júri poderão ser realizadas durante todo o ano.
Art. 45. O alistamento de jurados será feito de
acordo com os quantitativos mínimos estabelecidos pela legislação federal, devendo a lista geral, com a indicação das respectivas profissões, ser publicada até o dia 10 de outubro de cada ano, através do Diário da Justiça e de editais afixados à porta do Tribunal do Júri.
§ 1º A lista poderá ser alterada, de ofício ou
mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva.
§ 2º O jurado que tiver integrado o Conselho de
Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído.
§ 3º Anualmente, a lista geral de jurados será,
obrigatoriamente, completada.
§ 4º O sorteio será realizado entre o 15º (décimo
quinto) e o 10º (décimo) dia útil antecedente à instalação da reunião, sob a presidência do juiz, a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados, para a reunião periódica ou extraordinária.
Subseção III
Da Auditoria Militar
Art. 46. A Justiça Militar Estadual, em primeiro
grau, é composta por um colegiado denominado Auditoria Militar, formado por um Juiz de Direito que o presidirá, e pelos Conselhos de Justiça Militar, com jurisdição em todo o Estado.
Art. 47. Em segundo grau, as funções afetas à
Justiça Militar serão exercidas pelo Tribunal de Justiça.
Art. 48. Na composição dos Conselhos de Justiça
Militar, observar-se-á, no que couber, o disposto na legislação da Justiça Militar da União.
Art. 49. Compete à Justiça Militar do Estado
processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares por crimes militares definidos em lei, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
Parágrafo único. Compete aos juízes de direito do
juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
8 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.
Subseção IV
Da Vara de Delitos de Organizações Criminosas
(Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
Art. 49-A. À Vara de Delitos de Organizações
Criminosas, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, compete processar e julgar, exclusivamente, os delitos envolvendo atividades de organizações criminosas, na forma como definidos em legislação federal, de modo especial na Lei Federal nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, de competência da Justiça Estadual. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
§ 1º A competência definida no caput prevalecerá
sobre a das demais unidades judiciárias previstas nesta Lei de Organização Judiciária, ressalvada a competência constitucionalmente atribuída ao Juízo da Infância e Juventude e ao Tribunal do Júri. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.298)
§ 2º As atividades jurisdicionais desempenhadas
pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas compreendem aquelas que sejam anteriores ou concomitantes à instrução prévia, as da instrução processual e as de julgamento. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
§ 3º Os inquéritos policiais em andamento e ações
penais cuja instrução não tenha sido encerrada, relativos à competência disposta nesta Lei, bem como os seus apensos e anexos, deverão ser redistribuídos à Vara de Delitos de Organizações Criminosas, cabendo à Corregedoria-Geral da Justiça velar pela estrita obediência ao disposto neste parágrafo. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 4º A Vara de Delitos de Organizações
Criminosas contará com protocolo autônomo, integrado ao sistema de automação processual. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
Art. 49-B. A Vara de Delitos de Organizações
Criminosas terá titularidade coletiva e será composta por 3 (três) magistrados de entrância final, cujos cargos serão providos de acordo com os critérios previstos no art. 93, incisos II e VIII-A, da Constituição Federal. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 1º Os juízes da Vara de Delitos de Organizações
Criminosas, observadas as disposições da Lei Federal nº 12.694, de 24 de julho de 2012, decidirão e assinarão, em conjunto, todos os atos judiciais de competência da unidade, sem qualquer referência a voto divergente de qualquer membro. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 2º Em caso de impedimento, suspeição, férias ou
qualquer afastamento de um ou mais titulares, a substituição dar-se-á por critérios apriorísticos, objetivos e impessoais, definidos através de Resolução do Tribunal de Justiça, mediante ato do Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 3º Os atos processuais sem conteúdo decisório
poderão ser assinados por quaisquer dos juízes. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 4º As audiências poderão ser presididas por um
só dos magistrados, exceto na hipótese de prolação de sentenças e atos decisórios, quando a participação dos demais será obrigatória. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 5º Os atos instrutórios que devam ter lugar na
jurisdição do Estado do Ceará não serão deprecados. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
§ 6º A Vara de Delitos de Organizações
Criminosas contará com estrutura funcional composta por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão, de acordo com a lotação paradigma apurada pelo Tribunal de Justiça, observando-se, quanto aos últimos, a seguinte disposição: (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
I - 3 (três) cargos de Assessor I, simbologia DAE-1;
II - 1 (um) cargo de Diretor II, simbologia DAE-2;
III - 3 (três) cargos de Assistente de Apoio Técnico, simbologia DAJ-1.
§ 7º O Tribunal de Justiça regulará, por Resolução
do Órgão Especial, as atividades administrativas da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, inclusive quanto à sua direção por um dos juízes nela lotados. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.18)
§ 8º A Assistência Militar do Tribunal de Justiça
disponibilizará militares para segurança e proteção dos magistrados e servidores atuantes na Vara de Delitos de Organizações Criminosas, sem prejuízo de requisição à autoridade competente, e terá suas atividades apoiadas por Núcleo de Inteligência Policial, cuja composição será regulada por Resolução do Órgão Especial, mediante iniciativa da Comissão de Segurança Permanente do Poder Judiciário. (Acrescentado pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
Seção II
Dos Órgãos Singulares
Subseção Única
Da Especialização
Art. 50. Na Comarca de Fortaleza, a jurisdição
será exercida de acordo com as atribuições e competências definidas nesta Lei e nas normas pertinentes editadas pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 42, § 1º, contemplando as seguintes especialidades:
I - 26 (vinte e seis) Varas Cíveis Comuns;
II - 13 (treze) Varas Cíveis Especializadas nas
Demandas em Massa;
III - 2 (duas) Varas de Recuperação de Empresas
e Falências;
IV - 18 (dezoito) Varas de Família;
V - 5 (cinco) Varas de Sucessões;
VI -11 (onze) Varas da Fazenda Pública;
VII - 2 (duas) Varas de Registros Públicos;
VIII - 18 (dezoito) Varas Criminais, uma das quais
privativa de Audiências de Custódia;
IX - 5 (cinco) Varas do Júri;
X - 1 (uma) Vara da Auditoria Militar;
XI - 4 (quatro) Varas de Delitos de Tráfico de
Drogas;
XII -3 (três) Varas de Execução Penal e
Corregedoria dos Presídios;
XIII - 1 (uma) Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas;
XIV - 6 (seis) Varas de Execução Fiscal; (Nova
redação dada pela Lei n.º16.676, de 21.11.2018)
XV - 5 (cinco) Varas da Infância e da Juventude;
XVI - 20 (vinte) Juizados Especiais Cíveis;
XVII - 4 (quatro) Juizados Especiais Criminais;
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 9
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
XVIII - 4 (quatro) Juizados Especiais da Fazenda
Pública;
XIX - 1 (um) Juizado da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher;
XX - 2 (duas) Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais;
XXI - 1 (uma) Turma Recursal dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública;
XXII – 36 (trinta e seis) Juizados Auxiliares, assim
divididos:
a) 5 (cinco) Juizados Auxiliares Privativos das Varas do Júri;
b) 1 (um) Juizado Auxiliar Privativo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
c) 2 (dois) Juizados Auxiliares Privativos das Varas da Infância e Juventude, para o atendimento das atribuições previstas nos parágrafos únicos, dos arts. 67 e 69 desta Lei;
d) 1 (um) Juizado Auxiliar Privativo da 17ª Vara Criminal – Vara Única Privativa de Audiências de Custódia;
e) 1 (um) Juizado Auxiliar Privativo das Varas de Execução Penal e Corregedoria dos Presídios, para o atendimento das atribuições previstas no art. 62, parágrafo único, desta Lei;
f) 7 (sete) Juizados Auxiliares das Varas Cíveis Comuns; Cíveis Especializadas nas Demandas em Massa; Recuperação de Empresas e Falências; e Registros Públicos;
g) 6 (seis) Juizados Auxiliares das Varas Criminais; de Delitos de Tráfico de Drogas; de Penas Alternativas e da Auditoria Militar;
h) 5 (cinco) Juizados Auxiliares das Unidades dos Juizados Especiais Cíveis; Juizados Especiais Criminais; Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
i) 4 (quatro) Juizados Auxiliares das Varas de Família; Sucessões; e Infância e Juventude;
j) 2 (dois) Juizados Auxiliares das Varas da Fazenda Pública; dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
k) 2 (dois) Juizados Auxiliares das Varas de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária.
k) 1 (um) Juizado Auxiliar das Varas de Execuções Fiscais e da Vara de Crimes contra a Ordem Tributária. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
XXIII - 1 (uma) Vara de Delitos de Organizações Criminosas; (Nova redação dada pela Lei n.º 16.505, de 22.02.2018)
XXIV - 1 (uma) Vara de Crimes contra a Ordem Tributária. (Redação dada pela Lei n.º 16.676, 21.11.2018)
Art. 51. Na Comarca de Fortaleza, as atribuições
dos Juízes de Direito serão exercidas mediante distribuição, respeitadas as especialidades de cada juízo.
Parágrafo único. As cartas precatórias serão
cumpridas pelos diversos juízos, por distribuição, observadas suas competências e especialidades.
Seção III
Da Jurisdição Cível
Subseção I
Dos Juízes de Direito das Varas Cíveis Comuns e das Varas Cíveis Especializadas nas Demandas em Massa
Art. 52. Aos Juízes de Direito das Varas Cíveis
Comuns e das Especializadas nas Demandas em Massa compete, por distribuição, exercer as atribuições definidas nas leis processuais civis e em resoluções editadas pelo Tribunal de Justiça, não privativas de outro Juízo.
Parágrafo único. As classes processuais e
assuntos abrangidos pela competência das Varas Cíveis Especializadas nas Demandas em Massa serão definidos por resolução do Tribunal de Justiça e poderão ser revistos nos casos de acentuada redução do volume de casos novos afetos a grupos específicos de unidades, aferida com base no último triênio.
Subseção II
Dos Juízes de Direito das Varas de Recuperação de Empresas e Falências
Art. 53. Aos Juízes de Direito das Varas de
Recuperação de Empresas e Falências compete, por distribuição, processar e julgar:
I -as recuperações judiciais e as falências;
II - os feitos que, por força de lei, devam ter curso
no juízo da recuperação judicial ou da falência, inclusive os crimes de natureza falimentar;
III - as causas, inclusive penais, nas quais as
instituições financeiras, em regime de liquidação extrajudicial, figurem como partes, vítimas ou interessadas;
IV - as execuções por quantia certa contra devedor
insolvente, inclusive o pedido de declaração de insolvência.
Subseção III
Dos Juízes de Direito das Varas de Família
Art. 54. Aos Juízes das Varas de Família compete,
por distribuição:
=> Vide art. 85 desta lei.
I - processar e julgar:
a) as ações de nulidade e de anulação de casamento, as de família (previstas no art. 693, do Código de Processo Civil), e as demais relativas ao estado e à capacidade da pessoa;
b) as ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com as de petição de herança;
c) as ações de alimentos, inclusive quanto à revisão e exoneração do encargo, e as de posse e guarda de filhos menores, ressalvada a competência específica das Varas da Infância e da Juventude;
d) as ações sobre suspensão e extinção do poder familiar e as de emancipação, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude;
e) as ações concernentes ao regime de bens do casamento e as doações antenupciais;
f) as ações relativas à interdição e atos decorrentes, como nomeação de curadores e administradores provisórios, levantamento de interdição, suprimento de consentimento, tomada de contas, especialização de hipoteca legal, remoção e destituição de curadores;
II - suprir o consentimento do cônjuge e dos pais
ou tutores, para o casamento dos filhos ou tutelados, sob sua jurisdição;
III - julgar as habilitações de casamento civil nas
hipóteses em que houver impugnação do oficial de Registro Civil, do Ministério Público ou de terceiro, na forma prevista no parágrafo único, do art. 1.526, do Código Civil;
10 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
=> CC: Art. 1.526. A habilitação será feita
pessoalmente perante o oficial do Registro Civil,
com a audiência do Ministério Público. (Redação
dada pela Lei nº 12.133, de 2009)
IV - presidir a celebração de casamento civil, sem prejuízo da atuação de juiz de paz, onde houver, ou de autoridade investida de competência para tanto, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça.
Subseção IV
Dos Juízes de Direito das Varas de Sucessões
Art. 55. Aos Juízes das Varas de Sucessões
compete, por distribuição:
=> Vide art. 85 desta lei.
I - processar e julgar:
a) inventários e partilhas ou arrolamentos, ressalvado o previsto na Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, quanto à realização de tais procedimentos por via administrativa;
b) ações concernentes à sucessão causa mortis, salvo as de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade;
c) ações de nulidade e de anulação de testamento e as pertinentes à sua execução;
d) as ações que envolvam bens vagos ou de ausentes e a herança jacente, salvo as ações diretas contra a Fazenda Pública;
II - determinar a abertura de testamento e codicilos
e decidir sobre a aprovação dos testamentos particulares, ordenando ou não o registro, inscrição e cumprimento deles e dos testamentos públicos.
Subseção V
Dos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública
Art. 56. Aos Juízes de Direito das Varas da
Fazenda Pública compete, por distribuição:
I - processar e julgar com jurisdição em todo o
território do Estado:
a) as causas em que o Estado do Ceará, o Município de Fortaleza, as suas respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, forem interessados, como autores, réus, assistentes ou oponentes, excetuadas as de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as recuperações judiciais e falências, as sujeitas à Justiça do Trabalho e à Justiça Eleitoral, bem como as definidas nas alíneas “e” e “f”, do inciso I, do art. 102, da Constituição Federal;
b) os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais, municipais, autárquicas ou pessoas naturais ou jurídicas que exerçam funções delegadas do Poder Público, no que se entender com essas funções, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça e de seus órgãos em relação à categoria da autoridade apontada como coatora, bem como a competência dos Juízes de Direito das comarcas do interior onde a autoridade impetrada tiver sua sede;
c) as medidas cautelares nos feitos de sua competência;
II - dar cumprimento às precatórias em que haja
interesse do Estado do Ceará ou do Município de Fortaleza, suas autarquias, fundações e empresas públicas, salvo se elas tiverem de ser cumpridas em comarcas do interior do Estado.
§ 1º Os atos e diligências dos Juízes das Varas da
Fazenda Pública poderão ser praticados em qualquer comarca do interior do Estado pelos juízes locais ou seus
auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular.
§ 2º É competente o foro da situação da coisa, nos
casos definidos nas letras “a” e “c” do inciso I deste artigo, caso se cuide de ação fundada em direito real sobre imóveis.
Subseção VI
Dos Juízes de Direito das Varas de Registros Públicos
Art. 57. Aos Juízes de Direito das Varas de
Registros Públicos compete, por distribuição:
I - processar e julgar:
a) as causas que se refiram, com exclusividade, à alteração ou desconstituição dos registros públicos;
b) as impugnações a loteamento de imóveis, realizadas na conformidade do Decreto-Lei n° 58, de 10 de dezembro de 1937 e da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, bem como as incorporações imobiliárias, no termos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964;
c) as causas relativas a bem de família;
II - responder a consultas e decidir dúvidas
levantadas pelos notários e oficiais do registro público, salvo nos casos de execução de sentença proferida por outro juiz;
III - processar protestos, notificações,
interpelações, vistorias e outras medidas que sirvam como documentos para a juntada em processos de sua competência;
IV - dirimir as dúvidas suscitadas entre a
sociedade anônima e o acionista ou qualquer interessado, a respeito das averbações, anotações, lançamentos ou transferências de ações nos livros próprios das referidas sociedades anônimas, com exceção das questões atinentes à substância do direito.
Parágrafo único. Na forma prevista nos arts. 212
e 213, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, a retificação de registro de imóvel que contenha omissão, imprecisão ou não exprima a verdade poderá ser feita na via administrativa ou judicial, ressalvando-se que a opção por aquela não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada.
=> LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 –
LEI DE REGISTROS PÚBLICOS:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa,
imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será
feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a
requerimento do interessado, por meio do procedimento
administrativo previsto no art. 213, facultado ao
interessado requerer a retificação por meio de
procedimento judicial (Redação dada pela Lei nº 10.931,
de 2004)
Parágrafo único. A opção pelo procedimento
administrativo previsto no art. 213 não exclui a
prestação jurisdicional, a requerimento da parte
prejudicada. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
Art. 213. O oficial retificará o registro ou a
averbação: (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
I - de ofício ou a requerimento do interessado nos
casos de: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
a) omissão ou erro cometido na transposição de
qualquer elemento do título; (Incluída pela Lei nº
10.931, de 2004)
b) indicação ou atualização de confrontação;
(Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 11
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
c) alteração de denominação de logradouro público,
comprovada por documento oficial; (Incluída pela Lei nº
10.931, de 2004)
d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos
de deflexão ou inserção de coordenadas
georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas
perimetrais; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo
matemático feito a partir das medidas perimetrais
constantes do registro; (Incluída pela Lei nº 10.931, de
2004)
f) reprodução de descrição de linha divisória de
imóvel confrontante que já tenha sido objeto de
retificação; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
g) inserção ou modificação dos dados de
qualificação pessoal das partes, comprovada por
documentos oficiais, ou mediante despacho judicial
quando houver necessidade de produção de outras
provas; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004)
II - a requerimento do interessado, no caso de
inserção ou alteração de medida perimetral de que
resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e
memorial descritivo assinado por profissional
legalmente habilitado, com prova de anotação de
responsabilidade técnica no competente Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem
assim pelos confrontantes. (Incluído pela Lei nº 10.931,
de 2004)
§ 1o Uma vez atendidos os requisitos de que trata
o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de algum
confrontante, este será notificado pelo Oficial de
Registro de Imóveis competente, a requerimento do
interessado, para se manifestar em quinze dias,
promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo
correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por
solicitação do Oficial de Registro de Imóveis, pelo
Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca
da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva
recebê-la (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 3o A notificação será dirigida ao endereço do
confrontante constante do Registro de Imóveis, podendo
ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele
fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o
confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido,
tal fato será certificado pelo oficial encarregado da
diligência, promovendo-se a notificação do confrontante
mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 2o,
publicado por duas vezes em jornal local de grande
circulação (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 4o Presumir-se-á a anuência do confrontante que
deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 5o Findo o prazo sem impugnação, o oficial
averbará a retificação requerida; se houver impugnação
fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial
intimará o requerente e o profissional que houver
assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de
cinco dias, se manifestem sobre a
impugnação; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de
2004)
§ 6o Havendo impugnação e se as partes não tiverem
formalizado transação amigável para solucioná-la, o
oficial remeterá o processo ao juiz competente, que
decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a
controvérsia versar sobre o direito de propriedade de
alguma das partes, hipótese em que remeterá o
interessado para as vias ordinárias; (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)
§ 7o Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo
poderão ser apurados os remanescentes de áreas
parcialmente alienadas, caso em que serão considerados
como confrontantes tão-somente os confinantes das
áreas remanescentes; (Incluído pela Lei nº 10.931, de
2004)
§ 8o As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter
seus registros retificados pelo mesmo procedimento
previsto neste artigo, desde que constem do registro ou
sejam logradouros devidamente averbados. (Incluído
pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 9o Independentemente de retificação, dois ou mais
confrontantes poderão, por meio de escritura pública,
alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver
transferência de área, com o recolhimento do devido
imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural
o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando
urbano, a legislação urbanística. (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)
§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os
proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus
eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam
os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será
representado por qualquer dos condôminos e o
condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e
seguintes do Código Civil, será representado, conforme
o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 11. Independe de retificação: (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)
I - a regularização fundiária de interesse social
realizada em Zonas Especiais de Interesse Social,
promovida por Município ou pelo Distrito Federal,
quando os lotes já estiverem cadastrados
individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10
(dez) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - a adequação da descrição de imóvel rural às
exigências dos arts. 176, §§ 3o e 4o, e 225, § 3o, desta
Lei (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
III - a adequação da descrição de imóvel urbano
decorrente de transformação de coordenadas geodésicas
entre os sistemas de georreferenciamento
oficiais; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
IV - a averbação do auto de demarcação urbanística
e o registro do parcelamento decorrente de projeto de
regularização fundiária de interesse social de que trata
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; e (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
V - o registro do parcelamento de glebas para fins
urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979, que esteja
implantado e integrado à cidade, nos termos do art. 71
da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel
para a constatação de sua situação em face dos
confrontantes e localização na quadra; (Incluído pela
Lei nº 10.931, de 2004)
§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do
imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a
registro desde que requerido pelo adquirente,
promovendo-se o registro em conformidade com a nova
descrição; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
12 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 14. Verificado a qualquer tempo não serem
verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo,
responderão os requerentes e o profissional que o
elaborou pelos prejuízos causados, independentemente
das sanções disciplinares e penais; (Incluído pela Lei nº
10.931, de 2004)
§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos
notariais ou de registro decorrentes de regularização
fundiária de interesse social a cargo da administração
pública (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)
§ 16. Na retificação de que trata o inciso II
do caput, serão considerados confrontantes somente os
confinantes de divisas que forem alcançadas pela
inserção ou alteração de medidas perimetrais. (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
Seção IV
Da Jurisdição Criminal
Subseção I
Dos Juízes de Direito das Varas Criminais
Art. 58. Compete aos Juízes de Direito das Varas
Criminais exercer, por distribuição, as atribuições definidas nas leis processuais penais, não privativas de outros juízos.
§ 1º Ao Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal
compete, com exclusividade, processar e julgar os crimes praticados contra a criança e o adolescente, ressalvada a competência das Varas do Júri e dos Juizados Especiais Criminais.
§ 2º Ao Juiz de Direito da 17ª Vara Criminal
compete exercer, em caráter privativo e exclusivo no âmbito da jurisdição da Comarca de Fortaleza, as atribuições relativas à realização das audiências de custódia, devendo ser a ele apresentadas, sem demora, todas as pessoas presas em flagrante delito, observado o regulamento próprio a ser editado pelo Tribunal de Justiça e ressalvada a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
§ 3º Ao Juiz de Direito da 18ª Vara Criminal
compete, privativamente, processar e julgar, com jurisdição na Comarca de Fortaleza, as ações penais pela prática de crimes ambientais, definidos em legislação federal.
Subseção II
Dos Juízes de Direito das Varas do Júri
Art. 59. Aos Juízes de Direito das Varas do Júri
compete, por distribuição:
=> Vide art. 84, p. único.
I - processar as ações dos crimes dolosos contra a
vida, consumados ou tentados;
II - prolatar sentença de pronúncia, impronúncia,
desclassificação e absolvição sumária;
III - lavrar sentença condenatória ou absolutória na
forma da lei;
IV - presidir o Tribunal do Júri;
V - promover o alistamento anual dos jurados e a
sua revisão.
Subseção III
Do Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar
Art. 60. Ao Juiz de Direito da Vara da Auditoria
Militar compete:
I – presidir o Conselho da Justiça Militar, nos
processos da alçada da Justiça Militar Estadual;
II – processar e julgar, singularmente, os crimes
militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri;
III - praticar, em geral, os atos de jurisdição
criminal regulados pelo Código de Processo Penal Militar, não atribuídos expressamente a jurisdição diversa.
Subseção IV
Dos Juízes de Direito das Varas de Delitos de Tráfico de Drogas
Art. 61. Aos Juízes de Direito das Varas de Delitos
de Tráfico de Drogas compete, por distribuição, o processo e julgamento dos delitos de tráfico de drogas, assim definidos em legislação federal.
Subseção V
Dos Juízes de Direito das Varas de Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
Art. 62. Aos Juízes de Direito das Varas de
Execução Penal e Corregedoria dos Presídios, ressalvada a competência da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, compete:
I - executar as sentenças condenatórias, inclusive
as proferidas pelos juízes das comarcas do interior, quando a pena tenha de ser cumprida em estabelecimento prisional localizado na Região Metropolitana de Fortaleza;
II - aplicar aos casos julgados a lei posterior que,
de qualquer modo, favoreça o condenado;
III - declarar extinta a punibilidade;
IV - conhecer e decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão de regime;
c) detração, remissão ou reajuste de pena, no caso de sua comutação;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução;
V - expedir alvará de soltura em favor de réus que
tenham cumprido a pena;
VI - inspecionar, permanentemente, os
estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promover, quando for o caso, a apuração de responsabilidade, comunicando, outrossim, ao Corregedor-Geral da Justiça e ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, as irregularidades e deficiências da respectiva administração;
VII - interditar, no todo ou em parte,
estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;
VIII - processar e julgar os pedidos de habeas corpus, ressalvada, entretanto, a competência do Juiz da Vara que esteja prevento em razão de anterior distribuição de inquérito policial, procedimento criminal de qualquer natureza ou ação criminal;
IX - autorizar o ingresso e a saída de presos nas
unidades sob sua jurisdição, tanto os oriundos da Capital quanto os do interior do Estado, obedecidas as cautelas legais;
X - zelar pelo correto cumprimento da pena e da
medida de segurança;
XI - autorizar saídas temporárias;
XII - determinar:
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 13
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
a) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
b) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
c) a revogação da medida de segurança;
d) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
e) o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca;
f) a remoção do condenado na hipótese prevista na Lei de Execução Penal.
Parágrafo único. Ao Juízo da Vara de Execuções
Penais ao qual for cometido, mediante sistema de rodízio anual, o desempenho das atribuições afetas à Corregedoria dos Presídios, será assegurada, durante o período respectivo, a atuação do Juiz de Direito do Juizado Auxiliar de que trata o art. 50, inciso XXII, alínea “e”, desta Lei.
Subseção VI
Do Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
Art. 63. Ao Juiz de Direito da Vara de Execução de
Penas e Medidas Alternativas compete:
I - promover a execução e fiscalização das penas restritivas de direitos e medidas alternativas, inclusive da suspensão condicional do processo, e decidir sobre os respectivos incidentes, bem assim, das penas e medidas alternativas impostas a réus residentes na Comarca de Fortaleza, ainda que processados e julgados em outras comarcas;
II - designar a entidade ou o programa comunitário,
o local, dia e horário para o cumprimento da pena ou medida alternativa, bem como a forma de fiscalização;
III - acompanhar pessoalmente, quando
necessário, a execução dos trabalhos;
IV - declarar extinta a pena ou cumprida a medida.
Subseção VII
Do Juiz de Direito da Vara de Crimes contra a Ordem Tributária
(Acrescentado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Art. 63-A. Ao Juiz de Direito da Vara de Crimes
contra a Ordem Tributária compete, em caráter exclusivo e privativo, processar e julgar as ações penais e demais incidentes quanto aos crimes contra a ordem tributária. (Acrescentado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Seção V
Da Jurisdição Especial
Subseção I
Dos Juízes de Direito das Varas de Execução Fiscal
(Revogado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Art. 64. Aos Juízes de Direito das Varas de
Execução Fiscal compete, por distribuição, processar e julgar: (Revogado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
I - as execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do
Ceará, pelo Município de Fortaleza, e por suas respectivas entidades autárquicas, contra devedores residentes e domiciliados na Capital, observando-se a legislação processual específica;
II - as ações decorrentes das execuções fiscais,
como mandados de segurança, repetição do indébito, anulatória do ato declaratório da dívida, ação cautelar fiscal, dentre outras;
III - as ações penais e demais incidentes quanto aos crimes contra a ordem tributária. (Revogado pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Parágrafo único. Os atos e diligências dos Juízes
de Direito das Varas de Execução Fiscal poderão ser praticados em qualquer comarca do interior do Estado, pelos juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Subseção II
Dos Juízes de Direito das Varas da Infância e da Juventude
Art. 65. Compete aos Juízes das Varas de Direito
da Infância e Juventude o exercício das atribuições constantes da legislação especial de proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Art. 66. Aos Juízes de Direito das Varas da
Infância e da Juventude compete, observadas as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação complementar, processar e julgar, mediante distribuição:
I - as ações de destituição do poder familiar e de
adoção quando tratarem de interesse de criança ou adolescente institucionalizados;
II - as ações cíveis fundadas em interesse
individual, difuso ou coletivo afetos à criança e ao adolescente;
III - as ações e medidas de colocação em família
substituta;
IV - as ações por ato infracional atribuído a
adolescente;
V - os pedidos de autorização de viagem.
Art. 67. Compete, privativamente, ao Juiz de
Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude processar e julgar as ações de natureza cível, especialmente:
I - os pedidos de guarda e tutela e demais ações
previstas nas alíneas “c” a “h”, do parágrafo único, do art. 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a criança ou adolescente se encontrar em uma das situações do art. 98, do mesmo diploma legal;
II - as ações de destituição do poder familiar, perda
ou modificação da tutela ou guarda, quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
III - os requerimentos de adoção e seus incidentes;
IV - o Cadastro Nacional de Adoção, consoante a
Resolução nº 54/2008 e as alterações dispostas na Resolução nº 93/2009, ambas do Conselho Nacional de Justiça, além das regulações posteriores pertinentes;
V - as demandas decorrentes de irregularidades
em entidades de acolhimento, com exceção das hipóteses relacionadas às unidades de internação e semiliberdade, bem como aplicar as respectivas medidas cabíveis, conforme os arts. 191 a 193, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
=> ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE:
Seção VI
Da Apuração de Irregularidades em Entidade de
Atendimento
14 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 191. O procedimento de apuração de
irregularidades em entidade governamental e não-
governamental terá início mediante portaria da
autoridade judiciária ou representação do Ministério
Público ou do Conselho Tutelar, onde conste,
necessariamente, resumo dos fatos.
Parágrafo único. Havendo motivo grave,
poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério
Público, decretar liminarmente o afastamento
provisório do dirigente da entidade, mediante decisão
fundamentada.
Art. 192. O dirigente da entidade será citado
para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita,
podendo juntar documentos e indicar as provas a
produzir.
Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e
sendo necessário, a autoridade judiciária designará
audiência de instrução e julgamento, intimando as
partes.
§ 1º Salvo manifestação em audiência, as
partes e o Ministério Público terão cinco dias para
oferecer alegações finais, decidindo a autoridade
judiciária em igual prazo.
§ 2º Em se tratando de afastamento provisório
ou definitivo de dirigente de entidade governamental,
a autoridade judiciária oficiará à autoridade
administrativa imediatamente superior ao afastado,
marcando prazo para a substituição.
§ 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, a
autoridade judiciária poderá fixar prazo para a
remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as
exigências, o processo será extinto, sem julgamento de
mérito.
§ 4º A multa e a advertência serão impostas ao
dirigente da entidade ou programa de atendimento.
Parágrafo único. Ao Juízo da 3ª Vara da Infância
será assegurada a atuação do Juiz de Direito do Juizado Auxiliar de que trata o art. 50, inciso XXII, alínea “c”, desta Lei.
Art. 68. Compete, privativamente, aos Juízes de
Direito da 1ª, 2ª e 4ª Varas da Infância e Juventude processar e julgar, por distribuição, as representações em face do cometimento de atos infracionais, para fins de aplicação de medidas socioeducativas, bem como a aplicação das penalidades administrativas nos casos de infrações às normas de proteção à criança ou adolescente.
Art. 69. Compete, privativamente, ao Juiz de
Direito da 5ª Vara da Infância e Juventude:
I - proceder ao atendimento inicial do adolescente
a quem se atribua autoria de ato infracional, conforme o art. 88, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, através do Sistema de Integração Operacional, com a participação obrigatória, perante o magistrado, tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública ou defensor constituído, além da presença de equipe interdisciplinar, conhecendo os pedidos de arquivamento, remissão, internação provisória e aplicação de medidas de proteção, e remeter o processo imediatamente para distribuição entre uma das varas especializadas, na hipótese de oferecimento de representação;
II - a execução das medidas socioeducativas
aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, segundo o art. 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
III - a apuração de irregularidades em entidades de
atendimento de adolescentes privados de liberdade ou em semiliberdade.
Parágrafo único. Ao Juízo da 5ª Vara da Infância
será assegurada a atuação do Juiz de Direito do Juizado Auxiliar de que trata o art. 50, inciso XXII, alínea “c”, desta Lei, com a finalidade de cuidar do atendimento inicial do adolescente em conflito com a lei.
Art. 70. Os pedidos de autorização administrativa
de viagem devem ser apreciados por um dos Juízes de Direito das Varas da Infância e Juventude, indistintamente, com exceção dos casos em que se faz necessário suprimento judicial, os quais são de competência privativa da 3ª Vara da Infância e Juventude.
Art. 71. Compete ao Juiz Coordenador das Varas
da Infância e Juventude, de que trata o art. 102, parágrafo único, inciso I, alínea “d”, desta Lei, as seguintes funções:
I - atendimento ao público e administrativo;
II - coordenação dos setores extrajudiciais e de
apoio às Varas e Juízes da Infância e Juventude;
III - disciplinar, através de portaria, ou autorizar,
mediante alvará, as situações atinentes às hipóteses delineadas no art. 149, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
=> ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE:
Art. 149. Compete à autoridade judiciária
disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante
alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável,
em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões
eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e
televisão.
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a
autoridade judiciária levará em conta, dentre outros
fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de frequência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual
participação ou frequência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste
artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas
as determinações de caráter geral.
IV - representar o Juizado da Infância e da
Juventude em suas relações com os demais componentes do sistema de garantias de direitos.
Subseção III
Dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, e da Fazenda Pública
Art. 72. Na Comarca de Fortaleza haverá 20
(vinte) unidades dos Juizados Especiais Cíveis e 4
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 15
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
(quatro) unidades dos Juizados Especiais Criminais, cabendo ao Tribunal de Justiça disciplinar, por resolução, a distribuição das Unidades.
Parágrafo único. As respectivas jurisdições dos
Juizados serão definidas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, o qual poderá criar anexos das unidades, bem como alterar a localização de suas sedes, priorizando as áreas de elevada densidade populacional, para maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdicionado.
Art. 73. Aos Juízes de Direito dos Juizados
Especiais Cíveis compete a conciliação, o processo, o julgamento e a execução de causas de menor complexidade, definidas em lei.
Art. 74. Aos Juízes de Direito dos Juizados
Especiais Criminais compete a conciliação, o processo, o julgamento e a execução de seus julgados, proferidos em processos relativos a infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da lei, respeitadas as regras de conexão e continência e ressalvados os casos de competência da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios e da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.
Art. 75. Aos Juízes de Direito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública compete, com exclusividade, mediante distribuição, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza, suas autarquias, fundações e empresas públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Parágrafo único. Não se incluem na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis do Estado do
Ceará e do Município de Fortaleza, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
Subseção IV
Dos Juízes de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Art. 76. Haverá na Comarca de Fortaleza, pelo
menos, 1 (uma) Unidade de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal, de jurisdição especial, para o fim específico de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Parágrafo único. Ao Juiz de Direito do Juizado da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher compete processar, julgar e executar os feitos cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Seção VI
Dos Juizados Auxiliares
Art. 77. Os Juízes de Direito dos Juizados
Auxiliares da Comarca de Fortaleza, à exceção dos privativos, atuarão mediante designação do Diretor do Fórum, observadas as respectivas competências dos juízos nos quais estiverem desempenhando atribuições
de auxílio ou respondência, fixadas nesta Lei e nas demais normas expedidas pelo Tribunal de Justiça, valendo-se da estrutura funcional daquelas unidades jurisdicionais.
Parágrafo único. A designação de Juízes de
Direito dos Juizados Auxiliares ocorrerá, prioritariamente, nas hipóteses de vacâncias, licenças médicas por períodos superiores a 30 (trinta) dias, afastamentos para o exercício de funções administrativas ou convocação por Tribunais quanto aos juízes titulares, como também para participar de projetos ou programas que tenham por finalidade reduzir taxas de congestionamento processual em unidades específicas ou cumprir metas do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 78. Para o fim de atender situações
excepcionais, de modo a garantir a ininterruptibilidade da prestação jurisdicional, o Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza poderá designar os Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares para que atuem em especialidade diversa daquela a que vinculados.
Art. 79. Os Juízes de Direito dos Juizados
Auxiliares Privativos desempenharão atribuições exclusivamente nas unidades a que vinculados, independentemente de designação do Diretor do Fórum, devendo cuidar, por ocasião da elaboração da escala anual, para não programar férias em períodos coincidentes com os do Juiz Titular.
Seção VII
Das Substituições
Art. 80. A substituição dos juízes da Comarca de
Fortaleza nos casos de afastamentos, faltas, férias, licenças, impedimentos e suspeições far-se-á da forma a seguir:
I - nas varas especializadas isoladas, os juízes
serão substituídos por designação do Diretor do Foro;
II - na hipótese de serem apenas 2 (duas) varas
especializadas, compete reciprocamente, a substituição de um titular pelo outro, independentemente de designação, salvo nos casos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, quando o substituto será designado pelo Diretor do Foro;
III - nas unidades que contem, em regime de
atuação privativa, com Juiz de Direito do Juizado Auxiliar, compete a este a substituição do titular, independentemente de designação e do prazo de afastamento, salvo determinação em contrário da Diretoria do Foro;
IV - quando existirem mais de 2 (duas) varas
especializadas, os juízes serão substituídos nos casos de faltas, impedimentos, suspeições e licenças até 30 (trinta) dias, de forma sucessiva e independentemente de designação, da seguinte forma: o Juiz da 1ª Vara será substituído pelo Juiz da 2ª Vara; o da 2ª pelo da 3ª, sendo que o Juiz da última Vara será substituído pelo Juiz da 1ª;
V - Os Juízes dos Juizados Especiais serão
substituídos na forma do inciso anterior.
Parágrafo único. Nos casos de faltas ou
ausências ocasionais do juiz originalmente competente, a atuação do magistrado em regime de substituição automática deve velar pela ininterruptibilidade da jurisdição, notadamente diante de casos urgentes, nos quais se apresente risco de perecimento do direito e, será precedida de certidão exarada pelo Supervisor da Unidade Judiciária respectiva, a ser acostada aos autos antes da prática de ato pelo substituto, da qual se aviará cópia à Corregedoria-Geral da Justiça.
16 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 81. O critério de substituição, regulado no
artigo anterior, poderá ser modificado por motivo de relevante interesse da administração da justiça, competindo ao Diretor do Foro da Capital alterá-lo.
CAPÍTULO V
DAS COMARCAS DO INTERIOR
Seção I
Da Especialização
Art. 82. Nas Comarcas de Caucaia, Juazeiro do
Norte, Maracanaú, Sobral e Crato, a jurisdição será exercida de acordo com as atribuições e competências definidas nesta Lei e nas normas pertinentes editadas pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 42, § 1º, contemplando as seguintes especialidades:
I – na Comarca de Caucaia:
a) 3 (três)Varas Cíveis;
b) 2 (duas) Varas de Família e Sucessões;
c) 1 (uma) Vara da Infância e da Juventude;
d) 3 (três) Varas Criminais;
e) 1 (uma) Vara do Júri; e
f) 2 (dois) Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
II - na Comarca de Juazeiro do Norte:
a) 3 (três)Varas Cíveis;
b) 2 (duas) Varas de Família e Sucessões;
c) 1 (uma) Vara da Infância e da Juventude;
d) 3 (três) Varas Criminais;
e) 2 (dois) Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
f) 1 (um) Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
III – nas Comarcas de Maracanaú e Sobral:
a) 3 (três) Varas Cíveis;
b) 2 (duas) Varas de Família e Sucessões;
c) 1 (uma) Vara da Infância e da Juventude;
d) 3 (três) Varas Criminais;
e) 1 (um) Juizado Especial Cível e Criminal;
IV - na Comarca do Crato:
a) 2 (duas) Varas Cíveis;
b) 2 (duas) Varas Criminais
c) 1 (uma) Vara de Família e Sucessões;
d) 1 (um) Juizado Especial Cível e Criminal.
Parágrafo único. A definição de competências,
inclusive as privativas, entre as unidades judiciárias das comarcas reportadas no caput deste artigo será regulamentada em resoluções do Tribunal de Justiça, e deve assegurar, tanto quanto possível, a distribuição equitativa dos casos novos, privilegiando a racionalidade do serviço.
Seção II
Da Competência em Matéria Cível
Art. 83. Compete aos Juízes de Direito das
comarcas do interior do Estado, em matéria cível, processar e julgar os feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária de natureza cível e os correlatos processos cautelares e de execução, desde que não privativos de outro Juízo, servindo por distribuição.
Seção III
Da Competência em Matéria Criminal
Art. 84. Compete aos Juízes de Direito das
comarcas do interior do Estado, em matéria criminal, processar e julgar as ações penais e seus incidentes,
inclusive por crimes falimentares, bem como a execução penal.
Parágrafo único. Nas comarcas dotadas de vara
exclusiva do Tribunal do Júri, a competência será a definida no art. 59 desta Lei, observada a respectiva delimitação territorial.
Seção IV
Competência em Matéria de Família e Sucessões
Art. 85. Compete aos Juízes de Direito das
comarcas do interior do Estado, em matéria de Direito de Família e Sucessões, aquelas definidas nos arts. 54 e 55 desta Lei, observados os limites territoriais de suas respectivas jurisdições.
Seção V
Da Competência em Matéria da Infância e Juventude
Art. 86. Compete aos Juízes de Direito das
comarcas do interior do Estado, em matéria de infância e juventude, processar e julgar as causas definidas nos arts. 148 e 149, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), bem como outras fixadas em legislação específica.
Seção VI
Da Competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Art. 87. Aos Juízes de Direito dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais das comarcas do interior do Estado compete, sem prejuízo de outras que venham ser fixadas por resolução do Tribunal de Justiça, a conciliação, o processo, o julgamento e a execução de seus julgados nas causas cíveis de menor complexidade e nas infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da lei.
Art. 88. No interior do Estado, haverá 18 (dezoito)
Unidades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais localizadas nas Comarcas de Aquiraz, Aracati, Baturité, Caucaia (2 Unidades), Crateús, Crato, Icó, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte (2 Unidades), Maracanaú, Quixadá, Senador Pompeu, Sobral, Tauá e Tianguá.
Parágrafo único. Nas comarcas do interior do
Estado dotadas de mais de um Juizado Especial Cível e Criminal, a divisão das respectivas jurisdições será feita por resolução a ser editada pelo Tribunal de Justiça.
Seção VII
Da Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Art. 89. Haverá, na Comarca de Juazeiro do Norte,
1 (uma) Unidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal, de jurisdição especial, para o fim específico de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
§ 1º Fica o Tribunal de Justiça autorizado a criar,
em todas as Zonas Judiciárias, com sede preferencialmente nas cidades com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, 1 (uma) Unidade de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal, de jurisdição especial, para o fim específico de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
§ 2º Ao Juiz de Direito do Juizado da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com sede na Comarca de Juazeiro do Norte, compete processar, julgar e executar os feitos cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 17
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
2006, abrangendo as jurisdições das Comarcas de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, na forma prevista no art. 6º da Lei nº 14.258, de 4 de dezembro de 2008.
=> Lei nº 14.258/2008:
Art. 6º A competência do Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
criado pelo art. 1º da Lei nº 13.925, de 26 de
julho de 2007, com sede em Juazeiro do Norte,
abrange as Comarcas de Juazeiro do Norte,
Crato e Barbalha.
§3º Não serão objeto de deprecação os atos
processuais que compreendam as jurisdições de Crato e Barbalha, os quais serão praticados, exclusivamente, na sede do Juizado. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.676, de 21.11.2018)
Seção VIII
Da Competência em outras áreas da jurisdição
Art. 90. Compete aos Juízes de Direito das
comarcas do interior do Estado, quando investidos na jurisdição federal:
I - processar e julgar as causas mencionadas no §
3°, do art. 109, da Constituição Federal de 1988, bem como as mencionadas nos incisos I, II e III, do art. 15, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 1966, ressalvada a competência, em caso de recurso, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado em Recife;
II - mandar cumprir os atos e diligências da Justiça
Federal requeridas pelos Juízes Federais ou Tribunais Regionais Federais, através de ofício ou mandado, quando a comarca não for sede de Juízo Federal.
Seção IX
Das competências comuns e privatividades
Subseção I
Das Comarcas com Vara Única
Art. 91. Nas comarcas com vara única, os juízes
terão competência cumulativa sobre todas ações de competência da Justiça Estadual.
Subseção II
Das Comarcas com Duas Varas
Art. 92. A competência dos juízes de direito das
comarcas com 2 (duas) varas será exercida com observância das seguintes privatividades:
I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) os processos e as medidas relativas à jurisdição da infância e juventude;
b) os processos de competência do Tribunal do Júri;
c) a execução penal e corregedoria dos presídios;
d) os feitos relativos aos conflitos fundiários;
II - Ao Juiz da 2ª Vara cabe:
a) os processos e julgamento dos crimes da competência do juiz singular;
b) o processo e medidas relativas aos registros públicos.
Parágrafo único. Compete a todos os juízos, por
distribuição, e de acordo com suas respectivas competências, o cumprimento das cartas precatórias.
Subseção III
Das Comarcas com Três Varas
Art. 93. A competência dos juízes de direito das
comarcas com 3 (três) varas será exercida com observância das seguintes privatividades:
I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) os processos de competência do Tribunal do Júri;
b) a execução penal e corregedoria dos presídios;
c) os feitos relativos aos conflitos fundiários;
II - Ao Juiz da 2ª Vara cabem as ações e medidas
relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, onde não houver unidade autônoma instalada;
III - Ao Juiz da 3ª Vara cabe:
a) o processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude;
b) o processo e medidas relativas aos registros públicos.
§ 1º O julgamento e processo dos crimes de
competência do juiz singular competirá, por distribuição, à 2ª e 3ª Varas.
§ 2º As privatividades apontadas na alínea “c”, do
inciso I, e na alínea “b”, do inciso III, serão exercidas pelo Juízo da 2ª Vara, aonde instalada unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
§ 3º Compete a todos os juízos, por distribuição, e
de acordo com suas respectivas competências, o cumprimento das cartas precatórias.
Subseção IV
Das Comarcas com Quatro Varas
Art. 94. A competência dos juízes de direito das
comarcas com 4 (quatro) varas será exercida com observância das seguintes privatividades:
I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) os processos de competência do Tribunal do Júri;
b) a execução penal e corregedoria de presídios;
II - Ao Juiz da 2ª Vara cabem as ações e medidas
relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, onde não houver unidade autônoma instalada.
III - Ao Juiz da 3ª Vara compete:
a) o processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude;
b) o processo e medidas relativas aos registros públicos.
IV - Ao Juiz da 4ª Vara compete:
a) as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
b) os feitos relativos aos conflitos fundiários.
§ 1º O julgamento e processo dos crimes de
competência do juiz singular competirá, por distribuição, às 2ª, 3ª e 4ª Varas.
§ 2º As privatividades apontadas na alínea “b”, dos
incisos III e IV, deste artigo, serão exercidas pelo Juízo da 2ª Vara, onde instalada a Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
§ 3º Compete a todos os juízos, por distribuição, e
de acordo com suas respectivas competências, o cumprimento das cartas precatórias.
Subseção V
Das Comarcas com Cinco ou mais Varas
Art. 95. Nas comarcas com 5 (cinco) ou mais
varas, a definição de competências observará a especialização, de acordo com as matérias previstas no art. 82 a 88 desta Lei, e será regulamentada em resoluções do Tribunal de Justiça, as quais devem assegurar, tanto quanto possível, a distribuição equitativa
18 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
dos casos novos, privilegiando a racionalidade do serviço.
Seção X
Dos Juizados Auxiliares do Interior
Art. 96. Nas Zonas Judiciárias haverá 30 (trinta)
Juizados Auxiliares, distribuídos de modo a atender a todo o território respectivo, de conformidade com o anexo II desta Lei.
Art. 97. Compete aos Juízes de Direito dos
Juizados Auxiliares substituir, por designação do Presidente do Tribunal, os titulares de varas ou juizados durantes as férias individuais, faltas, licenças, impedimentos e suspeições, no âmbito da respectiva Zona, bem como atuar em razão de vacância do juízo ou ainda nas comarcas vinculadas.
§ 1º Quando do interesse da justiça, poderão os
Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares coadjuvar os Juízes Titulares, na conformidade do que for estabelecido pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
§ 2º Os Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares,
quando não estiverem respondendo pela titularidade de qualquer vara ou juizado, funcionarão nas comarcas vinculadas ou em unidades que registrem maiores taxas de congestionamento, mediante prévia designação.
§ 3º Os Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares,
quando em substituição, terão jurisdição plena, respeitadas as normas processuais em vigor.
§ 4º O Juiz de Direito do Juizado Auxiliar tem
residência na sede da respectiva Zona Judiciária.
Seção XI
Dos Juízes de Direito Substitutos
Art. 98. O Juiz de Direito Substituto terá as
mesmas funções, atribuições e competências conferidas aos Juízes de Direito, e sua jurisdição corresponderá à unidade territorial da comarca para a qual for nomeado.
Seção XII
Das Substituições
Art. 99. A substituição dos juízes das comarcas do
interior nos casos de afastamentos, faltas, férias, licenças, impedimentos e suspeições far-se-á do seguinte modo:
I - os juízes de comarcas de vara única serão
substituídos por Juiz de Direito do Juizado Auxiliar ou por outro Juiz da Zona respectiva, designado pelo Presidente do Tribunal;
II - nas comarcas com 2 (duas)varas, compete,
reciprocamente, a substituição de um titular pelo outro, independentemente de designação, salvo nos casos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, quando o substituto será designado pelo Presidente do Tribunal;
III - nas comarcas com 3 (três) ou mais varas, a
substituição dar-se-á, de modo sucessivo e independentemente de designação, da seguinte forma: o Juiz da 1ª Vara será substituído pelo Juiz da 2ª Vara; o da 2ª, pelo da 3ª, sendo que o Juiz da última Vara será substituído pelo da 1ª, salvo nos casos de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, quando o substituto será designado pelo Presidente do Tribunal;
IV - para efeito de substituição, os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais são considerados como as últimas unidades entre as existentes na comarca;
§ 1o
Por motivo de relevante interesse da
administração da justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça poderá dispor de forma diferente da prevista nos incisos II e III, deste artigo, designando outros magistrados em exercício na mesma jurisdição, ou na
mesma Zona Judiciária, conforme o caso, para fins de respondência, recaindo as indicações, preferencialmente, sobre os Juízes dos Juizados Auxiliares.
§ 2º Nos afastamentos superiores a 30 (trinta) dias,
será designado para responder, preferencialmente, Juiz de Direito do Juizado Auxiliar.
§ 3º Nas comarcas de Caucaia, Juazeiro do Norte,
Maracanaú, Sobral e Crato, que contam com unidades especializadas por competências, a substituição automática será regulada por ato do Tribunal de Justiça, observando-se, tanto quanto possível, a preferência de que magistrados sejam substituídos por outros da mesma especialidade.
§ 4º Nos casos de faltas ou ausências ocasionais
do juiz originalmente competente, a atuação do magistrado em regime de substituição automática deve velar pela ininterruptibilidade da jurisdição, notadamente diante de casos urgentes, nos quais se apresente risco de perecimento do direito, e, será precedida de certidão exarada pelo Supervisor da Unidade Judiciária respectiva, a ser acostada aos autos antes da prática de ato pelo substituto, da qual se aviará cópia à Corregedoria-Geral da Justiça.
CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL E DOS FOROS DAS COMARCAS DO INTERIOR
Art. 100. Em cada comarca haverá uma Diretoria
do Foro.
Art. 101. A Diretoria do Fórum da Comarca de
Fortaleza será exercida por 1 (um) Juiz de Direito em efetivo exercício na Capital, indicado pela Presidência do Tribunal, devendo a escolha ser referendada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, admitida a recondução para um período imediatamente subsequente.
§ 1º A Vice-Diretoria do Fórum da Comarca de
Fortaleza será exercida por 1 (um) Juiz de Direito com exercício na Comarca, indicado pela Presidência do Tribunal de Justiça, devendo a escolha ser referendada pelo Órgão Especial, com competência para substituir o Diretor nas ausências, impedimentos, licenças e férias, bem como outras que lhe venham a ser atribuídas em ato normativo próprio.
§ 2º As designações do Juiz Diretor e do Vice-
Diretor da Comarca da Capital devem coincidir com o período do mandato do Presidente que os indicou, sendo permitida a recondução para um único biênio consecutivo.
Art. 102. Compete ao Juiz Diretor do Foro da
Capital:
I - superintender a administração e polícia das
instalações físicas do Fórum e das demais unidades do Poder Judiciário na jurisdição da Comarca de Fortaleza, à exceção do Fórum das Turmas Recursais, que contará com direção própria, ressalvada a atribuição dos Juízes de Direito quanto à polícia das audiências e sessões do Tribunal do Júri;
II - presidir, diariamente, a distribuição dos feitos
na Comarca de Fortaleza, para o que se valerá do auxílio do magistrado que vier a indicar para o desempenho de tal atribuição;
III - conceder férias e licenças aos magistrados e
servidores lotados no Fórum da Capital;
IV - abrir, rubricar e encerrar livros dos titulares dos
ofícios extrajudiciais da Comarca de Fortaleza;
V - elaborar, durante a primeira quinzena do mês
de novembro de cada ano, a escala de férias dos
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 19
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
magistrados e encaminhá-la à Presidência do Tribunal de Justiça;
VI - elaborar a escala de plantões judiciários e
promover a sua divulgação;
VII - requisitar da autoridade competente a força
policial necessária aos serviços de segurança do prédio do Fórum;
VIII - designar magistrado em substituição ao
titular, nos casos de férias, licenças, afastamentos, impedimentos e suspeições, observado o disposto no art. 80, desta Lei;
IX - proceder à lotação de servidores nas unidades
sob sua competência, bem assim modificá-la, de acordo com a necessidade do serviço;
X - aplicar, quando cabíveis, sanções disciplinares
a servidores de Justiça, notários, registradores e a juízes de paz;
XI - remeter mensalmente ao setor competente do
Tribunal de Justiça a frequência dos servidores;
XII - movimentar os servidores nos diversos
serviços da Diretoria do Fórum;
XIII - desempenhar atribuições delegadas pelo
Presidente do Tribunal de Justiça;
XIV - apresentar, até 15 (quinze) dias antes da
abertura dos trabalhos judiciários, circunstanciado relatório à Presidência do Tribunal de Justiça, a respeito das atividades judiciárias do ano, das medidas adotadas, dos serviços realizados e do grau de eficiência revelado por juízes e servidores.
Parágrafo único. O Diretor do Fórum será
auxiliado por 10 (dez) Juízes de Direito em exercício na Comarca de Fortaleza, por ele indicados, com a aprovação do Órgão Especial, para desempenhar as seguintes funções:
I - Coordenadores de Áreas, que representarão os
seguintes grupos de varas:
a) Fazenda Pública, Recuperação de Empresas e Falências, Execução Fiscal e Crimes contra a Ordem Tributária, e Registros Públicos;
=> Vide art. 71 desta Lei.
b) Cíveis;
c) Família e Sucessões;
d) Infância e Juventude;
e) Criminais, de Delitos de Tráfico de Drogas, de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios, Juízo Militar, Penas Alternativas e Júri;
f) Juizados Especiais Cíveis; Criminais; da Fazenda Pública e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
II - unidades administrativas:
a) Supervisor da Central de Cumprimento de Mandados Judiciais;
b) Supervisor da Distribuição;
c) Ouvidor-Geral;
d) Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Art. 103. Incumbe ao Juiz de Direito investido em
juízo de vara única, como titular ou interino, o desempenho das atribuições de Diretor do Fórum.
Art. 104. Nas jurisdições com mais de uma
unidade judiciária, será observado rodízio anual entre os magistrados titulares em exercício, mediante prévia designação da Presidência do Tribunal de Justiça, a ocorrer até o último dia útil do mês de fevereiro.
§ 1º Nas comarcas com 2 (duas) varas, em casos
de afastamentos do Diretor do Fórum, a qualquer título, por período superior a 5 (cinco) dias, responderá interinamente pelas funções, independentemente de designação, o outro magistrado em exercício na mesma jurisdição, ou, quando não houver, o que for designado para responder pelo juízo do qual o Diretor é titular.
§ 2º Nas comarcas com mais de 2 (duas) varas,
em casos de afastamentos do Diretor do Fórum, a qualquer título, por período superior a 5 (cinco) dias, responderá interinamente pelas funções, independentemente de designação, o magistrado investido há mais tempo na titularidade de unidade judiciária na respectiva circunscrição, seguindo-se a ordem de acordo com tal critério de modo a assegurar o desempenho ininterrupto da Direção.
Art. 105. Quando no exercício da função de Diretor
do Foro, nas comarcas de vara única ou de mais de uma vara, compete ao Juiz de Direito ou Juiz de Direito Substituto:
I - superintender o serviço judiciário da comarca;
II - ministrar instruções ou ordens aos servidores e
auxiliares da justiça, sem prejuízo das atribuições, se houver, dos demais juízes da comarca;
III - comunicar-se diretamente com quaisquer
outras autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, quando tiver de tratar de assuntos relacionados com matéria administrativa do interesse do Foro da comarca;
IV - tomar conhecimento das indicações de
substitutos de notários e oficiais de registro para os casos de faltas e impedimentos, observado o disposto no art. 119 desta Lei, garantindo a publicidade devida;
V- proceder à lotação de servidores nas unidades
sob sua competência, bem assim modificá-la, de acordo com a necessidade do serviço;
VI - decidir reclamações e aplicar, quando
cabíveis, sanções disciplinares por atos praticados por servidores de Justiça, notários, oficiais de registro e juízes de paz;
VII - abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros
utilizados na secretaria administrativa do Foro;
VIII - tomar providências de ordem administrativa
que digam respeito à fiscalização, disciplina e regularidade dos serviços forenses;
IX - presidir a distribuição dos feitos;
X - requisitar ao Tribunal de Justiça o fornecimento
de material de expediente, móveis e utensílios necessários ao serviço judiciário.
CAPÍTULO VII
DOS JUÍZES DE PAZ
Art. 106. A Justiça de Paz, de caráter temporário,
composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 (quatro) anos, remunerados pelos cofres públicos, tem competência para verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação de casamento, celebrar casamentos civis e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional.
§ 1º São requisitos para o exercício do cargo:
a) nacionalidade brasileira;
b) pleno exercício dos direitos políticos;
c) idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
d) escolaridade equivalente ao ensino médio completo;
20 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
e) aptidão física e mental;
f) idoneidade moral;
g) certificado de participação e aproveitamento em curso específico ministrado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará;
h) residência na sede do distrito para o qual concorrer.
§ 2º Cada Juiz de Paz será eleito com 1 (um)
suplente, que o sucederá ou substituirá, nas hipóteses de vacância ou de impedimento.
§ 3º As eleições serão efetivadas até 6 (seis)
meses depois da realização das eleições estaduais, sendo vedada a eleição simultânea com pleito para mandatos eletivos.
§ 4º Caberá ao Tribunal de Justiça regulamentar
as eleições para Juiz de Paz até 4 (quatro) meses antes de sua realização.
§ 5º Verificando irregularidade ou nulidade de
casamento, de ofício ou em caso de impugnação, o Juiz de Paz submeterá o processo ao Juiz de Direito competente.
§ 6º Os autos de habilitação de casamento
tramitarão no Cartório do Registro Civil do Distrito.
§ 7º Em nenhuma hipótese, o Juiz de Paz terá
competência criminal.
§ 8º É vedada a cobrança ou percepção de custas,
emolumentos ou taxa de qualquer natureza nos Juizados de Paz.
§ 9° Os Juízes de Paz tomarão posse perante o
Juiz Diretor do Foro.
§ 10. É vedado ao Juiz de Paz exercer atividade
político-partidária.
§ 11. A remuneração dos Juízes de Paz será
estabelecida em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.
§ 12. Enquanto não instalada a Justiça de Paz, a
Presidência do Tribunal de Justiça designará, por meio de provimento, cidadãos com a atribuição específica de celebrar casamentos, domiciliados nas respectivas circunscrições em que houverem de servir, mediante prévia indicação das autoridades judiciárias locais.
LIVRO II
DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 107. Os serviços auxiliares da justiça são
constituídos pelos órgãos que integram os foros judicial e extrajudicial.
Art. 108. Os serviços do foro judicial
compreendem as secretarias do Tribunal de Justiça, as Diretorias dos Foros e suas respectivas unidades, assim como as secretarias de unidades judiciárias e juizados.
Art. 109. Os serviços extrajudiciais, nos quais são
lavradas as declarações de vontade das partes e executados os atos decorrentes de legislação sobre notas e registros públicos, compreendem os tabelionatos de notas, os ofícios de registro de distribuição, os ofícios de registro de imóveis, os ofícios de registro civil das pessoas naturais, os ofícios de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, os ofícios de protestos de títulos e os ofícios de contratos marítimos.
CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS DO FORO JUDICIAL
Seção I
Das Secretarias do Tribunal e Das Diretorias dos Foros
Art. 110. As Secretarias do Tribunal e as Diretorias
dos Foros terão sua composição e atribuições definidas em lei específica que trate da estrutura administrativa do Poder Judiciário, e suas normas operacionais serão estabelecidas através de atos de competência do Presidente do Tribunal de Justiça e dos Diretores dos Foros, respectivamente.
Seção II
Do Regime Jurídico dos Servidores da Justiça
Art. 111. Os servidores do Poder Judiciário, salvo
nos casos em que haja disposição especial, serão regidos pelas normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará e legislação complementar, inclusive quanto aos direitos, deveres, garantias e regime disciplinar.
Seção III
Das Secretarias de Unidades Judiciárias
Art. 112. Todas as Unidades Judiciárias do Estado
do Ceará, efetivamente instaladas e em funcionamento, contarão com um Supervisor e um Assistente, nomeados em comissão pela Presidência do Tribunal de Justiça após livre indicação do respectivo Juiz Titular ou, no caso de vacância, pelo Juiz em respondência, observadas as condições e atribuições fixadas em legislação específica.
Parágrafo único. Na Comarca da Capital,
funcionarão Secretarias Judiciárias de 1º Grau, na forma e com a estrutura previstas na Lei nº 16.208, de 3 de abril de 2017.
=> A Lei nº 16.2082017 dispõe sobre a
Organização Administrativa do Poder Judiciário.
LEI N.º 16.905, DE 10.06.19 (D.O. 10.06.19
Dispõe sobre a criação da secretaria judiciária
de 1.º Grau do Estado do Ceará. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou
e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1.º Fica criada a Secretaria Judiciária de 1.º
Grau do Ceará, com competência e instalação a ser
definida por resolução do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça. Parágrafo único. A Secretaria Judiciária de 1.º
Grau do Ceará ficará vinculada, para fins
administrativos, à Superintendência da Área Judiciária,
sendo as suas atividades supervisionadas por juiz de
Direito designado pela Presidência do Tribunal de
Justiça. Art. 2.º Ficam subordinadas à Secretaria Judiciária
de 1.º Grau do Ceará, a partir da instalação desta, as
seguintes unidades: I – a Central Integrada de Apoio da Área Criminal –
CIAAC, prevista no art. 41 da Lei n.º 16.208, de 3 de
abril de 2017; II – a Secretaria Judiciária Regional de 1.º Grau das
Comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha,
disciplinada na Lei n.º 16.505, de 22 de fevereiro de
2018. Art. 3.º A Secretaria Judiciária prevista no art.
12 da Lei n.º 16.208, de 3 de abril de 2017, passa a se
denominar Secretaria Judiciária de 2.º Grau. Art. 4.º O art. 66 da Lei n.º 16.208, de 3 de abril de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 66. Para todos os efeitos, as atividades
desempenhadas pelo Superintendente da Área Judiciária,
Superintendente da Área Administrativa, Secretário de
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 21
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
Administração e Infraestrutura, Secretário de Gestão de
Pessoas, Secretário de Finanças, Secretário de
Planejamento e Gestão, Secretário de Tecnologia da
Informação, Secretário Judiciário de 2.º Grau, Consultor
Jurídico, Secretário Judiciário de 1.º Grau e Secretário
Executivo do Fórum da Capital são equivalentes às de
Secretário de Estado”. (NR) Art. 5.º Para fins de assegurar o cumprimento do art.
1.º desta Lei ficam criados, em quantidade, símbolos e
lotação, os cargos em comissão, nos termos
do Anexo Único desta Lei. Parágrafo único. Após a implementação desta Lei,
caberá ao Presidente publicar a tabela consolidada dos
cargos do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Art. 6.º As despesas decorrentes da criação de
cargos de que trata esta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder
Judiciário, podendo ser suplementadas, se necessário. Art. 7.º Fica alterado o Anexo II da Lei n.º 16.208,
de 3 de abril de 2017, que passa a vigorar nos termos da
presente Lei. Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 9.º Ficam revogadas as disposições em
contrário. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de junho de
2019. Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Art. 113. Além do Supervisor e do Assistente, cada
Unidade Judiciária contará com servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, integrantes das carreiras do Poder Judiciário, de que trata a Lei nº 14.786, de 13 de agosto de 2010, em número compatível com a lotação paradigma do juízo, a ser calculada de acordo com as normas específicas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, ressalvando-se, quanto aos Oficiais de Justiça, a possibilidade de que estejam lotados nas respectivas Centrais de Cumprimentos de Mandados.
=> A Lei nº 14.786, de 13 de agosto de 2010,
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e
remuneração dos servidores do quadro III -
Poder Judiciário do Estado do Ceará e dá outras
providências.
Art. 114. O Tribunal de Justiça disciplinará a forma
de substituição dos ocupantes de cargos de provimento em comissão.
CAPÍTULO III
DOS SERVIÇOS DO FORO EXTRAJUDICIAL
Art. 115. Os serviços do foro extrajudicial
compreendem serventias extrajudiciais notariais e de registro, e são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, na forma da legislação pertinente.
Art. 116. Os direitos, deveres, atribuições,
competências e regime disciplinar dos notários e registradores, bem como os requisitos para o ingresso na atividade notarial e de registro, são os especificados na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
Parágrafo único. A responsabilidade disciplinar de
notários e registradores será apurada em procedimento administrativo definido no regimento interno e provimento aplicável à espécie por parte da Corregedoria-Geral da Justiça.
Art. 117. Extinta a delegação a notário ou a oficial
de registro, em razão de quaisquer das hipóteses
previstas no art. 39, da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, o Juiz Diretor do Fórum designará interino para responder pelo expediente, recaindo a indicação, preferencialmente, sobre o substituto mais antigo da serventia, dando ciência ao Presidente do Tribunal de Justiça para que seja realizado o concurso público, na forma prevista no art. 236, § 3º, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Verificada a absoluta
impossibilidade de nomeação de um substituto para responder pelo expediente da serventia vaga, o Juiz Diretor do Fórum comunicará o fato ao Corregedor-Geral da Justiça que, por ato normativo, determinará a anexação provisória das atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo.
Art. 118. O Tribunal de Justiça fará aprovar
regulamento, disciplinando as condições para realização do concurso para provimento dos cargos de notários e registradores, a que se refere o artigo anterior.
Art. 119. A substituição dos notários e
registradores e a contratação de prepostos dar-se-ão na forma da legislação específica.
§ 1º Os titulares dos ofícios de notas e de registros
poderão admitir tantos empregados quantos forem necessários aos serviços do seu ofício, subordinando-se as relações empregatícias à legislação trabalhista.
§ 2º Em cada serviço notarial ou de registro haverá
tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro.
§ 3º Os notários e os oficiais de registro
encaminharão os nomes dos substitutos por eles escolhidos ao Juiz Diretor do Fórum, que os fará publicar no Diário da Justiça.
§ 4º Os escreventes poderão praticar somente os
atos que o notário ou o oficial de registro autorizar.
§ 5º Os substitutos poderão, simultaneamente com
o notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios.
§ 6º Dentre os substitutos, um deles será
designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.
Art. 120. É livre a escolha do tabelião de notas,
qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.
Parágrafo único. O tabelião de notas não poderá
praticar atos de seu ofício fora da comarca para a qual recebeu delegação, cabendo ao Diretor do Foro e ao Corregedor-Geral da Justiça, de ofício ou mediante comunicação ou reclamação, providenciarem a apuração da responsabilidade disciplinar.
Art. 121. Cada serviço notarial ou de registro
funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal, observando-se o disposto no artigo anterior.
Art. 122. O gerenciamento administrativo e
financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.
Seção I
Dos Serviços do Foro Extrajudicial da Capital
22 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 123. Haverá, na Comarca de Fortaleza, 1 (um)
Ofício de Registro de Distribuição de Protestos.
Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a
vacância de 2 (dois) dos Ofícios de Distribuição de Protestos da Comarca de Fortaleza, criados pela Lei Estadual nº 12.673, de 31 de dezembro de 1996 e extintos pela Lei Estadual nº 14.706, de 14 de maio de 2010, os mesmos permanecerão com as suas competências plenas.
Art. 124. Ao Ofício de Registro de Distribuição de
Protestos da Comarca de Fortaleza compete privativamente:
I - quando previamente exigida, proceder à
distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados; em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes;
II - efetuar as averbações e os cancelamentos de
sua competência;
III - expedir certidões de atos e documentos que
constem de seus registros e papéis.
Art. 125. Haverá, na Comarca de Fortaleza, 10
(dez) notariados com as denominações de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, competindo privativamente aos 1º, 2º, 5º, 7º e 8º, a lavratura e o protesto de títulos; aos 3º, 4º e 6º, as funções privativas do registro de títulos e documentos e do registro civil das pessoas jurídicas; e aos 9º e 10º, as atribuições concernentes ao ofício de notas.
Art. 126. Haverá, na Comarca de Fortaleza, 5
(cinco) ofícios do registro civil das pessoas naturais, servindo cada um deles nos limites de suas zonas, com as denominações de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto.
§ 1° Para os serviços de registro civil das pessoas
naturais, a cidade de Fortaleza se divide em 5 (cinco) zonas, observando-se os limites abaixo descritos, respeitada a circunscrição territorial dos Distritos de Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim, Parangaba e Mucuripe:
a) Primeira Zona: começa na orla marítima, na Avenida Desembargador Moreira, lado poente, e por ela segue até encontrar a Avenida Pontes Vieira, lado norte, na qual prossegue até chegar à Avenida 13 de Maio, pela qual continua até atingir a Rua Senador Pompeu; daí segue por esta rua, no rumo do norte, lado do nascente, até chegar, novamente, à orla marítima;
b) Segunda Zona: tem início na Avenida Desembargador Moreira, no seu começo, lado nascente, seguindo por esta Rua até encontrar a Avenida Pontes Vieira, lado sul, por onde prossegue, alcançando a Avenida 13 de Maio, na qual continua até encontrar a Rua Senador Pompeu; parte desse ponto, na direção sul, pela Avenida dos Expedicionários, lado nascente, até atingir os limites do sudoeste dos Distritos de Parangaba e Messejana; daí, ao atingir a estrada que liga a Capital ao Distrito de Messejana, retorna pelo lado poente 55 até atingir a estrada de ferro que liga Parangaba a Mucuripe, prosseguindo por esta via férrea pelos lados norte e poente até à orla marítima;
c) Terceira Zona: inicia-se na Rua Senador Pompeu, na orla marítima, lado poente, até chegar à Rua Meton de Alencar, por onde prossegue, na sua parte norte, até chegar à Avenida Bezerra de Menezes, pela qual continua até encontrar o limite noroeste do Distrito de Antônio Bezerra;
d) Quarta Zona: começa na confluência da Rua Senador Pompeu com a Rua Meton de Alencar, seguindo por esta até encontrar a Avenida dos Expedicionários, no rumo do sul; prosseguindo por esta avenida, lado poente, até encontrar os limites do Distrito de Parangaba;
e) Quinta Zona: tem início na orla marítima, seguindo pela estrada de ferro que liga Parangaba ao Mucuripe, lado nascente e sul, até encontrar a estrada que liga a Capital ao Distrito de Messejana; por esta estrada, lado nascente, prossegue até alcançar os limites do sudoeste do Distrito de Messejana.
§ 2° Para a execução dos mencionados serviços
serão, ainda, observadas as seguintes normas:
a) são da competência do Primeiro Ofício os serviços de registro civil especificados nos arts. 89, 92 e 94 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
b) são da competência do Segundo Ofício os serviços de registro civil especificados nos arts. 84 e 88 e seu parágrafo único, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
c) são da competência do Terceiro Ofício os serviços de registro civil especificados nos arts. 66, 85 e 87 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
d) são da competência do Quarto Ofício os serviços de registro civil especificados nos arts. 51, 62 e 65 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
§ 3° Os oficiais de registro civil da sede e dos
distritos da Comarca da Capital, bem como os das sedes das comarcas da Região Metropolitana de Fortaleza poderão também lavrar procurações, reconhecer firmas, e autenticar documentos.
Art. 127. Haverá, na Comarca de Fortaleza, 6
(seis) ofícios de registro de imóveis, com as denominações de Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto e Sexto Ofícios.
Parágrafo único. Os oficiais de registro de
imóveis exercerão suas funções dentro dos limites de suas respectivas zonas, as quais possuem as seguintes delimitações:
a) Primeira Zona: constitui parte do Leste da cidade de Fortaleza, iniciando na foz do Rio Cocó, seguindo por esse rio, lados nascente e sul, até encontrar a BR 116; prossegue por essa BR na direção Sul até alcançar o limite de Fortaleza, seguindo por essa linha divisória até a barra do Rio Pacoti;
b) Segunda Zona: tem início no Norte da cidade a partir da orla marítima, seguindo pela Avenida Barão de Studart, lado poente, até encontrar a Rua Coronel Alves Teixeira; segue por essa rua, no sentido oeste até a Avenida Visconde do Rio Branco, e por essa avenida, lado poente prossegue até alcançar a BR 116, dobrando à direita no trevo que dá acesso à Avenida Paulino Rocha; segue pelas Avenidas Paulino Rocha, Dedé Brasil e Rua Carlos Amora, dobrando à direita na Rua 7 de Setembro seguindo pelas Avenidas João Pessoa, Universidade e Rua General Sampaio, lado leste, até encontrar a orla marítima;
c) Terceira Zona: constitui parte do poente da cidade de Fortaleza, começando na orla marítima seguindo pela Rua General Sampaio, Avenida da Universidade, Avenida João Pessoa e Rua 7 de Setembro, lado oeste até a Rua Gomes Brasil, dobrando nesta rua, no sentido oeste, até encontrar a Av. José Bastos (Av. Augusto dos Anjos), por onde segue numa reta até encontrar o limite sul da cidade;
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 23
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
d) Quarta Zona: inicia na orla marítima, seguindo pela Av. Barão de Studart, lado nascente, até encontrar a Rua Coronel Alves Teixeira; segue por esta rua na direção oeste até a Avenida Visconde do Rio Branco e por essa Avenida lado do nascente até encontrar a estrada de ferro que liga Parangaba ao Porto do Mucuripe, seguindo por essa via férrea, lados norte e oeste até a orla marítima;
e) Quinta Zona: tem início na foz do Rio Cocó, seguindo dito rio lados oeste e norte, até encontrar a BR 116; daí pela BR 116 na direção norte, seguindo pela Avenida Visconde do Rio Branco, lado leste, até encontrar a estrada de ferro que liga Parangaba ao Porto do Mucuripe, seguindo por essa via férrea lados sul e leste até a orla marítima;
f) Sexta Zona: inicia no limite sul de Fortaleza, seguindo pela BR 116, lado oeste, até o trevo que dá acesso à Avenida Paulino Rocha; segue por esta Avenida e pela Avenida Dr. Silas Munguba e Rua Carlos Amora, lado sul, até a Rua 7 de Setembro, dobrando nesta rua na direção sul até a Rua Gomes Brasil, por onde segue dobrando nessa rua até encontrar a Avenida José Bastos (Avenida Augusto dos Anjos) lado leste, por onde segue até encontrar o limite sul da cidade.
Seção II
Dos Serviços do Foro Extrajudicial nas Comarcas Sedes e Vinculadas do Interior
Art. 128. Haverá, na sede de cada comarca do
interior do Estado, pelo menos, 1 (um) ofício de registro civil e 1 (um) ofício de registro de imóveis, cabendo a ambos, cumulativamente, os serviços de tabelionato de notas, ofício de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas e ofício de protesto de títulos.
§ 1° Nas comarcas do interior do Estado, o
primeiro escrivão e tabelião exercerá as funções de oficial de registro civil e o segundo escrivão e tabelião as funções de oficial do registro de imóveis.
§ 2° Nas comarcas do interior do Estado em que
não exista Ofício de Registro de Distribuição ou nas quais ainda não esteja implantado um serviço na forma da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997 (art. 7º, parágrafo único), as funções de distribuição extrajudicial serão exercidas pelo titular do Primeiro Ofício.
=> Lei Federal nº 9.492/97:
Art. 7º Os títulos e documentos de dívida
destinados a protesto somente estarão sujeitos a prévia
distribuição obrigatória nas localidades onde houver
mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos.
Parágrafo único. Onde houver mais de um
Tabelionato de Protesto de Títulos, a distribuição será
feita por um Serviço instalado e mantido pelos
próprios Tabelionatos, salvo se já existir Ofício
Distribuidor organizado antes da promulgação desta
Lei.
§ 3º Todos os oficiais de registro civil das pessoas
naturais das comarcas sedes ou vinculadas do interior, bem como os dos respectivos distritos judiciários, poderão também lavrar procurações, reconhecer firmas e autenticar documentos.
§ 4º Nas comarcas onde exista instalado, na sede,
mais de um ofício de registro civil e/ou mais de um ofício de registro de imóveis, o Tribunal de Justiça, por ato normativo, definirá as zonas nas quais cada serventia exercerá suas atribuições.
Seção III
Dos Serviços do Foro Extrajudicial nos Distritos Judiciários
Art. 129. Na forma definida no art. 16 desta Lei, os
distritos judiciários que, a critério do Tribunal de Justiça, atendam a adequados requisitos populacionais e socioeconômicos, contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais, a ser criado por lei, com as atribuições definidas no art. 29, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).
=> Lei nº 6.015/73:
Art. 29. Serão registrados no registro civil de
pessoas naturais:
I - os nascimentos;
II - os casamentos;
III - os óbitos;
IV - as emancipações;
V - as interdições;
VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções de nacionalidade;
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação
adotiva.
§ 1º Serão averbados:
I - as sentenças que decidirem a nulidade ou
anulação do casamento, o desquite e o
restabelecimento da sociedade conjugal;
II - as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos
concebidos na constância do casamento e as que
declararem a filiação legítima;
III - os casamentos de que resultar a legitimação
de filhos havidos ou concebidos anteriormente;
IV - os atos judiciais ou extrajudiciais de
reconhecimento de filhos ilegítimos;
V - as escrituras de adoção e os atos que a
dissolverem;
VI - as alterações ou abreviaturas de nomes.
§ 2º É competente para a inscrição da opção de
nacionalidade o cartório da residência do optante, ou
de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-
se-á o registro no Distrito Federal.
Art. 129-A. As certidões imobiliárias solicitadas
pelo IDACE junto aos cartórios de registro de imóveis, para fins de regularização fundiária, deverão ser fornecidas no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de punição de suspensão do cartório ou multa de R$ 5.000 (cinco mil) UFIRCEs.
§ 1º O primeiro registro de domínio concedido pelo
IDACE aos possuidores das glebas tituladas deverá ser realizado independentemente do recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 290-A, da Lei nº 6.015/73, ficando autorizada a cobrança dos emolumentos previstos na Tabela de Emolumentos VII, Dos Atos e Valores dos Serviços do Registro de Imóveis, regulada pela Lei Estadual nº 14.283, de 28 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 14.826, de 28 de dezembro de 2010, devidamente atualizada, pela prática dos seguintes atos:
a) Certidão (Código 7020);
b) Abertura de Matrícula (Código 7024);
c) Taxa Adicional a Menor (Código 7010);
d) Prenotação (Código 7025).
§ 2º Os valores correspondentes aos emolumentos
referidos nas alíneas “a” e “d” deste artigo serão pagos pelo titulado por ocasião da apresentação dos Títulos de
24 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Domínio à Serventia para registro, cujo valor será de R$ 76,060 UFIRCEs.
Seção IV
Das Remoções e Permutas
Art. 130. Os titulares de ofício de notas e de
registros poderão ser removidos para ofícios de igual natureza, da mesma ou de outra comarca, mediante concurso.
Art. 131. O concurso de remoção consistirá de
prova de títulos, a que se poderão habilitar todos os investidos na delegação há mais de 2 (dois), contados entre a data do efetivo exercício na atividade e a da publicação do edital.
Parágrafo único. No ato de inscrição, e antes da
delegação, o candidato deverá comprovar a regularidade de sua situação em relação às obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, apresentando as correspondentes certidões negativas.
Art. 132. No edital do concurso, serão indicados os
ofícios vagos e demais informações de acordo com a presente Lei e com o regulamento aprovado pelo Tribunal Pleno.
Art. 133. Os critérios de valorização dos títulos
serão estabelecidos através de resolução do Tribunal de Justiça e em harmonia com as regras norteadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
LIVRO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Seção I
Da Transformação de Comarcas Sedes em Comarcas Vinculadas
Art. 134. Na forma descrita no anexo I desta Lei,
11 (onze) comarcas de entrância inicial ficam transformadas em comarcas vinculadas e passam a integrar as jurisdições das seguintes destinatárias:
I - Antonina do Norte, que passa a integrar a
jurisdição da Comarca de Assaré;
II – Poranga e Ipaporanga, que passam a integrar
a jurisdição da Comarca de Ararendá;
III – Aratuba, que passa a integrar a jurisdição da
Comarca de Mulungu;
IV - Baixio, que passa a integrar a jurisdição da
Comarca de Ipaumirim;
V - Barroquinha, que passa a integrar a jurisdição
da Comarca de Chaval;
VI - Cariús, que passa a integrar a jurisdição da
Comarca de Jucás;
VII - Groaíras, que passa a integrar a jurisdição da
Comarca de Cariré;
VIII - Jati, que passa a integrar a jurisdição da
Comarca de Porteiras;
IX - Palmácia, que passa a integrar a jurisdição da
Comarca de Maranguape; e
X - São Luís do Curu, que passa a integrar a
jurisdição da Comarca de Umirim.
Seção II
Da Transformação de Unidade Judiciária
Art. 135. Fica transformada, na entrância
intermediária, a 1ª Vara da Comarca de Várzea Alegre em Vara Única da Comarca de Várzea Alegre.
Parágrafo único. A estrutura funcional da 2ª Vara
da Comarca de Várzea Alegre, criada pela Lei Estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, todavia não instalada, será aproveitada para a criação de novas unidades judiciárias, na forma do disposto na seção seguinte.
Seção III
Da Criação de Unidade Judiciária
Art. 136. Em razão das transformações de que
tratam as seções anteriores, fica autorizada a criação das seguintes unidades:
I - na entrância inicial: a Vara Única da Comarca
de Ocara;
II - na entrância intermediária:
a) 2ª Vara da Comarca de Acaraú;
b) 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante;
c) 2ª Vara da Comarca de Beberibe;
d) 2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará;
e) 2ª Vara da Comarca de Horizonte;
f) 2ª Vara da Comarca de Itaitinga;
g) 3ª Vara da Comarca de Russas;
h) 2ª Vara da Comarca de Icó;
i) 3ª Vara da Comarca de Canindé;
j) 4ª Vara da Comarca de Iguatu;
k) 2ª Vara da Comarca de Trairi;
III - na entrância final:
a) 2ª Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Caucaia;
b) Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Sobral;
c) 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral;
d) Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro do Norte;
e) 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Juazeiro do Norte;
f) Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Maracanaú;
g) 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Maracanaú.
Parágrafo único. O Tribunal de Justiça editará
regulamento que disponha sobre cronograma de instalação das novas unidades, observada a sua disponibilidade orçamentária.
Art. 137. O Tribunal de Justiça adotará
providências para a relotação de magistrados e servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo em exercício nas unidades transformadas, observados os seguintes parâmetros:
I - no caso dos magistrados, serão removidos para
unidades judiciárias de igual entrância, mediante certame de ampla concorrência, precedido do competente edital e observadas as regras em vigor;
II - no caso de servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo, serão removidos para qualquer unidade judiciária do Estado em que haja carência, incluídas as criadas por esta Lei, mediante certame de ampla concorrência, precedido do competente edital, o qual deverá contemplar, dentre os critérios de pontuação,
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 25
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
a lotação originária em unidades transformadas nos termos dos arts. 134 e 135.
§ 1º Na hipótese de servidor de unidade
transformada por esta Lei não se habilitar ao certame de remoção ou, caso se habilite e não logre êxito em concursos sucessivos, será realizada a remoção de ofício, nos termos da lei, priorizando-se a movimentação para unidade mais próxima de sua lotação originária, que registre vaga.
§ 2º Os ocupantes dos cargos de provimento em
comissão nas unidades transformadas serão exonerados, enquanto os respectivos cargos serão transformados em outros similares a serem lotados nas unidades criadas, de entrância igual ou superior, por resolução do Tribunal de Justiça, na forma prevista no art. 64, parágrafo único, da Lei nº 16.208, de 3 de abril de 2017, procedendo-se às adequações necessárias.
=> Lei nº 16.2082017 (Organização
Administrativa do Poder Judiciário):
Art. 64.
...
Parágrafo único. Para atender às
conveniências ditadas pelo crescimento ou
exigências da dinâmica administrativa, a
Presidência do Tribunal poderá propor a
alteração da estrutura administrativa do Poder
Judiciário, mediante resolução, precedida de
justificativas técnicas, com a aprovação do
Tribunal Pleno, no sentido de modificar padrões,
atribuições e competências, símbolos e
nomenclatura dos cargos, desde que não importe
em aumento de despesa.
Seção IV
Das Alterações de Sedes de Comarcas Vinculadas
Art. 138. Ficam alteradas as agregações das
seguintes comarcas vinculadas, que passam a integrar jurisdições de outras comarcas sedes:
I - Altaneira, então vinculada à Comarca de
Santana do Cariri, passa a integrar a jurisdição da Comarca de Nova Olinda;
II – Ibaretama, então vinculada à Comarca de
Quixadá, passa a integrar a jurisdição da Comarca de Ibicuitinga;
III – Martinópole, então vinculada à Comarca de
Granja, passa a integrar a jurisdição da Comarca de Uruoca;
IV - Penaforte, então vinculada à Comarca de Jati,
passa a integrar a jurisdição da Comarca de Porteiras;
V - Tejuçuoca, então vinculada à Comarca de
Itapajé, passa a integrar a jurisdição da Comarca de Irauçuba;
VI - Tururu, então vinculada à Comarca de Umirim,
passa a integrar a jurisdição da Comarca de Uruburetama.
Seção V
Da Reclassificação de Comarcas entre Entrâncias
Art. 139. Ficam reclassificadas, a partir da entrada
em vigor desta Lei, passando a integrar a entrância intermediária, as seguintes comarcas:
I - Horizonte;
II - Acaraú;
III - Trairi;
IV – Itaitinga.
§ 1º Fica o Tribunal de Justiça autorizado a
reclassificar a Comarca de Guaraciaba do Norte como Entrância Intermediária.
§ 2º Os requisitos para a implantação de comarcas
e para a sua classificação entre entrâncias, de que tratam os arts. 17 e 20, respectivamente, serão observados pelo Tribunal de Justiça após a entrada em vigor desta Lei, não se aplicando à classificação constante do anexo I.
Seção VI
Da Extinção de Unidades e Transformação de Cargos na Comarca de Fortaleza
Art. 140. Ficam extintas 10 (dez) unidades
jurisdicionais da Comarca de Fortaleza, criadas pela Lei Estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, todavia não instaladas, e especificadas na Resolução nº 10, de 28 de maio de 2010, do Tribunal de Justiça, sendo os cargos de Juiz de Direito das respectivas unidades transformados nos seguintes termos:
I - Juiz de Direito da 20ª Vara de Família em Juiz
de Direito do Juizado Auxiliar das Varas de Família; Sucessões; e Infância e Juventude;
II - Juízes de Direito das 21ª e 26ª Unidades dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais em Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Unidades dos Juizados Especiais Cíveis; Juizados Especiais Criminais; Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
III - Juiz de Direito da 19ª Vara Criminal em Juiz de
Direito do Juizado Auxiliar Privativo da 17ª Vara Criminal – Vara Única Privativa de Audiências de Custódia;
IV - Juízes de Direito das 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Varas
Criminais em Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Varas Criminais; de Delitos de Tráfico de Drogas; de Penas Alternativas e da Auditoria Militar;
V - Juízes de Direito das 7ª e 9ª Varas de
Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária em Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Varas de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária.
Art. 141. Na hipótese de serem criadas, por
transformação, no prazo de 5 (cinco) anos contados da entrada em vigor desta Lei, novas unidades da mesma especialidade daquelas extintas nos termos do artigo anterior, deve ser assegurado aos magistrados então nelas titularizados o direito de opção quanto a terem seus cargos transformados para que exerçam funções nos novos juízos.
Art. 142. Ficam transformados 23 (vinte e três)
cargos de Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares da Comarca de Fortaleza em:
a) 3 (três) Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares Privativos das Varas do Júri;
b) 1 (um) Juiz de Direito do Juizado Auxiliar Privativo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
c) 1 (um) Juiz de Direito do Juizado Auxiliar Privativo das Varas da Infância e Juventude, para o atendimento das atribuições previstas no parágrafo único do art. 69 desta Lei;
d) 1 (um) Juiz de Direito do Juizado Auxiliar Privativo das Varas de Execução Penal e Corregedoria dos Presídios, para o atendimento das atribuições previstas no art. 62, parágrafo único, desta Lei;
e) 7 (sete) Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Varas Cíveis Comuns; Cíveis
26 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Especializadas nas Demandas em Massa; Recuperação de Empresas e Falências; e Registros Públicos;
f) 2 (dois) Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Varas Criminais; de Delitos de Tráfico de Drogas; de Penas Alternativas e da Auditoria Militar;
g) 3 (três) Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Unidades dos Juizados Especiais Cíveis; Juizados Especiais Criminais; Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
h) 3 (três) Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Varas de Família; Sucessões; e Infância e Juventude;
i) 2 (dois) Juízes de Direito dos Juizados Auxiliares das Varas da Fazenda Pública; dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
§ 1º Para efetivação das alterações de cargos de
que trata este artigo, será publicado edital, de competência da Presidência do Tribunal de Justiça, com prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua publicação, para manifestação de interesse, mediante registro de inscrição no sistema próprio, de Juízes de Direito Auxiliares da Comarca de Fortaleza, indicando, na oportunidade, o cargo pretendido.
§ 2º Na hipótese de inscrição de candidatos em
número superior às vagas fixadas, será aplicado o critério de antiguidade na entrância final.
§ 3º Não havendo manifestação de interesse, ou
caso o número de interessados seja inferior ao de vagas, incumbirá à Presidência do Tribunal de Justiça expedir ato que indique os cargos cuja competência será alterada, observada a ordem inversa de antiguidade, iniciando-se pelo magistrado que conte menos tempo de exercício na entrância final.
Art. 143. Ficam transformadas 39 (trinta e nove)
Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza em:
I - 26 (vinte e seis) Varas Cíveis Comuns;
II - 13 (treze) Varas Cíveis Especializadas nas
Demandas em Massa.
Parágrafo único. A transformação das unidades de que trata o caput e dos respectivos cargos de Juiz de Direito; as classes processuais e competências das unidades especializadas; bem como a redistribuição de processos, serão disciplinadas pelo Tribunal de Justiça por meio de resolução a ser editada até a data da entrada em vigor desta Lei.
Art. 144. Ficam transformadas 24 (vinte e quatro)
Unidades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza em:
I - 20 (vinte) Unidades dos Juizados Especiais
Cíveis;
II - 4 (quatro) Unidades dos Juizados Especiais
Criminais, com jurisdição em todo o território da Comarca de Fortaleza, servindo por distribuição.
Parágrafo único. A transformação das unidades
de que trata o caput e dos respectivos cargos de Juiz de Direito; as competências; as jurisdições dos Juizados Especiais Cíveis; bem como a redistribuição de processos, serão disciplinadas pelo Tribunal de Justiça por meio de resolução a ser editada até a data da entrada em vigor desta Lei.
Art. 145. Fica transformada a Vara Única de
Trânsito da Comarca de Fortaleza em 4ª Vara de Tráfico de Drogas.
Parágrafo único. A redistribuição de processos
das varas em funcionamento da mesma especialidade
será disciplinada pelo Tribunal de Justiça por meio de resolução a ser editada até a data da entrada em vigor desta Lei.
Seção VII
Da Transformação dos Cargos de Juiz Auxiliar das Zonas Judiciárias
Art. 146. Ficam transformados 30 (trinta) cargos
de Juízes de Direito Auxiliar, com lotação nas 9 (nove) Zonas Judiciárias do Estado do Ceará, na forma seguinte:
I - 4 (quatro) Juízes de Direito Auxiliares da 1ª
Zona Judiciária em Juízes de Direito dos 1º, 2º, 3º e 4º Juizados Auxiliares da 1ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Juazeiro do Norte;
II - 3 (três) Juízes de Direito Auxiliares da 2ª Zona
Judiciária em Juízes de Direito dos 1º e 2º Juizados Auxiliares da 2ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Iguatu, e em Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 14ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Tauá;
III - 3 (três) Juízes de Direito Auxiliares da 3ª Zona
Judiciária em Juízes de Direito dos 1º e 2º Juizados Auxiliares da 3ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Quixadá, e em Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 10ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Baturité;
IV - 3 (três) Juízes de Direito Auxiliares da 4ª Zona
Judiciária em Juízes de Direito dos 1º e 2º Juizados Auxiliares da 4ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Russas, e em Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 12ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Aracati;
V - 4 (quatro) Juízes de Direito Auxiliares da 5ª
Zona Judiciária em Juízes de Direito dos 1º, 2º, 3º e 4º Juizados Auxiliares da 5ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Maracanaú;
VI - 3 (três) Juízes de Direito Auxiliares da 6ª Zona
Judiciária em Juízes de Direito dos 5º, 6º e7º Juizados Auxiliares da 5ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Caucaia;
VII - 4 (quatro) Juízes de Direito Auxiliares da 7ª
Zona Judiciária em Juízes de Direito dos 1º, 2º e 3º Juizados Auxiliares da 7ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Sobral, e em Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 6ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Itapipoca;
VIII - 3 (três) Juízes de Direito Auxiliares da 8ª
Zona Judiciária em Juízes de Direito dos 1º e 2º Juizados Auxiliares da 8ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Tianguá, e em Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 11ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Camocim;
IX - 3 (três) Juízes de Direito Auxiliares da 9ª Zona
Judiciária em Juízes de Direito dos 1º e 2º Juizados Auxiliares da 9ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Crateús, e em Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 13ª Zona Judiciária, com sede na Comarca de Canindé.
§ 1º Para efetivação das alterações de cargos de
que trata este artigo, será publicado edital, de competência da Presidência do Tribunal de Justiça, com prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua publicação, para manifestação de interesse, mediante registro de inscrição no sistema próprio, de Juízes de Direito Auxiliares da 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª e 9ª Zonas Judiciárias, indicando, na oportunidade, o cargo pretendido.
§ 2º As inscrições serão restritas aos magistrados
em atuação em cada uma das Zonas referenciadas no parágrafo anterior, que somente poderão concorrer no âmbito de suas respectivas circunscrições, observados os desmembramentos de que trata o caput.
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 27
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
§ 3º Na hipótese de inscrição de candidatos em
número superior às vagas fixadas, será aplicado o critério de antiguidade na respectiva entrância.
§ 4º Não havendo manifestação de interesse por
parte dos magistrados referenciados no § 1º, ou caso o número de interessados seja inferior ao de vagas, incumbirá à Presidência do Tribunal de Justiça expedir ato que indique os cargos cuja competência será alterada, observada a ordem inversa de antiguidade, iniciando-se pelo magistrado que conte menos tempo de exercício na respectiva entrância.
Seção VIII
Da Extinção e Criação de Serventias Extrajudiciais
Art. 147. O Tribunal de Justiça não procederá à
instalação e ao provimento de serventias extrajudiciais criadas em desacordo com o art. 96, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal.
Art. 147-A. O Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, por ato do Presidente, no prazo de 90 (noventa) dias após a promulgação desta Lei, promoverá estudo técnico sobre a viabilidade do redimensionamento das serventias extrajudiciais, com a indicação de fusão, criação e desmembramento dos serviços em todo o Estado.
§ 1º O estudo técnico a que se refere o caput deste
artigo será desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça com a colaboração da Corregedoria-Geral da Justiça.
§ 2º Concluído o estudo técnico, o relatório final
será analisado por uma comissão, composta pelos membros a seguir indicados, a qual apresentará sugestões à Presidência do Tribunal de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) 1 (um) desembargador, indicado pela Presidência do Tribunal de Justiça, que presidirá a comissão;
b) 1 (um) juiz de direito, indicado pela Presidência do Tribunal de Justiça;
c) 1 (um) juiz de direito, indicado pela Corregedoria-Geral da Justiça;
d) 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento e Gestão, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça;
e) 1 (um) representante do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça;
f) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, indicado por seu Presidente;
g) 2 (dois) representantes dos notários e registradores, indicados pelas respectivas entidades de classe de âmbito estadual, prevalecendo, no caso de o número de indicações superar o de vagas, os 2 (dois) mais antigos.
§ 3º Apresentado o relatório a que se refere o
parágrafo anterior, o Presidente do Tribunal de Justiça, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, depois de submetê-lo à Consultoria Jurídica da Presidência do Tribunal,
encaminhará o projeto de lei ao Pleno do Tribunal de Justiça para deliberação e, em seguida, à Assembleia Legislativa para apreciação.
Art. 148. Ficam extintas 119 (cento e dezenove)
serventias extrajudiciais listadas no anexo III desta Lei, criadas por leis estaduais diversas, todavia nunca instaladas.
Art. 149. Por não atenderem a adequados
requisitos populacionais, socioeconômicos e territoriais, ficam extintas 39 (trinta e nove) serventias extrajudiciais sediadas em distritos, listadas no anexo IV desta Lei, as quais se acham vagas.
Art. 150. Fica criado o Ofício de Registro Civil do
Distrito de Capitão Mor, na Comarca de Pedra Branca.
Art. 151. Fica extinto o 2º Ofício de Notas e
Registro de Imóveis do Município de Moraújo, sendo suas atribuições assumidas pelo 1º Ofício de Notas e Registro Civil, ambos vagos na data da publicação desta Lei.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 152. Ficam revogadas as Disposições
Preliminares; o Livro I; os Títulos I, II e V, do Livro II; e o Livro III, da Lei Estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, que instituiu o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, à exceção das normas de criação de cargos e de serventias extrajudiciais, no que não for incompatível com o disposto nesta Lei.
Art. 153. O Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará implantará, até 31 de dezembro de 2020, ferramentas computacionais que permitam a tramitação em formato eletrônico de todos os casos novos de sua competência, observado o seguinte cronograma:
I – 60% (sessenta por cento) dos casos novos até
31 de dezembro de 2018;
II – 80% (oitenta por cento) dos casos novos até
31 de dezembro de 2019;
III – 100% (cem por cento) dos casos novos até 31
de dezembro de 2020.
Parágrafo único. Para assegurar o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Poder Judiciário do Estado do Ceará incluirá as previsões das despesas necessárias e suficientes em suas respectivas propostas constantes das leis orçamentárias anuais dos exercícios de 2018, 2019 e 2020.
Art. 154. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data da sua publicação.
Art. 155. Ficam revogadas as disposições em
contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de novembro de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
28 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
ANEXO I, DA LEI ESTADUAL Nº 16.397, DE 14 DE NOVEMBRO 2017
Comarcas de Entrância Inicial
Comarcas Sedes Comarcas Vinculadas
Distritos
Acarape - -
Aiuaba - Barra
Alto Santo
- Baixio Grande, Batoque, Boa Fé, Bom Jesus, Cabrito, Castanhão
Potiretama Canindezinho
Amontada
- Aracatiara, Garças, Icaraí, Lagoa Grande, Moitas, Mosquito, Nascente, Poço, Comprido, Sabiaguaba
Miraíma Brotas, Poço da Onça, Riachão
Ararendá Santo Antônio
Ipaporanga Sacramento
Poranga Buritizal, Cachoeira Grande, Macambira
Araripe Alagoinha, Brejinho, Pajeú, Riacho Grande
Potengi Barreiros
Assaré
- Amaro, Aratama
Antonina do Norte
Taboleiro
Tarrafas -
Aurora - Ingazeiras, Santa Vitória, Tipi
Barreira - Córrego, Lagoa do Barro, Lagoa Grande
Barro - Brejinho, Cuncas, Engenho Velho, Iara, Monte Alegre, Santo Antônio, Serrota
Bela Cruz - Prata
Campos Sales
- Barão de Aquiraz, Carmelópolis, Itaguá, Monte Castelo, Quixariú
Salitre Caldeirão, Lagoa dos Crioulos
Capistrano - -
Caridade
- Campos Belos, Inhuporanga, São Domingos
Paramoti -
Cariré
- Arariús, Cacimbas, Jucá, Tapuio
Groaíras Itamaracá
Caririaçu
- Feitosa, Miguel Xavier, Miragem
Granjeiro -
Carnaubal - -
Catarina - -
Chaval
- Passagem
Barroquinha Araras, Bitupitá
Chorozinho
-
Campestre, Cedro, Patos dos Liberatos, Timbaúba dos Marinheiros, Triângulo
Coreaú - Araquém, Aroeiras, Canto, Ubaúna
Moraújo Boa Esperança, Várzea da Volta
Croatá -
Barra do Sotero, Betânia, Lagoa da Cruz, Repartição, Santa Tereza, São Roque, Vista Alegre
Cruz Caiçara
Farias Brito - Cariutaba, Nova Betânia, Quincuncá
Forquilha - Salgado dos Mendes, Trapiá
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 29
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
Fortim Barra, Campestre, Guajiru, Maceió, Viçosa
Frecheirinha
Graça - Lapa
Guaiúba - Água Verde, Baú, Dourado, Itacima, Núcleo Colonial Pio XII (S. Gerônimo)
Guaraciaba do Norte
- Martinslândia, Morrinhos Novos, Mucambo, Sussuanha, Várzea dos Espinhos
Hidrolândia - Betânia, Conceição, Irajá
Ibiapina - Alto Lindo, Betânia, Santo Antônio da Pindoba
Ibicuitinga Açude dos Pinheiros, Canindezinho, Chile, Viçosa
Ibaretama Nova Vida, Oiticica, Pedra e Cal, Piranji.
Icapuí - Ibicuitaba, Manibú
Ipaumirim
- Canaúna, Felizardo
Baixio -
Umari Pio X
Ipueiras
-
Alazans, América, Balseiros, Engenheiro João Tomé, Gázea, Livramento, Matriz, Nova Fátima, São José, São José das Lontras
Iracema
- Bastiões, Ema, São José
Ererê São João, Tomé Vieira
Irauçuba
- Boa Vista do Caxitoré, Juá, Missi
Tejuçuoca Caxitoré
Itapiúna - Caio Prado, Itans, Palmatória
Itarema - Almofala, Carvoeiro
Itatira - Bandeira, Cachoeira, Lagoa do Mato, Morro Branco
Jaguaretama - -
Jaguaribara Poço Comprido
Jaguaribe - Aquinópolis, Feiticeiro, Mapuá, Nova Floresta
Jaguaruana
- Borges, Giqui, Santa Luzia, São José do Lagamar, Saquinho
Itaiçaba -
Jardim - Corrente, Jardimirim
Jijoca de Jericoacoara
- -
Jucás
- Baixio da Donana, Canafístula, Mel, Poço Grande, São Pedro do Norte
Cariús Bela Vista, Caipu, São Bartolomeu, São Sebastião
Madalena - Cacimba Nova, Cajazeiras, Macaoca, Paus Branco, União
Marco - Mocambo, Panacuí
Mauriti - Anauá, Buritizinho, Coité, Maraguá, Mararupá, Nova Santa Cruz, Palestina do Cariri, São Félix, São Miguel, Umburanas
Meruoca - Anil, Camilos, Palestina do Norte, Santo Antônio dos Fernandes, São Francisco.
Alcântaras Ventura
Milagres
- Podimirim, Rosário
Abaiara São José
Missão Velha - Jamacaru, Missão Nova, Quimami
Monsenhor Tabosa - Barreiros, Nossa Senhora do Livramento
Morrinhos - Sítio Alegre
Mucambo
- Carqueijo, Poço Verde
Pacujá -
30 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Mulungu - -
Aratuba Pai João
Nova Olinda
- Triunfo
Altaneira São Romão
Novo Oriente - Emaús, Palestina, Santa Maria, São Raimundo, Três Irmãos
Ocara - Arisco dos Marianos, Curupira, Novo Horizonte, Sereno de Cima, Serragem
Orós - Guassussê, Igarói, Palestina, Santarém
Pacoti
- Colina, Fátima, Santa Ana
Guaramiranga Pernambuquinho
Paracuru - Jardim, Poço Doce
Paraipaba - Boa Vista, Camboas, Lagoinha
Parambu
-
Cococi, Gavião, Miranda, Monte Sion, Novo Assis, Oiticica
Pedra Branca - Capitão Mor, Mineirolândia, Santa Cruz do Banabuiú, Tróia
Pentecoste
- Matias, Porfírio Sampaio, Sebastião de Abreu
Apuiarés Canafístula, Vila Soares
General Sampaio
-
Pereiro - Crioulos
Pindoretama - Capim da Roça, Caponguinha, Ema, Pratiús
Piquet Carneiro - Catolé da Pista, Ibicuã.
Porteiras
- Simão
Jati Balanças, Carnaúba
Penaforte Juá, Santo André
Quiterianópolis - Algodões, São Francisco
Quixelô - Antonico
Quixeré - Agua Fria, Lagoinha, Tomé
Redenção - Antônio Diogo, Barra Nova, Faísca, Guassi, São Gerardo
Reriutaba - Amanaiara, Campo Lindo
Saboeiro
-
Barrinha, Felipe, Flamengo, Malhada, São José
Santana do Acaraú - Bahia, Baixa Fria, Barro Preto, João Cordeiro, Mutambeiras, Parapuí, Sapó
Santana do Cariri - Anjinhos, Araporanga, Brejo Grande, Dom Leme, Inhumas, Pontal da Santa Cruz
Solonópole
Assunção, Cangati, Pasta, Prefeita Suely Pinheiro, São José de Solonópole.
Milhã
Baixa Verde, Barra, Carnaubinha, Ipueira, Monte grave.
Deputado Irapuan Pinheiro
Aurora, Baixio, Betânia, Maratoã, Velame
Tabuleiro do Norte
- Olho-d'Água da Bica, Peixe Gordo
São João do Jaguaribe
-
Tamboril - Açudinho, Boa Esperança, Carvalho, Curatis, Holanda, Oliveiras, Sucesso
Umirim
- Caxitoré, São Joaquim
São Luís do Curu
-
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 31
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
Uruoca
- Campanário, Paracuá
Martinópole -
Varjota - Croata
Comarcas de Entrância Intermediária
Comarcas Sedes Comarcas Vinculadas
Distritos
Acaraú Aranaú, Juritianha, Lagoa do Carneiro
Acopiara
-
Barra do Ingá, Ebron, Isidoro, Quincoê, Santa Felícia, Santo Antônio, São Paulinho, Solidão, Trussu
Aquiraz
-
Camará, Caponga da Bernarda, Jacaúna, João de Castro, Justiniano de Serpa, Patacas, Tapera
Aracati
-
Barreira dos Vianas, Cabreiro, Córrego dos Fernandes, Jirau, Mata Fresca, Santa Tereza
Aracoiaba
-
Ideal, Jaguarão, Jenipapeiro, Lagoa de São João, Milton Belo, Pedra Branca, Plácido Martins, Vazantes
Barbalha - Arajara, Caldas, Estrela
Baturité Boa Vista, São Sebastião
Beberibe - Forquilha, Itapeim, Parajuru, Paripueira, Serra do Félix, Sucatinga
Boa Viagem
-
Águas Belas, Boqueirão, Domingos da Costa, Guia, Ibuaçu, Ipiranga, Jacampari, Massapê dos Paes, Olho D'Água do Bezerril, Olho d'Água dos Facundos, Poço da Pedra, Várzea da Ipueira
Brejo Santo - Poço, São Filipe
Camocim - Amarelas, Guriú
Canindé - Bonito, Caiçara, Campos, Capitão Pedro Sampaio, Esperança, Iguaçu, Ipueiras dos Gomes, Monte Alegre, Salitre, Targinos
Cascavel - Caponga, Cristais, Guanacés, Jacarecoara, Pitombeiras
Cedro
-
Assunção, Candeias, Lagedo, Santo Antônio, São Miguel, Várzea da Conceição
Crateús
- Assis, Curral Velho, Ibiapaba, Irapuá, Lagoa das Pedras, Montenebo, Oiticica, Poti, Realejo, Santana, Santo Antônio, Tucuns
Eusébio - -
Granja
-
Adrianópolis, Ibuguaçu, Parazinho, Pessoa Anta, Sambaíba, Timonha
Horizonte - Aningas, Dourados, Queimados
Icó - Cruzeirinho, Icozinho, Lima Campos, Pedrinhas, São Vicente
Iguatu - Barreiras, Barro Alto, Baú, Gadelha, José de Alencar, Riacho Vermelho, Suassurana
Independência - Ematuba, Iapi, Jandrangoeira, Monte Sinai, Tranqueiras
Ipu
- Abílio Martins, Flores, Ingazeiras, Recanto, Várzea do Giló
Pires Ferreira Donato, Otavilândia, Santo Izidro
Itaitinga - Gererau
Itapajé - Aguaí, Baixa Grande, Cruz, Iratinga, Pitombeira, São Tomé, Serrote do Meio, Soledade
Itapipoca - Arapari, Assunção, Baleia, Barrento, Bela Vista, Betânia, Calugi, Cruxati, Deserto, Ipu Mazagão, Lagoa das Mercês, Marinheiros
Lavras da Mangabeira
- Amaniutuba, Arrojado, Iborepi, Mangabeira, Quitaiús
Limoeiro do Norte - Bixopá
32 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Maranguape
- Amanari, Antônio Marques, Cachoeira, Itapebussu, Jubaia, Ladeira Grande, Lages, Lagoa do Juvenal, Manoel Guedes, Papara, Penedo, São João do Amanari, Sapupara, Tanques, Umarizeiras, Vertentes do Lagedo
Palmácia Gado, Gados dos Rodrigues
Massapê - Aiuá, Ipaguaçu, Mumbaba, Padre Linhares, Tangente, Tuína
Senador Sá Salão, Serrota
Mombaça Açudinho dos Costas, Boa Vista, Cangatí, Carnaúbas, Catolé, Cipó, Manoel Correia, São Gonçalo do Umari, São Vicente
Morada Nova - Aruaru, Boa Água, Juazeiro de Baixo, Lagoa Grande, Pedras, Roldão, Uiraponga
Nova Russas - Canindezinho, Espacinha, Major Simplício, Nova Betânia, São Pedro.
Pacajus - Itaipaba, Pascoal
Pacatuba - Monguba, Pavuna, Senador Carlos Jereissati.
Quixadá
- Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiróz, Dom Maurício, Juá, Juatama, Riacho Verde, São Bernardo, São João dos Queirozes, Tapuiará, Várzea da Onça.
Banabuiú Laranjeiras, Pedras Brancas, Rinaré, Sitiá.
Choró Barbada, Caiçarinha, Maravilha, Monte Castelo, Santa Rita.
Quixeramobim - Belém, Damião Carneiro, Encantado, Lacerda, Manituba, Nenelândia, Passagem, São Miguel, Uruquê.
Russas
- Bonhu, Flores, Lagoa Grande, Peixe, São João de Deus.
Palhano São José
Santa Quitéria
- Lisieux, Logradouro, Macaraú, Malhada Grande, Muribeca, Raimundo Martins, Trapiá
Catunda Paraíso, Video
São Benedito - Barreiros, Inhuçu
São Gonçalo do Amarante
-
Cágado, Croatá, Pecém, Serrote, Siupé, Taiba, Umarituba
Senador Pompeu - Bonfim, Codia, Engenheiro José Lopes, São Joaquim do Salgado
Tauá
- Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás, Santa Tereza, Trici
Arneiroz Cachoeira de Fora, Planalto
Tianguá - Arapá, Caruataí, Pindoguaba, Tabainha -
Trairi - Canaan, Córrego Fundo, Fleicheiras, Gualdrapas, Mundaú
Ubajara - Araticum, Jaburuna, Nova Veneza
Uruburetama
- Itacolomy, Mundaú, Retiro, Santa Luzia
Tururu Cemoaba, Conceição, São Pedro do Gavião
Várzea Alegre - Calabaça, Canindezinho, Ibicatu, Naraniú, Riacho Verde
Viçosa do Ceará - General Tibúrcio, Juá dos Vieiras, Lambedouro, Manhoso, Padre Vieira, Passagem da Onça, Quatiguaba
Comarcas de Entrância Final
Comarcas Sedes Comarcas Vinculadas
Distritos
Caucaia - Bom Príncipio, Catuana, Guararu, Jurema, Mirambé, Sítios Novos, Tucunduba
Crato - Baixio das Palmeiras, Bela Vista, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne, Ponta da Serra, Santa Fé, Santa Rosa.
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 33
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
Fortaleza - Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim, Parangaba
Juazeiro do Norte - Marrocos, Padre Cícero
Maracanaú - Pajuçara
Sobral
- Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Rafael Arruda, São José do Torto, Taperuaba
Anexo II, da Lei Estadual nº 16.397, de 14 de novembro 2017
Zona Judiciária
Sede Cargo de Juiz Auxiliar
Área de Jurisdição
1ª
Juazeiro do Norte
04
Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre.
2ª
Iguatu
2
Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Orós, Quixelô, Saboeiro e Umari.
3ª
Quixadá
2
Banabuiú, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.
4ª
Russas
2
Alto Santo, Ererê, Ibaretama, Ibicuitinga, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.
5ª
Caucaia
3
Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, e Trairi.
Maracanaú 4
6ª
Itapipoca
1
Amontada, Apuiarés, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Miraíma, Pentecoste, São Luís do Curu ,Tejuçuoca, Tururu, Umirim e Uruburetama.
7ª
Sobral
3
Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Reriutaba, Santana do Acaraú, Sobral e Varjota.
8ª
Tianguá
2
Carnaubal, Croatá, Frecheirinha, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, Pires Ferreira, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará.
9ª
Crateús
2
Ararendá, Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Santa Quitéria e Tamboril.
10ª
Baturité
1
Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti e Redenção.
11ª
Camocim
1
Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Morrinhos, Senador Sá e Uruoca.
12ª Aracati 1 Aracati, Beberibe, Fortim, Icapuí, Itaiçaba e Jaguaruana.
13ª Canindé 1 Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti.
14ª Tauá 1 Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá.
Anexo III, da Lei Estadual nº 16.397, de 14 de novembro de 2017
Nº COMARCA RAZÃO SOCIAL CRIAÇÃO DA SERVENTIA
1 AIUABA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE BARRA
Criada pela Lei Estadual nº 3.338, de 15-09-1956 e não instalada
2 ALCÂNTARAS CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE VENTURA
Criada pela Lei Estadual 3.961 de 10/12/1957 e não instalada
3 ALTANEIRA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. Criada pela Lei Estadual 6.796 de 20/11/1963
34 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(VINCULADA) DE SÃO ROMÃO e não instalada
4 AMONTADA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE GRAÇAS
Criada pela Lei Estadual 11.425 de 08/01/1988 e não instalada
5 AMONTADA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE LAGOA GRANDE
Criada pela Lei Estadual 11.426 de 08/01/1988 e não instalada
6 AMONTADA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE MOITAS
Criada pela Lei Estadual 11.420 de 05/01/1988 e não instalada
7 AMONTADA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE NASCENTE
Criada pela Lei Estadual 11.424 de 08/01/1988 e não instalada
8 AMONTADA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE POÇO COMPRIDO
Criada pela Lei Estadual 11.421 de 05/01/1988 e não instalada
9 AMONTADA CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE SABIAGUABA
Criada pela Lei Estadual 11.419 de 05/01/1988 e não instalada
10 ANTONINA DO NORTE (VINCULADA)
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE TABULEIRO
Criada pela Lei Estadual 7.151 de 14/01/1968 e não instalada
11 APUIARÉS (VINCULADA)
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE CANAFÍSTULA
Criada pela Lei Estadual 6.446 de 21/07/1963 e não instalada
12 APUIARÉS (VINCULADA)
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE VILA SOARES
Criada pela Lei Estadual 6.445 de 21/07/1963 e não instalada
13 AQUIRAZ CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE CAMARÁ
Criada pela Lei Estadual 11.469 de 06/07/1988 e não instalada
14 AQUIRAZ CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE CAPONGA DA BERNARDA
Criada pela Lei Estadual 11.474 de 06/07/1988 e não instalada
15 ARACATI CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE CUIPIRANGA
Criada pelo Decreto Lei Estadual 114/1943 e não instalada
16 ARACATI CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE BARREIRA DOS VIANAS
Criada pela Lei Estadual 11.481 de 20/07/1988 e não instalada
17 ARARIPE CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE ALAGOINHA
Criada pela Lei Estadual 7.140 de 10/01/1964 e não instalada
18 ARARIPE CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE PAJEÚ
Criada pela Lei Estadual 7.140 de 10/01/1964 e não instalada
19 ARARIPE CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE RIACHO GRANDE
Criada pela Lei Estadual 7.140 de 10/01/1964 e não instalada
20 BARRO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE ENGENHO VELHO
Criada pela Lei Estadual 11.453 de 02/06/1988 e não instalada
21 BARRO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE MONTE ALEGRE
Criada pela Lei Estadual 11.452 de 02/06/1988 e não instalada
22 BARRO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE SERROTE
Criada pela Lei Estadual 11.454 de 02/06/1988 e não instalada
23 BREJO SANTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE POÇO
Criada pela Lei Estadual 1.153 de 22/11/1951 e não instalada
24 CAMOCIM CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE AMARELAS
Criada pela Lei Estadual 6.397 de 03/07/1963 e não instalada
25 CANINDÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE IPUEIRA DOS GOMES
Criada pela Lei Estadual 7.166 de 14/01/1964 e não instalada
26 CANINDÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MONTE ALEGRE
Criada pela Lei Estadual 7.166 de 14/01/1964 e não instalada
27 CARIRÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE ALTO
Criada pela Lei Estadual nº 6.767, de 19/11/1963 e não instalada
28 CROATÁ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BETÂNIA
Criada pela Lei Estadual 11.430/88 e não instalada
29 CRUZ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE Criada pela Lei Estadual 11.323/87 e não
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 35
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
CAIÇARA instalada
30 DEP. IRAPUAN PINHEIRO
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BETÂNIA
Criada pela Lei Estadual 11.429/88 e não instalada
31 FORQUILHA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE TRAPIÁ
Criada pela Lei Estadual 11.012/85 e não instalada
32 HIDROLÂNDIA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CONCEIÇÃO
Criada pela Lei Estadual 7.400/63 e não instalada
33 HORIZONTE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE ANINGÁS
Criada pela Lei Estadual 11.300 de 06/03/1987 e não instalada
34 HORIZONTE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE DOURADO
Criada pela Lei Estadual 11.300 de 06/03/1987 e não instalada
35 ICAPUÍ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MANIBÚ
Criada pela Lei Estadual 11.003 de 15/01/1985 e não instalada
36 ICÓ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BERNARDINÓPOLIS
Criada pela Lei Estadual 6.880/63 e não instalada
37 ICÓ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO JOÃO
Criada pela Lei Estadual 6.880/63 e não instalada
38 ICÓ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO VICENTE
Criada pela Lei Estadual 6.880/63 e não instalada
39 IGUATU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CRUZ DAS PEDRAS
Criada pela Lei Estadual 6.915/63 e não instalada
40 INDEPENDÊNCIA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE JANDRAGOEIRA
Criada pela Lei Estadual 7.103/1964 e não instalada
41 IPAPORANGA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SACRAMENTO
Criada pela Lei Estadual 11.348/1987 e não instalada
42 IPU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE FLORES
Criada pela Lei Estadual 7.264/1964 e não instalada
43 IPU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE VARZEA DO JILÓ
Criada pela Lei Estadual 7.010/1963 e não instalada
44 IRACEMA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE EMA
Criada pela Lei Estadual 6.883/1963 e não instalada
45 IRACEMA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO JOSÉ
Criada pela Lei Estadual 6.778/1963 e não instalada
46 IRAUÇUBA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BOA VISTA DO CAXITORÉ
Criada pela Lei Estadual 6.476/1963 e não instalada
47 ITAITINGA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE GERERAÚ
Criada pela Lei Estadual 11.927/1963 e não instalada
48 ITAPAJÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE AGUAÍ
Criada pela Lei Estadual 11.458/1988 e não instalada
49 ITAPAJÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CAMARÁ
Criada pela Lei Estadual 6.602/1963 e não instalada
50 ITAPAJÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SOLEDADE
Criada pela Lei Estadual 6.602/1963 e não instalada
51 ITAPIPOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BELA VISTA
Criada pela Lei Estadual 7.188/64 e não instalada
52 ITAPIPOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE DESERTO
Criada pela Lei Estadual 11.102/86 e não instalada
53 ITAREMA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CARVOEIRO
Criada pela Lei Estadual 6.990/63 e não instalada
54 ITATIRA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BANDEIRA
Criada pela Lei Estadual 7.180/64 e não instalada
55 JAGUARIBE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE AQUINÓPOLIS
Criada pela Lei Estadual 6.405/63 e não instalada
56 JAGUARUANA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE Criada pela Lei Estadual 6.876/63 e não
36 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
SÃO JOSÉ instalada
57 JUCÁS CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BAIXIO DA DONANA
Criada pela Lei Estadual 6.531/63 e não instalada
58 JUCÁS CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE POÇO GRANDE
Criada pela Lei Estadual 6.531/63 e não instalada
59 LIMOEIRO DO NORTE
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BIXOPÁ
Criada pela Lei Estadual 1.153 de 22/11/1951 e não instalada
60 MASSAPÊ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MUMBABA
Criada pela Lei Estadual 6.802/1963 e não instalada
61 MAURITI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BURITIZINHO
Criada pela Lei Estadual 11.157/85 e não instalada
62 MAURITI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO MIGUEL
Criada pela Lei Estadual 11.161/85 e não instalada
63 MERUOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CAMILOS
Criada pela Lei Estadual 7.159/64 e não instalada
64 MERUOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE PALESTINA DO NORTE
Criada pela Lei Estadual 7.167/64 e não instalada
65 MERUOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SANTO ANTÔNIO DOS FERNANDES
Criada pela Lei Estadual 7.163/64 e não instalada
66 MERUOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO FRANCISCO
Criada pela Lei Estadual 7.158/64 e não instalada
67 MILHÃ (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MONTE GRAVE
Criada pela Lei Estadual 11.315/64 e não instalada
68 MIRAÍMA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BROTAS
Criada pela Lei Estadual 11.437/88 e não instalada
69 MISSÃO VELHA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE GAMELEIRA DE SÃO SEBASTIÃO
Criada pela Lei Estadual 8.339/65 e não instalada
70 MOMBAÇA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CANGATI
Criada pela Lei Estadual 6.933/63 e não instalada
71 MOMBAÇA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO GONÇALO DO UMARI
Criada pela Lei Estadual 6.933/63 e não instalada
72 MOMBAÇA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO VICENTE
Criada pela Lei Estadual 6.933/63 e não instalada
73 MONSENHOR TABOSA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BARREIRAS
Criada pela Lei Estadual 7.107/63 e não instalada
74 MONSENHOR TABOSA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Criada pela Lei Estadual 6.898/63 e não instalada
75 MORADA NOVA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE LAGOA GRANDE
Criada pela Lei Estadual 11.417/88 e não instalada
76 MORAÚJO (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE GOIÂNIA
Criada pela Lei Estadual 3.920/1957 e não instalada
77 MORAÚJO (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE VÁRZEA DA VOLTA
Criada pela Lei Estadual 3.920/1957 e não instalada
78 MUCAMBO CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CARGUEIRO
Criada pela Lei Estadual 2.160/1953 e não instalada
79 ORÓS CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE PALESTINA
Criada pela Lei Estadual 7.168/64 e não instalada
80 PACOTI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE COLINA
Criada pela Lei Estadual 7.269/64 e não instalada
81 PACOTI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE FÁTIMA
Criada pela Lei Estadual 7.269/64 e não instalada
82 PACOTI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SANTA ANA
Criada pela Lei Estadual 7.269/64 e não instalada
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 37
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
83 PALHANO (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO JOSÉ
Criada pela Lei Estadual 11.455/88 e não instalada
84 PALMÁCIA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE ANTÔNIO MARQUES
Criada pela Lei Estadual 7.148/64 e não instalada
85 PALMÁCIA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE VERTENTE DO LAJEDO
Criada pela Lei Estadual 7.148/64 e não instalada
86 PARACURU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE JARDIM
Criada pela Lei Estadual 6.526/63 e não instalada
87 PARAIPABA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE ALAGOINHA
Criada pela Lei Estadual 11.009/85 e não instalada
88 PENTECOSTE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE PORFÍRIO SAMPAIO
Criada pela Lei Estadual 6.569/63 e não instalada
89 PEREIRO CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CRIOULAS
Criada pela Lei Estadual 7.069/62 e não instalada
90 PIQUET CARNEIRO
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MULUNGU
Criada pela Lei Estadual 11.418/88 e não instalada
91 POTENGI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BARREIRAS
Criada pela Lei Estadual 3.786/57 e não instalada
92 QUIXERÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE LAGOINHA
Criada pela Lei Estadual 11.158/85 e não instalada
93 QUIXERÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE TOMÉ
Criada pela Lei Estadual 11.159/85 e não instalada
94 REDENÇÃO CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SÃO GERARDO
Criada por Ato Estadual de 04/11/1912 e não instalada
95 SALITRE (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE LAGOA DOS CRIOULOS
Criada pela Lei Estadual 11.467/88 e não instalada
96 SALITRE (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CALDEIRÃO
Criada pela Lei Estadual 11.467/88 e não instalada
97 SANTA QUITÉRIA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE AREAL
Criada pela Lei Estadual 7.162/64 e não instalada
98 SANTA QUITÉRIA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE LISEUX
Criada pela Lei Estadual 7.162/64 e não instalada
99 SANTA QUITÉRIA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE LOGRADOURO
Criada pela Lei Estadual 7.165/64 e não instalada
100 SANTA QUITÉRIA
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MURIBECA
Criada pela Lei Estadual 7.020/64 e não instalada
101 SANTANA DO ACARAÚ
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE JOÃO CORDEIRO
Criada pela Lei Estadual 7.022/64 e não instalada
102 SANTANA DO CARIRI
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE DOM LEME
Criada pela Lei Estadual 11.327/87 e não instalada
103 SÃO JOAO DO JAGUARIBE (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BARRA DO FIGUEIREDO
Criada pela Lei Estadual 1.153 de 22/11/1951 e não instalada
104 SENADOR POMPEU
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CODIÁ
Criada pela Lei Estadual 11.335/87 e não instalada
105 SENADOR SÁ (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SERROTE
Criada pela Lei Estadual 3.762/57 e não instalada
106 SENADOR SÁ (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE SALÃO
Criada pela Lei Estadual 3.762/57 e não instalada
107 SOBRAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CAIOCA
Criada pela Lei Estadual 7.150/64 e não instalada
108 SOBRAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CARACARÁ
Criada pela Lei Estadual 6.754/63 e não instalada
38 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
109 SOBRAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BONFIM
Criada pela Lei Estadual 6.482/63 e não instalada
110 SOLONÓPOLE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE ASSUNÇÃO
Criada pela Lei Estadual 7.093/64 e não instalada
111 TABULEIRO DO NORTE
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE PEIXE GORDO
Criada pela Lei Estadual 7.023/63 e não instalada
112 TAMBORIL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CARVALHO
Criada pela Lei Estadual 7.014/63 e não instalada
113 TAMBORIL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BOA ESPERANÇA
Criada pela Lei Estadual 7.019/63 e não instalada
114 UMIRIM CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CAXITORÉ
Criada pela Lei Estadual 11.441/88 e não instalada
115 URUOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CAMPANÁRIO
Criada pela Lei Estadual 6.751 e não instalada
116 BELA CRUZ CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DIST. DE CAJUEIRINHO
Criada pela Lei Estadual 4.439/58 e não instalada
117 CARNAUBAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE GRAÇA
Criada pela Lei Estadual 3.702/57 e não instalada
118 CARNAUBAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MONTE CASTELO
Criada pela Lei Estadual 3.702/57 e não instalada
119 TAUÁ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CAIÇARA
Criada pela Lei Estadual 11.949/92 e não instalada
Anexo IV da Lei Estadual nº 16.397, de 14 de novembro de 2017.
Nº COMARCA RAZÃO SOCIAL
1 ACOPIARA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE ISIDORO
2 ARARIPE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. BREJINHO
3 ASSARÉ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ARATAMA
4 CAMPOS SALES CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. BARÃO DE AQUIRAZ
5 CARIRIAÇU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MIGUEL XAVIER
6 CARIRIAÇU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. VILA FEITOSA
7 CAUCAIA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. SÍTIOS NOVOS
8 CAUCAIA CARTÓRIO REG. CIVIL DO DIST. DE TUCUNDUBA
9 CEDRO CARTÓRIO REG. CIVIL DO DIST. VÁRZEA DA CONCEIÇÃO
10 CHAVAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE PASSAGEM
11 COREAÚ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. AROEIRAS
12 CRATEÚS CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE IRAPUÃ
13 CRATEÚS CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE TUCUNS
14 CROATÁ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. BARRA DO SOTERO
15 GUAIÚBA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ITACIMA
16 GUARACIABA DO NORTE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MORRINHOS NOVOS
17 HIDROLÂNDIA CARTÓRIO REG. CIVIL DO DIST. IRAJÁ
18 ICÓ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ICOZINHO
19 IGUATU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE BAÚ
20 ITAPIPOCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ASSUNÇÃO
21 JUCÁS CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MEL
22 MADALENA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. MACAOCA
23 MASSAPÊ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. TUINÁ
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 39
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
24 MASSAPÊ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. AIUÁ
25 MORADA NOVA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. UIRAPONGA
26 PARAMBU CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. COCOCI
27 PEDRA BRANCA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. TRÓIA
28 SANTANA DO CARIRI CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. ANJINHOS
29 SOBRAL CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PATRIARCA
30 SOLONÓPOLE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CANGATI
31 SOLONÓPOLE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. PASTA
32 TAUÁ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CARRAPATEIRAS
33 TAUÁ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE MARRUÁS
34 TAUÁ CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. TRICI
35 URUBURETAMA CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. SANTA LUZIA
36 VÁRZEA ALEGRE CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. RIACHO VERDE
37 CHORÓ LIMÃO (VINCULADA)
CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE CAIÇARINHA
38 IBARETAMA (VINCULADA) CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. DE PIRANGI
39 TURURU (VINCULADA) CARTÓRIO REG. CIVIL DIST. CEMOABA
BATERIA DE EXERCÍCIOS
01. De acordo com o digo de Organização Judiciária do Estado de Ceará, o Conselho da Magistratura é
a) órgãos de controle interno e disciplinar da função jurisdicional
b) órgão de administração desconcentrada
c) órgãos e funções superiores de definição de políticas e estratégias
d) órgãos superiores de direção, gerenciamento e assessoramento
e) órgão de controle interno da função administrativa
Ver Art. 3º COJECE
02. Assinale a opção INCORRETA, em relação ao Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça.
a) população mínima de 15.000 habitantes e eleitorado não inferior a 60% de sua população é um dos requisitos para a implantação de comarcas.
b) Os distritos judiciários, integrantes das respectivas comarcas, terão a denominação e os limites correspondentes aos da divisão administrativa dos municípios.
c) As comarcas classificam-se em 3 (três) entrâncias, denominadas: inicial, intermediária e final, observados, para fins de reclassificação, os critérios previstos no art. 20 desta Lei.
d) O território do Estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário estadual, divide-se em comarcas sedes e comarcas integradas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários.
Art. 4º do COJECE
03. Considerando o que dispõe o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, julgue as afirmativas:
I. Para fins de administração Geral, o território do Estado do Ceará divide-se em comarcas sedes e comarcas vinculadas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários.
II. As comarcas do Interior Estado do Ceará serão agrupadas em zonas judiciárias.
III. A Comarca de Fortaleza faz parte do agrupamento de zonas judiciárias do Estado do Ceará.
IV. Os municípios que não forem sedes de comarcas serão qualificados como comarcas vinculadas, que por si só formarão zonas judiciárias.
Estão CORRETAS somente:
a) I, II e IV.
b) Todas.
c) I, II e III.
d) III e IV.
e) Apenas a II
Ver art. 5º do COJECE
40 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
04. Em conformidade com o Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará, marque a alternativa correspondente a uma das competências administrativa do Presidente do Tribunal:
a) dirigir os trabalhos do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura
b) Decidir sobre remoção e permuta de magistrados e organizar lista tríplice, para fins de promoção por merecimento dos Juízes de entrância para entrância.
c) Escolher, dentre os Juízes da Capital, os que deverão compor a Turma Recursal dos Juizados Especiais.
d) Reunir-se em caso de comemoração cívica, visita oficial de alta autoridade ou para agraciamento com a Medalha do Mérito Judiciário.
e) Julgar matérias disciplinares relativas aos magistrados.
Art. 6º do COJECE
05. Conforme o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, as comarcas se classificam em:
a) (três) entrâncias, denominadas em primeira, segunda e terceira entrância observando para fins de reclassificação requisitos relativos à população, eleitorado e demanda.
b) (três) entrâncias, denominadas em inicial, intermediária e final observando para fins de reclassificação requisitos relativos à população, eleitorado e demanda.
c) (três) entrâncias, denominadas em primária, secundária e especial observando para fins de reclassificação requisitos relativos apenas à população e demanda.
d) (três) entrâncias, denominadas em inicial, intermediária e final observando para fins de reclassificação requisitos relativos apenas à população e demanda.
e) (três) entrâncias, denominadas em inicial, intermediária e especial observando para fins de reclassificação requisitos relativos à população, eleitorado e demanda.
Ver art. 7º do COJECE
06. O Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará estatui, EXCETO:
a) Os municípios que não forem sedes de comarcas serão qualificados como comarcas vinculadas.
b) Que a iniciativa de lei para criação de unidades judiciárias, compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
c) Em um agrupamento de 2 (dois) ou mais municípios, um deles será considerado a sede da comarca, figurando aos demais como comarcas vinculadas.
d) As zonas judiciárias são constituídas apenas de uma sede.
e) As comarcas constituem circunscrições com unidades judiciárias implantadas, porém nem sempre elas serão sedes.
Ver art. 10 e 11 do COJECE
07. Acerca das disposições contidas no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, sobre as Comarcas vinculadas, julgue as assertivas:
I. Obrigatoriamente as audiências e/ou quaisquer atos processuais que exijam comparecimento de pessoas em juízo serão realizadas na comarca vinculada.
II. A fim de assegurar a quantidade de recursos humanos e materiais em volume proporcional à demanda, as comarcas vinculadas poderão adotar providencias firmando convênios com os respectivos municípios e outros entes públicos, regulando, por ato normativo a ser expedido pelo Tribunal de Justiça, as verbas indenizatórias devidas a magistrados e servidores em razão dos deslocamentos de sua sede.
III. Na observância de aspectos como a demanda, disponibilidade de recursos humanos e materiais, o Tribunal de Justiça determinará a reunião de todos os acervos processuais para tramitação, assegurando que o protocolo de petições e documentos, atendimento ao público, expedição de certidões possam ser feitos somente na comarca sede.
IV. Mediante prévia designação do Tribunal de Justiça, a prestação jurisdicional na comarca vinculada sempre ficará sob a responsabilidade de juiz titular de unidade instalada na sede, em sistema de rodízio semestral onde houver mais de uma.
Estão INCORRETAS apenas:
a) II, III e IV.
b) Todas.
c) I e II.
d) II.
e) IV.
Ver art. 12 do COJECE
08. Código de Organização Judiciária do Ceará dispõe que para realização de audiências e/ou quaisquer outros atos necessários à célere prestação jurisdicional:
a) O Órgão Especial do Tribunal de justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo, a cada 15 (quinze) dias.
b) O Tribunal de Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo, a cada 07 (sete) dias.
c) A Corregedoria-Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo, a cada 10 (dez) dias.
d) O Tribunal de Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo, a cada 10 (dez) dias.
e) A Corregedoria-Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo, a cada 15 (quinze) dias.
Ver art. 13 do COJECE
09. Nos termos Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará, Para a elevação de comarca entre entrâncias devem ser observados requisitos relativos à população, eleitorado e demanda.
No caso da entrância inicial para a intermediária, qual termo não condiz com o recomendado:
a) população mínima de 30.000 habitantes; eleitorado não inferior a 60% de sua população; e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.300 feitos; ou
b) população mínima de 40.000 habitantes; eleitorado não inferior a 30% de sua população; e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.100 feitos;
c) população mínima de 40.000 habitantes; eleitorado não inferior a 60% de sua população; e média anual de
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 41
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material
casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.200 feitos; ou
d) população mínima de 50.000 habitantes; eleitorado não inferior a 60% de sua população; e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.100 feitos;
d) Todas estão correta.
Ver Art. 17 COJECE
10. Segundo o Código de Divisão e Organização Judiciária do Ceará, são requisitos para a implantação de comarcas:
a) População mínima de 15.000 (quinze mil) habitantes e eleitorado não inferior a 50% (cinquenta por cento) de sua população.
c) População mínima de 20.000 (vinte mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população.
c) População mínima de 15.000 (quinze mil) habitantes e eleitorado não inferior a 40% (quarenta por cento) de sua população.
d) População mínima de 20.000 (vinte mil) habitantes e eleitorado não inferior a 50% (cinquenta por cento) de sua população.
e) População mínima de 15.000 (quinze mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população.
Ver art. 17 do COJECE
11. A apuração e divulgação oficial dos dados considerados à constituição de requisitos mínimos para implantação e instalação de comarcas em determinado município, conforme o COJECE, será:
a) Apenas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
b) Respectivamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
c) Respectivamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
d) Apenas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
e) Apenas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Ver art. 17, § 3º, do COJECE
12. O Código de Organização Judiciária do Ceará dispõe, dentre outros, como requisitos para implantação de comarcas:
a) Haver registrado média anual de casos novos, considerado o ano anterior ao da implantação, igual ou superior a 60% (sessenta por cento) daquela registrada, por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
b) Haver registrado média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da implantação, igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) daquela registrada, por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
c) Haver registrado média anual de casos novos, considerado o ano anterior ao da implantação, igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) daquela registrada, por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
e) Haver registrado média trimestral de casos novos, considerado o triênio anterior ao da implantação, igual
ou superior a 50% (cinquenta por cento) daquela registrada, por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
e) Haver registrado média semestral de casos novos, considerado o semestre anterior ao da implantação, igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) daquela registrada, por juiz, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
Ver art. 17, II, do COJECE
13. Para a elevação de comarca entre entrâncias devem ser observados, conforme dispõe o COJECE, dentre os requisitos os seguintes termos:
( ) da entrância inicial para a intermediária, população mínima de 40.000 (quarenta mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população assim como média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.200 (um mil e duzentos) feitos. Assinale a alternativa correta:
( ) da entrância inicial para a intermediária, população mínima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população assim como média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.100 (um mil e cem) feitos.
( ) da entrância inicial para a intermediária, população mínima de 30.000 (trinta mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população assim como média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 1.300 (um mil e trezentos) feitos.
( ) da entrância intermediária para a final, população mínima de 200.000 (duzentos mil) habitantes e eleitorado não inferior a 60% (sessenta por cento) de sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 8.000 (oito mil) feitos.
a) V, V, V, V.
b) V, V, F, V.
c) V, F, V, F.
d) V, V, F, F.
e) F, V, V, V
Ver art. 20 do COJECE
14. Com base no Código Organização Judiciária Ceará, analise as assertivas
I. São órgãos do Poder Judiciário o Tribunal de Justiça, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito e os Juízes de Direito Substitutos.
II. São órgãos do Poder Judiciário, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública; os Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Auditoria Militar bem como a Justiça de Paz.
III. Observado o sistema de relações entre os poderes estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual órgãos judiciários são sempre independentes em todos seus desempenhos.
Estão CORRETAS apenas:
a) I.
b) III.
42 ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
c) I e II.
d) Todas.
e) I e III.
Ver art. 21 do COJECE
15. Tendo em vista o que estatui o COJECE, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, compõe-se de 43 (quarenta e três) desembargadores.
b) Compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a iniciativa de lei que disponha sobre a organização judiciária estadual.
c) Ao Poder Judiciário do Estado do Ceará é assegurada autonomia administrativa e financeira.
d) É competência privativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará criar as unidades judiciárias.
e) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará elaborará o seu regimento interno, disciplinando a composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina dos seus serviços.
16. De acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Ceará, julgue os itens abaixo e, logo após, assinale a alternativa correta.
I – Nas comarcas vinculadas, existirão os distritos judiciários.
II – O território do Estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário estadual, divide-se em comarcas sedes e comarcas vinculadas.
III – As comarcas do interior do Estado serão agrupadas em zonas judiciárias.
IV – Em cada município haverá sede de comarca, dependendo a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos em portaria expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado.
a) Apenas os itens II e IV estão corretos.
b) Todos os itens estão corretos.
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
e) Nenhum está correto.
Ver art. 21 do COJECE
17. Nos termos o COJECE, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É competência do Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo, mediante projeto de lei, a criação e a extinção de cargos de juiz e de serviços auxiliares da justiça.
b) O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de ampliar o acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
c) O Tribunal de Justiça poderá alterar o número de seus membros
d Ao Tribunal de Justiça é atribuído o tratamento de “egrégio Tribunal”, e a seus membros o de “Excelência”, com o título de desembargadores, os quais conservarão, bem assim as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria.
e) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, o vice-governador e os deputados estaduais.
Ver art. 21, VII, do COJECE
18. Não faz parte de órgãos do Poder Judiciário do Estado do Ceará, segundo o COJECE
a) Justiça de Paz.
b) Juizados Especiais Cíveis, Criminais, Cíveis e Criminais, e da Fazenda Pública.
c) Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e da Fazenda Pública.
d) Auditoria Militar.
e) Tribunal de Justiça Militar.
Ver art. 21, VII, do COJECE
19. Analise as assertivas abaixo acerca da organização do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará – Lei nº 12.342/1994.
I. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital, jurisdição em todo o território do Estado e compõe-se de desembargadores, nomeados entre juízes de última entrância, observado o quinto constitucional.
II. Os Desembargadores não poderão ter residência na Capital do Estado.
III. Ao Tribunal de Justiça é atribuído o tratamento de “egrégio Tribunal” e a seus membros o de “Excelência”, com o título de desembargadores, os quais conservarão, bem assim as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria.
IV. O Tribunal de Justiça, pela maioria absoluta dos
membros efetivos, por votação secreta, elegerá, dentre os desembargadores, os titulares dos cargos de direção, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição
Estão corretos:
(A) I e IV.
(B) I, III e IV.
(C) III e IV.
(D) II e III.
(E) Somente o II.
Arts. 23 e 33 do COJECE
Gabarito: 01/A; 02/D; 03/E; 04/A; 05/B; 06/D; 07/A; 08/E;
09/A; 10/E; 11/C; 12/B; 13/A; 14/C;15/D; 16/D; 17/C; 18/E; 19/B; 20/E
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 1
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
LEGISLAÇÃO ESQUEMATIZADA Prof. Valdeci Cunha
Vanques de Melo
2019.7
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Lei nº 13.146/2015. .......................................................... 1
Questões de concursos .......................................... 20
Resolução CNJ nº 230/2016. ......................................... 21
Questões de concursos .......................................... 25
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), DESTINADA A ASSEGURAR E A PROMOVER, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
A Lei 13.146/2015 é um grande avanço no que diz
respeito aos Direitos de cerca de 45 milhões de pessoa
(incluindo este colunista).
O Brasil já havia recepcionado a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2009 e editado,
anteriormente, a lei n º 7.853/89, que tratava das pessoas com
deficiência, mas de uma forma limitada. O Estatuto veio para
suprimir e acabar com varias divergências, principalmente em se
tratando do que seria ou não, deficiência.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n
o 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o
procedimento previsto no § 3o do art. 5
o da Constituição
da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n
o 6.949, de 25 de agosto de
2009, data de início de sua vigência no plano interno.
A Convenção sobre o Direito das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi internalizado com o
rito especial (aprovação nas duas casas do Congresso Nacional,
em dois turnos com 3/5 dos votos) de modo que são equiparados
às emendas constitucionais.
=>levou à edição da Lei 13.146/2015;
=>influenciou na edição da Res. CNJ 230/2016
Art. 2o Considera-se PESSOA COM
DEFICIÊNCIA aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
A conceituação do que seja “pessoa com deficiência” é
um conceito que interfere na análise da capacidade civil dos
mesmos, e, portanto, na análise de sua aptidão para a prática de
atos da vida civil.
O conceito de acessibilidade se apresenta de duas
formas:
=>é todo e qualquer instrumento capaz de viabilizar a
inclusão da pessoa com deficiência em igualdade de condições
com as demais pessoas.
=>é um direito fundamental da pessoa com deficiência
A expressão “pode”, acima grifada, demonstra
claramente que a deficiência em si não é obstáculo à capacidade
civil, mas pode, em determinados casos, limitá-la. É isso, aliás,
o que diz expressamente o art. 6º do referido Estatuto.
Nesse sentido, uma das principais vertentes da nova
legislação é a obrigatoriedade de se buscar adaptações e recursos
de tecnologia assistiva que permitam à pessoa com deficiência
participar efetivamente de todo e qualquer ato da vida civil,
inclusive votar e ser votado.
A deficiência caracteriza-se a partir de dois
elementos:
1) limitação de longo prazo (física, mental, intelectual ou
sensorial); e
2) barreiras:
Barreiras Urbanísticas: vias e espaços (públicos e
privados abertos ao público ou de uso coletivo)
Barreiras Arquitetônicas: edifícios públicos e privados.
§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária,
será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
O exame médico-pericial componente da avaliação
biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1º do art. 2º da
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), no âmbito federal, para fins previdenciários,
assistenciais e tributários, observada a vigência estabelecida no
parágrafo único do art. 39 da Lei resultante da Medida
Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019; (Art. 28, § 3º, da
Lei 11.970/2009)
§ 2o O Poder Executivo criará instrumentos para
avaliação da deficiência.
DICA DA PROVA:
Fique atento aos conceitos previsto no art. 3º.
Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei,
consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
2 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
A pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem
dificuldade de movimentação (permanente ou temporária).
Inclui:
-idoso
-gestante
-lactante
-pessoa com criança de colo
-obeso
II - desenho universal: concepção de produtos,
ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica:
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude
ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos
sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou
comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos
que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - adaptações razoáveis: adaptações,
modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;
VII - elemento de urbanização: quaisquer
componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos
existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela
que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
X - residências inclusivas: unidades de oferta do
Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas
adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não
da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que
exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a
pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
Fique atento à diferença entre acompanhante
e atendente pessoal:
acompanhante: “quem está com a pessoa com
deficiência”.
atendente pessoal: presta auxílio (temporária ou
permanente) (remunerada ou não) (não pode ser aquele que
exerce profissão regulamentada)
CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 3
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à
igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
Ao tratar da igualdade, o legislador positivou aquela
célere frase de Aristóteles “devemos tratar igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.”
Também conhecida como “igualdade material”, ou
“discriminação positiva”.
§ 1o Considera-se discriminação em razão da
deficiência toda forma de distinção, restrição ou
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2o A pessoa com deficiência não está obrigada à
fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
Art. 5o A pessoa com deficiência será protegida de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade
civil da pessoa, inclusive para:
A pessoa com deficiência é plenamente capaz para
prática de atos civis:
=>limitação é medida excepcional, por intermédio da
curatela.
=>tomada de decisão apoiada não limita a capacidade.
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Este artigo está gerando bastante controvérsia
doutrinária, pois colocou TODOS os deficientes como
civilmente capazes, quer dizer que os artigos 3º, I, II e II: 4º, II e
III, CC foram revogados. A Doutrina ainda não se posicionou
totalmente a respeito sobre este tema, apenas em alguns artigos,
como o de Flavio Tartuce.
Em suma, no plano familiar há uma expressa inclusão
plena das pessoas com deficiência. Eventualmente, e em casos
excepcionais, tais pessoas podem ser tidas como relativamente
incapazes em algum enquadramento do novo art. 4º do Código
Civil. Cite-se, a título de exemplo, a situação de um deficiente
que seja viciado em tóxicos, podendo ser tido como incapaz
como qualquer outro sujeito. Esse último dispositivo também foi
modificado de forma considerável pelo Estatuto da Pessoa com
Deficiência. O seu inciso II não faz mais referência às pessoas
com discernimento reduzido, que não são mais consideradas
relativamente incapazes, como antes estava regulamentado.
Apenas foram mantidas no diploma as menções aos ébrios
habituais (entendidos como os alcoólatras) e aos viciados em
tóxicos, que continuam dependendo de um processo de
interdição relativa, com sentença judicial, para que sua
incapacidade seja reconhecida.
Além, é claro, que os incisos III e IV do artigo 1557/CC
sofreram mudanças, eliminando as barreiras do defeito físico
irremediável e da doença mental grave.
Art. 7o É dever de todos comunicar à autoridade
competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da
família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
A CF estabelece preferência para recebimento de
créditos alimentares pela pessoa com deficiência limitado a 3 X
RPV (art. 100, §2º).
Seção Única
Do Atendimento Prioritário
Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a
receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.
As regras de atendimento prioritário (art. 9º do EPD)
aplica-se ao acompanhante e ao atendente pessoal, com exceção:
=>prioridade no recebimento da restituição do IR.
=>prioridade de tramitação processual (administrativo e
judicial) para todos os atos e diligências)
§ 1o Os direitos previstos neste artigo são
extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.
4 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 2o Nos serviços de emergência públicos e
privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DO DIREITO À VIDA
Art. 10. Compete ao poder público garantir a
dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.
Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.
Segunda a Lei 13.1146/2015, as intervenções cirúrgicas,
tratamento ou institucionalização forçados são vedados.
Necessário o consentimento (prévio, livre e esclarecido), exceto
em caso de risco de morte e de emergência.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.
Sobre a curatela fique atento:
-limita a capacidade da pessoa com deficiência para
prática de atos patrimoniais e negociais.
-características: protetiva, extraordinário e proporcional
às necessidades e circunstâncias do caso concreto.
-não abrange direitos de personalidade (sexualidade,
matrimônio, educação, saúde).
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido
da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.
§ 1o Em caso de pessoa com deficiência em
situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.
§ 2o A pesquisa científica envolvendo pessoa com
deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados.
Art. 13. A pessoa com deficiência somente será
atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.
CAPÍTULO II
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO
Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação
é um direito da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.
Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta
Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes:
I - diagnóstico e intervenção precoces;
II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;
III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;
V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e
de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:
I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;
II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços.
Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão
promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e
orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua cidadania.
CAPÍTULO III
DO DIREITO À SAÚDE
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da
pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.
§ 1o É assegurada a participação da pessoa com
deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas.
§ 2o É assegurado atendimento segundo normas
éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
§ 3o Aos profissionais que prestam assistência à
pessoa com deficiência, especialmente em serviços de
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 5
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.
§ 4o As ações e os serviços de saúde pública
destinados à pessoa com deficiência devem assegurar:
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;
IV - campanhas de vacinação;
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência;
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde;
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais;
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.
§ 5o As diretrizes deste artigo aplicam-se também
às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção.
Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações
destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de:
I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro;
II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança;
III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;
IV - identificação e controle da gestante de alto risco.
Art. 20. As operadoras de planos e seguros
privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.
Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à
saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.
Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em
observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.
§ 1o Na impossibilidade de permanência do
acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.
§ 2o Na ocorrência da impossibilidade prevista no §
1o deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve
adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.
Art. 23. São vedadas todas as formas de
discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.
Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o
acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3
o desta Lei.
Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto
públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.
Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação
de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com
deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar,
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de
6 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.
§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e
modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo
vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.
Inovação importante diz respeito à Educação das
pessoas com deficiência. Constantemente é visto na mídia
escolas particulares negarem matrículas de pessoas com
deficiências, sob o fundamento de que a obrigatoriedade da
inclusão escolar dessas pessoas atinge apenas as escolas
públicas. A Lei acaba de vez com essa dúvida afirmando
peremptoriamente no paragrafo 1º do artigo 28 que as
disposições do referido artigo aplicam-se também às instituições
privadas de ensino.
§ 2o Na disponibilização de tradutores e intérpretes
da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste
artigo, deve-se observar o seguinte:
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.
Art. 29. (VETADO).
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e
permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
CAPÍTULO V
DO DIREITO À MORADIA
Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à
moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.
§ 1o O poder público adotará programas e ações
estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.
§ 2o A proteção integral na modalidade de
residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 7
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou
subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:
I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das
unidades habitacionais para pessoa com deficiência;
DICA DA PROVA:
Este inciso trata da cota mínima das unidades
habitacionais nos programas habitacionais.
A lei ainda prevê outras cotas mínimas para pessoas com
deficiência, tais como 2% (dois por cento) das vagas em
estacionamentos (artigo 46, parágrafo 1º); 10% dos carros das
frotas de táxi (artigo 51); as locadoras de veículos são obrigadas
a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa com
deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota
(art. 52); 10% dos computadores de lan houses deverão ter
recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual
(artigo 63, §3º)”.
II - (VETADO);
III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos;
IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;
V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores.
§ 1o O direito à prioridade, previsto no caput deste
artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.
§ 2o Nos programas habitacionais públicos, os
critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.
§ 3o Caso não haja pessoa com deficiência
interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as
unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas.
Art. 33. Ao poder público compete:
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e
II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.
CAPÍTULO VI
DO DIREITO AO TRABALHO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao
trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
§ 1o As pessoas jurídicas de direito público, privado
ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
§ 2o A pessoa com deficiência tem direito, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3o É vedada restrição ao trabalho da pessoa com
deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.
§ 4o A pessoa com deficiência tem direito à
participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.
§ 5o É garantida aos trabalhadores com deficiência
acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.
Art. 35. É finalidade primordial das políticas
públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.
Seção II
Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional
Art. 36. O poder público deve implementar serviços
e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse.
§ 1o Equipe multidisciplinar indicará, com base em
critérios previstos no § 1o do art. 2
o desta Lei, programa
de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho.
§ 2o A habilitação profissional corresponde ao
processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho.
§ 3o Os serviços de habilitação profissional, de
reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir.
§ 4o Os serviços de habilitação profissional, de
reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.
§ 5o A habilitação profissional e a reabilitação
profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador.
§ 6o A habilitação profissional pode ocorrer em
empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e
8 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento.
§ 7o A habilitação profissional e a reabilitação
profissional atenderão à pessoa com deficiência.
Seção III
Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho
Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com
deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho;
II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;
IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;
V - realização de avaliações periódicas;
VI - articulação intersetorial das políticas públicas;
VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.
Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes.
CAPÍTULO VII
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e
os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social.
§ 1o A assistência social à pessoa com deficiência,
nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto
articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.
§ 2o Os serviços socioassistenciais destinados à
pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais.
Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência
que não possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei n
o8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar n
o 142,
de 8 de maio de 2013.
A CF permite a criação de requisitos e critérios
diferenciados de aposentadoria para pessoa com deficiência (art.
40, §4º, I c/c art. 201, §1º).
CAPÍTULO IX
DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER
Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à
cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:
I - a bens culturais em formato acessível;
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.
§ 1o É vedada a recusa de oferta de obra intelectual
em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.
§ 2o O poder público deve adotar soluções
destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 43. O poder público deve promover a
participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo:
I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e
III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento.
§ 1o Os espaços e assentos a que se refere este
artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade.
§ 2o No caso de não haver comprovada procura
pelos assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 9
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento.
§ 3o Os espaços e assentos a que se refere este
artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário.
§ 4o Nos locais referidos no caput deste artigo,
deve haver, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.
§ 5o Todos os espaços das edificações previstas
no caput deste artigo devem atender às normas de
acessibilidade em vigor.
§ 6o As salas de cinema devem oferecer, em todas
as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência.
§ 7o O valor do ingresso da pessoa com deficiência
não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas.
Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser
construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor.
§ 1o Os estabelecimentos já existentes deverão
disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível.
§ 2o Os dormitórios mencionados no § 1
o deste
artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis.
CAPÍTULO X
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE
Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.
§ 1o Para fins de acessibilidade aos serviços de
transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.
§ 2o São sujeitas ao cumprimento das disposições
desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo.
§ 3o Para colocação do símbolo internacional de
acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.
Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento
aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.
De acordo com a Lei 13.146/2015 sobre o direito ao
transporte e mobilidade:
-vaga de estacionamento preferencial: 2% ou, pelo
menos, 1 (bem localizado, sinalizado e próximo do acesso). -10% dos táxis devem ser acessível (veda cobrança
diferenciada).
-1 a cada 20 veículos de aluguel devem ser adaptados.
§ 1o As vagas a que se refere o caput deste artigo
devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.
§ 2o Os veículos estacionados nas vagas
reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso.
§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)
§ 4o A credencial a que se refere o § 2
o deste artigo
é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional.
Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre,
aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.
§ 1o Os veículos e as estruturas de que trata
o caput deste artigo devem dispor de sistema de
comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário.
§ 2o São asseguradas à pessoa com deficiência
prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.
§ 3o Para colocação do símbolo internacional de
acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.
Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e
de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei.
Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans,
de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.
Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem
reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.
Regulamentado pelo Decreto Nº 9.762, de 11 de abril
de 2019.
§ 1o É proibida a cobrança diferenciada de tarifas
ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.
§ 2o O poder público é autorizado a instituir
incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo.
Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a
oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.
10 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem.
Regulamentado pelo Decreto Nº 9.762, de 11 de abril
de 2019.
TÍTULO III
DA ACESSIBILIDADE
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das
disposições desta Lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada:
I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva;
II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;
III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere; e
IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados.
Art. 55. A concepção e a implantação de projetos
que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade.
§ 1o O desenho universal será sempre tomado
como regra de caráter geral.
§ 2o Nas hipóteses em que comprovadamente o
desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.
§ 3o Caberá ao poder público promover a inclusão
de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado.
§ 4o Os programas, os projetos e as linhas de
pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal.
§ 5o Desde a etapa de concepção, as políticas
públicas deverão considerar a adoção do desenho universal.
Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a
mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
§ 1o As entidades de fiscalização profissional das
atividades de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao
anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes.
§ 2o Para a aprovação, o licenciamento ou a
emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade.
§ 3o O poder público, após certificar a
acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas.
Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso
coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.
Art. 58. O projeto e a construção de edificação de
uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar.
§ 1o As construtoras e incorporadoras responsáveis
pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual
mínimo de suas unidades internamente acessíveis, na forma regulamentar.
§ 2o É vedada a cobrança de valores adicionais
para a aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o § 1
o deste artigo.
Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos
espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.
Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras
de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei n
o 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, no 10.257, de 10 de julho de 2001,
e no 12.587, de 3 de janeiro de 2012:
I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;
II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário;
III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;
IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e
V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.
§ 1o A concessão e a renovação de alvará de
funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade.
§ 2o A emissão de carta de habite-se ou de
habilitação equivalente e sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade.
Art. 61. A formulação, a implementação e a
manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 11
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações; e
II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.
Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência,
mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.
CAPÍTULO II
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da
internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.
§ 1o Os sítios devem conter símbolo de
acessibilidade em destaque.
§ 2o Telecentros comunitários que receberem
recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e
instalações acessíveis.
§ 3o Os telecentros e as lan houses de que trata o
§ 2o deste artigo devem garantir, no mínimo, 10% (dez por
cento) de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um).
Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de
que trata o art. 63 desta Lei deve ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei.
Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.
Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta
de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis.
Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e
imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:
I - subtitulação por meio de legenda oculta;
II - janela com intérprete da Libras;
III - audiodescrição.
Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos
de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação.
§ 1o Nos editais de compras de livros, inclusive
para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis.
§ 2o Consideram-se formatos acessíveis os
arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras
tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille.
§ 3o O poder público deve estimular e apoiar a
adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras.
Art. 69. O poder público deve assegurar a
disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei n
o 8.078, de 11 de setembro de 1990.
§ 1o Os canais de comercialização virtual e os
anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36 a 38 da Lei n
o 8.078, de 11 de setembro de 1990.
§ 2o Os fornecedores devem disponibilizar,
mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.
Art. 70. As instituições promotoras de congressos,
seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta Lei.
Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas
e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva.
Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os
projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva.
Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou
em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem.
CAPÍTULO III
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA
Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência
acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.
Art. 75. O poder público desenvolverá plano
específico de medidas, a ser renovado em cada período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de:
I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva;
II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários;
12 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;
IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva;
V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais.
Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 (dois) anos.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA
Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a
oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas.
A Lei 13.146/2015 disciplina o direito à participação na
vida política:
-assegura-se a capacidade eleitoral ativa e passiva.
-incentivo ao alistamento, voto e registro de
candidaturas.
-dever da JE criar mecanismos de acessibilidade para
viabilizar a participação política.
§ 1o À pessoa com deficiência será assegurado o
direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha.
§ 2o O poder público promoverá a participação da
pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades, observado o seguinte:
I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do País e em atividades e administração de partidos políticos;
II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis;
III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem.
TÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Art. 77. O poder público deve fomentar o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social.
§ 1o O fomento pelo poder público deve priorizar a
geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social.
§ 2o A acessibilidade e as tecnologias assistiva e
social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento.
§ 3o Deve ser fomentada a capacitação tecnológica
de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência.
§ 4o As medidas previstas neste artigo devem ser
reavaliadas periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento.
Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o
desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais.
Parágrafo único. Serão estimulados, em especial:
I - o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência;
II - a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico.
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DO ACESSO À JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso
da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva.
§ 1o A fim de garantir a atuação da pessoa com
deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência.
§ 2o Devem ser assegurados à pessoa com
deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade.
§ 3o A Defensoria Pública e o Ministério Público
tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei.
Art. 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de
tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 13
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público.
Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia.
Art. 81. Os direitos da pessoa com deficiência
serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais.
Art. 82. (VETADO).
Art. 83. Os serviços notariais e de registro não
podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de
deficiência.
Além das questões atinentes à acessibilidade, de há
muito já presentes na vida dos notários e registradores, também
terão esses profissionais que colocarem à disposição das pessoas
com deficiência tecnologia assistiva para que os mesmos
possam praticar quaisquer atos da vida civil sem discriminação
ou exposição vexatória. Se um deficiente visual deseja lavrar
uma escritura pública, por exemplo, deve-se dar a ele a
oportunidade de acessar, por leitura em braile ou arquivo
sonoro, a própria escritura e a tabela de emolumentos, se assim
desejar. O que não se pode é negar a prática de ato notarial ou
registral pela simples limitação funcional ou até mental da
pessoa que procura tais serviços.
Nesses casos, ao que nos parece, deverá apenas o
Tabelião ou Registrador questionar se há curadores (nomeados
em processo de interdição) para representar ou apoiadores
(designados em processo de tomada de decisão apoiada, de
acordo com o novo art. 1.783-A do Código Civil) para assistir as
pessoas com deficiência no ato a ser praticado.
Não havendo interdição ou apoiadores nomeados, toda
pessoa com deficiência deverá ser tratada e considerada
plenamente capaz para a lavratura de qualquer escritura pública,
para a abertura de fichas padrão de reconhecimento de firma ou
para qualquer ato registral que pretenda.
CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado
o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência
será submetida à curatela, conforme a lei.
§ 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção
de processo de tomada de decisão apoiada.
§ 3o A definição de curatela de pessoa com
deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
§ 4o Os curadores são obrigados a prestar,
anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.
Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1o A definição da curatela não alcança o direito
ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
§ 2o A curatela constitui medida extraordinária,
devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
§ 3o No caso de pessoa em situação de
institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado.
Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não
será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência.
Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim
de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil.
TÍTULO II
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de
pessoa em razão de sua deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1o Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a
vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.
§ 2o Se qualquer dos crimes previstos
no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios
de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ 3o Na hipótese do § 2
o deste artigo, o juiz poderá
determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:
I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório;
II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet.
§ 4o Na hipótese do § 2
o deste artigo, constitui
efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.
Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens,
proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido:
I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou
II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.
Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em
hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.
Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético,
qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de
14 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos.
§ 1o O Cadastro-Inclusão será administrado pelo
Poder Executivo federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos.
§ 2o Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão
serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no País, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.
§ 3o Para coleta, transmissão e sistematização de
dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica.
§ 4o Para assegurar a confidencialidade, a
privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei.
§ 5o Os dados do Cadastro-Inclusão somente
poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:
I - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos;
II - realização de estudos e pesquisas.
§ 6o As informações a que se refere este artigo
devem ser disseminadas em formatos acessíveis.
Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias
pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes.
Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos
termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que:
I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n
o 8.742, de 7 de dezembro de
1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;
II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n
o 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça
atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS.
DICA DA PROVA:
A partir da vigência da Lei 13.146/2015 a pessoa com
deficiência que for admitida em trabalho remunerado terá
suspenso o benefício de prestação continuada, mas passará a
receber o auxílio-inclusão.
Nesse sentido, assevera o artigo 94, in verbis “terá direito
a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência
moderada ou grave que: receba o benefício de prestação
continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada
que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS; tenha
recebido, nos últimos 05 (cinco) anos, o benefício de prestação
continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a
enquadre como segurado obrigatório do RGPS.
Art. 95. É vedado exigir o comparecimento de
pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos:
I - quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência;
II - quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade.
Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do Suas, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido.
Art. 96. O § 6o-A do art. 135 da Lei n
o 4.737, de 15
de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com a seguinte redação:
―Art. 135. ..................
....................
§ 6o-A. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada
eleição, expedir instruções aos Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso.
................‖ (NR)
Art. 97. A Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1
o de maio
de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 428. ..................................................................
.......................
§ 6o Para os fins do contrato de aprendizagem, a
comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização.
.......................
§ 8o Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito)
anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.‖ (NR)
―Art. 433. ................
.......................
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 15
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, SALVO para o aprendiz com deficiência quando
desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades;
..............‖ (NR)
Art. 98. A Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 3o As medidas judiciais destinadas à proteção de
interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência.
.............‖ (NR)
―Art. 8o Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a
5 (cinco) anos e multa:
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência;
II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência;
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência;
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência;
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados.
§ 1o Se o crime for praticado contra pessoa com
deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço).
§ 2o A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos
para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados.
§ 3o Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta
o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados.
§ 4o Se o crime for praticado em atendimento de urgência
e emergência, a pena é agravada em 1/3 (um terço).‖ (NR)
Art. 99. O art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:
―Art. 20. ..
..........................
XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social.
..............‖ (NR)
Art. 100. A Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 6o ...
........................
Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com
deficiência, observado o disposto em regulamento.‖ (NR)
―Art. 43. ..
........................
§ 6o Todas as informações de que trata o caput deste
artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.‖ (NR)
Art. 101. A Lei no 8. São absolutamente
incapazes, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
―Art. 16. ..
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
........................
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
.............‖ (NR)
―Art. 77. .
........................
§ 2o ..........
........................
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
...............
§ 4o (VETADO).
...............‖ (NR)
―Art. 93. (VETADO):
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - (VETADO);
V - (VETADO).
§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de
beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social.
§ 2o Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe
estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados.
§ 3o Para a reserva de cargos será considerada somente
a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação
16 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n
o 5.452, de 1
o de maio de 1943.
§ 4o (VETADO).‖ (NR)
―Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.‖
Art. 102. O art. 2o da Lei n
o 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3
o:
―Art. 2o .....
.........................
§ 3o Os incentivos criados por esta Lei somente serão
concedidos a projetos culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.‖ (NR)
Art. 103. O art. 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
―Art. 11. .
........................
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.‖ (NR)
Art. 104. A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 3o .
......................
§ 2o .......
......................
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
.......................
§ 5o Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida
margem de preferência para:
I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras; e
II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
...............‖ (NR)
―Art. 66-A. As empresas enquadradas no inciso V do § 2
o e no inciso II do § 5
o do art. 3
o desta Lei deverão
cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.
Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.‖
Art. 105. O art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 20. ..
.........................
§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação
continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
........................
§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio
supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3
o deste artigo.
.........................
§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros
elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.‖ (NR)
Art. 106. (VETADO).
Art. 107. A Lei no 9.029, de 13 de abril de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 1o É proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7
o da Constituição Federal.‖ (NR)
―Art. 3o Sem prejuízo do prescrito no art. 2
o desta Lei e
nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:
..............‖ (NR)
―Art. 4o ....
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais;
................‖ (NR)
Art. 108. O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5
o:
―Art. 35. ..
.........................
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo
único do art. 3o da Lei n
o 10.741, de 1
o de outubro de
2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do art. 4
o e na alínea ―c‖ do
inciso II do art. 8o.‖ (NR)
Art. 109. A Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 2o ...............
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.‖ (NR)
―Art. 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso XVII do art. 181 desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido.‖
―Art. 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 17
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação.
§ 1o O material didático audiovisual utilizado em aulas
teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras.
§ 2o É assegurado também ao candidato com deficiência
auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas.‖
―Art. 154. (VETADO).‖
―Art. 181. ..........
......................
XVII - .....
Infração - grave;
.............‖ (NR)
Art. 110. O inciso VI e o § 1o do art. 56 da Lei
no 9.615, de 24 de março de 1998, passam a vigorar com
a seguinte redação:
―Art. 56.
.......................
VI - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios;
.........................
§ 1o Do total de recursos financeiros resultantes do
percentual de que trata o inciso VI do caput, 62,96%
(sessenta e dois inteiros e noventa e seis centésimos por cento) serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% (trinta e sete inteiros e quatro centésimos por cento) ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União.
..............‖ (NR)
Art. 111. O art. 1o da Lei n
o 10.048, de 8 de
novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
―Art. 1o As pessoas com deficiência, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.‖ (NR)
Art. 112. A Lei no 10.098, de 19 de dezembro de
2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 2o ...
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
V - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal;
VI - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;
VII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
VIII - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
IX - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
X - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.‖ (NR)
―Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso
18 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação.‖ (NR)
―Art. 9o ....
Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre.‖ (NR)
―Art. 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes.‖
―Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.‖
Art. 113. A Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 3o ..
........................
III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;
IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público;
.............‖ (NR)
―Art. 41.
.......................
§ 3o As cidades de que trata o caput deste artigo devem
elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros.‖ (NR)
Art. 114. A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
I - (Revogado);
II - (Revogado);
III - (Revogado).‖ (NR)
―Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer:
.................
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
.........................
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.‖ (NR)
―Art. 228. .
.........................
II - (Revogado);
III - (Revogado);
.........................
§ 1o ..........
§ 2o A pessoa com deficiência poderá testemunhar em
igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.‖ (NR)
―Art. 1.518. Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a autorização.‖ (NR)
―Art. 1.548. .................
I - (Revogado);
................‖ (NR)
―Art. 1.550. .............
.........................
§ 1o ..........
§ 2o A pessoa com deficiência mental ou intelectual em
idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador.‖ (NR)
―Art. 1.557. .................
........................
III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência;
IV - (Revogado).‖ (NR)
―Art. 1.767. .................
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
II - (Revogado);
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
IV - (Revogado);
................‖ (NR)
―Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido:
.........................
IV - pela própria pessoa.‖ (NR)
―Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela:
I - nos casos de deficiência mental ou intelectual;
........................
III - se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso II.‖ (NR)
―Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando.‖ (NR)
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 19
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
―Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador.
Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa.‖ (NR)
―Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.‖
―Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio.‖ (NR)
Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Especial
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
passa a vigorar com a seguinte redação:
―TÍTULO IV
Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada”
Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III:
―CAPÍTULO III
Da Tomada de Decisão Apoiada
Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas id neas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informaç es necessários para que possa exercer sua capacidade.
§ 1o Para formular pedido de tomada de decisão apoiada,
a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar.
§ 2o O pedido de tomada de decisão apoiada será
requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo.
§ 3o Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de
decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.
§ 4o A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e
efeitos sobre terceiros, sem restriç es, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.
§ 5o Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha
relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado.
§ 6o Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco
ou prejuízo relevante, havendo divergência de opini es entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão.
§ 7o e o apoiador agir com negligência, e ercer pressão
indevida ou não adimplir as obrigaç es assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz.
§ 8o Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador
e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio.
§ 9o A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o
término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada.
10. O apoiador pode solicitar ao juiz a e clusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado manifestação do juiz sobre a matéria.
11. Aplicam-se tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposiç es referentes prestação de contas na curatela.‖
Art. 117. O art. 1o da Lei n
o 11.126, de 27 de junho
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
―Art. 1o assegurado pessoa com deficiência visual
acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta Lei.
.........................
§ 2o O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as
modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional com origem no território brasileiro.‖ (NR)
Art. 118. O inciso IV do art. 46 da Lei no 11.904, de
14 de janeiro de 2009, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea ―k‖:
―Art. 46. ..
.......................
IV - ..........
.......................
k) de acessibilidade a todas as pessoas.
.............‖ (NR)
Art. 119. A Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-B:
―Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por cento) das vagas para condutores com deficiência.
§ 1o Para concorrer às vagas reservadas na forma
do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá
observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado:
I - ser de sua propriedade e por ele conduzido; e
II - estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.
§ 2o No caso de não preenchimento das vagas na forma
estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes
devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes.‖
Art. 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada
esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das Leis n
o 10.048, de 8 de
novembro de 2000, e no 10.098, de 19 de dezembro de
2000, bem como o seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis.
Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo
de 1 (um) ano a contar da entrada em vigor desta Lei.
Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações
previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e
20 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.
Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.
Art. 122. Regulamento disporá sobre a adequação
do disposto nesta Lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no § 3
o do art. 1
o da Lei Complementar n
o 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Art. 123. Revogam-se os seguintes dispositivos: (Vigência)
I - o inciso II do § 2o do art. 1
o da Lei n
o 9.008, de
21 de março de 1995;
II - os incisos I, II e III do art. 3o da Lei n
o 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
III - os incisos II e III do art. 228 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV - o inciso I do art. 1.548 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil);
V - o inciso IV do art. 1.557 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil);
VI - os incisos II e IV do art. 1.767 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
VII - os arts. 1.776 e 1.780 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 124. O § 1o do art. 2
o desta Lei deverá entrar
em vigor em até 2 (dois) anos, contados da entrada em vigor desta Lei.
Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir
discriminados, a partir da entrada em vigor desta Lei, para o cumprimento dos seguintes dispositivos:
I - incisos I e II do § 2o do art. 28, 48 (quarenta e
oito) meses;
II - § 6o do art. 44, 48 (quarenta e oito) meses;
III - art. 45, 24 (vinte e quatro) meses;
IV - art. 49, 48 (quarenta e oito) meses.
Art. 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021
a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 6 de julho de 2015; 194o da Independência
e 127o da República.
DILMA ROUSSEF Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.7.2015
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (TRE PE - Analista Judiciário - Área Administrativa – CESPE/2017) Considerando o disposto na Lei n.º
13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) —, assinale a opção correta.
A.É assegurado à pessoa com deficiência o direito de votar e de ser votada, salvo na hipótese de curatela.
B.O EPD revogou a Lei n.º 7.853/1989, que dispunha sobre o apoio às pessoas com deficiência.
C.A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, salvo a condição de adotante em processo de adoção.
D.Os planos e seguros privados de saúde podem cobrar valores diferenciados das pessoas com deficiência em razão da sua deficiência.
E.Com a edição do EPD a incapacidade absoluta prevista no Código Civil restringe-se aos menores de dezesseis anos de idade.
02. (TJSP/SP - Cargo: Escrevente Técnico Judiciário –
VUNESP/2017) Nos termos da Lei Federal no 13.146/2015, a pessoa com deficiência
A.poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada, mediante prévia avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
B.em situação de curatela, não terá participação na obtenção de consentimento para a prática dos atos da vida civil, pois, em tal circunstância, não possui qualquer capacidade civil.
C.está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, a fim de que sejam construídos ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
D.somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.
E.e seu acompanhante ou atendente pessoal têm direito à prioridade na tramitação processual e nos procedimentos judiciais em que forem partes ou interessados.
03. (TJSP/SP - Assistente Social Judiciário -
VUNESP/2017) De acordo com a Lei no 13.146/2015 e Resolução no 230/2016, do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais e os serviços auxiliares do Poder Judiciário devem promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas respectivas carreiras e dependências e o efetivo gozo dos serviços que prestam. Com essa finalidade,
A.servidor com horário especial, em função de ter cônjuge, filho ou dependente com deficiência, ainda que possa acumular banco de horas como os demais servidores, não poderá exercer cargo em comissão, em função de sua onerosidade.
B.se o órgão, por sua liberalidade, determinar a diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, esse benefício não é extensivo ao servidor beneficiário de horário especial.
C.como forma protetiva, deve ser imposta à pessoa com deficiência a fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, sob pena de responsabilidade por omissão.
D.como medida protetiva e em razão dos elevados custos para a promoção da acessibilidade do servidor em seu local de trabalho, a Administração poderá impor ao servidor com mobilidade comprometida o uso do sistema ―home office‖.
E.constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, devendo ser fornecidos recursos de tecnologia assistiva.
04. (TJSP/SP - Assistente Social Judiciário -
VUNESP/2017) De acordo com a Lei no 13.146/2015, toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidades com as demais pessoas e será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Conforme o artigo 5o (parágrafo único) da referida lei, para fins dessa proteção, são consideradas especialmente
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 21
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
vulneráveis as seguintes pessoas com deficiência: a criança, o adolescente, o idoso e
A.aqueles em situação de rua.
B.suas famílias.
C.os excluídos do mercado de trabalho.
D.a população quilombola.
E.a mulher.
Gabarito: 01/E; 02/D; 03/E; 04/E
RESOLUÇÃO CNJ Nº 230/2016.
....
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ no
Procedimento de Comissão 006029-71.2015.2.00.0000, na 232ª Sessão Ordinária, realizada em 31 de maio de 2016;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução orienta a adequação das
atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares em relação às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (promulgada por meio do Decreto nº 6.949/2009) e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
Parágrafo único. Para tanto, entre outras medidas, convola-se, em resolução, a Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, bem como institui-se as Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Resolução,
consideram-se:
I – ―discriminação por motivo de deficiência‖ significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, por ação ou omissão, baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas;
II – ―acessibilidade‖ significa possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
III – ―barreiras‖ significa qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
a) ―barreiras urbanísticas‖: as e istentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) ―barreiras arquitet nicas‖: as e istentes nos edifícios públicos e privados;
c) ―barreiras nos transportes‖: as e istentes nos sistemas e meios de transportes;
d) ―barreiras nas comunicaç es e na informação‖: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
e) ―barreiras atitudinais‖: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; e
f) ―barreiras tecnológicas‖: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.
IV – ―adaptação razoável‖ significa as modificaç es e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
V – ―desenho universal‖ significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O ―desenho universal‖ não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias;
VI – ―tecnologia assistiva‖ (ou ―ajuda técnica‖) significa produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
VII – ―comunicação‖ significa forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VIII – ―atendente pessoal‖ significa pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; e
IX – ―acompanhante‖ significa aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES RELACIONADAS A TODAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Seção I
Da Igualdade e suas Implicações
Subseção I
Da Igualdade e da Inclusão
Art. 3º A fim de promover a igualdade, adotar-se-
ão, com urgência, medidas apropriadas para eliminar e
22 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
prevenir quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas, devendo-se garantir às pessoas com deficiência – servidores, serventuários extrajudiciais, terceirizados ou não – quantas adaptações razoáveis ou mesmo tecnologias assistivas sejam necessárias para assegurar acessibilidade plena, coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência.
Subseção II
Da Acessibilidade com Segurança e Autonomia
Art. 4º Para promover a acessibilidade dos
usuários do Poder Judiciário e dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, a qual não ocorre sem segurança ou sem autonomia, dever-se-á, entre outras atividades, promover:
I – atendimento ao público – pessoal, por telefone ou por qualquer meio eletrônico – que seja adequado a esses usuários, inclusive aceitando e facilitando, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência;
II – adaptações arquitetônicas que permitam a livre e autonomia movimentação desses usuários, tais como rampas, elevadores e vagas de estacionamento próximas aos locais de atendimento; e
III – acesso facilitado para a circulação de transporte publico nos locais mais próximos possíveis aos postos de atendimento.
§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder publico deve capacitar os membros, os servidores e terceirizados que atuam no Poder Judiciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência.
§ 2º Cada órgão do Poder Judiciário deverà dispor de, pelo menos, cinco por cento de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação da Libras.
§ 3º As edificações públicas já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.
§ 4º A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
§ 5º A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão as seguintes premissas básicas:
I – eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações; e
II – planejamento continuo e articulado entre os setores envolvidos.
§ 6º Para atender aos usuários externos que tenham deficiência, dever-se-á reservar, nas áreas de estacionamento abertas ao publico, vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados, em percentual equivalente a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga.
§ 7º Mesmo se todas as vagas disponíveis estiverem ocupadas, a Administração deverá agir com o máximo de empenho para, na medida do possível ,
facilitar o acesso do usuário com deficiência as suas dependências, ainda que, para tanto, seja necessário dar acesso a vaga destinada ao publico interno do órgão.
Art. 5º É proibido ao Poder Judiciário e seus
serviços auxiliares impor ao usuário com deficiência custo anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso a serviço publico oferecido.
Art. 6º Todos os procedimentos licitatórios do
Poder Judiciário deverão se ater para produtos acessíveis as pessoas com deficiência, sejam servidores ou não.
§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.
§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.
Art. 7º Os órgãos do Poder Judiciário deverão,
com urgência, proporcionar aos seus usuários processo eletrônico adequado e acessível a todos os tipos de deficiência, inclusive as pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou da fala.
Auditiva – Perda bilateral, parcial ou total, de 41
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências
de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
Visual – Cegueira na qual a acuidade visual é igual ou
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o
somatório da medida do campo visual, em ambos os olhos, for
igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores.
§ 1º Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da açào ou atue como testemunha, participe da lide posta em juízo, advogado,
defensor publico, magistrado ou membro do Ministério Publico.
§ 2º A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia.
Art. 8º Os serviços notariais e de registro não
podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de
deficiência.
Art. 9º Os Tribunais relacionados nos incisos II a
VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 e os serviços auxiliares do Poder Judiciário devem adotar medidas para a remoção de barreiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais para promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas respectivas carreiras e dependências e o efetivo gozo dos serviços que prestam, promovendo a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade para garantir o pleno exercício de direitos.
Subseção III
Das Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão
Art. 10 Serão instituídas por cada Tribunal, no
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão, com caráter multidisciplinar, com participação de magistrados e
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 23
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
servidores, com e sem deficiência, objetivando que essas Comissões fiscalizem, planejem, elaborem e acompanhem os projetos arquitetônicos de acessibilidade e projetos ―pedagógicos‖ de treinamento e capacitação dos profissionais e funcionários que trabalhem com as pessoas com deficiência, com fixação de metas anuais, direcionados á promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, tais quais as descritas a seguir:
I – construção e/ou reforma para garantir acessibilidade para pessoas com termos da normativa técnica em vigor (ABNT 9050), inclusive construção de rampas, adequação de sanitários, instalação de elevadores, reserva de vagas em estacionamento, instalação de piso tátil direcional e de alerta, sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, bem como sinalizações visuais accessíveis a pessoas com deficiência auditiva, pessoas com baixa visão e pessoas com deficiência intelectual, adaptação de mobiliários (incluindo púlpitos), portas e corredores em todas as dependências e em toda a extensão (Tribunais, Fóruns, Juizados Especiais etc.);
II – locação de imóveis, aquisição ou construções novas somente deverão ser feitas se com acessibilidade;
III – permissão de entrada e permanência de cães-guias em todas as dependências dos edifícios e sua extensão;
IV – habilitação de servidores em cursos oficiais de Linguagem Brasileira de Sinais, custeados pela Administração, formados por professores oriundos de instituições oficialmente reconhecidas no ensino de Linguagem Brasileira de Sinais para ministrar os cursos internos, a fim de assegurar que as secretarias e cartórios das Varas e Tribunais disponibilizem pessoal capacitado a atender surdos, prestando-lhes informações em Linguagem Brasileira de Sinais;
V – nomeação de tradutor e interprete de Linguagem Brasileira de Sinais, sempre que figurar no processo pessoa com deficiência auditiva, escolhido dentre aqueles devidamente habilitados e aprovados em curso oficial de tradução e interpretação de Linguagem Brasileira de Sinais ou detentores do certificado de proficiência em Linguagem Brasileira de Sinais – PROLIBRAS, nos termos do art. 19 do Decreto 5.626/2005, o qual deverà prestar compromisso e, em qualquer hipótese, serà custeado pela Administração dos órgãos do Judiciário;
VI – sendo a pessoa com deficiência auditiva participe do processo moralizado e se assim o preferir, o Juiz deverà com ela se comunicar por anotações escritas ou por meios eletrônicos, o que inclui a legenda em tempo real, bem como adotar medidas que viabilizem a leitura labial;
VII – nomeação ou permissão de utilização de guia interprete, sempre que figurar no processo pessoa com deficiência auditiva e visual, o qual deverà prestar compromisso e, em qualquer hipótese, será custeado pela Administração dos órgãos do Judiciário;
VIII – registro da audiência, caso o Juiz entenda necessário, por filmagem de todos os atos nela praticados, sempre que presente pessoa com deficiência auditiva;
IX – aquisição de impressora em Braille, produção e manutenção do material de comunicação acessível, especialmente o website, que deverà ser compatível com a maioria dos softwares livres e gratuitos de leitura de tela das pessoas com deficiência visual;
X – inclusão, em todos os editais de concursos públicos, da previsão constitucional de reserva de cargos
para pessoas com deficiência, inclusive nos que tratam do ingresso na magistratura (CF, art. 37, VIII);
XI – anotação na capa dos autos da prioridade concedida à tramitação de processos administrativos cuja parte seja uma pessoa com deficiência e de processos judiciais se tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, nos termos da Lei n. 12.008, de 06 de agosto de 2009;
XII – realização de oficinas de conscientização de servidores e magistrados sobre os direitos das pessoas com deficiência;
XIII – utilização de interprete de Linguagem Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e comunicação em linguagem acessível em todas as manifestações públicas, dentre elas propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos educativos, eventos e reuniões;
XIV – disponibilização de equipamentos de autoatendimento para consulta processual accessíveis, com sistema de voz ou de leitura de tela para pessoas com deficiência visual, bem como, com altura compatível para usuários de cadeira de rodas.
Art. 11 Os órgãos do Poder Judiciário relacionados
nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 devem criar unidades administrativas específicas, diretamente vinculadas à Presidência de cada órgão, responsáveis pela implementação das ações da respectiva Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.
Art. 12 É indispensável parecer da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão em questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência e nos demais assuntos conexos à acessibilidade e inclusão no âmbito dos Tribunais.
Art. 13 Os prazos e as eventuais despesas
decorrentes da implementação desta Resolução serão definidos pelos tribunais, ouvida a respectiva Comissão Permanente de Acessibilidade e o órgão interno responsável pela elaboração do Planejamento Estratégico, com vistas à sua efetiva implementação.
Seção II
Da não Discriminação
Art. 14 É proibida qualquer forma de discriminação
por motivo de deficiência, devendo-se garantir as pessoas com deficiência – servidores, serventuários extrajudiciais, terceirizados ou não – igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.
Seção III
Da Proteção da Integridade Física e Psíquica
Art. 15 Toda pessoa com deficiência – servidor,
serventuário extrajudicial, terceirizado ou não – tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 16 A pessoa com deficiência tem direito a
receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I – proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II – atendimento em todos os serviços de atendimento ao publico;
III – disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
IV – acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação accessíveis;
24 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
V – tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligencias.
Parágrafo único. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto no inciso V deste artigo.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELACIONADAS AOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA
Seção I
Da Aplicabilidade dos Capítulos Anteriores
Art. 17 Aplicam-se aos servidores, aos
serventuários extrajudiciais e aos terceirizados com deficiência, no que couber, todas as disposições previstas nos Capítulos anteriores desta Resolução.
Seção II
Da Avaliação
Art. 18 A avaliação da deficiência, quando
necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III – a limitação no desempenho de atividades; e
IV – a restrição de participação.
Seção III
Da Inclusão de Pessoa com Deficiência no Serviço Público
Art. 19 Os editais de concursos públicos para
ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os direitos das pessoas com deficiência.
Art. 20 Imediatamente após a posse de servidor,
serventuários extrajudicial ou contratação de terceirizado com deficiência, dever-se-á informar a ele de forma detalhada sobre seus direitos e sobre a existência desta Resolução.
Art. 21 Cada órgão do Poder Judiciário deverá
manter um cadastro dos servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que trabalham no seu quadro.
§ 1º Esse cadastro deve especificar as deficiências e as necessidades particulares de cada servidor, terceirizado ou serventuários extrajudicial.
§ 2º A atualização do cadastro deve ser permanente, devendo ocorrer uma revisão detalhada uma vez por ano.§ 3º Na revisão anual, cada um dos servidores, serventuários extrajudiciais ou terceirizado com deficiência deverà ser pessoalmente questionado sobre a existência de possíveis sugestões ou adaptações referentes à sua plena inclusão no ambiente de trabalho.
§ 4º Para cada sugestão dada, deverão haver uma resposta formal do Poder Judiciário em prazo razoável.
Art. 22 Constitui modo de inclusão da pessoa com
deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:
I – prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho;
II – provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
III – respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;
IV – oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;
V – realização de avaliações periódicas;
VI – articulação Inter setorial das politicas públicas; e
VII – possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.
Art. 23 A pessoa com deficiência tem direito ao
trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
§ 1º Os órgão do Poder Judiciário são obrigados a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.
§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.
§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.
Art. 24 É garantido à pessoa com deficiência
acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.
Art. 25 Se houver qualquer tipo de estacionamento
interno, será garantido ao servidor com deficiência que possua comprometimento de mobilidade vaga no local mais próximo ao seu local de trabalho.
§ 1º O percentual aplicável aos estacionamentos externos a que se referem o art. 4º, § 6º, desta Resolução e o art. 47 da Lei 13.146/2015 não e aplicável ao estacionamento interno do órgão, devendo-se garantir vaga no estacionamento interno a cada servidor com mobilidade comprometida.
§ 2º O caminho existente entre a vaga do estacionamento interno e o local de trabalho do servidor com mobilidade comprometida não deve conter qualquer tipo de barreira que impossibilite ou mesmo dificulte o seu acesso.
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA) 25
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 26 Se o órgão possibilitar aos seus servidores
a realização de trabalho por meio do sistema ―home office‖, dever-se-á dar prioridade aos servidores com mobilidade comprometida que manifestem interesse na utilização desse sistema.
§ 1º A Administração não poderá obrigar o servidor com mobilidade comprometida a utilizar o sistema ―home office‖, mesmo diante da e istência de muitos custos para a promoção da acessibilidade do servidor em seu local de trabalho.
§ 2º Os custos inerentes à adaptação do servidor com deficiência ao sistema ―home office‖ deverão ser suportados exclusivamente pela Administração.
Art. 27 Ao servidor ou terceirizado com deficiência
e garantida adaptação ergonômica da sua estação de trabalho.
Art. 28 Se houver serviço de saúde no órgão, aos
servidores com deficiência será garantido atendimento compatível com as suas deficiências.
Seção IV
Do Horário Especial
Art. 29 A concessão de horário especial conforme
o art. 98, § 2º, da Lei 8.112/1990 a servidor com deficiência não justifica qualquer atitude discriminatória.
§ 1º Admitindo-se a possiblidade de acumulação de banco de horas pelos demais servidores do órgão, Também deverà ser admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com horário especial, mas de modo proporcional.
§ 2º Ao servidor a quem se tenha concedido horário especial não poderá ser negado ou dificultado, colocando-o em situação de desigualdade com os demais servidores, o exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.
§ 3º O servidor com horário especial não será obrigado a realizar, conforme o interesse da Administração, horas extras, se essa extensão da sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano à sua saúde.
§ 4º Se o órgão, por sua liberalidade, determinar a diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, ainda que por curto período, esse mesmo benefício deverá ser aproveitado de forma proporcional pelo servidor a quem tenha sido concedido horário especial.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELACIONADAS AOS SERVIDORES QUE TENHAM CÔNJUGE, FILHO OU
DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
Seção I
Da Facilitação dos Cuidados
Art. 30 Se o órgão possibilitar aos seus servidores
a realização de trabalho por meio do sistema ―home office‖, dever-se-á dar prioridade aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência e que manifestem interesse na utilização desse sistema.
Art. 31 Se houver serviço de saúde no órgão, ao
cônjuge, filho ou dependente com deficiência de servidor será garantido atendimento compatível com as suas deficiências.
Seção II
Do Horário Especial
Art. 32 A concessão de horário especial conforme
o art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990 a servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência não justifica qualquer atitude discriminatória.
§ 1º Admitindo-se a possiblidade de acumulação de banco de horas pelos demais servidores do órgão, também deverà ser admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com horário especial, em igualdade de condições com os demais.
§ 2º Ao servidor a quem se tenha concedido horário especial não poderá ser negado ou dificultado, colocando-o em situação de desigualdade com os demais servidores, o exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.
§ 3º O servidor com horário especial não será obrigado a realizar, conforme o interesse da Administração, horas extras, se essa extensão da sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano relacionado ao seu cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
§ 4º Se o órgão, por sua liberalidade, determinar a diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, ainda que por curto período, esse mesmo beneficio deverá ser aproveitado pelo servidor a quem tenha sido concedido horário especial.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33 Incorre em pena de advertência o servidor,
terceirizado ou o serventuário extrajudicial que:
I – conquanto possua atribuições relacionadas a possível eliminação e prevenção de quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas, não se empenhe, com a máxima celeridade possível , para a supressão e prevenção dessas barreiras;
II – embora possua atribuições relacionadas à promoção de adaptações razoáveis ou ao oferecimento de tecnologias assistivas necessárias à acessibilidade de pessoa com deficiência – servidor, serventuário extrajudicial ou não –, não se empenhe, com a máxima celeridade possível , para estabelecer a condição de acessibilidade;
III – no exercício das suas atribuições, tenha qualquer outra espécie de atitude discriminatória por motivo de deficiência ou descumpra qualquer dos termos desta Resolução.
§ 1º Também incorrerà em pena de advertência o servidor ou o serventuário extrajudicial que, tendo conhecimento do descumprimento de um dos incisos do caput deste artigo, deixar de comunicá-lo-á autoridade
competente, para que esta promova a apuração do fato.
§ 2º O fato de a conduta ter ocorrido em face de usuário ou contra servidor do mesmo quadro, terceirizado ou serventuário extrajudicial e indiferente para fins de aplicação da advertência.
§ 3º Em razão da prioridade na tramitação dos processos administrativos destinados à inclusão e à não discriminação de pessoa com deficiência, a grande quantidade de processos a serem concluídos não justifica o afastamento de advertência pelo descumprimento dos deveres descritos neste artigo.
§ 4º As práticas anteriores da Administração Pública não justificam o afastamento de advertência pelo descumprimento dos deveres descritos neste artigo.
Art. 34 Esta Resolução entra em vigor na data da
sua publicação.
Ministro Ricardo Lewandowski
Este texto não substitui o publicado no D.J.E.-CNJ de 23.06.2016.
26 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 (ESQUEMATIZADA)
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (TRE PE - Cargo: Analista Judiciário - Área
Administrativa – CESPE/2017) À luz da Resolução CNJ n.º 230/2016, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares ao EPD, assinale a opção correta.
A.Cada órgão do Poder Judiciário deve dispor de um percentual mínimo de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e a interpretação de LIBRAS.
B.Se o órgão judiciário estipular o regime de home office aos seus servidores, aqueles com mobilidade comprometida concorrerão em igualdade de condições com os demais.
C.O servidor que, tendo tomado conhecimento de alguma conduta discriminatória praticada por outro servidor por motivo de deficiência, não comunicar o fato à autoridade competente incorrerá em pena de suspensão.
D.É garantido à pessoa com deficiência o acesso aos atos processuais de seu interesse, desde que presente seu advogado.
E.Os tribunais devem instituir comissões permanentes de acessibilidade e inclusão compostas integralmente por magistrados e servidores com deficiência.
02. (TRE PE - Técnico Judiciário - Área Administrativa -
CESPE/2017) A Resolução CNJ n.º 230/2016
A.representou inovação do CNJ, com base na Constituição Federal de 1988 e em convenção internacional, já que antecipou-se à legislação específica relativa à inclusão da pessoa com deficiência.
B.foi editada com base em decisões administrativas do próprio CNJ que atribuíram à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência o status de emenda constitucional.
C.estabeleceu prazo para os tribunais criarem as chamadas comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, que devem ser interdisciplinares e integradas por servidores e magistrados com e sem deficiência.
D.foi o primeiro ato normativo do CNJ a tratar de acessibilidade nos órgãos do Poder Judiciário.
E.visa orientar os juízes eleitorais quanto à escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida.
03. (TJSP/SP - Escrevente Técnico Judiciário -
VUNESP/2017) A Resolução no 230/2016 do Conselho Nacional de Justiça prevê, para a inclusão da pessoa com deficiência no serviço público,
A.a criação de um banco de dados nacional, com cadastro de todos os servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que trabalham nos quadros do Poder Judiciário, contendo especificações sobre suas deficiências e necessidades particulares e mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
B.a possibilidade de a Administração obrigar o servidor com mobilidade comprometida a utilizar o sistema home office, se comprovada a existência de muitos custos para a promoção da acessibilidade do servidor em seu local de trabalho.
C.a não extensão a servidor com deficiência de qualquer diminuição de jornada de trabalho, por liberalidade do órgão, se a esse servidor já tenha sido concedido horário especial, nos termos da legislação aplicável.
D.a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.
E.a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, sendo possível a exigência de aptidão plena.
Gabarito: 01/A; 02/C; 03/D
REFERÊNCIAS:
http://www.sintfesp.org.br/dados/editor/file/Entrevista%20Wladimir%20Soares%20-%20EBSERH.pdf
https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/questoes/disciplina/Regimento+Interno/pagina/51/quantidade-por-pagina/15
https://www.pciconcursos.com.br/provas/ebserh-2017/
http://enfermagemebserh.blogspot.com.br/2013/09/questoes-de-legislacao-da-ebserh.html
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Teoria, dicas e questões de provas FGV.
Prof. Janilson Santos
Administrador graduado pela UECE - Universidade Estadual do Ceará; é Pós-Graduado (Especialista) em Planejamento Educacional pela UNIVERSO – Universidade Salgado Oliveira e Mestre em Ciências da Educação pela UNESA – Universidade Estácio de Sá; é Professor de Administração do Centro Universitário UniFanor | Wyden e da UNIP – Universidade Paulista. Leciona também nos principais cursos preparatórios para concursos de Fortaleza(CE) e Natal(RN).
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. ........... 1
Questões de concursos ........................................... 7
2 Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação ............................ 11
Questões de concursos ......................................... 10
3 Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta; agências executivas e reguladoras ... 8
Questões de concursos ......................................... 35
4 Gestão de processos. ................................................. 36
Questões de concursos ......................................... 49
5 Gestão de contratos. .................................................... 36
Questões de concursos ......................................... 39
6 Planejamento Estratégico. .......................................... 39
Questões de concursos ......................................... 42
Questões de provas FGV ............................................. 43
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO GERAL
A Administração pode ser definida como o ato ou processo de gerir, reger ou governar negócios públicos ou particulares. O significado da palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para algo) e minister (subordinação ou obediência), e designa o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é o conjunto de
órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Em outras palavras, administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta.
A ADMINISTRAÇÃO GERAL trata do
planejamento, da organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela
divisão de trabalho que estão presentes dentro de uma organização. Por esse motivo, a Administração é imprescindível para a sobrevivência e sucesso das organizações. Sem a Administração, as organizações não teriam condições de se estabelecer e se desenvolver de forma saudável.
As organizações são formadas por pessoas
(recursos humanos) e recursos não humanos (recursos tecnológicos, mercadológicos, materiais) e todas as atividades dessas empresas, que são voltadas para a produção de bens (produtos) ou para a prestação de serviços (atividades especializadas) devem ser planejadas, coordenadas, dirigidas e controladas dentro de organizações.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS ORGANIZAÇÕES FORMAIS MODERNAS: TIPOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, NATUREZA, FINALIDADES E CRITÉRIOS DE DEPARTAMENTALIZAÇÃO.
Organização da Empresa é definida como a ordenação e agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance dos objetivos e resultados estabelecidos. Estrutura Organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa.
A estrutura organizacional estabelece como as tarefas de trabalho são formalmente divididas, agrupadas e coordenadas. Esses quesitos constituem a
organização formal de uma empresa.
Em contraposição à organização formal, cuja estrutura organizacional é composta de órgãos, cargos, relações funcionais, níveis hierárquicos etc., a organização informal é formada por um conjunto de interações e de relacionamentos que são criados entre os funcionários de uma organização e prega a importância do relacionamento interpessoal dentro e fora das organizações.
O termo "Organização" frequentemente tem sido empregado como sinônimo de arrumação, ordenação, eficiência, porém, em nosso objetivo, organização deve ser entendida não apenas como o quadro estrutural de cargos definidos por respectivos títulos, atribuições básicas, responsabilidades, relações formais, nível de autoridade e aspectos culturais.
Nesses termos, podemos definir como função básica de organização, o estudo cuidadoso da estrutura
organizacional da empresa para que essa seja bem definida e possa atender as necessidades reais e os objetivos estabelecidos de forma integrada com a organização informal e as estratégias estabelecidas na empresa.
A Estrutura Formal
É aquela oficialmente definida na empresa com todas as formalidades e padrões vigentes quanto à forma de preparação e divulgação de normas a respeito. Será encontrada em simples comunicados, em instruções, em manuais de procedimentos ou organização, em formas gráficas (organogramas empresariais), em forma descritiva (descrição de cargos).
Embora necessária e tantas vezes desejada, a estrutura formal poderá não ser adequada em determinadas empresas, e mesmo sendo adequada terá que conviver com a Estrutura Informal.
2 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Estrutura Informal
Os funcionários das empresas pertencem automaticamente e inevitavelmente à vida informal das mesmas. Desse relacionamento do cotidiano, surgem entendimentos extraestruturais, conceitos alheios às normas e também desentendimentos.
Delineamento da estrutura é a atividade que tem por objetivo criar uma estrutura para uma empresa ou então aprimorar a existente. Naturalmente, a estrutura organizacional não é estática, o que poderia ser deduzido a partir de um estudo simples de sua representação gráfica: o organograma. A estrutura organizacional é bastante dinâmica, principalmente quando são considerados os seus aspectos informais provenientes da caracterização das pessoas que fazem parte de seu esquema.
A estrutura organizacional deve ser delineada,
considerando as funções de administração como um instrumento para facilitar o alcance dos objetivos estabelecidos.
De acordo com o autor Ackoff, o planejamento organizacional deveria estar voltado para os seguintes objetivos:
• Identificar as tarefas físicas e mentais que
precisam ser desempenhadas.
• Agrupar as tarefas em funções que possam ser
bem desempenhadas e atribuir sua responsabilidade a pessoas ou grupos, isso é, organizar funções e responsabilidades.
• Proporcionar aos empregados de todos os
níveis:
−informação e outros recursos necessários para trabalhar de maneira tão eficaz quanto possível, incluindo o retorno sobre o seu desempenho real;
−medidas de desempenho que sejam compatíveis com os objetivos e metas empresariais;
−motivação para desempenhar tão bem quanto possível.
CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO FORMAL
As principais características da Organização Formal, segundo FARIA, são:
1) divisão do trabalho;
2) especialização
3) hierarquia;
4) autoridade;
5) responsabilidade;
6) racionalismo;
7) coordenação. (- 7= Chiavenato)
A escola clássica tem um modelo simplificado da Organização Formal:
A adoção dos princípios gerais de administração aplicados à
1) divisão do trabalho,
2) especialização,
3) unidade de comando,
4) amplitude de controle possibilitam a OF de máxima eficiência possível.
Segundo Talcott Parsons, as Organizações formais são uma forma de agrupamento social
estabelecido de modo deliberado ou proposital para alcançar um objetivo específico, caracterizadas pela
existência de regras, regulamentos e estrutura hierárquica que ordenam as relações entre seus membros.
Segundo Etizioni: As organizações formais possuem as seguintes características:
-divisão do trabalho
-atribuição de poder
-atribuição de responsabilidade
-centros de poder
-substituição de pessoal.
1) Divisão do Trabalho
O objetivo imediato e fundamental de todo e qualquer tipo de organização é a produção. Para ser eficiente, a produção deve basear-se na divisão do trabalho, que nada mais é do que a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas. O procedimento de dividir o trabalho começou a ser praticado mais intensamente com o advento da Revolução Industrial, provocando uma mudança radical no conceito de produção, principalmente no fabrico maciço de grandes quantidades através do uso da máquina, substituindo o artesanato, e o uso do trabalho especializado na linha de montagem. O importante era que cada pessoa pudesse produzir o máximo de unidades dentro de um padrão aceitável, objetivo que somente poderia ser atingido automatizando a atividade humana ao repetir a mesma tarefa várias vezes. Essa divisão do trabalho foi iniciada ao nível dos operários com a Administração Científica no começo deste século.
2) Especialização
A especialização do trabalho proposta pela Administração Científica constitui uma maneira de aumentar a eficiência e de diminuir os custos de produção. Simplificando as tarefas, atribuindo a cada posto de trabalho tarefas simples e repetitivas que requeiram pouca experiência do executor e escassos conhecimentos prévios, reduzem-se os períodos de aprendizagem, facilitando substituições de uns indivíduos por outros, permitindo melhorias de métodos de incentivos no trabalho e, consequentemente, aumentando o rendimento de produção.
3) Hierarquia
Uma das consequências do princípio da divisão do trabalho é a diversificação funcional dentro da organização. Porém, uma pluralidade de funções desarticuladas entre si não forma uma organização eficiente. Como decorrência das funções especializadas, surge inevitavelmente a de comando, para dirigir e controlar todas as atividades para que sejam cumpridas harmoniosamente. Portanto, a organização precisa, além de uma estrutura de funções, de uma estrutura hierárquica, cuja missão é dirigir as operações dos níveis que lhes estão subordinados. Em toda organização formal existe uma hierarquia. Esta divide a organização em camadas ou escalas ou níveis de autoridade, tendo os superiores autoridade sobre os inferiores. À medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta a autoridade do ocupante do cargo.
4) Distribuição da Autoridade e da Responsabilidade
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A hierarquia na organização formal representa a autoridade e a responsabilidade em cada nível da estrutura. Por toda a organização, existem pessoas cumprindo ordens de outras situadas em níveis mais elevados, o que denota suas posições relativas, bem como o grau de autoridade em relação às demais. A autoridade é, pois, o fundamento da responsabilidade, dentro da organização formal, ela deve ser delimitada explicitamente. De um modo geral, a generalidade do direito de comandar diminui à medida que se vai do alto para baixo na estrutura hierárquica.
Fayol dizia que a "autoridade" é o direito de dar ordens e o poder de exigir obediência, conceituando-a, ao mesmo tempo, como poder formal e poder legitimado.
Assim, como a condição básica para a tarefa administrativa, a autoridade investe o administrador do direito reconhecido de dirigir subordinados, para que desempenhem atividades dirigidas pra a obtenção dos objetivos da empresa. A autoridade formal é sempre um poder, uma faculdade, concedidos pela organização ao indivíduo que nela ocupe uma posição determinada em relação aos outros.
5) Racionalismo da Organização Formal
Uma das características básicas da organização formal é o racionalismo. Uma organização é substancialmente um conjunto de encargos funcionais e hierárquicos a cujas prescrições e normas de comportamento todos os seus membros se devem sujeitar. O princípio básico desta forma de conceber uma organização é que, dentro de limites toleráveis, os seus membros se comportarão racionalmente, isto é, de acordo com as normas lógicas de comportamento prescritas para cada um deles. Dito de outra forma, a formulação orgânica de um conjunto lógico de encargos funcionais e hierárquicos está baseada no princípio de que os homens vão funcionar efetivamente de acordo com tal sistema racional.
De qualquer forma, via de regra, toda organização se estrutura a fim de atingir os seus objetivos, procurando com a sua estrutura organizacional a minimização de esforços e a maximização do rendimento. Em outras palavras, o maior lucro, pelo menor custo, dentro de um certo padrão de qualidade. A organização, portanto, não é um fim, mas um meio de permitir à empresa atingir adequadamente determinados objetivos.
Atualmente as principais características das empresas de sucesso são: foco no cliente, flexibilidade, valorização das pessoas, ética, responsabilidade social e ambiental.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Estrutura: É o conjunto formal de dois ou mais
elementos que subsiste inalterado, seja na mudança, seja na diversidade de conteúdos. A estrutura se mantém mesmo com a alteração de um dos elementos ou das relações.
Uma estrutura organizacional compreende a
integração de diversas ―entidades‖ responsáveis pelo processo de transformação de insumos (entradas) em produto e/ou serviço (saídas).
Para Oliveira (1998), ―Estrutura Organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa.‖
A estrutura de uma empresa não se restringe apenas às diversas unidades (departamentos, divisões,
seções etc.) que a compõe, mas também aos funcionários e às relações existentes entre superiores e subordinados.
Outros condicionantes são: diversidade de operações, homogeneidade dos canais de distribuição, natureza organizacional, estratégia, proporção entre atividades, concorrência, centralização ou descentralização de atividades e gerências.
A representação de uma estrutura organizacional é gráfica e chama-se organograma (desenho da estrutura de forma enxuta e abreviada). O organograma deve mostrar:
• os órgãos da empresa;
• a função de cada órgão, de maneira genérica;
• as vinculações e as relações entre os órgãos;
• os níveis administrativos;
• a hierarquia.
Segundo Chiavenato (2003, p. 186), ―A estrutura organizacional é um meio de que se serve a organização para atingir eficientemente seus objetivos‖.
Tipos de estrutura organizacional
1) Estrutura Linear ou Militar: demonstra claramente a
unidade de comando e a hierarquia.
▪ Características:
• a chefia é a fonte da autoridade;
• as ordens seguem a hierarquia;
• cada colaborador recebe ordens apenas de um chefe.
▪ Vantagens:
• aplicação simples;
• facilidade de transmissão e recebimento de ordens e de informações;
• definição clara de deveres e de responsabilidades;
• fácil controle disciplinar.
▪ Desvantagens:
• organização rígida;
• não favorece o espírito de equipe;
• centralização demasiada.
Veja o Modelo:
2) Estrutura Funcional: baseia-se na supervisão
funcional prevendo especialização de funções com base
4 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
nas ideias de divisão de funções do início da Revolução Industrial. Os supervisores de planejamento e de execução atuam simultaneamente na supervisão dos operários; as linhas que ligam os retângulos no organograma indicam essa situação de supervisão; todo supervisor é um especialista em sua área.
▪ Características:
• separação entre as funções de preparação e de execução;
• um mesmo colaborador recebe ordens de mais de um encarregado;
• valoriza a especialização;
• multiplicidade de contatos entre supervisores e executores;
• aplicação da divisão do trabalho às tarefas de supervisão e de execução.
▪ Vantagens:
• promove a especialização com uma melhor adaptação da capacidade de cada pessoa;
• promove cooperação e trabalho em equipe;
• é mais flexível.
▪ Desvantagens:
• exige maior habilidade gerencial, o que torna mais difícil a aplicação dessa estrutura;
• a coordenação é dificultada;
• divide o controle e pode desfavorecer a disciplina;
• pode elevar o custo.
Veja o modelo:
3) Estrutura Linha-Staff: distingue-se da estrutura linear
pela existência de grupos de assessoria (staff) junto a alguns órgãos (diretoria, departamento, gerência). A função do staff ou assessoria é a de aconselhar, assessorar, atender a consultas, preparar dados, relatórios, trabalhos, pesquisas etc. O staff não tem função de comando.
▪ Características:
• existência de órgãos de assessoria;
• O staff não exerce autoridade sobre a linha.
▪ Vantagens:
• facilita a participação de especialistas;
• pode melhorar a qualidade dos projetos e das decisões.
▪ Desvantagens:
• requer uma boa coordenação das sugestões do staff;
• as sugestões podem gerar algum conflito;
• o staff pode exacerbar as suas funções;
• os órgãos executores podem reagir contra as sugestões do staff.
Veja o modelo:
4) Estrutura tipo comissão ou colegiada: trata-se da
administração pluralista, não existindo mais o grande chefe com plenos poderes, mas sim um colegiado responsável pelas decisões estratégicas e pela política da empresa. Os membros do colegiado pertencem às mais diversas profissões e tendências e dividem entre si as responsabilidades.
No entanto, é preservada a unidade de direção por meio da chefia executiva encarregada da execução das resoluções do colegiado (conselho de administração, por exemplo), que decide de forma democrática, isto é, a maioria vence.
▪ Características:
• a responsabilidade pelas decisões é do grupo;
• as responsabilidades, tanto do colegiado como do executivo, são impessoais;
• o colegiado situa-se em nível hierárquico superior;
• as denominações dos colegiados são: conselho, junta, comissão, diretoria etc.
▪ Vantagens:
• facilita a participação de especialistas;
• julgamento e decisões impessoais.
▪ Desvantagens:
• enfraquecimento de decisões nos níveis executivos (decisões cotidianas ou urgentes);
• decisões geralmente mais demoradas;
• responsabilidade diluída.
Veja o modelo:
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
5) Estrutura matricial: é uma estrutura excelente para as
empresas que desenvolvem projetos. Apresenta boa flexibilidade, o que é exigido pela dinâmica de seu funcionamento. Praticamente é uma solução mista entre as estruturas por função e por projeto. Pela figura a seguir, é fácil de visualizar o tipo de relacionamento entre os órgãos e o pessoal. Mantêm-se as ligações verticais dos órgãos específicos e ligações horizontais com o órgão de projeto, dessa forma, a subordinação de uma pessoa é dual, isto é, reporta-se, ao mesmo tempo, a duas coordenações.
Modelo:
6) Divisional: Mais indicada para empresas que
trabalham com diferentes mercados e uma carteira de clientes variada. É formada por divisões separadas e autossuficientes. Cada divisão é responsável por um produto ou serviço de acordo com os objetivos organizacionais. A estrutura pode ser por: clientes, produtos ou serviços, localização geográfica, por projetos ou por processos.
Modelo:
NATUREZA, FINALIDADES E CRITÉRIOS DE
DEPARTAMENTALIZAÇÃO.
Para os autores clássicos a especialização pode ocorrer em dois sentidos: vertical e horizontal.
A especialização vertical é o desdobramento da autoridade denominado processo escalar.
A especialização horizontal (DEPARTAMENTALIZAÇÃO) é o aumento de órgãos especializados, aumenta a perícia, a eficiência e a qualidade do trabalho, é o processo funcional e provoca a departamentalização.
Departamentalização é uma divisão do trabalho em termos de uma diferenciação entre os diversos e diferentes tipos de tarefas executados pelos órgãos.
Natureza
A departamentalização tem por natureza dividir-se em unidades as grandes áreas da Empresa. Assim criam-se diversas espécies (naturezas) de departamentalização (superintendências, diretorias, departamentos, divisões, setores, seções)
Finalidade
Segundo o Chiavenato, a finalidade da departamentalização não é a estrutura rígida e equilibrada em termos de níveis e sim grupar atividades de maneira que melhor contribuam para obtenção dos objetivos específicos da organização.
Segundo Luís Oswaldo e Leal da Rocha a principal finalidade da Departamentalização é proporcionar meios para o crescimento e desenvolvimento racional dos órgãos da Empresa.
DEPARTAMENTALIZAÇÃO
Departamentalização é uma divisão do trabalho em termos de uma diferenciação entre os diversos e diferentes tipos de tarefas executados pelos órgãos.
Princípios da Departamentalização;
Princípio do maior uso: o departamento que mais realiza uma determinada tarefa deve ser responsável por ela;
Princípio de maior interesse: a supervisão de uma tarefa deve ficar a cargo do departamento e do gerente que tem mais interesse em ter essa tarefa realizada com sucesso;
Princípio de separação do controle: tarefas de supervisão devem ser separadas das tarefas de execução;
Princípio da supressão da concorrência: as atividades de um departamento não podem ser realizadas também por outro. Caso essa repetição seja detectada, é preciso que a função seja restringida a apenas um departamento para se evitar o desperdício de recursos e tempo.
Critérios de Departamentalização
ATENÇÃO
Pode-se departamentalizar de acordo com o objetivo que se espera alcançar, como: departamentalização por função, por produto, por região geográfica, cliente, por processo, por projeto, matricial, mista e função.
1) Por função ou atividades similares;
6 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Características:
Agrupamento por atividades ou funções principais; Divisão do trabalho interno por especialidade; Auto orientação e Introversão.
Vantagens:
Maior utilização de pessoas especializadas e recursos; Adequada para atividade continuada, rotineira e estabilizada a longo prazo.
Desvantagens:
Pequena cooperação interdepartamental; Contraindicada para circunstâncias ambientais imprevisíveis e mutáveis.
Gerência de
Produção
Gerência
Financeira
Gerência de
Marketing
Gerência
de RH
Diretoria
Geral
2) Por produtos ou serviços;
A departamentalização por produto visa a alocar recursos e agrupar atividades em função dos diferentes tipos de produtos fabricados pela empresa.
Características:
Agrupamento por resultados quanto a produtos ou serviços; Divisão do trabalho por linhas de produtos/serviços; Ênfase nos produtos e serviços; Orientação para resultados.
Vantagens:
Define responsabilidade por produtos ou serviços, facilitando a avaliação dos resultados; Melhor coordenação interdepartamental; Maior flexibilidade; Facilita inovação; Ideal para circunstâncias mutáveis.
Desvantagens:
Enfraquecimento da especialização; Alto custo operacional pela duplicação das especialidades; Contraindicada para circunstâncias estáveis e rotineiras; Enfatiza coordenação em detrimento da especialização.
Gerência da
Divisão Têxtil
Gerência da
Divisão Farmacêutica
Gerência da
Divisão Química
Diretoria
Geral
3) Por localização geográfica;
A departamentalização por região geográfica, por sua vez, visa a alocar recursos e agrupar atividades realizadas em uma mesma região.
Características:
Agrupamento conforme localização geográfica ou territorial. Ênfase na cobertura geográfica; Orientação para a avaliação do mercado.
Vantagens:
Maior ajustamento às condições locais ou regionais. Fixa responsabilidades por local ou região, facilitando a avaliação; Ideal para firmas de varejo.
Desvantagens:
Enfraquece a coordenação (seja o planejamento, execução ou controle) da organização como um todo; Enfraquecimento da especialização.
Região
Norte
Região
Centro
Região
Sul
Departamento
de Tráfego Aéreo
4) Por clientes;
A departamentalização por cliente visa a alocar recursos e agrupar atividades em fun- ção das necessidades dos clientes.
Características:
Agrupamento conforme o tipo ou tamanho do cliente ou comprador; Ênfase no cliente; Orientação extrovertida mais voltada para o cliente do que para si mesma.
Vantagens:
Predispõe a organização para satisfazer as demandas dos clientes; Ideal quando o negócio depende do tipo ou tamanho do cliente; Fixa responsabilidade por clientes.
Desvantagens:
Torna secundárias as outras atividades da organização (como produção ou finanças); Sacrifica os demais objetivos da organização (como produtividade, lucratividade, eficiência etc.).
Departamento
Feminino
Departamento
Infantil
Departamento
Masculino
Diretoria
Comercial
5) Por processo
A departamentalização por processo compreende a alocação de recursos e atividades em função das etapas de um processo.
Características:
Agrupamento por fases do processo, do produto ou da operação; Ênfase na tecnologia utilizada; Enfoque introversivo.
Vantagens:
Melhor arranjo físico e disposição racional dos recursos; Utilização econômica da tecnologia; Vantagens econômicas do processo; Ideal quando a tecnologia e os produtos são estáveis e permanentes.
Desvantagens:
Contraindicada quando a tecnologia sofre mudanças e desenvolvimento tecnológico; Falta de flexibilidade e adaptação a mudanças.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 7
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Aquisição Catalogação Classificação Acervo
Biblioteca
6) Por projetos
No caso da departamentalização por projeto, os recursos são alocados para execução de atividades temporárias.
Características:
Agrupamento em função de saídas ou resultados quando há um ou mais projetos; Requer estrutura organizacional flexível e adaptável às circunstancias do projeto: Requer coordenação entre órgãos para cada projeto.
Vantagens:
Ideal quando a concentração de recursos é grande e provisória e quando o produto é de grande porte; Orientada para resultados concretos; Alta concentração de recursos e investimentos, com datas e prazos de execução; Adaptação ao desenvolvimento técnico; Ideal para produtos altamente complexos.
Desvantagens:
Concentra pessoas e recursos em cada projeto provisoriamente; Quando termina um projeto, ocorre indefinição quanto a outros; Descontinuidade e paralisação; Imprevisibilidade quanto a futuros novos projetos; Angústia dos especialistas quanto ao seu próprio futuro.
Administração e
Finanças
Comercial
Projeto A Projeto B
Projetos
Diretoria
7) Departamentalização Matricial
No caso da departamentalização matricial, você deve compreender como aquela estrutura em que existem mais de dois tipos de departamentalização sobre o mesmo indivíduo.
Segundo Oliveira (1998), essa estrutura normalmente refere-se à sobreposição entre a estrutura funcional e por projetos (Figura 7).
8) Departamentalização Mista
Na departamentalização mista, diferentes tipos de departamentalização são encontrados na estrutura organizacional, simultaneamente.
9) Por tempo;
Quando por necessidade do serviço, é acrescentado outro turno do trabalho, como é comum ocorrer em indústrias de processo continuo, empresas de serviços públicos de telegrafia, telefonia, etc. Neste caso, os problemas de organização envolvem questões tais como: determinar o grau de atividade e autonomia das seções em cada turno, bem como as relações entre os administradores especializados que trabalham apenas no horário normal e os homens que executam tarefas semelhantes no horário extraordinário. A grande vantagem deste tipo de departamentalização é uma maior produção para uma mesma capacidade instalada.
10) Por número ou quantidade;
A departamentalização por quantidade é aquela que ocorre quando o número de pessoas, embora exercendo uma mesma atividade, é muito elevado para ser administrado por um único chefe, exigindo assim, a criação de mais um grupo de trabalho. Como exemplo deste tipo de agrupamento, podemos citar o pessoal de limpeza urbana nas prefeituras municipais e os tecelões nas grandes empresas da indústria têxtil, que são divididos em grupos para fins de supervisão.
ESPECIALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Um conceito ligado à departamentalização é o de Especialização. A especialização na organização pode se dar em dois sentidos: vertical e horizontal. A vertical ocorre quando em uma organização é constatada a necessidade de aumentar a qualidade da supervisão acrescentando mais níveis hierárquicos na estrutura. Já a especialização horizontal, se dá com o crescimento horizontal do organograma e é mais conhecida pelo nome de departamentalização, pela sua tendência de criar departamentos. Raramente ocorre a especialização vertical sem que ocorra a horizontal.
EXERCÍCIOS FGV
01. (TJ-SC/FGV) A estrutura matricial é um tipo de
estrutura organizacional que busca combinar as vantagens da estrutura funcional e da estrutura divisional. Mas, em relação à estrutura funcional e à estrutura divisional, a estrutura matricial apresenta, respectivamente, as seguintes desvantagens:
8 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(A) maior dificuldade para coordenação dos especialistas; redundância de funções e maior necessidade de recursos;
(B) menor eficiência operacional; maior dificuldade para responsabilização por resultados e eventuais problemas;
(C) menor capacidade de resposta ao mercado; maior dificuldade para a inovação;
(D) maior grau de centralização das decisões; menor eficiência operacional;
(E) maior risco operacional; maior dificuldade para adaptação a mudanças tecnológicas.
02. (AL-MA/FGV) A especialização horizontal também
conhecida como processo funcional, caracteriza‐se
sempre pelo crescimento horizontal do organograma, dando origem
(A) à organização.
(B) à departamentalização.
(C) à assessoria.
(D) à hierarquia.
(E) ao racionalismo.
Gabarito: 01/B; 02/B.
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIÃO; ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
O estudo da centralização/descentralização e da concentração/desconcentração relaciona-se ao
tópico ―prestação de serviços públicos‖, mas nela não se esgota.
A Constituição de 1988, em seu art. 175, atribui ao Poder Público a competência para a prestação de serviços públicos. Assim, de se definir apenas as respectivas competências, o que se dá pelos artigos 21, 23, 25, 30 e 32 da Constituição Federal de 1988.
1. DESCENTRALIZAÇÃO, CENTRALIZAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO.
Diz-se que a atividade administrativa é DESCENTRALIZADA quando é exercida por pessoa ou pessoas distintas do Estado.
Diz-se que a atividade administrativa é CENTRALIZADA quando é exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe
a intimidade.
Na centralização, o Estado atua diretamente
por meio dos seus órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem. Consistem, portanto, em meras distribuições internas de plexos de competência, ou seja, em "desconcentrações"
administrativas.
Na descentralização, o Estado atua indiretamente, pois o faz através de outras pessoas,
seres juridicamente distintos dele.
DICA: Administração descentralizada é administração indireta.
Descentralização e desconcentração são
conceitos claramente distintos.
A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas: aquela que originariamente tem a titulação
sobre determinada atividade e aquela ou aquelas às quais foi atribuído o desempenho da atividade em causa.
A DESCONCENTRAÇÃO está sempre referida a uma só pessoa, pois cogita-se da distribuição de
competências na intimidade dela, mantendo-se, pois, o liame unificador da hierarquia.
DICAS:
A desconcentração é simples técnica administrativa, e é utilizada, tanto na Administração Direta, quanto na Indireta.
A desconcentração pressupõe, necessariamente, a existência de uma só pessoa jurídica: sempre se opera em seu âmbito interno, constituindo uma simples
distribuição interna de competências dessa pessoa.
Ocorre a concentração quando há uma
transferência das atividades dos órgãos periféricos para os centrais.
2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
A organização administrativa mantém estreita correlação com a estrutura do Estado e a forma de Governo adotada; o Brasil, no caso uma federação, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, assegura a autonomia político-administrativa aos seus membros, mas sua administração há de corresponder, estruturalmente, as postulações constitucionais.
2.1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA
A Administração Pública, não é propriamente constituída de serviços, mas, sim, de órgãos a serviço do Estado, na gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, o que nos permite concluir que no âmbito federal, a Administração direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura administrativa da União.
A Administração Direta possui poderes políticos e administrativos, eis que é responsável pela formulação de políticas públicas.
a) Órgãos Públicos.
Órgãos Públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem.
Características dos Órgãos; não tem
personalidade jurídica; expressa a vontade da entidade a que pertence (União, Estado, Município); é meio instrumento de ação destas pessoas jurídicas; é dotado de competência, que é distribuída por seus cargos.
b) Administração Direta Federal
A Administração direta Federal é dirigida por um órgão independente, supremo e unipessoal, que é a Presidência da República, e por órgãos autônomos também, unipessoais, que são os Ministérios, aos quais
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 9
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
se subordinam ou se vinculam os demais órgãos e entidades descentralizadas.
c) Administração Direta Estadual
A Administração direta Estadual acha-se estruturada em simetria com a Administração Federal, atenta ao mandamento constitucional de observância aos princípios estabelecidos na mesma, pelos Estados-membros, e às normas complementares, relativamente ao atendimento dos princípios fundamentais adotados pela Reforma Administrativa,
d) Administração Direta Municipal
A administração direta municipal é dirigida pelo Prefeito, que, unipessoalmente, comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do Município, auxiliado por Secretários municipais, sendo permitida, ainda, a criação de autarquias e entidades estatais visando à descentralização administrativa.
e) Administração Direta do Distrito Federal.
Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios; entretanto, não é nenhum nem outro, constituindo uma entidade estatal anômala, ainda que, se assemelhe mais ao Estado, pois tem Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo próprios. Pode ainda, organizar seu sistema de ensino, instituir o regime jurídico único e planos de carreira de seus servidores, arrecadar seus tributos e realizar os serviços públicos de sua competência.
2.2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
A Administração indireta é o conjunto dos entes (personalizados) que, vinculados a um Ministério, prestam serviços públicos ou de interesse público.
A Administração Indireta, via de regra, possui, somente, poderes administrativos, eis que não lhe cabe, em tese, formular políticas públicas. O Banco Central é uma exceção a essa regra.
A expressão "Administração Indireta", que doutrinariamente deveria coincidir com "Administração Descentralizada", dela se afasta parcialmente. Por isto, ficaram fora da categorização como Administração indireta os casos em que a atividade administrativa é prestada por particulares, "concessionários de serviços públicos", ou por "delegados de função ou ofício público".
Em síntese, a administração federal compreende:
I – a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios;
II – a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) autarquias;
b) fundações públicas;
c) agências reguladoras;
d) agências executivas; e) empresas públicas; e
f) sociedades de economia mista.
Todas as entidades da administração indireta estão sujeitas: à necessidade da lei, para a sua criação; aos princípios da administração pública; à
exigência de concurso público para admissão do seu pessoal; e à licitação para suas contratações.
A autarquia é criada diretamente pela Lei. As Empresas Públicas, as Sociedades de economia mista e as Fundações têm a sua criação autorizada por lei. Há necessidade de autorização legal também para a criação de subsidiárias das referidas entidades.
2.2.1 Pessoas Jurídicas de Direito Público
a Autarquias
Entidades autárquicas são pessoas jurídicas de Direito Público, de natureza meramente administrativa, criadas por lei específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou (desempenham atividade típica da entidade estatal que a criou).
As autarquias são criadas para desempenharem atividades típicas da administração pública e não atividades econômicas. O nosso direito positivo limitou o seu desempenho desde o Decreto-Lei 200.
Funcionam e operam na forma estabelecida na lei instituidora e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela entidade estatal-matriz, mas sem subordinação hierárquica, sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes.
b) Fundações Públicas
São pessoas jurídicas de direito público, com características patrimoniais, criadas mediante autorização legal para desenvolver atividades que não sejam, obrigatoriamente, típicas do Estado.
Características:
Equiparam-se às autarquias;
Têm personalidade jurídica de direito público;
Base patrimonial.
O posicionamento das Fundações Públicas sempre foi variado. Hoje, com o advento da CF/88, foi encerrada essa dubiedade de posicionamento quando determina que a Fundação Pública é submetida ao regime da administração indireta.
As Fundações Públicas foram equiparadas às Autarquias. Possuem personalidade jurídica de direito público.
Hoje, não mais existe justificativa para se manter a diferença entre as Fundações e as Autarquias.
c) Agências Reguladoras
São autarquias especiais, assim consideradas por serem destinadas a realizar regulação e fiscalização sobre as atividades das concessionárias de serviços públicos. Ex: ANATEL, ANEEL, ANA etc.
d) Agências Executivas
São pessoas jurídicas de direito público, galgadas a essa qualificação por apresentarem um planejamento estratégico para melhora na prestação de serviços públicos e no emprego de recursos públicos.
Firmam com o Estado um contrato de gestão, pelo qual se comprometem a atingir metas pré-estabelecidas. Caso não as atinja, podem vir a perder a qualificação conseguida.
10 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
As Agências Executivas são autarquias que vão desempenhar atividades de execução na administração pública, desfrutando de autonomia decorrente de contrato de gestão. É necessário um decreto do Presidente da República, reconhecendo a autarquia como Agência Executiva. Ex.: INMETRO.
2.2.2 Pessoas Jurídicas de direito privado criadas pelo Estado
a) Empresas Públicas
Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado criadas por lei específica, com capital exclusivamente público, para realizar atividades de interesse da Administração instituidora nos moldes da iniciativa particular, podendo revestir qualquer forma e organização empresarial. Ex: ECT, CEF, CAESB etc.
O que caracteriza a empresa pública é seu capital exclusivamente público, de uma só ou de várias entidades, mas sempre capital público. Sua personalidade é de Direito Privado e suas atividades se regem pelos preceitos comerciais. É uma empresa, mas uma empresa estatal por excelência, constituída, organizada e controlada pelo Poder Público.
Difere da autarquia e da fundação pública por ser de personalidade privada e não ostentar qualquer parcela de poder público; distingue-se da sociedade de economia mista por não admitir a participação do capital particular.
Qualquer das entidades políticas pode criar empresa pública, desde que o faça por lei específica (CF, art. 37, IX); a empresa pública pode ter forma societária econômica convencional ou especial; tanto é apta para realizar atividade econômica como qualquer outra da competência da entidade estatal instituidora; quando explorar atividade econômica, deverá operar sob as normas aplicáveis às empresas privadas, sem privilégios estatais; em qualquer hipótese, o regime de seu pessoal é o da legislação do trabalho.
O patrimônio da empresa pública, embora público por origem, pode ser utilizado, onerado ou alienado na forma regulamentar ou estatutária, independentemente de autorização legislativa especial, porque tal autorização está implícita na lei instituidora da entidade. Daí decorre que todo o seu patrimônio bens e rendas - serve para garantir empréstimos e obrigações resultantes de suas atividades, sujeitando-se a execução pelos débitos da empresa, no mesmo plano dos negócios da iniciativa privada, pois, sem essa igualdade obrigacional e executiva, seus contratos e títulos de crédito não teriam aceitação e liquidez na área empresarial, nem cumpririam o preceito igualizador do § 1º do art. 173 da CF,
b) Sociedades de Economia Mista
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de Direito Privado, com participação do Poder Público e de particulares no seu capital e na sua administração, para a realização de atividade econômica ou serviço de interesse coletivo outorgado ou delegado pelo Estado. EX: BB, PETROBRÁS etc.
O objeto da sociedade de economia mista tanto pode ser um serviço público ou de utilidade pública como uma atividade econômica empresarial.
A forma usual de sociedade de economia mista tem sido a anônima, obrigatória para a União, mas não para as demais entidades estatais.
Na extinção da sociedade, seu patrimônio, por ser público, reincorpora-se no da entidade estatal que a instituíra.
A sociedade de economia mista não está sujeita a falência, mas seus bens são penhoráveis e executáveis e a entidade pública que a instituiu responde, subsidiariamente, pelas suas obrigações.
c) Fundações de Direito Privado criadas pelo Estado
São pessoas jurídicas governamentais de direito privado, sem fins lucrativos, com características patrimoniais, destinadas, não obrigatoriamente a desenvolver atividades ti picas do Estado. Ex: Fundação Getúlio Vargas; IBGE.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (CESPE – 2013 – TRE-MS – Técnico Judiciário – Área Administrativa- adaptada) A centralização é a
situação em que o Estado executa suas tarefas diretamente, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura funcional. ( )
Justificativa:
Ocorre a chamada centralização administrativa quando o
Estado executa suas tarefas diretamente, por meio dos órgãos e
agentes integrantes da denominada administração direta. Nesse
caso, os serviços são prestados diretamente pelos órgãos do
Estado, despersonalizados, integrantes de uma mesma pessoas
política (União, Distrito Federal, estados ou municípios).
2. (CESPE – 2013 – TJDFT –Analista Judiciário – Execução de Mandados) Os termos concentração e
centralização estão relacionados à ideia geral de distribuição de atribuições do centro para a periferia, ao passo que desconcentração e descentralização associam-se à transferência de tarefas da periferia para o centro. ( )
Justificativa:
Os conceitos trazidos pela questão estão trocados. Na
verdade, a ideia geral de distribuição de atribuições do centro
para a periferia refere-se ao que acontece ao ser colocado em
prática nos institutos da desconcentração e descentralização. Já
em relação à transferência de tarefas da periferia para o centro
identifica-se a essência do que ocorre na concentração e
centralização. A inversão dos conceitos tornou a questão
incorreta.
3. (CESPE – 2013 – TRT -10ª REGIÃO (DF e TO) – Analista Judiciário – área Judiciária) A concessão de serviço público a particulares é classificada como descentralização administrativa por delegação ou por colaboração. ( )
Justificativa:
A descentralização por colaboração, também conhecida
por descentralização por delegação, ocorre com a delegação da
execução de certa atividade administrativa (serviço público)
para pessoa particular para que a execute por sua conta e risco,
mediante remuneração, por meio de contrato ou ato
administrativo. É o que ocorre, por exemplo, quando se permite
a realização de serviços públicos por delegatários,
permissionários ou concessionários de serviço público.
4. (CESPE – 2013 – TRT – 10ª REGIÃO (DF e TO) – Analista Judiciário – Execução de Mandados) O
fato de uma autarquia federal criar, em alguns estados
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 11
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
da Federação, representações regionais para aproximar o poder público do cidadão caracteriza o fenômeno da descentralização administrativa. ( )
Justificativa:
A situação descrita na questão faz alusão ao fenômeno
da desconcentração administrativa, a qual se caracteriza pela
distribuição interna de competências dentro de uma mesma
pessoa jurídica com o fim de tornar mais eficiente a execução
das finalidades administrativas previstas em lei. Portanto, no
momento que a autarquia federal (órgão descentralizado) cria
representações regionais,
5. (CESPE – 2013 – TRE-MS – Técnico Judiciário – Área Administrativa – adaptada) A chamada
centralização desconcentrada é a atribuição administrativa cometida a uma única pessoa jurídica dividida internamente em diversos órgãos. ( )
Justificativa:
A centralização desconcentrada é um termo utilizado por
alguns doutrinadores como sinônimo de desconcentração, que
consiste na possibilidade de uma entidade dividir-se
internamente em órgãos, para realizar atribuições de modo a
melhor atender ao interesse público, embora permaneça como
titular de tais serviços públicos.
Gabarito: 01/C. 02/E; 03/C; 04/E; 05/C
PROCESSO ORGANIZACIONAL: PLANEJAMENTO, DIREÇÃO, COMUNICAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO.
O processo organizacional abrange as funções administrativas. São elas: planejamento, organização, direção e controle.
1 – PLANEJAMENTO
O planejamento é o processo de análise da situação interna da organização, da conjuntura externa nas áreas econômica, social e política, e do impacto desses cenários sobre a Administração, para definir os objetivos a serem atingidos, concebendo um cenário futuro ideal e exequível, e deliberar sobre a adoção de ações adequadas para viabilizar a conquista desses objetivos.
Tipos de planejamento
Com relação aos tipos de planejamento, são várias as classificações; Idalberto Chiavenato reconhece três níveis de planejamento, conforme o quadro:
Nível Organizacional
Tipo de Planejamento
Conteúdo Tempo Amplitude
Institucional Estratégico Genérico e abrangente
Longo prazo
Macroorientado: aborda a empresa como uma totalidade.
Intermediário Tático Menos genérico e mais detalhado
Médio prazo
Aborda cada unidade da empresa separadamente.
Operacional Operacional Detalhado e específico
Curto prazo
Microorientado: aborda apenas cada tarefa ou operação.
2 – ORGANIZAÇÃO
É o processo administrativo que visa à estruturação da empresa, reunindo pessoas e os equipamentos, de acordo com o planejamento efetuado.
3 – DIREÇÃO
Quando Fayol anunciou as funções administrativas elas eram representadas pela sigla POCCC (planejamento, organização, comando, coordenação e controle). Com o passar do tempo as funções de comando e coordenação foram unificadas na letra D de direção. Assim, direção é a função administrativa que interpreta os objetivos e os planos para alcançá-los, conduz e orienta as pessoas rumo a eles. Esta função engloba atividades como a tomada de decisão, a comunicação com os subordinados, superiores e pares, a obtenção, motivação e desenvolvimento de pessoal.
Princípios de Direção:
Quanto aos fins: princípio da contribuição individual ao objetivo e princípio da harmonia dos objetivos.
Quanto aos meios: princípio da unidade de comando, princípio da unidade de direção e princípio da seleção da técnica (orientação, emissão de ordens, delegação de autoridade).
LIDERANÇA.
Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida através do processo da comunicação humana à consecução de um ou de diversos objetivos específicos (Tannenbaum).
José Carlos Faria conceitua o líder como uma
pessoa capaz de unir outras através de esforços combinados para atingir determinado objetivo.
Liderar é, pois, a capacidade de dirigir, coordenar e motivar indivíduos ou grupos para alcançar determinados fins.
Mencionaremos algumas das principais teorias sobre liderança:
A Teoria dos Três Estilos de Liderança
Uma das primeiras abordagens sobre liderança enfoca os três estilos diferentes de decisão, que foram identificados nos estudos de Ralph White e Ronald Lippitt (1939), onde se procurava verificar a influência causada por três diferentes estilos de liderança nos resultados de desempenho e no comportamento das pessoas.
ESTILOS DE LIDERANÇA
▪ Autocrática:
- Diretrizes fixadas pelo líder, sem a participação do grupo.
- O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, uma de cada vez, conforme a necessidade, sendo assim, imprevisíveis para o grupo.
12 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
- O líder determina a tarefa a ser executada e qual o companheiro de trabalho de cada um.
- O líder é dominador e pessoal, tanto nos elogios quanto nas críticas ao trabalho de cada membro.
▪ Democrática:
- Diretrizes debatidas e decididas pelo grupo com a assistência e estímulo do líder.
- O grupo esboça as providências e técnicas para a execução das tarefas, solicitando ao líder aconselhamento quando necessário. Sempre que solicitado o líder oferece duas ou mais alternativas, provocando o debate no grupo.
- A divisão de tarefas fica a cargo do grupo e cada membro escolhe seus companheiros de trabalho.
- O líder é um membro normal do grupo, porém sem encarregar-se muito das tarefas. É objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios.
▪ Liberal:
- O grupo tem toda a liberdade para decidir, o líder participa minimamente.
- O líder tem uma participação limitada nos debates, apresentando materiais variados ao grupo, e fornecendo alguma informação se solicitada.
- O líder não participa; tanto a divisão das tarefas quanto a escolha de companheiros fica a cargo do grupo.
- O líder não avalia nem regula o curso dos acontecimentos. Quando perguntado, faz comentários irregulares sobre as atividades dos membros.
As experiências demonstram que grupos submetidos à liderança autocrática apresentam uma maior quantidade de trabalho produzido, os grupos submetidos à liderança liberal não se saíram bem nem quanto à quantidade nem quanto à qualidade e os grupos submetidos à liderança democrática apresentaram uma melhor qualidade do trabalho, porém com uma quantidade inferior ao grupo submetido à liderança autocrática.
Os resultados de estudos sobre estilos de decisão dos líderes sugerem que, (...) a maioria dos grupos prefere um líder democrático. Nesses estudos, membros de grupos conduzidos por um líder autoritário eram extremamente submissos ou extremamente agressivos em sua interação. Também eram os mais propensos a deixar a organização (...) (WAGNER III e HOLLENBECK, 1999, p.248).
Já na liderança liberal (―laissez-faire‖) o líder permite total liberdade para a tomada de decisões individuais ou grupais, enquanto na liderança democrática o líder age como um facilitador, orientando o grupo e sugerindo ideias. Os grupos submetidos à liderança liberal (―laissez-faire‖) apresentaram sinais de individualismo, insatisfação e pouco respeito com relação ao líder e na liderança democrática, os grupos apresentaram boa qualidade de trabalho, nítido sentido de responsabilidade e comprometimento das pessoas.
Liderança Situacional
O conceito de liderança situacional é bem simples, esse tipo de liderança é voltado para situações diferentes, ou seja, ela se adequa a diferentes tarefas propostas; é o estilo que tem de se ajustar à situação. O principal problema que essa teoria busca resolver é descobrir qual estilo deve ser usada em cada situação.
A Liderança Orientada para as Tarefas ou para as Pessoas
Outros estudos procuraram abordar a liderança identificando grupos de características que pareciam relacionadas entre si. Os estudos definiram dois conceitos, que foram denominados de orientação para o empregado e orientação para a produção.
Segundo os estudos da Universidade de Michigan os líderes orientados para o empregado acentuam o aspecto de relacionamento da sua função. Acham que cada empregado é importante e se interessam por cada um, aceitando sua individualidade e suas necessidades pessoais. Já a orientação para a produção enfatiza a produção e os aspectos técnicos da função; os empregados são vistos como instrumentos pelos quais se atingem os objetivos da organização. Essas duas orientações são paralelas aos conceitos do comportamento do líder autoritário (tarefa) e democrático (relacionamento) (HERSEY e BLANCHAD, 1986, cap.4, p.109).
A Grade Gerencial
Blake e Mouton (citados por CHIAVENATO, 1999) criaram uma grade gerencial para mostrar que a preocupação com a produção e a preocupação com as pessoas são aspectos complementares e não mutuamente excludentes. Para eles, os líderes devem unir essas duas preocupações, a fim de conseguir resultados eficazes das pessoas. No grid gerencial, cinco tipos diferentes de liderança baseados na preocupação com a produção (tarefa) e pessoas (relacionamento) são dispostos em dois eixos: o eixo horizontal se refere à preocupação com a produção, isto é, com o trabalho a ser realizado, enquanto que o eixo vertical se refere à preocupação com as pessoas, isto é, com sua motivação, liderança, satisfação, comunicação etc. Cada eixo está subdividido em nove graduações. A graduação mínima é 1 e significa pouquíssima preocupação por parte do administrador. A graduação máxima é 9 e significa a máxima preocupação possível. A Figura abaixo ilustra a
grade gerencial.
...o administrador deve avaliar o seu estilo de liderança e verificar onde está situado na grade gerencial. O objetivo é tentar gradativamente movê-lo para atingir o estilo 9.9, que constitui o estilo da excelência gerencial: a ênfase na produção e nos resultados, simultaneamente com a ênfase nas pessoas e nas atitudes e comportamentos (CHIAVENATO, 1999, cap. 16, p 569).
A Liderança Servidora
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 13
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
James C. Hunter trouxe uma nova tendência de liderança que certamente será o modelo mais utilizado nas próximas décadas, a liderança servidora. Surgido há apenas alguns anos, esse modelo vem ganhando força a cada dia nas organizações e na vida de executivos de alta direção das mais variadas empresas.
A liderança servidora na administração consiste em aplicar o pensar não somente nos negócios, mas também nas pessoas. Essa é talvez a mais importante mudança que deve ocorrer nas empresas para torná-las mais competitivas no mercado.
LACERDA (2005) relata que o maior propósito dessa liderança é ajudar a sua equipe a se desenvolver, é estar mais preocupado em servir os seus liderados, do que apenas dar ordens. É aquele que percebe que o seu sucesso depende diretamente de sua equipe. Pensando e agindo assim, recebe mais retornos que os outros tipos de liderança. Trata-se de um líder espiritualizado, que ajuda em vez de ser servido e acima de tudo é ético.
TEORIAS SITUACIONAIS DE LIDERANÇA
As teorias situacionais de liderança procuram incluir a liderança no contexto ambiental em que ela ocorre, levando em conta o líder, os liderados, a tarefa, a situação, os objetivos etc.
...vários estilos de comportamento de líder podem ser eficazes ou ineficazes, dependendo dos elementos da situação. Não se trata de descobrir o melhor estilo, mas o estilo mais eficaz para uma determinada situação (HERSEY e BLANCHARD, 1986, cap.4, p.117).
As principais teorias situacionais são: a escolha dos padrões de liderança, o modelo contingencial e a teoria do caminho - meta. (CHIAVENATO, 1999).
- A Escolha dos Padrões de Liderança
Tannenbaum e Schmidt (citados por CHIAVENATO, 1999) consideram que o líder deve escolher os padrões de liderança mais adequados para cada situação em que ele se encontra. Para os autores, a liderança é um fenômeno situacional, pois se baseia em três aspectos:
. Força no gerente, ou seja, a motivação interna do líder e outras forças que agem sobre ele como seu sistema de valores e convicções pessoais, sua confiança nos subordinados, suas inclinações pessoais a respeito de como liderar, seus sentimentos de segurança em situações incertas, sua tolerância para a ambiguidade e a facilidade de comunicação;
-Força nos subordinados, ou seja, a motivação externa fornecida pelo líder e outras forças que agem sobre os subordinados como: necessidade de autonomia ou de orientação superior, disposição de assumir responsabilidade, tolerância para a incerteza, interesse pelo problema ou pelo trabalho, compreensão e identificação do problema, conhecimento e experiência para resolver o problema, desejo e expectativa da participação em decisões;
-Força na situação, ou seja, as condições dentro das quais a liderança é exercida como o tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas e diretrizes, a eficiência e eficácia do grupo de subordinados, a tarefa a ser executada ou a complexidade do trabalho e o
tempo disponível para executar determinada tarefa.
Diante dessas três forças, o líder pode escolher um padrão de liderança adequado para cada situação, de modo a ajustar suas forças pessoais com as forças dos subordinados e as forças da situação. Trata-se de encontrar a sintonia certa entre essas três forças interativas (CHIAVENATO, 1999).
- O Modelo Contingencial de Fiedler
O Modelo Contingencial de Liderança desenvolvido por Fred E. Fiedler demonstra que três variáveis situacionais principais parecem determinar se uma dada situação é favorável aos líderes (HERSEY e BLANCHARD, 1986).
1ª - Suas relações pessoais com os membros do grupo (relações líder-membros). O relacionamento interpessoal pode envolver sentimentos de aceitação mútuos, confiança e lealdade que os membros depositam no líder ou sentimentos de desconfiança, reprovação, falta de lealdade e amizade entre as partes.
2ª - O grau de estruturação da tarefa que o grupo deve realizar, ou seja, o grau em que a tarefa dos subordinados é rotineira e programada (em um extremo) ou é vago e indefinível (em outro extremo).
3ª - O poder e a autoridade que sua posição lhe confere (poder de posição) refere-se à influência inerente à posição ocupada pelo líder, ao volume de autoridade formal atribuído ao líder, independentemente de seu poder pessoal.
...os líderes orientados para a tarefa enfatizam a execução satisfatória das tarefas, mesmo que em detrimento das relações interpessoais.
Por outro lado, os líderes orientados para a relação, de acordo com Fiedler (citado por WAGNER III e HOLLENBECK, 1999), são permissivos, atenciosos e conseguem manter boas relações interpessoais, mesmo com trabalhadores que não estão contribuindo para a realização do grupo.
A análise feita por Fiedler (citado por WAGNER III e HOLLENBECK, 1999) sugeriu que os líderes orientados para a tarefa são mais eficazes em situações que sejam extremamente favoráveis ou extremamente desfavoráveis; líderes orientados para a relação, segundo ele, eram muito bem-sucedidos em situações moderadamente favoráveis.
A situação mais favorável para um líder influenciar seu grupo é aquela em que ele é estimado pelos membros (boas relações líder-membros), tem uma posição de grande poder (alto poder de posição) e dirige um trabalho bem definido (alta estruturação da tarefa). Por outro lado, a situação mais desfavorável para um líder é aquela em que ele não é estimado, tem pouco poder de posição e enfrenta uma tarefa não-estruturada (HERSEY e BLANCHARD, 1986).
- A Teoria do Caminho - Meta ou Teoria voltada para os Objetivos
No cerne dessa teoria encontra-se a noção de que o propósito primordial do líder é motivar os seus seguidores, esclarecendo as metas e os melhores caminhos para alcançá-las. Essa abordagem está baseada na teoria da expectativa da motivação, que enfatiza as três variáveis motivacionais que os líderes podem influenciar por seus comportamentos ou estilos de decisão: valências, instrumentalidade e expectativas (fatores já estudados anteriormente)
14 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O trabalho do líder, de acordo com a teoria caminho – objetivo é manipular esses três fatores de maneiras desejáveis. Primeiro: os líderes precisam manipular as valências dos seguidores, identificando ou despertando necessidades de resultados que os líderes podem controlar. Segundo: os líderes também são responsáveis pela manipulação das instrumentalidades dos seguidores, certificando-se de que o desempenho elevado gere resultados satisfatórios para os seguidores. Terceiro, os líderes precisam manipular as expectativas dos seguidores por meio da redução de barreiras frustrantes do desempenho (WAGNER III e HOLLENBECK, 1999).
A teoria do caminho-objetivo propõe quatro estilos de comportamento que, segundo Robert House (citado por WAGNER III e HOLLENBECK, 1999), podem permitir aos líderes manipularem as três variáveis motivacionais: liderança diretiva, encorajadora, participativa e orientada para a realização, conforme quadro abaixo.
Quadro:
Os Quatro estilos de Comportamento da Teoria do Caminho-Objetivo (WAGNER III e HOLLENBECK,
1999, cap.9, p.262)
O líder é autoritário. Os subordinados sabem exatamente o que é esperado deles, e o líder fornece direções específicas. Os subordinados não participam da tomada de decisões.
Liderança Diretiva
O líder é amistoso e acessível e demonstra uma preocupação genuína com os subordinados.
Liderança Encorajadora
O líder pede e usa as sugestões dos subordinados, mas ainda toma as decisões.
Liderança Participativa
O líder fixa metas desafiadoras para os subordinados e demonstra confiança em que eles atingirão essas metas.
Liderança Orientada
para a Realização
OUTRAS TEORIAS
Mencionamos ainda as seguintes teorias:
- Modelo Transacional
Edward Hollander (citado em WAGNER III e HOLLENBECK, 1999) sugeriu que o processo de liderança é melhor compreendido como a ocorrência de transações mutuamente gratificantes entre líderes e seguidores em um determinado contexto situacional.
A liderança no modelo transacional encontra-se na junção desses três vetores: líderes, seguidores e situações. Neste caso, pode-se entender a liderança apenas por meio de uma avaliação das características importantes dessas três forças e dos modos pelos quais se interagem.
Segundo Moscovici (2000) e baseado nas teorias exploradas anteriormente, percebe-se que o conhecimento de liderança é amplo e ao mesmo tempo deficiente para uma compreensão completa e utilizável na prática. Muitas teorias têm sido elaboradas a respeito de liderança a partir de um foco de atenção ou abordagem predominante. Moscovici (2000) ressalta que se deve fazer distinção entre ―líder‖ e ―estilo de liderança‖. Um líder é a pessoa no grupo à qual foi atribuída, formal ou informalmente, uma posição de responsabilidade para dirigir e coordenar as atividades relacionadas à tarefa.
Sua maior preocupação prende-se à consecução de algum objetivo específico do grupo. Por outro lado, o ―estilo de liderança‖ é a maneira pela qual uma pessoa, numa posição de líder, influencia as demais pessoas no grupo.
Quando o foco principal de atenção é a figura do líder, os estudos foram feitos em torno das características pessoais, procurando-se uma diferenciação de atributos entre ―líderes‖ e ―não-líderes‖, com o intuito de demonstrar que existem características pessoais que podem facilitar o desempenho do líder em determinadas circunstâncias, e não em outras, e que podem ser desenvolvidas para maior eficácia no seu desempenho.
Estudos mais recentes (GOFFEE e JONES, 2001) demonstram que os verdadeiros líderes possuem, além de visão abrangente, energia, autoridade e direção estratégica, quatro outras características, que podem ser descritas como:
. Os líderes mostram seus ―pontos fracos‖, mas de maneira seletiva. Ao deixar transparecer certa vulnerabilidade, admitem que são acessíveis e humanos;
. Líderes ―confiam em sua intuição‖ para detectar o momento ideal e o curso mais adequado para suas ações. Sua capacidade de coletar e interpretar dados percebidos de forma não-racional (dados ―soft‖) ajuda-os a saber quando e como agir;
. Os líderes possuem ―empatia sem concessões‖ por seus subordinados. Líderes influentes realmente sentem forte empatia pelas pessoas e se interessam verdadeiramente pelo trabalho de seus subordinados;
. Líderes ―mostram suas diferenças‖, costumam capitalizar aquilo que têm de especial, usando e enfatizando essas diferenças de forma positiva.
Porém, quando o estudo é focado nos estilos de liderança, o objetivo principal passa a ser a relação, o comportamento interpessoal entre líderes e liderados, entre a pessoa que influencia e as pessoas que são influenciadas. Portanto, esse aspecto dual indica a característica dinâmica da liderança, pois sem liderados não há líderes, enfatizando o ponto principal do problema, a relação entre as pessoas.
- Modelo Transformacional (Burns)
O líder transformacional apela à consciência dos liderados no sentido de alcançarem elevados ideais e valores, induz os liderados a ultrapassarem os seus interesses particulares em favor dos interesses do grupo ou da organização.
- A Teoria de Ritter
A teoria do autor citado se refere aos talentos do líder. Segundo ele o líder eficaz deve combinar quatro talentos: o cognitivo, o social e político, intrapsíquico e ético.
O talento cognitivo abrange a capacidade do líder de interpretar o mundo para entender os objetivos da empresa onde atua. O talento social e político envolve a capacidade entender a empresa como um sistema social. O talento intrapsíquico está vinculado a capacidade de perceber sua importância como líder, seu poder e os perigos ocasionados pelas suas paixões e ambições e o telento ético se refere à capacidade de discernir o certo do errado visando o sucesso da organização.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 15
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
- A Teoria de Richard W. Wallen
Esta teoria estabelece três tipos de personalidade dos líderes nas organizações: o Batalhador, o Auxiliador e o Crítico.
Caracterísitcas do Batalhador: usa de intimidação, ênfase no poder, é carente de afeto e teme pela dependência.
Características do Auxiliador: ênfase na
afetividade, é compreensivo, teme a rejeição, falta-lhe mais firmeza.
Características do Crítico: ênfase na aptidão dos liderados, uso da argumentação, teme pelas emoções e necessita de conscientização dos sentimentos.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (Anal.Jud.TRF 1ª R/FCC/2011) Exercer a liderança
numa organização é
a) colocar os funcionários para trabalharem.
b) obter dos funcionários os resultados acordados e esperados.
c) fazer com que os funcionários façam algo que você está convencido que deva ser feito.
d) fazer com que os funcionários tenham vontade de fazer algo que você está convencido que deva ser feito.
e) manter funcionários que ajam e trabalhem como funcionários.
02. (Adm.Jr.PETROBRAS/2001) Os estilos de liderança
consistem nas atitudes de um líder frente a seus seguidores. Diversos autores apontam três formas de liderança: autocrática, democrática e laissez-faire. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I - Um supervisor que está preocupado exclusivamente com a produção e os prazos de entrega, desconsidera as opiniões de seus seguidores e centraliza as decisões da organização é um líder autocrático.
II - Um gerente que deixa todas as decisões nas mãos dos seguidores e cobra apenas os resultados pode ser classificado como um líder democrático.
III - É característica da liderança laissez-faire a participação de seguidores no processo de tomada de decisão e a definição compartilhada de objetivos e estratégias.
Está correto APENAS o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.
Gabarito: 01/B; 02/A
MOTIVAÇÃO
A Motivação é um poderoso instrumento de Direção. Um MOTIVO é qualquer coisa que leva uma pessoa a praticar uma ação. Um motivo é a causa, a razão de algum comportamento. Como as pessoas são diferentes entre si e reagem individualmente a uma mesma situação, a Direção deve levar em conta essas diferenças individuais e tratar as pessoas adequadamente.
Na prática, toda essa teoria pode ser aplicada através dos fatores de Motivação. Os fatores de Motivação mais importantes são:
• Trabalho interessante e que propicie desafios para a pessoa;
• Remuneração adequada ao trabalho executado;
• Oportunidades de progresso na Empresa;
• Projeção e prestígio social decorrente do trabalho feito;
• Reconhecimento pelo superior e colegas de trabalho.
Teorias da motivação
As teorias mais populares sobre a motivação são as relacionadas às necessidades humanas. É o caso da teoria de Maslow sobre a hierarquia das necessidades humanas. Segundo esta teoria existe uma hierarquia das necessidades e assim o indivíduo somente passa a buscar a satisfação de uma necessidade quando as anteriores já estão plenamente satisfeitas.
A hierarquia das necessidades segundo Maslow
abrange:
Necessidades Fisiológicas (ar, comida, repouso etc);
Necessidades de Segurança (proteção contra o perigo ou privação);
Necessidades Sociais (amizade, inclusão em grupos etc);
Necessidades de Estima (reputação, reconhecimentos, auto respeito, amor etc);
Necessidades de Auto Realização (realização do potencial, utilização plena dos talentos individuais etc).
Abaixo temos a pirâmide das necessidades de Maslow, onde as duas primeiras (fisiológicas e segurança) são chamadas de necessidades primárias e as demais (sociais, estima e auto realização) são chamadas de necessidades secundárias.
Teorias opostas
Douglas Mc Gregor criou duas teorias opostas, para explicar a importância da motivação no comportamento das pessoas, dentro da organização. Ele deu o nome a essas teorias X e Y, afirmando que a motivação ou a sua falta, seriam lados opostos de uma mesma moeda.
Características da Teoria X:
O ser humano tem uma aversão natural ao trabalho;
16 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A maioria das pessoas precisa ser controlada, dirigida, coagida e punida, para que finalmente trabalhe;
O ser humano não consegue assumir responsabilidades;
A participação dos funcionários é um instrumento de manipulação dos mesmos;
O líder adota um estilo autocrático.
Características da Teoria Y:
Integração entre objetivos individuais e organizacionais; querer se esforçar fisicamente e mentalmente no trabalho é uma atitude tão natural, quanto querer descansar;
A maioria das pessoas busca naturalmente se auto corrigir, para atingir os objetivos que propuseram alcançar;
O compromisso com um objetivo depende das recompensas que se espera receber com sua consecução;
O ser humano não só aprende a aceitar as responsabilidades, como passa a procurá-las;
A participação dos funcionários é uma forma de valorizar suas potencialidades intelectuais como: imaginação, criatividade e engenhosidade;
O líder adota um estilo participativo.
A teoria de Mc Clelland – Estudando os fatores
motivacionais, Mclelland dividiu-os em três categorias:
necessidade de realização: desenvolver tarefas e vencer desafios;
necessidade de poder: influenciar pessoas e sistemas organizacionais;
necessidade de afiliação: pertencer a um grupo, ser amado.
- A Teoria da Expectativa (Vroom)
Para Victor Vroom, motivação é o processo que governa a escolha de comportamentos voluntários alternativos.
O quadro inicial seria aquele de uma pessoa que poderia escolher entre fazer A, B ou C.
Segundo Vroom, a motivação da pessoa para escolher uma das alternativas dependeria de 3 fatores:
. do valor que ela atribui ao resultado advindo de cada alternativa (que ele chama de "valência");
. da percepção de que a obtenção de cada resultado está ligada a uma compensação (que ele chama de "instrumentalidade") e
. da expectativa que ela tem de poder obter cada resultado (que ele chama de "expectativa").
Assim, para que uma pessoa esteja "motivada" a fazer alguma coisa é preciso que ela, simultaneamente:
. atribua valor à compensação advinda de fazer essa coisa;
. acredite que fazendo essa coisa ela receberá a compensação esperada e
. acredite que tem condições de fazer aquela coisa.
Em termos de uma equação, essa definição poderia ser escrita da seguinte forma:
- motivação = [expectativa] X [instrumentalidade] X [valor], o que significa que todos os termos têm que ser maiores do que zero (nenhum dos fatores pode estar ausente).
- A Teoria de Skinner
Skinner baseou suas teorias na análise das condutas observáveis.
Trabalhou sobre a conduta em termos de reforços positivos (recompensas) contra reforços negativos (castigos).
Nenhum pensador ou cientista do século 20 levou tão longe a crença na possibilidade de controlar e moldar o comportamento humano como o norte-americano Burrhus Frederic Skinner.
A teoria de B.F. Skinner baseia-se na ideia de que o aprendizado ocorre em função de mudança no comportamento manifesto. As mudanças no comportamento são o resultado de uma resposta individual a eventos (estímulos) que ocorrem no meio. Uma resposta produz uma consequência, bater em uma bola, solucionar um problema matemático. Quando um padrão particular Estímulo-Resposta (S-R) é reforçado (recompensado), o indivíduo é condicionado a reagir. A característica que distingue o condicionamento operante em relação às formas anteriores de behaviorismo (por exemplo: Thorndike, Hull) é que o organismo pode emitir respostas, em vez de só obter respostas devido a um estímulo externo.
O reforço é o elemento-chave na teoria S-R de Skinner. Um reforço é qualquer coisa que fortaleça a resposta desejada. Pode ser um elogio verbal, uma boa nota, ou um sentimento de realização ou satisfação crescente. A teoria também cobre reforços negativos - uma ação que evita uma consequência indesejada.
O conceito-chave do pensamento de Skinner é o de condicionamento operante, que ele acrescentou à noção de reflexo condicionado, formulada pelo cientista russo Ivan Pavlov. Os dois conceitos estão essencialmente ligados à fisiologia do organismo, seja animal ou humano. O reflexo condicionado é uma reação a um estímulo casual. O condicionamento operante é um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação. É o caso do rato faminto que, numa experiência, percebe que o acionar de uma alavanca levará ao recebimento de comida. Ele tenderá a repetir o movimento cada vez que quiser saciar sua fome.
A diferença entre o reflexo condicionado e o condicionamento operante é que o primeiro é uma resposta a um estímulo puramente externo; e o segundo, o hábito gerado por uma ação do indivíduo. No comportamento respondente (de Pavlov), a um estímulo segue-se uma resposta. No comportamento operante (de Skinner), o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele, alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante.
O condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de novo comportamento - um processo que Skinner chamou de modelagem. O instrumento fundamental de modelagem é o reforço.
Skinner era determinista. Em sua teoria não havia nenhum espaço para o livre-arbítrio, pois afirmar que os seres humanos são capazes de livre escolha seria negar sua suposição básica de que o comportamento é controlado pelo ambiente e os genes.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 17
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Nos usos que propôs para suas conclusões científicas — em especial na educação —, Skinner pregou a eficiência do reforço positivo, sendo, em princípio, contrário a punições e esquemas repressivos, sugeria que o uso das recompensas e reforços positivos da conduta correta era mais atrativo do ponto de vista social e pedagogicamente eficaz.
No campo da aprendizagem escolar Skinner tentou demonstrar que, mediante ameaças e castigos se conseguem resultados positivos muito mais baixos e com efeitos secundários muito piores do que com o sistema de reforços positivos. Seu princípio para o máximo aproveitamento das classes baseia-se na atividade dos alunos; sua aplicação mais conhecida é o ensino programado em que os sucessos em determinadas tarefas atuam como reforço para aprendizagens posteriores.
- Administração por Objetivos (APO)
.é uma técnica participativa de planejamento e avaliação;
.através da qual superiores e subordinados, conjuntamente, definem aspectos prioritários e
.estabelecem objetivos (resultados) a serem alcançados, num determinado período de tempo e em termos quantitativos, dimensionando as respectivas contribuições (metas);
.e acompanham sistematicamente o desempenho (controle) procedendo às correções necessárias.
- Teoria da Equidade
Também chamada de Teoria do Equilíbrio, tem por base a crença de que as recompensas devem ser proporcionais ao esforço e iguais para todos. Se duas pessoas realizam o mesmo esforço, a recompensa deve ser igual à da outra.
A contribuição desta teoria no ambiente organizacional reside na possibilidade de se aferir o clima no trabalho, por permitir a compreensão quanto à reação das pessoas diante de recompensas oferecidas ao grupo.
Postulados básicos desta teoria:
Uma organização é um sistema de comportamentos sociais inter-relacionados de numerosas pessoas, que são os participantes da organização;
Cada participante e cada grupo de participantes recebe incentivos (recompensas) em troca dos quais faz contribuições à organização;
Todo o participante manterá sua participação na organização enquanto os incentivos que lhe são oferecidos forem iguais ou maiores do que as contribuições que lhe são exigidos;
As contribuições trazidas pelos vários grupos de participantes constituem a fonte na qual a organização se supre e se alimenta dos incentivos que oferece aos participantes;
A organização continuará existindo somente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos em qualidade bastante para induzirem os participantes à prestação de contribuições.
Tipos de participantes
Os participantes da organização são todos aqueles que dela recebem incentivos e que trazem
contribuições para sua existência. Existem cinco classes de participantes: empregados, investidores, fornecedores, distribuidores e consumidores. Nem todos os participantes atuam dentro da organização, mas todos eles mantém uma relação de reciprocidade com ela.
- Teoria ERG
A Teoria ERG, denominada ERC em português, tem sua origem nos estudos de Clayton Alderfer segundo o qual existem três grupos de necessidades: existence (E) ou existência, equivalente às necessidades básicas, fisiológicas e de segurança de Maslow; relatedness (R) ou relacionamento, correspondente às necessidades de relações pessoais e as de estima de Maslow; e o growth (G) ou crescimento. (C).
A Teoria ERC (ERG) contrapõe a de Maslow na ideia da rigidez hierárquica, segundo a qual o ser humano segue linearmente a satisfação de suas necessidades, mudando de um nível inferior para outro superior quando o mesmo foi substancialmente satisfeito.
Para Alderfer, a transferência de um nível para o outro não ocorre somente após a satisfação do nível inferior:
Uma pessoa pode, por exemplo, estar registrando crescimento mesmo que as necessidades de existência ou de relacionamento não estejam satisfeitas ou todas as três categorias de necessidade podem estar operando ao mesmo tempo.
Neste sentido, a proposta de Alderfer aproxima-se mais de uma versão revista da teoria de Maslow, onde acredita que a satisfação das necessidades não é sequencial, mas sim simultânea, com base em dois princípios:
- mais de uma necessidade pode funcionar ao mesmo tempo; na hipótese de uma necessidade na parte superior permanecer insatisfeita;
- aumenta o desejo de satisfazer a uma necessidade da parte inferior.
Frustração
É consenso entre as teorias, que as necessidades humanas atuam de diferentes formas no comportamento. Em um primeiro plano, a própria manifestação das necessidades, conforme sua intensidade e natureza impulsiona as pessoas a procurar objetivos como empregos, realização pessoal ou outros interesses individuais.
Em um segundo plano, a incapacidade de satisfazer uma necessidade produz um sentimento de frustração, que também pode nascer da falta de equidade.
A necessidade insatisfeita gera outras manifestações do comportamento humano como fuga, compensação, agressão ou deslocamento. A seguir analisam-se os efeitos da frustração:
a) Compensação – forma alternativa de satisfação de uma necessidade ou busca da satisfação de uma necessidade alternativa.
b) Resignação – estado de desânimo.
c) Agressão – comportamento de fundo emocional, ataques físicos ou verbais, associados aos sentimentos de ira e hostilidade.
d) Substituição ou Deslocamento – impossibilidade de descarregar a agressão contra o objeto ou pessoa que a provocou.
18 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Daí a importância de o líder conhecer a si próprio, saber identificar o que causaria frustração em sua equipe, conhecendo o ambiente, os temperamentos das pessoas com quem convivem e procurar harmonizar estes fatores.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (Gestão RH/UNCA/CESPE/2010) Acerca da
motivação, julgue os próximos itens.
1] A teoria motivacional da equidade reconhece que os indivíduos julgam a quantidade absoluta de suas recompensas organizacionais, não só pelos seus esforços, mas também pela recompensa obtida pelos outros em face dos insumos por eles empregados.
2] Considere que um gestor de pesquisas de determinado órgão governamental da área de saúde, em vez de se esforçar para solucionar problemas e definir novas metas mais desafiadoras, idealiza ser influente e controlar os outros integrantes da sua unidade. A sua preferência é atuar em situações competitivas voltadas para o status, e ele se preocupa mais com o prestígio decorrente dos resultados e da influência sobre os outros. Com base na teoria das necessidades de McClelland, esse indivíduo possui a necessidade de afiliação como a mais preponderante.
3] A motivação de um indivíduo inserido em uma organização tem relação direta com a intensidade de esforços que ele emprega, por isso indivíduos motivados geram resultados favoráveis para a organização.
02. (Assemb.Leg.SP/FCC/2010) Na gestão
contemporânea, uma política de motivação dos funcionários deve
a) proporcionar poucos desafios na vida e no trabalho, reduzindo assim as emoções fortes.
b) compreender e tolerar os erros, priorizando o bemestar de todos na sociedade e na organização.
c) garantir estabilidade e segurança no trabalho, por meio de programas de benefícios pessoais e principalmente corporativos.
d) levar em consideração a existência das diferenças individuais e culturais dentro da organização.
e) controlar e punir os comportamentos individualistas e a transgressão de normas e expectativas da organização.
Gabarito: 01/CEE; 02/D
COMUNICAÇÃO.
Comunicação é o processo pelo qual os seres humanos trocam entre si informações.
O processo de Comunicação ocorre quando o emissor (ou codificador) emite uma mensagem (ou sinal) ao receptor (ou decodificador), através de um canal (ou meio). O receptor interpretará a mensagem que pode ter chegado até ele com algum tipo de barreira (ruído, bloqueio, filtragem) e, a partir daí, dará o feedback ou resposta, completando o processo de comunicação.
O gráfico abaixo ilustra o processo de comunicação:
Elementos da comunicação
Assim, os elementos do processo de comunicação são:
- Emissor: aquele que emite ou transmite uma mensagem.
- Mensagem: aquilo que se pretende transmitir.
- Código: conjunto de elementos com significado organizado, segundo certas regras, aceitas pelo emissor e receptor.
- Contexto: situação em que decorre a comunicação (o tema da comunicação).
- Canal: suporte físico através do qual a mensagem passa do emissor para o receptor (ar, postal, livro, telefone…).
- Receptor: aquele que recebe a mensagem.
Formas de comunicação nas organizações
É importante também destacar que as pessoas não se comunicam apenas por palavras (linguagem verbal). Os movimentos faciais e corporais, os gestos, os olhares, a entoação também são importantes e constituem a linguagem não verbal.
Numa empresa, a comunicação se faz, fundamentalmente, através das instruções de trabalho, por meios de reuniões (comunicação pessoal), ordens de serviço, avisos, ofícios, editais, circulares, e-mail (comunicação impessoal) e outros documentos apropriados às diversas situações.
A comunicação é o fluxo de informações dentro de uma organização, entendendo que este fluxo ocorre em todas as direções – dos níveis hierárquicos superiores aos níveis hierárquicos inferiores (vertical descendente), dos níveis inferiores aos superiores (vertical ascendente), e comunicação horizontal ou lateral, entre níveis hierárquicos equivalentes.
O processo de comunicação pode ser formal ou informal. O processo formal acontece através dos sistemas internos de comunicação – que podem variar desde complexos sistemas computacionais a simples reuniões de equipes de trabalho – e são importantes para obtenção das informações necessárias ao acompanhamento dos objetivos operacionais, de informação e de conformidade. O processo informal, que ocorre em conversas e encontros com clientes, fornecedores, autoridades e empregados é importante para obtenção das informações necessárias à identificação de riscos e oportunidades.
A rede de comunicação é denominada aberta, quando ocorre nas duas vias. A comunicação total e aberta é encorajada entre todos os membros do grupo. Quando ela acontece apenas em uma via, por exemplo, uma chefia transmite uma mensagem sem permitir o questionamento pelos funcionários e tão pouco entre seus colegas, temos uma comunicação denominada fechada, unidirecional.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 19
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Em relação a moral, os membros da rede aberta ficam mais satisfeitos e sentem-se mais envolvidos na tarefa. Na rede fechada, apenas o chefe sente-se satisfeito e envolvido. Na rede aberta, cada membro tem a oportunidade de assumir a posição de líder.
Torquato (2002, p.34) aponta para quatro formas de comunicação nas organizações, sintetizadas a
seguir:
- Cultural: quando as pessoas falam umas com as outras.
- Administrativa: que reúne cartas internas, memorandos.
- Sistema de informações: agrega informações armazenadas em bancos de dados.
- Social: caracteriza-se por um processo indireto, unilateral e público, envolvendo as áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade, editoração e marketing.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (Sec.Exec.UFFS/2010) A comunicação em uma
organização, vista em um processo de comunicação, envolve, desde o emissor até o receptor, passando por meios, ruídos, feedback comunicação oral e escrita, contrato psicológico e outros. Em uma das alternativas, apresentamos conceito de comunicação lateral. Identifique em que alternativa definimos este conceito.
a) é uma forma de comunicação que depende da qualidade de seus emissores e receptores, para os processos atendam aos objetivos previstos. Aos administradores de serviços públicos, cabem a responsabilidade em manter uma eficiente comunicação em suas unidades de trabalho, para estabelecer níveis colaterais de desempenho.
b) a comunicação lateral é a que ocorre dentro de unidades de trabalho para que seja mantido o mesmo nível de trabalho, mesmo onde se situam diferentes hierarquias (comunicação diagonal). Os canais de comunicação lateral de todos os tipos permitem o funcionamento dos processos interdepartamentais e a tomada de decisão que envolve diferentes unidades de trabalho.
c) a eficácia do processo de comunicação depende não apenas da eficiência do emissor e a de sua mensagem, mas também do comportamento do receptor pra manter uma base lateral de entendimento. Para aprimorar o processo de comunicação, as pessoas devem treinar pra receber mensagem e ser eficiente para desenvolver uma estrutura lateral eficiente entre emissor e receptor, obedecendo a hierarquia existente, pra uma comunicação diagonal.
d) a comunicação lateral é a que ocorre entre unidades de trabalho do mesmo nível ou entre unidades de trabalho de níveis diferentes, mas que se situam em diferentes hierarquias (comunicação diagonal). Os canais de comunicação lateral de todos os tipos permitem o funcionamento dos processos interdepartamentais e a tomada de decisão que envolve diferentes unidades de trabalho.
e) a comunicação lateral é a que define, com antecedência, a qualidade de um processo e o nível interpessoal existente em uma unidade. Dependendo da forma - escrita ou oral, deve-se antecipar os níveis de ruídos e o feedback a ser aplicado para a avaliação de seu conteúdo. A utilização de uma comunicação
lateral implica em desconsiderar a existência de obstáculos comuns em uma organização.
02. (CESPE / DPU / Agente Administrativo / Acerca das
equipes de trabalho e do comportamento das pessoas nesse contexto, assinale a opção correta.
a) Garante-se a qualidade do relacionamento na equipe quando pelo menos alguns dos membros do grupo possuem competência interpessoal inata.
b) O sistema de comunicação e de feedback individual e grupal possibilita a positiva interação entre os membros da equipe e viabiliza a sinergia.
c) Devido ao próprio padrão de comportamento, as pessoas agem, em grupo ou individualmente, sempre da mesma forma, independentemente do ambiente em que estejam.
d) O simples fato de as pessoas trabalharem em grupo gera, na equipe, sentimentos de satisfação e harmonia, pois a interação entre pessoas de diferentes perfis e comportamentos implica apoio mútuo.
e) Em razão de sua vivência em sociedade, os indivíduos são capazes não só de prever, mas também de interpretar as reações das outras pessoas, o que impede que haja distorções no relacionamento interpessoal nos grupos.
Gabarito: 01/D; 02/B
4 – CONTROLE Esta função está intimamente associada com o Planejamento. Ao planejamento cabe definir objetivos a se alcançar; ao Controle cabem as atividades de estabelecer os padrões de desempenho, manter registros de processos e resultados alcançados (pontos de controle), avaliar resultados e estabelecer as medidas corretivas necessárias.
Idalberto Chiavenato ensina que o controle é um processo cíclico e é composto de quatro fases, a
saber:
a) Estabelecimento de Padrões e Critérios: Os
padrões representam o desempenho desejado. Os critérios representam normas que guiam as decisões. São balizamentos que proporcionam meios para se definir o que se deverá fazer e qual o desempenho ou resultado a ser aceito como normal ou desejável. São os objetivos que o controle deverá assegurar. Os padrões são expressos em tempo, dinheiro, qualidade, unidades físicas, custos ou de índices. A Administração Científica preocupou-se em desenvolver padrões, como o tempo padrão no estudo dos tempos e movimentos. Custo padrão, padrões de qualidade, padrões de volume de produção são exemplos de padrões ou critérios.
b) Observação do desempenho: Para se
controlar um desempenho deve-se pelo menos conhecer algo a respeito dele, O processo de controle atua no sentido de ajustar as operações a determinados padrões previamente estabelecidos e funciona de acordo com a informação que recebe. A observação ou verificação do desempenho ou do resultado busca obter informação precisa a respeito daquilo que está sendo controlado.
20 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
c) Comparação do Desempenho com o padrão Estabelecido: Toda atividade proporciona
algum tipo de variação, erro ou desvio. Deve-se determinar os limites dentro dos quais essa variação será aceita como normal. Nem toda variação exige correções, mas apenas as que ultrapassam os limites da normalidade. O controle separa o que é excepcional para que a correção se concentre unicamente nas exceções ou nos desvios. Para tanto, o desempenho deve ser comparado ao padrão para verificar eventuais desvios. A comparação do desempenho com o padrão estabelecido é feita por meio de gráficos, relatórios, índices, porcentagens, medidas estatísticas etc. Esses meios de apresentação supõem técnicas à disposição do controle para que este tenha maior informação sobre aquilo a ser controlado.
d) Ação corretiva: O objetivo do controle é manter
as operações dentro dos padrões estabelecidos para que os objetivos sejam alcançados da melhor maneira. Assim, as variações, erros ou desvios devem ser corrigidos para que as operações sejam normalizadas. A ação corretiva visa fazer com que aquilo que é feito seja feito exatamente de acordo com o que se pretendia fazer.
São características do controle administrativo:
Maleabilidade: possibilitar a introdução de
mudanças decorrentes de alterações nos planos e nas ordens.
Instantaneidade: acusar o mais depressa
possível as faltas e os erros verificados.
Correção: permitir a reparação das faltas e dos
erros, evitando-se sua repetição.
Quanto aos tipos, vamos mencionar o controle:
Preliminar ou Preventivo: é exercido antes da execução de uma função.
Corrente ou Simultâneo: é aquele que se estabelece ao mesmo tempo em que as ações vão se desenvolvendo.
Pós-Controle: é exercido após a execução de uma função.
Vamos mencionar ainda:
- O controle familiar: é utilizado em empresas cuja menor dimensão ou estabilidade do contexto social permitam um controle mais informal, com ênfase nas relações pessoais. A limitada descentralização, característica desta forma de controle, reduz a necessidade de controles. Tal tipo de controle encontra limitações quando a empresa se volta para um ambiente de maior competição, aumenta sua dimensão ou surgem ameaças à figura do líder. Seu maior risco é a fidelidade ao líder sobrepujar os requerimentos de eficácia e inovação necessários aos tempos atuais.
- O controle burocrático: é comum de ser encontrado em ambientes estáveis e pouco competitivos. Baseia-se em regras e normas rígidas, com predomínio de medidas financeiras, com uma forte estrutura funcional, com limitado grau de autonomia. Como consequência, tende a gerar e manter uma cultura organizacional avessa à mudança. É próprio da administração pública.
- O controle por resultados: é largamente utilizado em contextos sociais muito competitivos e é fortemente baseado em controles financeiros. Nestes tipos de organizações é feita a opção pela descentralização através do desenvolvimento de centros de responsabilidade que são avaliados com base nos resultados apresentados. Esta descentralização aumenta o grau de autonomia, responsabilidade e discrecionalidade e, portanto, a necessidade de controle. Geralmente associado a empresas de grande porte, obriga-se, por isto, à formalização dos procedimentos, e a utilização de técnicas padronizadas facilita o controle.
- O controle ad-hoc: baseia-se na utilização de instrumentos não formais que promovam o autocontrole. São próprios de ambientes dinâmicos e complexos, valendo-se de estruturas descentralizadas. Embora possam utilizar medidas financeiras, estas organizações realizam atividades que dificultam a formalização dos procedimentos e de comportamentos por não possuírem características repetitivas e cujos fatores críticos não são de caráter financeiro. Exemplos podem ser encontrados nas empresas de alta tecnologia, centros de pesquisa e desenvolvimento ou departamentos de marketing.
Figura 3: Processo Administrativo
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (CESPE / ABIN / Oficial) Com relação ao processo
organizacional, julgue os itens subsequentes.
1] Planejamento refere-se diretamente a competência interpessoal e gestão de pessoas.
2] A primeira tarefa do planejador é definir um plano, parte mais importante do processo de planejamento. Em seguida, ele deve coletar e processar dados relevantes para a implementação desse plano, a partir de novas informações e decisões.
3] Em organizações formais contemporâneas, os dirigentes ocupam posição em uma hierarquia regida por normas impessoais. A autoridade formal concedida a esses dirigentes não garante a liderança e a condução de pessoas.
02. (CESPE / DPU / Agente Administrativo) Acerca das
equipes de trabalho e do comportamento das pessoas nesse contexto, assinale a opção correta.
a) Garante-se a qualidade do relacionamento na equipe quando pelo menos alguns dos membros do grupo possuem competência interpessoal inata.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 21
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
b) O sistema de comunicação e de feedback individual e grupal possibilita a positiva interação entre os membros da equipe e viabiliza a sinergia.
c) Devido ao próprio padrão de comportamento, as pessoas agem, em grupo ou individualmente, sempre da mesma forma, independentemente do ambiente em que estejam.
d) O simples fato de as pessoas trabalharem em grupo gera, na equipe, sentimentos de satisfação e harmonia, pois a interação entre pessoas de diferentes perfis e comportamentos implica apoio mútuo.
e) Em razão de sua vivência em sociedade, os indivíduos são capazes não só de prever, mas também de interpretar as reações das outras pessoas, o que impede que haja distorções no relacionamento interpessoal nos grupos.
03. (TRE-BA / Técnico Judiciário -CESPE/2010) Em
situações de trabalho compartilhadas por duas ou mais pessoas, há atividades a serem executadas, interações e sentimentos envolvidos. Acerca das relações humanas no trabalho, julgue os próximos itens.
1] Competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e à exigência da situação.
2] Para atuar de forma competente e eficaz no trabalho, o servidor deve evitar ver por vários ângulos os aspectos de uma mesma situação, deve atuar de maneira formal e padronizada, pois se trata do cumprimento de regras institucionais.
3] Os feedbacks fornecidos a respeito de colegas de trabalho devem incluir julgamentos e avaliações acerca desses colegas, devem ser específicos quanto aos eventos tratados e compatíveis com as necessidades de ambos.
Gabarito: 01/EEC; 02/B; 03/CEE
GESTÃO DE PROCESSOS.
1. INTRODUÇÃO
A história das organizações está intimamente relacionada com as transformações que ocorrem com a história da sociedade humana. A busca pelo crescimento econômico tem data cronológica bem anterior à própria Revolução Industrial e, desde aquela época se associava crescimento da produção a determinadas decisões futuras.
A sobrevivência das organizações vai além da busca por novos clientes, estando relacionada com uma série de fatores que determinarão o sucesso ou o seu fracasso. Citam-se como principais fatores:
Satisfação total dos clientes;
Gerência participativa;
Desenvolvimento humano;
Constância de propósitos;
Melhoria contínua;
Gestão de processo;
Gestão de informação e comunicação;
Garantia da qualidade;
Busca da excelência;
Melhorar os processos da organização é fator crítico para o sucesso institucional de qualquer organização, seja pública ou privada, desde que realizada de forma sistematizada e que seja entendida por todos na organização.
Das diversas metodologias existentes, destaca-se a ferramenta MAMP – Método de Análise e Melhoria de Processos, como tendo a aplicação mais simples. O
MAMP é um conjunto de ações desenvolvidas para aprimorar as atividades executadas, identificando possíveis desvios, corrigindo erros, transformando insumos em produtos, ou serviços com alto valor agregado.
O MAMP segue os mesmos princípios do MASP – Metodologia de Análise e Solução de Problemas, que propicia a utilização das ferramentas de solução de problemas nas organizações de forma ordenada e lógica, facilitando a análise de problemas, determinação de suas causas e elaboração de planos de ação para eliminação dessas causas. A vantagem da utilização do MAMP é que o primeiro passo já envolve a quebra de um paradigma gerencial, instituindo o gerenciamento de processos como ponto de partida. A abordagem das duas metodologias é bastante similar.
As etapas do MAMP envolvem:
Mapeamento dos processos;
Monitoramento dos processos e de seus resultados;
Identificação e priorização de problemas e suas causas;
Ações corretivas, preventivas e de melhoria;
Sistema de documentação e procedimentos operacionais.
O grande objetivo de realizar a melhoria de processos é agregar valor aos produtos e aos serviços que as organizações prestam aos seus clientes, principalmente as organizações públicas, onde os recursos são cada vez mais escassos e as demandas cada vez mais crescentes. Com o MAMP, busca-se um conjunto de princípios, ferramentas e procedimentos que fornecem diretrizes para um completo gerenciamento das atividades, com foco no atendimento das necessidades dos usuários dos serviços da organização.
2. DEFINIÇÕES
2.1 Processo
Processos são maneiras de fazer alguma coisa. Envolve a transformação de um insumo em produto final. No interior do processo ocorrem transformações, que incluem as etapas necessárias para a obtenção do produto final, de valor agregado.
De forma definitiva, processo é o conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em serviços/produtos (saídas). Esses processos são geralmente planejados e realizados para agregar valor aos serviços/produtos.
22 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Basicamente, os processos podem se diferenciar em dois tipos:
-Processos finalísticos;
-Processos de apoio.
Os processos finalísticos caracterizam a atuação da organização e são apoiados por outros processos internos, resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo.
São ligados à essência do funcionamento da organização;
São apoiados por outros processos internos;
Resultam no serviço ou produto que é recebido pelo cliente externo.
Os processos de apoio, geralmente, produzem resultados imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais para a gestão efetiva da organização.
São centrados na organização;
Viabilizam o funcionamento dos vários subsistemas da organização;
Garantem o suporte adequado aos processos finalísticos.
Os processos compõem a estrutura organizacional por intermédio de uma hierarquia, onde cada nível possui um detalhamento. A seguir, são apresentados as definições dos outros elementos que se relacionam aos processos.
2.2 Macroprocesso
Se analisarmos a integração dos processos na organização, veremos que o produto de um processo é insumo de outro e assim ocorre até chegarmos ao produto final, de maior valor agregado, que é disponibilizado ao cliente externo. Esse fluxo de trabalho é conhecido como ciclo de produção.
Macroprocesso é um processo que geralmente envolve mais que uma função na estrutura organizacional, e a sua operação têm um impacto significativo no modo como a organização funciona.
2.3 Subprocesso
Subprocesso é a parte que, inter-relacionada de forma lógica com outro subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e contribui para a missão deste.
2.4 Atividades
Atividades são coisas que ocorrem dentro do processo ou subprocesso. São geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa ou departamento) para produzir um resultado particular. Elas constituem a maior parte dos processos. Podem ser subdivididas em atividades críticas e não críticas.
As atividades críticas são aquelas que têm papel crucial para a integridade do processo, ou seu resultado, sendo os predicados que a tornam crítica: tempo de início, criticidade da matéria-prima, criticidade do equipamento, tempo de produção e o tempo de término.
As atividades não críticas são as que, embora sejam imprescindíveis para que o processo possa alcançar o resultado esperado, não têm os predicados que as tornariam críticas, podendo ser realizadas dentro de parâmetros e condições mais flexíveis.
Costumam ser divididas de acordo com as suas características, como: paralelismo, exclusividade, tempo de início diverso e tempo de término diverso.
2.5 Tarefa
Tarefa é uma parte específica do trabalho, ou melhor, o menor microenfoque do processo, podendo ser um único elemento e/ou um subconjunto de uma atividade.
Geralmente, está relacionada como um item que desempenha uma incumbência específica.
2.6 GESTÃO POR PROCESSOS
Ao analisar um processo, a equipe de projeto deve partir sempre da perspectiva do cliente (interno ou externo), de forma a atender às suas necessidades e preferências, ou seja, o processo começa e termina no cliente, como sugerido na abordagem derivada da filosofia do Gerenciamento da Qualidade Total (TQM). Dentro dessa linha, cada etapa do processo deve agregar valor para o cliente, caso contrário será considerado desperdício, gasto, excesso ou perda; o que representaria redução de competitividade e justificaria uma abordagem de mudança.
Entender como funcionam os processos e quais são os tipos existentes é importante para determinar como eles devem ser gerenciados para obtenção de melhores resultados.
Afinal, cada tipo de processo tem características específicas e deve ser gerenciado de maneira específica.
A visão de processos é uma maneira de identificar e aperfeiçoar as interfaces funcionais, que são os pontos nos quais o trabalho que está sendo realizado é transferido de um setor para o seguinte. Nessas transferências é que normalmente ocorrem os erros e a perda de tempo.
Todo trabalho realizado numa organização faz parte de um processo. Não existe um produto ou serviço oferecido sem um processo. A Gestão por Processos é a forma estruturada de visualização do trabalho.
O objetivo central da Gestão por Processos é
torná-los mais eficazes, eficientes e adaptáveis.
Eficazes: de forma a viabilizar os resultados desejados, a eliminação de erros e a minimização de atrasos;
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 23
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Eficientes: otimização do uso dos recursos;
Adaptáveis: capacidade de adaptação às necessidades variáveis do usuário e organização.
Deve-se ter em mente que, quando os indivíduos estiverem realizando o trabalho através dos processos, eles estarão contribuindo para que a organização atinja os seus objetivos. Hunt (1996) discute que esta relação deve ser refletida pela equipe de trabalho, através da consideração de três variáveis de processo:
Objetivos do processo: derivados dos objetivos da organização, das necessidades dos clientes e das informações de benchmarking disponíveis;
Design do processo: deve-se responder a pergunta: ―Esta é melhor forma de realizar este processo?‖
Administração do processo: deve-se responder as seguintes perguntas: ―Vocês entendem os seus processos? Os subobjetivos dos processos foram determinados corretamente? O desempenho dos processos é gerenciado? Existem recursos suficientes alocados em cada processo? As interfaces entre os processos estão sendo gerenciadas?‖
Realizando estas considerações, a equipe estabelecerá a existência da ligação principal entre o desempenho da organização e o individual no desenvolvimento de uma estrutura mais competitiva, além de levantar informações que servem para comp parar as situações atuais e desejadas da organização, de forma a impulsionar a mudança.
2.7 Mapeamento de Processos
O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação que têm a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. A sua análise estruturada permite, ainda, a redução de custos no desenvolvimento de produtos e serviços, a redução nas falhas de integração entre sistemas e melhora do desempenho da organização, além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças.
Do modo como é utilizado atualmente este mapeamento foi desenvolvido e implementado pela empresa General Eletric como parte integrante das estratégias de melhoria significativa do desempenho, onde era utilizado para descrever, em fluxogramas e textos de apoio, cada passo vital dos seus processos de negócio.
Porém, o mapeamento do processo teve suas origens em uma variedade de áreas, sendo que, a origem da maioria das técnicas como o diagrama de fluxo, o diagrama de cadeia, o diagrama de movimento, os registros fotográficos, os gráficos de atividades múltiplas e os gráficos de processo podem ser atribuídas a Taylor e a seus estudos de melhores métodos de se realizar tarefas e organização racional do trabalho na Midvale Steel Works.
O mapeamento do processo serve para indicar a sequência de atividades desenvolvidas dentro de um processo. Deve ser feito de forma gráfica, utilizando-se a ferramenta fluxograma, para representá-lo.
Uma grande quantidade de aprendizado e melhoria nos processos pode resultar da documentação e
exame dos relacionamentos input output representados em um mapa de processos. Afinal, a realização deste mapa possibilita a identificação das interfaces críticas, a definição de oportunidades para simulações de processos, a implantação de métodos de contabilidade baseados em atividades e a identificação de pontos desconexos ou ilógicos nos processos. Desta forma, o mapeamento desempenha o papel essencial de desafiar os processos existentes, ajudando a formular uma variedade de perguntas críticas, como por exemplo: Esta complexidade é necessária? São possíveis simplificações? Existe excesso de transferências interdepartamentais? As pessoas estão preparadas para as suas funções? O processo é eficaz? O trabalho é eficiente? Os custos são adequados?
Em um mapa de processos consideram-se atividades, informações e restrições de interface de forma simultânea. A sua representação inicia-se do sistema inteiro de processos como uma única unidade modular, que será expandida em diversas outras unidades mais detalhadas, que, conectadas por setas e linhas, serão decompostas em maiores detalhes de forma sucessiva. Esta decomposição é que garantirá a validade dos mapas finais. Assim sendo, o mapa de processos deve ser apresentado em forma de uma linguagem gráfica que permita:
Expor os detalhes do processo de modo gradual e controlado;
Encorajar concisão e precisão na descrição do processo;
Focar a atenção nas interfaces do mapa do processo;
Fornecer uma análise de processos poderosa e consistente com o vocabulário do design.
2.8 Fluxograma
O fluxograma é uma ferramenta de baixo custo e de alto impacto, utilizada para analisar fluxos de trabalho e identificar oportunidades de melhoria. São diagramas da forma como o trabalho acontece, através de um processo.
O fluxograma permite uma ampla visualização do processo e facilita a participação das pessoas. Serve, ainda, para documentar um órgão ou seção específica envolvida em cada etapa do processo, permitindo identificar as interfaces do mesmo. O seu estudo permite aperfeiçoar os fluxos para maximizar as etapas que agregam valor e minimizar os custos, além de garantir a realização de tarefas indispensáveis para a segurança de um sistema específico.
A simbologia apresentada traz apenas os símbolos mais comumente utilizados. Outros símbolos poderão ser empregados para mapeamento dos processos.
O fluxo do processo desenhado deve retratar com clareza as relações entre as áreas funcionais da organização. O maior potencial de melhoria, muitas vezes, é encontrado nas interfaces das áreas funcionais.
Enfatiza-se a documentação dos processos, seguindo a premissa de que, para realizar alguma melhoria no processo, é preciso primeiro conhecê-lo e entendê-lo e que a qualidade de um produto ou serviço é reflexo da qualidade e gerenciamento do processo utilizado em seu desenvolvimento.
A partir do momento em que um fluxograma foi criado para um processo crítico, é uma boa ideia mantê-lo atualizado com todas as mudanças de procedimento no trabalho. Se isso for feito, sempre haverá uma referência rápida de como o trabalho deve ser realizado.
24 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
3. CONHECENDO OS PROCESSOS
O primeiro passo para uma organização adotar a Gestão por Processos é conhecer os seus principais processos organizacionais. A identificação dos processos deve ser realizada seguindo os seguintes passos:
A identificação dos processos consiste em relacionar os processos da organização ou área funcional;
Essa enumeração deve ser feita de forma ampla, posteriormente o processo será detalhado até se chegar ao nível de detalhamento desejado;
O nível de detalhamento que importa é aquele mais adequado para a análise que se pretende realizar;
A abordagem de processo adota o conceito de hierarquia de processos e do detalhamento em níveis sucessivos. Dessa forma, os processos podem ser subdivididos em subprocessos e agrupados em macroprocessos.
Dependendo do problema e da oportunidade, um processo pode ser aperfeiçoado através de mudanças realizadas no processo em si, ou dentro do sistema o qual esteja inserido. Mas o primeiro passo para a melhoria do processo é conhecê-lo.
3.1 Mapeando os Processos
O mapeamento do processo serve para indicar a sequência de atividades desenvolvidas dentro de um processo. Tal etapa inicia-se determinando as seguintes informações:
Nome do processo;
Objetivos do processo;
Entradas do processo (fornecedores e insumos);
Necessidades dos clientes (quem são, requisitos, normas de orientação);
Recursos necessários;
Formas de controle;
Saídas do processo (produtos e resultados esperados).
Comece pelo seu produto prioritário (produto crítico). Não queira fazer tudo perfeito da primeira vez. Não tenha medo de errar. O mapeamento inicial deve refletir a situação real e não aquela que se imagina que seja a ideal.
O mapeamento deve conter as tarefas prioritárias para a sua execução. A forma de determinar as tarefas prioritárias é por intermédio de reunião com os responsáveis pelo processo. As tarefas prioritárias são aquelas que:
Se houver um pequeno erro, afetam fortemente a qualidade do produto;
Já ocorreram acidentes no passado;
Ocorrem ―problemas‖ na visão dos supervisores e responsáveis.
O Anexo A apresenta modelo de formulário para o mapeamento de processos. Após preenchimento das informações neste formulário, deve-se partir para a forma gráfica, utilizando-se a ferramenta fluxograma, para representá-lo.
3.2 Elaborando Fluxogramas
Utiliza-se o fluxograma com dois objetivos: garantir a qualidade; e aumentar a produtividade. É o início da padronização. Todos os gerentes devem estabelecer os fluxogramas dos processos sob sua autoridade.
Tenha em mãos o mapeamento do processo realizado (Anexo A) para iniciar o desenho do fluxograma. Explicite as tarefas conduzidas em cada processo. Quantas tarefas existem em sua área de trabalho? Quantas pessoas trabalham em cada uma das tarefas?
O fluxograma é o instrumento mais eficiente para fazer a própria análise. Os fluxogramas mostram claramente o que está acontecendo e oferecem um método fácil de localização de fraquezas no sistema ou áreas onde poderiam ser introduzidos melhorias.
Quando o fluxograma estiver pronto, critique-o. Convoque um grupo de pessoas e por meio de um brainstorming pergunte:
Este processo é necessário?
Cada etapa do processo é necessária?
É possível simplificar?
É possível adotar novas tecnologias (em todo ou em parte)?
O que é possível centralizar/descentralizar?
Para a elaboração do fluxograma é necessário utilizar algumas figuras que padronizam as tarefas que estão sendo realizadas. Existe uma série de figuras e, até certo ponto, uma divergência entre diferentes autores. O importante é que cada organização defina os seus padrões e os sigam, podendo criar novos símbolos que forem necessários.
O quadro 01 apresenta os principais símbolos utilizados na elaboração dos fluxogramas.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Recomendações para a elaboração de fluxogramas:
Faça os fluxogramas finais em formulários próprios, usando o gabarito padrão, baseando-se nos rascunhos já verificados ou modificados;
Os fluxogramas devem ser legíveis para terceiros. O fato de os fluxogramas serem exatos não é o bastante. Eles devem ser inteligíveis para um revisor ou para um novo membro da equipe nos anos posteriores. Os fluxogramas devem ser claros, concisos, logicamente dispostos e sem ambiguidades;
Assegure-se que os fluxogramas respondem às questões básicas de controle interno.
Lembre-se que a avaliação do controle interno terá que ser demonstrada nos fluxogramas pelo assistente ao encarregado e por este ao gerente. Os fluxogramas devem, por conseguinte, fornecer o suporte necessário para as conclusões sobre o controle interno;
O bom senso, naturalmente, deverá ser utilizado na aplicação destas técnicas.
Inovações pessoais e variações do método adotado são admitidas, mas com ressalvas. Os fluxogramas serão úteis se forem padronizados e se puderem ser lidos por qualquer pessoa. Símbolos muito especiais poderão eliminar as vantagens de uma linguagem padrão;
Os fluxogramas podem e devem ser modificados, quando necessário;
Todas as palavras que apareçam no fluxograma devem ser escritas em letras claras e legíveis;
Faça o fluxograma o mais simples e o mais direto possível. Evite disposições que levem o leitor através de uma floresta de traços e setas;
Evite o cruzamento de linhas. Um semicírculo, indicando a independência das linhas ao se
cruzarem é um recurso imperfeito. Evite o problema logo de início. Isto normalmente pode ser obtido com uma nova disposição das informações no papel;
Coloque os funcionários ou departamentos que tenham grande troca de documentos ou informações entre si, em colunas adjacentes. Evite o aparecimento de longas setas que cruzem o papel de um lado para outro, sobre colunas não utilizadas;
Assegure-se de que o início e o término de um fluxo são claramente visíveis, de forma que o leitor saiba para onde ir antes de descer aos detalhes;
Evite detalhes excessivos, mas assegure-se de cobrir todos os pontos importantes de controle.
26 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Fluxograma de recebimento
3.3 Monitorando os Processos
O que se pode medir, se pode gerenciar. Gerenciar significa ter o controle sobre os processos, tendo informações sobre o seu desempenho, que levarão a tomada consciente de decisão. Isso não quer dizer que todas as tarefas e atividades de um processo deverão ser monitoradas. Mas aquelas que podem causar problemas sim. Mesmo que isso signifique monitorar um item de cada vez.
Uma forma de monitorar um processo é utilizando indicadores de desempenho. Os indicadores são formas de representações quantificáveis das características de um processo e de seus produtos ou serviços. Utilizamos indicadores para controlar e melhorar a qualidade e o desempenho destes produtos ou serviços ao longo do tempo.
Muitas organizações têm dificuldades em criar indicadores de desempenho, devido ao fato de que eles enfatizam os indicadores de resultado, aqueles relacionados ao produto final da organização, e não a maneira como os processos estão sendo desempenhados.
Basicamente podemos ter dois tipos de indicadores. Os indicadores resultantes (outcomes) e os indicadores direcionadores (drivers).
Os indicadores resultantes:
Permitem saber se o efeito desejado foi obtido;
Ligados ao resultado final do processo;
Baixa frequência de análise (longo prazo);
Mostram o passado;
Mais comparáveis.
Os indicadores direcionadores:
Permitem analisar as causas presumidas do efeito, de forma proativa;
Ligados às tarefas intermediárias do processo;
Alta frequência de análise (curto prazo);
Antecipam o futuro;
Menos comparáveis.
Os indicadores direcionadores medem as causas, os fatores que levam aos efeitos. Estes por sua vez, são monitorados pelos indicadores resultados. Entre eles existe uma relação de causa e efeito, que se tomada partido, auxilia no gerenciamento do processo e na tomada de decisão.
Os indicadores direcionadores, também chamados de indicadores de controle dos processos são utilizados como instrumentos de observação para identificar situações ou tendências antes que elas se tornem perigosas e como garantia de que o processo está funcionando da maneira correta. Eles são usados como sensores do sistema de mensuração para conduzir o trabalho e medir os resultados.
Ao se criar indicadores de desempenho, podemos ter em mente outro tipo de classificação, quanto ao tipo dos indicadores. Dependendo do tipo de processo, podemos criar indicadores que reflitam a Economicidade, a Eficiência, a Eficácia e a Efetividade dos esforços despendidos pela organização.
Indicadores de Economicidade são aqueles que
refletem a minimização dos custos de aquisição dos recursos necessários para a realização das tarefas do processo, sem comprometer a qualidade desejada. Exemplo:
Tarefa: aquisição de medicamentos
Produto: medicamentos adquiridos
Físico previsto: 1.750.000 unidades
Financeiro previsto: R$ 688.340,00
Custo médio de aquisição: 0,39 R$/unidade
Indicadores de Eficiência são aqueles que
buscam uma relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de determinada atividade, frente aos padrões estabelecidos. Exemplo:
Tarefa: aquisição de medicamentos
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 27
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Indicador: prazo de conclusão do processo licitatório
Fórmula de cálculo: tempo médio gasto entre a abertura e a conclusão da licitação
Indicador: índice de rejeição
Fórmula de cálculo: número de insumos rejeitados, em relação ao total adquirido.
Indicadores de Eficácia são aqueles que medem
o grau de cumprimento das metas fixadas para determinada atividade. Exemplo:
Tarefa: realização de cirurgias
Produto: cirurgias realizadas
Total previsto em 2008: 1.600 procedimentos
Total realizado em 2008: 1.342 procedimentos
% execução: 83,8%
Indicadores de Efetividade são aqueles que
medem o grau de alcance dos objetivos de determinada ação ou atividade. Tem como referência os impactos na sociedade. Exemplos:
Programa: Controle da tuberculose
Indicador: Taxa de cura da tuberculose
Fórmula de cálculo: relação de casos curados e o número de casos diagnosticados.
Para monitorar as etapas do processo e seu resultado final, pode-se seguir a seguinte sequência de atividades:
Estabeleça o item de controle. Determine a tarefa crítica do processo e crie um indicador;
Levante as informações sobre o indicador e construa um gráfico;
O gráfico deverá conter a denominação do indicador, a unidade de medida, uma escala bem dimensionada, resultados médios dos anos anteriores como referência;
Estabeleça uma meta para este indicador (valor a ser atingido e prazo no qual este valor deve ser conseguido);
Disponha os principais gráficos em locais de fácil acesso de toda a equipe de trabalho. A utilização de comentários e explicações é bem vinda.
O Anexo C apresenta um formulário para criação de indicadores de desempenho, com as informações mínimas necessárias para efetivamente criar indicadores.
4. IDENTIFICANDO E PRIORIZANDO PROBLEMAS E SUAS CAUSAS
Qual é a reação das pessoas frente a um problema? Procurar um culpado, ficar na defensiva, ocultar, sentir-se constrangido? É mais fácil buscar falhas nas pessoas, mas o controle de processos mostra que isso é equivocado. Um estudo de Deming mostra que cerca de 90% dos problemas identificados são resultados de falhas nos processos e não nas pessoas. Ao invés de questionar ―quem fez isso‖ deveria se questionar ―por que isso aconteceu‖.
Os processos organizacionais sem controle têm a tendência natural de se deteriorar progressivamente, gerando como efeito, serviços de qualidade cada vez pior. E mais importante do que identificar os problemas é determinar as suas causas, haja vista que são sobre elas que devem ser tomadas medidas de correção ou prevenção, conforme o caso.
4.4 Formas de Identificação
Existem várias formas de identificar a ocorrência de problemas nos processos, das mais simples e intuitivas até as mais elaboradas, auxiliadas por instrumentos específicos. As mais relevantes são:
Acompanhamento dos resultados do monitoramento dos processos (indicadores de desempenho);
Monitorando as reclamações dos clientes;
Auditorias internas ou externas;
Utilização de pesquisas ou entrevistas;
Percepção das pessoas envolvidas no processo;
Utilização de ferramentas de identificação como brainstorming e brainwriting.
O brainstorming e o brainwriting são ferramentas da qualidade específicas e serão tratadas nos itens seguintes.
A) Brainstorming
O brainstorming é uma técnica desenvolvida em 1930 por Alex F. Osborn que busca, a partir da criatividade de um grupo, a geração de ideias para um determinado fim. A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas (de duas até dez pessoas) se reúna e se utilize das diferenças em seus pensamentos e ideias para que possa chegar a um denominador comum eficaz e com qualidade.
É preferível que as pessoas que se envolvam nesse método sejam de setores e competências diferentes, pois suas experiências diversas podem colaborar com a "tempestade de ideias" que se forma ao longo do processo de sugestões e discussões.
Nenhuma ideia é descartada ou julgada como errada ou absurda.
Os princípios para um brainstorming bem sucedido são:
Atraso de julgamento;
Criatividade em quantidade e qualidade das ideias;
Ambiente encorajador e sem críticas;
Trabalho em grupo. Pegar carona nas ideias dos outros deve ser incentivado;
As quatro principais regras do brainstorming
são:
Críticas são rejeitadas. Esta é a regra mais importante. A crítica pode inibir a participação das pessoas;
Criatividade é bem-vinda. Vale qualquer ideia que lhe venha a mente, sem preconceitos e sem medo que isso irá prejudicar. Uma ideia esdrúxula pode desencadear ideias inovadoras;
Quantidade é necessária. Quanto mais ideias forem geradas, maior é a chance de se encontrar uma boa ideia;
28 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Combinação e aperfeiçoamento são necessários.
O brainstorming pode ser feito de duas formas: estruturado ou não estruturado. No brainstorming estruturado os participantes lançam ideias seguindo uma sequência pré-estabelecida. Quando chega a sua vez, você lança a sua ideia. A vantagem desta forma é que propicia oportunidade iguais a todos os participantes, gerando maior envovimento.
No brainstorming não estruturado as ideias são lançadas aleatoriamente, sem uma sequencia pré-definida. Isso cria um ambiente mais informal, porém com risco dos mais falantes dominarem a cena.
As etapas do brainstorming são:
Escreva a questão que será discutida em um flip-chart;
Dê alguns minutos de silêncio para a geração de ideias;
Escolha o método: estruturado ou não estruturado (ou os dois);
Escreva as ideias no flip-chart exatamente como forem enunciadas;
Estimule os participantes a pegar carona nas ideias dos outros;
Não discuta, questione, julque, ou critique as ideias dos outros participantes. E nem permita que outros façam;
Após o registro das ideias, reveja a lista e classifique o conteúdo, eliminando as repetidas;
Permita composições, modificações e eliminações;
Selecione e priorize as ideias.
B) Brainwriting
É uma variação do brainstorming, onde as ideias são escritas, trazendo ordem e calma ao processo. Evita efeitos negativos de reuniões, como a influência da opinião de coordenadores e chefes, ou a dificuldade em verbalizar rapidamente as ideias.
O tema é passado pelo coordenador. Cada participante escreve até ideias em um papel e, ao fim de cinco minutos, os participantes trocam os papéis, em rodízio. O vizinho recebe o papel e acrescenta mais três ideias correlatas. O processo continua até que cada um receba o seu papel de volta. A partir daí, segue a mesma sequência do brainstorming.
4.5 Formas de Priorização
Após a utilização do brainstorming ou do brainwriting, espera-se que se tenha levantado uma determinada quantidade de problemas de um processo específico. Mas não se espera que a organização invista seus recursos na eliminação de todos os problemas.
Devem ser selecionados aqueles mais relevantes e prioritários, para que os esforços se concentrem na resolução destes. Problemas pouco relevantes provavelmente não têm impacto significativo no desempenho dos processos e, portanto, não necessitam de nenhum tipo de ação, economizando os recursos da organização. Saber priorizar é base para um gerenciamento eficaz.
São apresentadas neste item algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a priorização dos problemas identificados.
A) Matriz GUT
A Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) é uma forma de priorização baseado em medidas ou observações subjetivas. As letras têm o seguinte significado:
G (gravidade): diz respeito ao impacto do
problema sobre os processos, pessoas, resultados. Refere-se ao custo por deixar de tomar uma ação que poderia solucionar o problema;
U (urgência): relaciona-se com o tempo
disponível, ou o necessário, para resolver o problema;
T (tendência): diz respeito ao rumo ou propensão
que o problema assumirá se nada for feito para eliminar o problema.
A filosofia do GUT é atribuir notas de 1 a 5 para cada uma das variáveis G, U e T dos problemas listados e tomar o produto como o peso relativo do problema. O método deve ser desenvolvido em grupo, sendo as notas atribuídas por consenso. Consenso é a concordância obtida pela argumentação lógica.
Uma vez obtidas as notas, os problemas são organizados em ordem decrescente. Se dois ou mais problemas receberem a mesma nota, o desempate pode ser feito pela consideração relativa de um novo GUT, agora considerando apenas os problemas empatados.
A Tabela 02 apresenta o quadro com os valores de referência da Matriz GUT.
B) Diagrama de Pareto
O diagrama de Pareto é uma técnica de priorização das informações, dando uma ordem hierárquica de importância. Esta técnica permite estabelecer dois grupos de causas para a maioria dos processos. Uma grande quantidade de causas (ordem de 80%) contribui muito pouco (ordem de 20%) para os efeitos observados. Uma pequena quantidade de causas (ordem de 20%) contribui de forma preponderante (ordem de 80%) para os efeitos observados. O primeiro grupo é
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 29
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
denominado ―maiorias triviais‖ e o segundo grupo de ―minorias essenciais‖.
Esta técnica utiliza uma abordagem de classificação para enumerar as causas de acordo com suas contribuições para atingir um dado efeito. A causa principal é vista do lado esquerdo do diagrama e as causas menos importantes são mostradas em ordem decrescente do lado direito. Em geral, a melhoria inicia-se a partir da causa mais importante, indo para as outras em ordem decrescente e assim por diante. Por exemplo, no caso de quatro tios de queixas efetuadas por clientes, se começa por aquela eu é a raiz da maioria das queixas.
O diagrama de Pareto define apenas o fator mais frequente na análise e não necessariamente o mais importante. No exemplo a seguir, verificam-se no primeiro gráfico os tipos de problemas mais comuns. No segundo gráfico, têm-se os problemas que geram um maior custo para a organização.
Observação: os problemas mais frequentes nem
sempre são os mais caros.
C) Folha de Verificação
As folhas de verificação são utilizadas para reunir dados sobre a frequência de um evento ou problema. Dados de folhas de verificação podem ser usados para criar muitas outras ferramentas: diagramas de Pareto, histogramas, entre outros.
Das ferramentas de priorização aqui apresentadas deve-se escolher aquela que tenha uma aplicação mais fácil, dependendo do tipo de informação a ser priorizada.
Eventualmente, pode-se até aplicar mais de uma destas ferramentas. Mesmo tendo as ferramentas à disposição, não se deve excluir da análise a experiência as percepções das pessoas envolvidas no processo.
4.6 Identificando as Causas dos Problemas
Após a identificação dos problemas e da priorização dos mais relevantes é necessário que se faça uma análise para a identificação das causas que estão originando estes problemas. As futuras ações de correção ou de prevenção devem ser direcionadas às causas dos problemas e não sobre os efeitos identificados. Nos tópicos seguintes são apresentadas algumas ferramentas para a identificação das causas dos problemas.
Para o sucesso da etapa, é importante tentar excluir o ser humano da fonte de estudo. A maioria das causas identificadas é direcionada às pessoas. Se o
30 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
objetivo é estabelecer ações que sejam eficazes, eficientes e efetivas, quando focamos o ser humano como ―causa‖ ou ―solução‖, estamos negligenciando nosso objetivo. Treinamento e conscientização devem ser considerados como consequência de melhorias, investimento do desenvolvimento organizacional e atribuições da liderança.
A) Diagrama de Ishikawa ou de Causa e Efeito
Também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, essa técnica foi desenvolvida no Japão por Kooru Ishikawa em 1943. É um diagrama esquemático que permite a visualização do efeito estudado e suas principais causas. O objetivo desta técnica é mapear fatores que afetam um problema (efeito negativo) ou resultado desejado. Essa ferramenta contribui para determinar a causa mais provável de um problema ou o fator mais relevante de um resultado desejado. Na sua construção cada ramo ou raiz é pré-definido, podendo variar conforme demonstra a Figura 14 abaixo:
Para facilitar a análise, é estabelecido um conjunto de categorias relacionadas com os aspectos que possam interferir no problema ou efeito determinado. Essas categorias são chamadas de fatores de manufatura, ou 6M, porque envolvem:
Mão de obra – inclui os aspectos relacionados as
pessoas e a sua forma de trabalho;
Material – inclui os aspectos relacionados a
insumos e matérias primas;
Máquina – são os aspectos relativos aos
equipamentos;
Medida – inclui a adequação e a confiança nas
medidas como aferições, escalas, etc.;
Meio ambiente – são as condições ou aspectos
ambientais que possam afetar o processo;
Método – referem-se os procedimentos, rotinas e
técnicas utilizadas.
O processo de utilização do Diagrama de Causa e Efeito envolve os seguintes passos:
Descrever o problema (efeito negativo) ou resultado a ser analisado;
Escolher as raízes de análise que serão utilizadas (Mão de obra, Máquina, Método, Material, Meio Ambiente, Tempo, etc.);
Listar as causas mais prováveis;
Organizar as causas selecionadas por raiz;
Inter-relacionar as causas dentro da sua raiz;
Verificar ser existe relação de causas entre as raízes;
Selecionar as causas mais prováveis.
A Figura 15 apresenta um exemplo da aplicação de um Diagrama de Ishikawa para determinar as causas de um efeito determinado.
A prática de se construir o Diagrama de Causa e Efeito é um processo educacional, pois ele se torna um guia para discussão. As causas são buscadas ativamente e de forma sinérgica e são registradas e hierarquizadas. O diagrama mostra o grau de conhecimento do grupo. Ao término da montagem do diagrama, o grupo conhecerá todos os aspectos do problema, saberá o que será feito e haverá consenso. Os projetos dali decorrentes serão defendidos por todos.
Pode-se utilizar o brainstorming como ferramenta auxiliar para a determinação das causas do problema relatado. O Anexo E apresenta formulário modelo para a utilização da técnica.
B) Análise dos 5 Por Quês
A ferramenta de análise dos 5 Por Quês busca identificar as causas raízes de um problema, de forma bastante simples. Foi desenvolvida por Sakichi Toyoda , fundador da Toyota.
O princípio é muito simples: ao encontrar um problema, você deve realizar 5 iterações perguntando o porquê daquele problema, sempre questionando a causa anterior. Deve ser feito o questionamento até atingir o nível raiz, no qual não é mais possível determinar o desdobramento das causas. A seguir é apresentado um exemplo de sua aplicação.
Problema: Os clientes estão reclamando muito dos atrasos nas entregas.
Porque há atrasos? Porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria.
Porque o produto não sai quando deveria? Porque as ordens de produção estão atrasando.
Porque estas ordens atrasam? Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que a realidade.
Porque o cálculo das horas está errado? Porque estamos usando um software ultrapassado.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 31
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Porque estamos usando este software? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu treinamento no software mais atual.
Pode haver desdobramento na horizontal, para aqueles casos onde o ―por que‖ tem mais de uma resposta relevante. Deve-se tomar cuidado para que não se perca o foco do problema original.
Na realidade, não é necessário que sejam exatamente 5 perguntas. Podem ser menos ou mais, desde que você chegue a real causa do problema. No exemplo, ainda poderia haver um porque mais, e se descobriria que o engenheiro não foi treinado devido a sua forte carga de trabalho. O importante é que esta ferramenta sirva para exercitar as ideias e tire a pessoa de sua zona de conforto.
Também é importante entender que esta é uma ferramenta limitada. Fazer 5 perguntas não substitui uma análise de qualidade detalhada. Uma das principais críticas à ferramenta, é que pessoas diferentes provavelmente chegarão a causas raiz diferentes com estas perguntas. Por isso o ideal é que as perguntas sejam feitas com participação de toda a equipe, para que gere um debate em torno das causas verdadeiras.
Mais uma vez, pode-se utilizar o brainstorming como ferramenta auxiliar para a determinação da causa raiz. O Anexo F apresenta formulário específico para a utilização da ferramenta.
Após a aplicação das técnicas de identificação das causas dos problemas é necessária a aplicação das ferramentas de priorização (matriz GUT, diagrama de Pareto e folha de verificação) para determinar as causas mais relevantes dos problemas existentes. Desta forma, atua-se com eficiência, direcionando os esforços da organização para os pontos mais relevantes.
5. IDENTIFICANDO ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO
O passo seguinte é planejar a eliminação das causas do problema. As ações a serem tomadas têm o objetivo de bloquear as causas dos problemas identificados. Antes de discutir sobre as alternativas de solução, é necessário diferenciar ação corretiva de ação preventiva. A princípio, pode até parecer que é a mesma coisa, haja vista que a forma de desenvolver a solução de ambas é idêntica. Porém, a forma como o responsável se dedica ao gerenciamento do seu processo irá determinar se serão necessárias ações de correção ou de prevenção. É uma questão de atitude, pró-atividade e responsabilidade com suas obrigações.
Os passos para identificação das alternativas de solução envolvem as seguintes atividades, após a identificação das causas dos problemas:
Determinar a ação corretiva (planejar a ação de bloqueio do problema);
Verificar eficácia da ação corretiva;
Caso a eficácia seja comprovada, implementar a ação corretiva (executar o plano de ação);
Verificar eficácia da ação corretiva novamente. Caso não seja comprovada a eficácia, determinar novamente as causas do problema;
Alterar documentação, se necessário.
5.1 Ação Corretiva
Ação corretiva é a ação tomada para eliminar as causas de um problema existente ou de situações indesejáveis de maneira a evitar o reaparecimento das mesmas. Possibilita determinar exatamente algum tipo de problema, tornando a sua resolução mais eficaz e direta, gerando desta forma mais economia para a organização e menor desperdício de energia em situações corriqueiras do dia-a-dia. O foco da ação corretiva é a origem do problema.
A ação corretiva baseia-se nas causas dos problemas identificados, buscando a eliminação da raiz do problema. Caso o problema volte a se repetir no futuro, a ação corretiva não foi eficaz.
5.2 Ação Preventiva
Ação Preventiva é a ação tomada para eliminar as causas de problemas potenciais ou outra situação indesejável a fim de evitar o aparecimento das mesmas. Normalmente, é aplicada antes da implementação de novos produtos, processos ou sistemas, ou antes de modificações já existentes. Ação preventiva é tomada antes de surgir o problema, baseando em informações coletadas durante a execução dos processos. É a aplicação prática da tomada de decisões baseada em fatos. A adoção de ação de prevenção exige o abandono de um estado de latência, buscando do gestor do processo uma atitude proativa na gestão das atividades.
A adoção de ações corretivas e ações preventivas podem e devem ser casadas. Quando da ocorrência de um problema, a intervenção imediata é necessária para que cessem os efeitos e, conforme o caso, a adoção de medidas preventivas impede que novos problemas possam surgir.
5.3 Plano de Ação
Plano de ação é o planejamento das iniciativas necessárias para atingir um resultado desejado. Deve deixar claro tudo o que deverá ser feito e a que tempo, quem é o responsável por cada iniciativa. Além disso, deverá apontar o porque de se realizar tal atividade e como ela será realizada, onde e quanto que isso custa. Envolve responder aos questionamentos do tradicional 5W2H (what, when, who, why, where, how e how much).
32 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Entretanto, adaptações são bem vindas, desde que sejam realizadas para dinamizar o processo.
Um plano de ação deve ser estabelecido sempre que se determina uma melhoria futura, seja ele o cumprimento de uma meta, de um resultado, a eliminação de um problema, enfim, tudo aquilo que envolve um ideal a ser alcançado. O segredo para o sucesso está na qualidade do planejamento das ações necessárias para o seu alcance.
Para atingir um objetivo, uma meta, precisamos fazer alguma coisa, precisamos agir, realizar uma ou várias ações. Até ―não fazer nada‖ pode ser uma ação necessária para atingir um objetivo. E, exceto nos casos
de urgência máxima, precisamos definir uma data para concluir, um prazo. Como para ir a qualquer lugar desconhecido precisamos saber qual o caminho ou ter um mapa, para chegar a um objetivo também precisamos de uma orientação, ou seja, precisamos do Plano de Ação. Além disso, é a garantia de que nenhuma etapa importante será esquecida ou negligenciada.
Uma grande vantagem do plano de ação é o envolvimento das pessoas. Quanto mais detalhado for o plano, maior será a motivação e o comprometimento de todos. Fica fácil perceber qual o caminho que a organização pretende seguir. Isso gera o envolvimento necessário para a execução das atividades e aumenta as chances de sucesso do plano.
Para a elaboração de um plano de ação não é necessário nada de especial. Devemos ter apenas as informações para preencher o conteúdo do mesmo. O quadro a seguir apresenta um modelo de plano de ação, que utiliza uma adaptação do tradicional 5W2H, mas apresenta as informações necessárias para a realização do mesmo.
Uma vez elaborados os planos de ação, vem o mais importante. Colocá-lo em prática, coordenar a execução das iniciativas, acompanhar, ou seja, praticar a gestão do processo.
5.4 Cronograma de Atividades
Para facilitar o acompanhamento da realização das iniciativas do plano de ação, sugere-se a utilização do cronograma de atividades, que é a representação esquemática dos prazos envolvidos na realização de diversas atividades. É importante, pois permite verificar a simultaneidade de realização de diferentes ações e a sua interferência na realização de outras atividades. É uma excelente ferramenta de gestão, pois permite visualizar a necessidade de readequações de prazos, com relativa velocidade. Produz, ainda, conhecimento para a organização, haja vista que é possível comparar o planejado com o realizado, servindo de subsídio para as futuras atividades.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 33
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
5.5 Avaliação da Eficácia com PDCA
O Ciclo PDCA foi originalmente desenvolvido na década de 1930, nos Laboratórios da Bell Laboratories nos EUA, pelo estatístico Walter A. Shewhart, definido como um ciclo estatístico de controle dos processos que pode ser aplicado para qualquer tipo de processo ou problema. Este método foi popularizado na década de 1950, pelo também estatístico, W Ewards Deming, que o aplicou de forma sistemática dentro de conceitos da Qualidade Total em seus trabalhos desenvolvidos no Japão.
O PDCA pode ser definido como um valioso método de controle e melhoria dos processos organizacionais que, para ser eficaz deve estar disseminado e dominado conceitualmente e operacionalmente por todos os colaboradores da organização. É o caminho para se atingir as metas atribuídas aos diferentes processos organizacionais.
O ciclo do PDCA é projetado de maneira a produzir uma sistematização do planejamento e execução das ações organizacionais, através do fluir contínuo do ciclo em uma espiral crescente de melhoria, no qual o processo ou padrão sempre pode ser reavaliado e um novo ou uma melhoria de processo poderá ser promovida. O PDCA é umaimportante ferramenta para o processo de solução de problemas crônicos que prejudicam o desempenho de um projeto, processo ou serviço.
O PDCA aprofunda a capacidade de planejamento da organização. Deve ser encarado como um processo de tomada de decisão, associado com as demais ferramentas apresentadas nesta apostila. Utilizar o PDCA no dia-a-dia induz a adoção de medidas preventivas. A sua utilização é simples, o que pode tornar um perigo, pois as pessoas acham que o estão utilizando de forma eficaz e o adotam de qualquer maneira. Gerenciar exige conhecimento e, para isso, não há substituto.
Plan (planejar) – muitos autores consideram a
etapa do planejar como a mais importante do ciclo, pois está relacionada à eficácia da solução a ser empregada, portanto, devendo ser elaborada de maneira minuciosa e atenta aos detalhes. Nesta etapa a atenção deve estar voltada para a definição dos objetivos/metas, para a definição dos métodos e procedimentos a serem empregados, bem como a definição dos indicadores ou itens de controle que serão utilizados para monitorar a eficácia das soluções.
Do (fazer) – esta etapa depende da elaboração do
planejamento. Consiste na execução dos planos de ação estabelecidos. Enquanto o planejamento está voltado para a eficácia das ações, a etapa de execução esta relacionada à eficiência dos processos. Esta etapa pode ser subdividida em duas outras. Treinamento e a execução propriamente dita. Na etapa de treinamento, as pessoas devem ser preparadas para atuarem utilizando as soluções estabelecidas, enquanto que na etapa de execução, as atividades devem ser colocadas em prática e o seu desempenho monitorado através de itens de controle (indicadores de processo).
Check (verificar) – a terceira etapa do ciclo está
relacionada com a verificação das ações executadas. Esta etapa se relaciona ao processo de comparação entre
34 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
os resultados obtidos através das práticas e os indicadores estabelecidos no planejar, com a finalidade de mensuração da eficácia da solução escolhida. Esta etapa é considerada como a fase mais importante do ciclo, devendo ser enfatizada dentro da organização, a fim de se obter resultados satisfatórios e eficazes ao final de cada ciclo. É nesta etapa que, a partir dos dados levantados à organização deve efetuar as análises críticas de suas ações, promovendo, se necessário, ações de correção ou melhoria, na solução adotada ou nos próprios processos.
Act (agir) – esta etapa está relacionada com a
melhoria dos processos organizacionais e na correção dos padrões estabelecidos. Aqui surgem as desejadas inovações que afetam toda a organização e, às vezes, a sociedade.
Aplicar o ciclo PDCA não é aplicação do bom-senso, que se baseia em pressuposições.
A maioria das pessoas passa por cima das etapas do PDCA durante a melhoria de um processo, supondo que conhecem ou que controlam algum fator envolvido. Esse tipo de falha é bastante comum e tem como consequência a perda de controle dos fatores que influenciam no processo.
Aplicando as ferramentas do MAMP no PDCA, teremos a seguinte distribuição de atividades.
6. NORMATIZAÇÃO DO PROCESSO
A normatização é considerada a última etapa da melhoria de processos. Nesta fase, elaboram-se as normas e fluxos bem como a documentação de apoio. A definição das normas, a descrição da rotina e a elaboração dos fluxos e demais documentos de apoio, propiciarão a operacionalidade do processo.
Todo o trabalho de normatização deve ser feito com a participação efetiva do pessoal que executa o processo, seguindo as regras da organização.
A regra principal da normatização do processo é: só se padroniza aquilo que é necessário padronizar. A dúvida é: o que é necessário padronizar? Uma resposta direta pra essa questão não existe. Mas a organização deve começar pelas tarefas prioritárias, aquelas mais relevantes, até mesmo pra criar uma cultura interna de padronização das atividades. Aos poucos, a organização vai expandindo as áreas contempladas até onde ela julgar que seja necessário.
6.1 Procedimento Operacional Padrão
O Procedimento Operacional Padrão – POP (Standard Operation Procedure - SOP) é um documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo que deve ser executado para o alcance de uma meta padrão.
Tem como objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas
fundamentais, para o funcionamento correto do processo. Ou seja, um POP coerente garante que a qualquer momento as ações tomadas sejam as mesmas, independentemente de dia, de operador, ou de qualquer outro fator. Ou seja, aumenta-se a previsibilidade de seus resultados, minimizando as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias.
O POP torna-se uma excelente ferramenta para o treinamento da força de trabalho, pois sistematiza todas as atividades que devam ser executadas, dentro de um processo.
A padronização de processos nasceu logo após a revolução industrial com o início da mecanização dos processos industriais, saindo assim da forma artesanal predominante até o momento. No início do século vemos um exemplo claro da busca pela padronização diante da produção dos carros da Ford, onde a linha de produção só fabricava carros da cor preta.
Acontece que esta forma de padronização tem seu foco no processo, é claro que para a administração da indústria automobilística a ideia de se produzir carros de apenas uma cor é vista com bons olhos. Porém, para o usuário, a falta de opções não seria de sua satisfação.
Como hoje, num mercado extremamente competitivo, satisfação e qualidade andam juntas não há mais espaços para produtos padronizados sem a satisfação de seus clientes. Com isso, temos hoje uma padronização de produtos e serviços com foco no cliente, seus interesses e desejos de satisfação têm caráter prioritário. Não devemos engessar uma organização para dentro de forma a podarmos sua capacidade de interagir com seus clientes e captar suas necessidades e desejos. Assim como a Ford se adaptou com novas necessidades de mercado e hoje produz carros com inúmeras cores e modelos, o mercado também exigiu de outras organizações, inclusive as públicas, novas adaptações de modo a suprir o desejo por garantia da qualidade na prestação de serviços.
O Manual de Procedimentos é a sistematização de todos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de uma organização. Esta coletânea de procedimentos é de responsabilidade da Alta Administração da organização (ou pessoa designada) e deverá estar completa, atualizada e revisada por pessoa capaz. As organizações, numa visão mais ampla de atividade, tornaram a padronização de seus serviços e produtos como ponto primordial para conquistar a satisfação dos usuários de seus serviços. O Procedimento Operacional Padrão (POP), seja técnico ou gerencial, é a base para garantia da padronização de suas tarefas e assim garantirem a seus usuários um serviço ou produto livre de variações indesejáveis na sua qualidade final.
O conteúdo dos POPs é variável e depende da natureza da organização e do tipo de processo que está sendo padronizado. A seguir, é apresentada uma lista do conteúdo básico de um procedimento, lembrando que esta lista é apenas uma referência. Os itens devem ser escolhidos de acordo com a necessidade do processo.
Objetivos;
Área de aplicação;
Responsabilidade;
Lista de equipamentos;
Lista de material;
Padrões esperados;
Detalhamento (descrição das atividades, incluindo as condições de realização e os pontos e métodos de controle);
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 35
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Registros;
Anexos;
Informações sobre revisão e aprovação do documento.
6.2 Etapas para Elaboração do Procedimento Operacional Padrão
São apresentados neste item, os passos necessários para a elaboração de um Procedimento Operacional Padrão. Transcrever as tarefas rotineiras que todos fazemos mecanicamente para uma folha de papel nem sempre é uma tarefa fácil, talvez seja um pouco cansativa, mas devemos tomar alguns cuidados.
Utilize o fluxograma do processo para visualizar todas as etapas do mesmo;
Descreva, em sequência, as etapas da realização do processo. Atenção àquelas atividades críticas, que interferem diretamente no resultado final;
As pessoas que executam as tarefas devem colaborar com o desenvolvimento do procedimento, ainda que a redação final do documento fique a cargo de uma área específica para isso;
A linguagem do procedimento deverá estar em consonância com o grau de instrução das pessoas envolvidas nas atividades. Dê preferência à uma linguagem simples e objetiva.
Nunca copie procedimentos de livros ou de outras organizações. Existem particularidades que devem ser consideradas em cada processo organizacional;
Faça análises críticas (pelo menos duas vezes por ano) sobre a aplicabilidade de seus procedimentos, sobre o seu conteúdo e se os mesmos estão sendo seguidos.
O conteúdo do POP, assim como sua aplicação, deverá ter o completo entendimento e familiarização por parte dos funcionários que tenham participação direta e/ou indireta na qualidade final daquele procedimento. Normalmente a ingerência de supervisores, coordenadores e diretores neste ponto é uma das causas de ineficiência na implantação de um Sistema da Qualidade. Cabendo aos mesmos as responsabilidades pela revisão e aprovação do POP.
O Anexo G apresenta um modelo de procedimento, utilizado em solicitação de Help Desk.
7. CONSOLIDANDO O PROCESSO
A melhoria de processos não termina com a elaboração de procedimentos ou a sua revisão.
É necessário desenvolver outras ações para que as modificações realizadas possam fazer parte da rotina das pessoas envolvidas. Para isso deve haver investimentos na disseminação das informações e no treinamento das pessoas.
7.1 Disseminação das Informações
Consiste em comunicar a todos os envolvidos as informações sobre o novo processo.
Esta fase é importante, pois muitos problemas podem ocorrer durante a implantação por falta ou por uma comunicação errada. Deve-se utilizar uma linguagem acessível e de fácil compreensão, evitando termos
técnicos complexos ou que possam trazer dupla interpretação. As informações podem ser divulgadas através de comunicados, reuniões, apresentações, seminários, normas, folhetos, revistas, intranet, enfim, de uma gama de situações que dependerá das condições existentes na organização. É importante assegurar que as informações corretas cheguem às pessoas certas, no momento oportuno.
7.2 Treinamento
O envolvido com o novo processo deve ser treinado, com base no levantamento de necessidade de treinamento já realizado. O novo processo só deve ser colocado em pleno funcionamento quando os seus executores estiverem seguros de seus conhecimentos sobre o processo.
O interessante é que os produtos gerados pelas ferramentas utilizadas na análise e melhoria dos processos servem como apoio à capacitação da força de trabalho, em todos os níveis.
8. QUADRO RESUMO
A seguir é apresentado um quadro com o resumo das atividades necessárias para a realização da Análise e Melhoria de Processos, utilizando o MAMP.
QUESTÕES DE CONCURSOS
1) (FUB) Com relação à administração de processos, julgue o item.
1 Uma estrutura organizacional embasada em processos é uma estrutura construída em torno do modo de fazer o trabalho, e não em torno de habilitações ou de poderes específicos.
2) (TRE-PI) Uma estrutura organizacional é representada pelo
36 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
a) Fluxograma.
b) Diagrama de Bloco.
c) Funcionograma.
d) Organograma.
e) ―Layout‖.
3) (ARCE) A soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e, posteriormente, como a coordenação é realizada entre essas tarefas é denominada:
a) estrutura de uma organização.
b) planejamento estratégico.
c) missão da organização.
d) reengenharia da organização.
e) redesenho dos processos.
4) (AGU) As organizações formais necessitam descobrir formas eficazes de administração; uma delas é a departamentalização, que pode ser entendida como:
a) o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz.
b) uma quantidade significativa de autoridade delegada aos níveis mais baixos de uma organização.
c) a forma de delegação que envolve uma quantidade ilimitada de poder, conforme os objetivos organizacionais.
d) a divisão de pessoas, conforme a delegação de autoridade de cada uma, envolvendo a combinação de uma forma possível.
e) um novo método de gerenciamento, com base na delegação, na centralização e nos padrões de desempenho.
5) (TRF) O organograma linear tem por finalidade apresentar graficamente:
a) as diferentes unidades de uma organização, interligadas por meio de linhas de subordinação hierárquica ou funcionais existentes entre elas.
b) a estrutura organizacional contendo as unidades, seus titulares e suas atribuições e responsabilidades.
c) a estrutura de organização do trabalho, estabelecendo as unidades, atividades, responsáveis e prazos a serem cumpridos dentro de um planejamento definido.
d) organização departamentalizada, cuja estrutura está orientada por processos de trabalhos lineares.
e) os fluxos de informações existentes dentro do ambiente estruturado, demonstrando as entradas, processamentos e saídas.
6) (TC-ES) Uma das funções básicas da administração é organização ou estruturação, que consiste na reunião e coordenação de atividades e de recursos necessários para o alcance dos objetivos organizacionais. Para o exercício adequado desta função, diversos modelos de estrutura vêm sendo propostos, implementados e combinados de acordo com os objetivos, as estratégias, preferências e necessidades de cada organização. Entre os modelos abaixo, indique aqueles que mais enfatizam a descentralização e o trabalho em equipe.
a) Funcional e por cliente
b) Matricial e por projeto
c) Por processo e por produto
d) Por processo e por projeto
e) Funcional e por área geográfica
7) (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-SP) Ao optar pela departamentalização por projeto, a qual combina as estruturas por função e por produto, a diretoria do Parque Águas claras Ltda solicitou que você traduzisse esta opção em um novo organograma, sendo escolhido o organograma:
a) funcional
b) por clientes
c) matricial
d) por território
8) (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-SP) Uma vantagem da departamentalização por produtos em uma empresa é a alternativa:
a) facilita a coordenação dos resultados esperados de cada grupo de produtos.
b) pode criar uma situação em que os gerentes de produtos se tornam muito poderosos.
c) possibilidade de atuação direta em determinada região.
d) maior facilidade de conhecer os fatores e problemas locais por ocasião da decisão.
9) (TRE-PE) No desenvolvimento de projetos, a estrutura mais adequada para flexibilizar a formação de equipes multifuncionais de conhecimentos especializados e otimizar os controles é a
a) linear.
b) staff.
c) departamentalizada.
d) matricial.
e) de remuneração de carreira em y.
10) (TRE-ES) Assinale a alternativa correta.
Uma organização apresenta uma estrutura organizacional centralizada quando as:
a) decisões são tomadas pelos integrantes dos níveis estratégicos da organização.
b) decisões são tomadas pelos integrantes dos níveis estratégico e operacional das organizações.
c) decisões são tomadas pelos integrantes dos níveis tático e operacional das organizações.
d) decisões são tomadas pelos integrantes dos níveis estratégico e tático das organizações.
GABARITO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D A A A B C A D A
GESTÃO DE CONTRATOS1
CONCEITO E CARACTERÍSTICAS.
1 GESTÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Fonte: SINDAF – Sindicato dos Auditores de Finanças
Públicas do Estado do Rio Grande do Sul
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 37
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao controle, ao acompanhamento e à fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes.
Deve pautar-se por princípios de eficiência e eficácia, além dos demais princípios regedores da
atuação administrativa, de forma a se observar que a execução do contrato ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente, assegurando ainda:
a) Segurança para o Gestor e para o Fiscal sobre a execução do contrato;
b) A plena execução das atividades programadas no Termo de Referência, Projeto Básico, Projeto Executivo e congêneres, e a garantia da execução do objeto contratual;
c) O atendimento das necessidades do INPI, no momento adequado e no prazo ajustado; d) Adequação das contratações, por meio do envolvimento das áreas de competência, na elaboração dos Projetos Básicos ou Termos de Referência que lhes interessam diretamente;
e) O cumprimento das obrigações do INPI de forma a que os fornecedores considerem o órgão como confiável, com reflexos favoráveis nos custos apurados nas licitações;
f) O efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, assegurando o adimplemento e a excelência no atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade nas obrigações contratuais;
g) Uma contínua ascensão da qualidade dos procedimentos licitatórios, por meio da incorporação das correções feitas em procedimentos anteriores, tanto em sanções como em exigências;
h) O registro completo e adequado de faltas cometidas pelo fornecedor de forma a facilmente solucionar as suas contestações quanto à inadimplência;
i) A correta aplicação dos recursos financeiros a cargo do INPI, garantindo estar sendo pago o que efetivamente foi recebido em obras, serviços, materiais e equipamentos;
j) O tratamento de todas as empresas contratadas com igualdade de procedimentos, eliminando qualquer forma de tratamento que possa representar descumprimento dos princípios da isonomia e da legalidade;
k) Procedimentos administrativos claros e simples com burocracia reduzida, de forma a facilitar a gestão e a fiscalização de contratos.
A Constituição da República, no seu artigo 37, § 8°, conquanto não mencione o termo contrato de gestão, preceitua que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades, a remuneração do pessoal.
A Lei Federal n° 9.637/1998, de 15/5/1998, que dispõe acerca da qualificação de entidades, sem fins lucrativos, como organizações sociais, prevê, expressamente, nos seus artigos 5°, 6° e 7°, o contrato de gestão, pelo qual se estabelece vínculo jurídico entre a Administração Pública e a organização social.
Seção III Do Contrato de Gestão
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º.
Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social.
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.
Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.
A doutrina atualizada de Meirelles (2006, p. 267) anota que o contrato de gestão, consoante o art. 5°, da Lei Federal n.° 9.637/1998, é o ―instrumento a ser firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1°.‖
As atividades previstas no artigo retrocitado abrangem as dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
Contrato de gestão, segundo a doutrina atualizada de Gasparini (2011, p. 861), é o ―ajuste celebrado pelo Poder Público com órgãos e entidades da Administração direta, indireta e entidades privadas qualificadas como organizações sociais, para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar metas de desempenho na consecução de seus objetivos.‖
No contrato de gestão fixam-se as metas a serem cumpridas pela entidade, que, em contrapartida, recebe recursos orçamentários do Poder Público. Assim, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão, são assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras.
Faculta-se ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para
38 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
a origem, consoante o contido no artigo 14, da Lei Federal n.° 9.637/1998.
Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem.
§ 1º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social.
§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
§ 3º O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social.
Às organizações sociais poderão ser destinados bens públicos, mediante permissão de uso, necessários ao cumprimento das metas previstas no contrato de gestão, a teor do disposto no artigo 12 do diploma legal supradito.
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão.
§ 1º São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2º Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§ 3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Segundo o Manual Básico do TCESP – Repasses Públicos ao Terceiro Setor (2007, p. 78), na celebração do contrato de gestão o poder contratante e a organização social – OS qualificada estão condicionados inicialmente à transferência e ao aceite da execução de serviços públicos preexistentes, previstos em lei.
Nessa senda, o citado ajuste destina-se a transferir a gestão de atividade, órgão ou entidade pública para a iniciativa privada; contudo, apenas para entes que possuam capacitação comprovada pela Administração Pública, com diretrizes que evidenciem ênfase no atendimento do cidadão-cliente, nos resultados qualitativos e quantitativos, nos prazos pactuados e no controle social das atividades desenvolvidas, segundo o que preceitua o artigo 20 da Lei Federal n.° 9.637/1998.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização - PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1o, por
organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei, observadas as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;
III - controle social das ações de forma transparente.
Di Pietro (2008, p. 470) preleciona que a organização social – OS é a ―qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social.‖
Assim, a associação civil ou fundação privada habilita-se perante o Poder Público e, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 2° da Lei Federal n.° 9.637/1998 , recebe a qualificação, que pode ser cancelada, por descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atribuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;
II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 39
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Cabe destacar que a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para as atividades contempladas no contrato de gestão, pode ser realizada ao amparo de dispensa de licitação, de acordo com o expresso no inciso XXIV, do artigo 24 da Lei Federal n.° 8.666/1993, cujo texto foi incluído pela Lei Federal n.° 9.648/1998, de 27/5/1998.
Di Pietro (2008, p. 473) ressalta que para a adequação da organização social aos ―princípios constitucionais que regem a gestão do patrimônio público‖ seria necessário, no mínimo:
a) exigência de licitação para a escolha da entidade;
b) comprovação de que a entidade já existe, tem sede própria, patrimônio e capital;
c) demonstração de qualificação técnica e idoneidade financeira para administrar o patrimônio publico;
d) submissão aos princípios da licitação;
e) imposição de limitações salariais quando dependam de recursos orçamentários do Estado para pagar seus empregados;
f) prestação de garantia, tal como exigido nos contratos administrativos em geral.
Bandeira de Mello (2011, p. 242) entende que as ―qualificações como organização social que hajam sido ou venham a ser feitas nas condições da Lei 9.637, de 15.5.98, são inválidas, pela flagrante inconstitucionalidade de que padece tal diploma.‖
Por outro lado, no que tange à execução do contrato de gestão, a teor do que preceitua o artigo 11 do Decreto Federal n° 6.170/2007, no que concerne à aquisição de produtos e à contratação de serviços por entidades privadas sem fins lucrativos que recebem transferências de recursos da União, mediante convênios e contratos de repasse, nos moldes do disposto no artigo 116 da Lei Federal n° 8.666/1993, deve ser realizada, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato, sem embargo da observância dos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.
O dispositivo acima descrito afastou a obrigatoriedade das regras trazidas no texto do Decreto Federal n° 5.504, de 5/8/2005, que, no âmbito federal, estabeleceu a exigência para as organizações sociais, relativamente às transferências de recursos da União recebidas, por intermédio de convênios ou contratos de repasse, realizar licitação pública para as contratações de obras, compras, serviços e alienações e, ainda, a utilização da modalidade de pregão, preferencialmente eletrônico, para as compras de bens e serviços comuns.
Nos termos dos artigos 9° e 10 da Lei Federal n.° 9.637/1998, os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas respectivo, sob pena de responsabilidade solidária, e quando a gravidade dos fatos ou o interesse público, assim exigir, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os
responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
O contrato de gestão poderá ser utilizado pelos entes federados, de acordo com o disciplinado nas respectivas leis editadas para aquele mister, tendo em vista que a sua execução sujeita-se ao controle de resultado no que tange à realização das metas nele estabelecidas.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (Consultor legislativo/CESPE/2014) No que se refere
aos contratos de gestão, julgue os itens seguintes.
1 Os recursos de fomento de uma organização social que celebre contrato de gestão são mantidos em sua conta movimento, de modo a evitar que sejam contabilizados como receita.
2 Os contratos de gestão, celebrados para a prestação de serviços não exclusivos do Estado, são estabelecidos por intermédio de parcerias com organizações sociais, que devem ser previamente qualificadas como organizações sociais pelo ministério responsável.
2
3 Em contrato de gestão celebrado por organização pública, os valores entre as partes contratantes serão fixados por intermédio de processo licitatório, conforme legislação.
4 Durante a execução de contrato de gestão, a organização receberá a sua contraprestação em função do atingimento da meta de desempenho fixada, e não das atividades realizadas.
02. (Analista Legislativo/CESPE/2014) No que concerne à
reforma administrativa que regulamentou os contratos de gestão a serem firmados pela administração pública, julgue os itens subsecutivos.
1 Os convênios instituídos pelo poder público são firmados exclusivamente com outros órgãos ou entidades públicas, ao passo que os contratos podem ser celebrados com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas.
2 A reforma administrativa permitiu a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta, mediante a celebração de contratos que tenham por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, a serem firmados entre seus administradores e o poder público. 209 As parcerias público-privadas são contratos administrativos de concessão e podem ser realizadas nas modalidades patrocinada ou administrativa.
Gabarito: 01/ECEC; 02/ ECC; 03/EEC; 04/E
2 De fato, os contratos de gestão podem ser viabilizados com as
OSs. No entanto, a redação transmite a ideia de prestação de
serviços não exclusivos só por intermédio de OSs. A Rede
Sarah, em Brasília, por exemplo, é serviço social autônomo, e
celebra contrato de gestão. Outro detalhe é que a qualificação
das OSs ocorre por Decreto do Executivo. As OSCIPs é que
são qualificadas por Portaria do Ministério da Justiça.
40 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTROUDÇÃO
Desenvolver o planejamento em uma empresa envolve diversas etapas. Apesar do planejamento estratégico ser o mais famoso na administração, os outros dois têm a mesma importância em um planejamento integrado dentro da companhia.
De acordo com Bateman e Snell (1998), as organizações podem ser divididas em três níveis: estratégico, tático e operacional, de acordo com
o tipo de trabalho que é desenvolvido por cada nível.
Planejamento Estratégico (longo alcance)
O planejamento estratégico é aquele que define as estratégias de longo prazo da empresa. Este planejamento leva em conta todos os fatores internos e externos a companhia – por exemplo, a situação econômica global é um fator a ser levado em conta no planejamento estratégico. Quando elaboramos este planejamento procuramos ter uma visão integrada dos processos e da companhia, por que a empresa como um todo entra nesta etapa.
O planejamento estratégico é feito em geral entre 5 e 10 anos no futuro.
É essencial que o planejamento estratégico, apesar de ter um alcance de até 10 anos, seja atualizado constantemente. Se isto não ocorrer, o planejamento sofre um sério risco de ficar obsoleto e não ser utilizado dentro da empresa, como deve ser.
Planejamento Tático (médio)
O planejamento tático é diferente para cada área da companhia. A area financeira terá seu próprio planejamento tático financeiro, assim como a RH, marketing e assim por diante. Esta etapa é mais focada que o planejamento estratégico, que é desdobrado em diversos planos táticos.
O planejamento tático é feito de ano a ano e busca otimizar uma determinada área da empresa na busca de um resultado.
Planejamento Operacional (Curto alcance)
O plano operacional coloca em prática cada um dos planos táticos dentro da empresa. Ele é projetado no curto prazo e envolve cada uma das tarefas e metas da empresa.
Um planejamento operacional deve planejar os prazos, metas e recursos para a implantação de um projeto ou tarefa dentro da empresa. Por ser a última etapa de planejamento, o operacional deve ser um plano mais detalhado que os outros dois, tentando explicar cada tarefa isoladamente.
Desta maneira que os planejamentos Estratégico, Tático e Operacional trabalham juntos. Cada um tem um escopo dentro da empresa e seguem uma ordem:
Estratégia >> Tática >> Operação
Considerando que o objeto de nossa avaliação é o planejamento estratégico, já que é o cobrado pela banca, vejamos o mesmo de forma mais detalhada.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O que é Estratégia Organizacional?
1. É definida pelo nível institucional da
organização, quase sempre, através da ampla participação de todos os demais níveis e negociação quanto aos interesses e objetivos envolvidos.
2. É projetada a longo prazo e define os futuro e
o destino da organização. Neste sentido, ela atende à missão, focaliza a visão organizacional e enfatiza os objetivos organizacionais de longo prazo.
3. Envolve a empresa como uma totalidade
para obtenção de efeitos sinergísticos. Isto significa que a estratégia é um mutirão de esforços convergentes, coordenados e integrados para proporcionar resultados alavancados. Na verdade, a estratégia organizacional não é a soma das táticas departamentais ou de suas operações. Ela é muito mais do que isso. Para obter sinergia, a estratégia precisa ser global e total e não um conjunto de ações isoladas e fragmentadas.
4. É um mecanismo de aprendizagem organizacional, através do qual a empresa aprende com
a retroação decorrente dos erros e acertos nas suas decisões e ações globais. Obviamente, não é a organização que aprende, mas as pessoas que dela
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 41
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
participam e que utilizam sua bagagem de conhecimentos.
Formulação estratégica
Conceito de PE
Segundo Oliveira (2002) planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona
sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada.
>É o planejamento mais amplo e abrange toda a organização.
>É projetado para longo prazo e seus efeitos e consequências são estendidos para vários anos.
>Em geral, cinco anos a dez anos.
> Deve ser executado por quem tem competência e autoridade para fazê-lo. Quanto maior a autoridades, maior a abrangência do planejamento, por isso que o planejamento propicia o amadurecimento organizacional.
Tomada de decisões antecipadas
O Planejamento Estratégico consiste na tomada de decisões antecipadas, levando em conta três filosofias de ação:
- Filosofia conservadora ou defensiva: voltada para a estabilidade e manutenção da situação existente. (Manutenção)
- Filosofia otimizadora ou analítica: voltada para melhorar as práticas vigentes. As decisões visam à obtenção dos melhores resultados possíveis. (Mudança)
- Filosofia prospectiva ou ofensiva: voltada para as contingências e centrada no futuro da organização. Há uma preocupação em ajustar a empresa às demandas ambientais e prepara se para o futuro. (Futuro)
42 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
As três orientações do planejamento estratégico.
Fases:
Quando se fala em planejamento estratégico, podemos destacar quatro fases:
- formulação dos objetivos organizacionais;
- análise interna das forças e limitações da
empresa;
- análise do ambiente externo;
- formulação das alternativas estratégicas.
Características fundamentais
O Planejamento Estratégico apresenta cinco características fundamentais:
- está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável;
- é orientado para o futuro (longo prazo);
- é compreensivo (afeta a organização como um todo);
- é um processo de construção de consenso;
- é uma forma de aprendizagem organizacional.
Quando estamos estudando a função planejamento e os cenários ou ambientes em que ela se processa devemos mencionar a Análise SWOT. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
Análise do Ambiente Externo:
▪ Ameaças: são situações, tendências ou
fenômenos externos à organização, atuais ou potenciais que podem prejudicar substancialmente e por longo tempo a realização de sua missão e/ou objetivos, bem como o alcance de um bom desempenho.
▪ Oportunidades: são situações, tendências ou
fenômenos externos à organização, atuais ou potenciais que podem contribuir em grau relevante e por longo tempo para a realização de sua missão e/ou objetivos, bem como para o alcance de um bom desempenho.
Análise do Ambiente Interno:
▪ Pontos Fortes: são fenômenos ou condições
internas capazes de auxiliarem por longo tempo o desempenho da organização e a realização de sua missão e objetivos.
▪ Pontos Fracos: são situações, fenômenos ou
condições internas que podem dificultar a realização da missão e o cumprimento dos objetivos.
Princípios específicos de planejamento estratégico
Quanto aos princípios específicos de planejamento estratégico, vamos mencionar:
- Planejamento Permanente: como vivemos em
um ambiente de mercado turbulento e mutável, as empresas devem criar e manter constantemente um plano estratégico, já que nenhum plano se mantém com as mudanças ambientais;
- Planejamento Participativo: temos como
principal benefício do planejamento a participação de todos da organização, desde a alta cúpula até o chão da fábrica.
- Planejamento Integrado: os vários planos que
são elaborados pelos escalões da empresa devem ser integrados entre as áreas e sub-áreas.
- Planejamento Coordenado: todo o processo de
planejamento deve ocorrer de forma coordenada e interdependente, pois nenhuma área deve planejar isoladamente as suas metas.
a) Missão:
É o motivo pelo qual a empresa existe; o que ela se propõe a realizar. Também encontramos este conceito com os nomes ―Razão de Ser‖ e ―Definição do Negócio‖.
A definição da missão da empresa é um elemento essencial para determinar o seu posicionamento estratégico. Para definir bem uma missão é preciso que se considere três elementos (THOMPSON e STRICKLAND, 2000):
▪ As necessidades do consumidor, ou o que está sendo atendido,
▪ Os grupos de consumidores, ou quem está sendo atendido, e
▪ As tecnologias usadas e funções executadas, ou como as necessidades dos consumidores estão sendo atendidas.
Tendo as necessidades dos clientes como foco, a missão é definida dentro de um horizonte de longo prazo. Essa missão deve ser comunicada para toda a empresa, de forma a criar um senso comum de oportunidade, direção e significado, mantendo uma aderência dos públicos interno e externo com as ações e estratégias adotadas pela empresa. Uma missão bem definida prepara a empresa para o futuro, pois estabelece uma visão comum entre os membros quanto aos rumos da empresa e transmite a identidade e a finalidade da empresa para os seus diferentes stakeholders.
b) Visão:
É o cenário ideal visualizado pela empresa. É a situação que a empresa busca, e para onde ela dirige sua criatividade e recursos.
A visão consiste num macroobjetivo, não quantificável de longo prazo, que expressa onde e como a organização pretende estar no futuro. A visão atua como um elemento motivador, energizando a empresa e criando um ambiente propício ao surgimento de novas ideias. Toda visão tem um componente racional, que é produto
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 43
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
da análise ambiental e outro componente emocional, que é produto da imaginação, da intuição e da criatividade dos gestores. Por isso, todo processo de planejamento é composto também de uma certa dose de feeling, onde aos fatos e dados são adicionados à capacidade empreendedora e visionária daqueles que estão planejando.
Ao contrário do que se pode imaginar num primeiro momento, a formulação da visão não é exclusividade da alta gerência da empresa. Ela pode ser estabelecida em qualquer nível hierárquico, individualmente ou de forma coletiva. Para que ela funcione melhor é preciso, entretanto, que ela seja disseminada. Portanto, é correto afirmar que a visão é mais consistente quando a organização consegue incorporá-la em seus diferentes níveis, fazendo com que estes, de forma sinérgica, busquem alcançá-la no longo prazo. Um exemplo desse processo ocorreu no caso do grupo Disney, que não desapareceu depois da morte de seu idealizador Walt Disney, o qual deixou de herança a sua visão de criar um mundo onde todos possam se sentir crianças.
c) Análise SWOT
Uma das ferramentas de planejamento mais utilizadas atualmente é a Análise SWOT. O termo SWOT
é uma sigla oriunda do idioma inglês: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
ATENÇÃO!!
Segundo Amir Klink, ―para se chegar onde quer que seja, não é preciso dominar a força, basta controlar a razão”
A análise SWOT é uma ferramenta de gestão
bastante difundida no meio empresarial para o estudo do ambiente interno e externo da empresa através da identificação e análise dos pontos fortes e fracos da organização e das oportunidades e ameaças às quais ela esta exposta. Apesar de parecer simples, esse método se mostra bastante eficaz na identificação dos fatores que influenciam no funcionamento da organização fornecendo informações bastante úteis no processo de planejamento estratégico.
Pode-se dividir a análise SWOT em duas partes: a análise do ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e os fracos, e a análise do ambiente externo, onde estão as ameaças e as oportunidades.
O ambiente interno da empresa é formado pelo conjunto de recursos físicos, humanos e financeiros, entre outros, sobre os quais é possível exercer controle, pois
resultam das estratégias definidas pelos gestores. Nesse ambiente é possível identificar os pontos fortes, correspondentes aos recursos e capacidades que juntos se transformam em uma vantagem competitiva para a empresa em relação aos seus concorrentes, e os pontos fracos que são as deficiências que a empresa apresenta em comparação com os mesmos pontos dos seus concorrentes atuais ou em potencial.
Já o ambiente externo é composto por fatores que existem fora dos limites da organização, mas que de alguma forma exercem influência sobre ela. Este é um ambiente sobre o qual não há controle, mas que deve ser monitorado continuamente, pois constitui base fundamental para o planejamento estratégico. A análise do ambiente externo é comumente dividida em fatores macro ambientais (questões demográficas, políticas, econômicas, tecnológicas e etc.) e fatores micro ambientais (consumidores, parceiros, fornecedores e etc.) que devem ser constantemente acompanhados, antes e após o delineamento das estratégias da empresa. Desta forma, através deste acompanhamento será possível identificar em tempo hábil as oportunidades e as ameaças que se apresentam, pois considerando que os fatores externos influenciam de forma homogênea todas as empresas que atuam em um mesmo mercado alvo, só aquelas que conseguirem identificar as mudanças e tiverem agilidade para se adaptar é que conseguirão tirar melhor proveito das oportunidades e que menos danos sofrerão com as ameaças.
Deve-se destacar que esta é uma análise bastante subjetiva, pois parte da proposta de se identificar os pontos negativos do objeto de análise e transformá-los em positivos, portanto, deve-se observar que um dos critérios para uma análise bem sucedida é que ela seja especifica, ou seja, tenha um direcionamento claro e objetivo, seja para a área de marketing, financeira, de recursos humanos ou outra.
Ilustração: Camila Faria
DICA DE CONCURSO:
No processo de planejamento estratégico, são realizados, por meio de matriz SWOT, o mapeamento e a análise das forças e das fraquezas da organização, bem como das oportunidades e das ameaças proporcionadas pelo ambiente externo. (Tec.Superior DETRAN-ES/2010)
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (CESPE – MPS ‐ ADMINISTRADOR – 2010) Segundo
Amyr Klink, para se chegar onde quer que seja não é preciso dominar a força; basta controlar a razão. Tendo como referência inicial essa assertiva, julgue os seguintes itens, acerca do planejamento.
1 Em função das constantes mudanças nos ambientes de negócios, o planejamento estratégico possui caráter de curto prazo. Um claro exemplo disso é a constante revisão que a alta gerência executa semestralmente em algumas empresas.
2 BSC (balanced scorecard) é uma ferramenta de apoio ao planejamento operacional, visto que seus
44 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
fundamentos são balizados em um sistema de indicadores.
3 São as abordagens prospectiva e projetiva consideradas as principais formas básicas de desenvolvimento de cenários.
4 As variáveis externas e não controláveis pela empresa que podem criar condições desfavoráveis para ela são conhecidas como pontos fracos.
5 O processo de planejamento propicia o amadurecimento organizacional. Nesse sentido, as variáveis autoridade e responsabilidade são diretamente proporcionais ao nível de planejamento abordado.
02. (CESPE – ANEEL ‐ ANAL. ADM – 2010)
Considerando a metodologia conhecida como avaliação SWOT (strength: forças; weaknesses: fraquezas; opportunities: oportunidades e threatens: ameaças), que pode servir de base aos processos de planejamento estratégico, julgue o item abaixo.
1 A identificação das fraquezas refere‐se ao ambiente
externo das empresas e das organizações.
03. Após a reunião de planejamento estratégico anual de
sua organização, o responsável por uma unidade de negócio resolveu implantar um projeto para dinamizar a aprendizagem organizacional em sua unidade. Para isso, promoveu, entre seus liderados, o seguinte conjunto de ações:
I - estimulou a participação dos seus subordinados nas decisões;
II - promoveu o trabalho em equipe;
III - passou a recompensar sugestões e críticas recebidas;
IV - desenvolveu ações de treinamento para seus subordinados.
Considerando o objetivo, são corretas as ações
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
04. Quanto à execução, o planejamento estratégico para
uma empresa tende a ser responsabilidade dos:
a) Altos executivos;
b) Gerentes de nível médio;
c) Controllers;
d) Administradores;
e) Diretores de produção;
05. A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito
utilizada como parte do planejamento estratégico. O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras Streghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A análise é dividida em duas partes, uma relacionada ao ambiente externo à organização e a outra ao interno, pela seguinte razão:
a) o externo pode ser controlado pelos dirigentes da organização, enquanto o interno não;
b) o interno pode orientar as ações relacionadas com oportunidades e ameaças;
c) o externo fica fora de controle, mas pode ser monitorado, orientando oportunidades e ameaças;
d) o interno resulta das estratégias de atuação da organização definindo forças e ameaças;
Gabarito: 01/EECEC; 02/E; 03/E; 04/A; 05/C
QUESTÕES DE CONCURSO CONTEMPLANDO TODO O CONTEÚDO
16) (GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO) A modalidade de departamentalização que agrupa atividades organizacionais através da quebra do produto em partes sequenciais é a departamentalização:
a) funcional
b) ambiental
c) por cliente
d) por projeto
e) por processo
17) (ARQUIVO NACIONAL) A estrutura organizacional de uma empresa na forma de ―estrutura linear‖ apresenta como desvantagem:
a) decisões mais lentas.
b) exigir chefes excepcionais.
c) alto custo de administração.
d) difícil transmissão de ordens.
e) difícil manutenção da disciplina.
18) (ARQUIVO NACIONAL) Uma das desvantagens da estrutura organizacional staff-on-line é:
a) facilitar o melhor controle da quantidade.
b) dificultar o controle da quantidade.
c) utilizar em menor grau a divisão do trabalho.
d) gerar reação dos órgãos de execução contra as sugestões do staff.
e) dificultar a participação de especialistas em qualquer ponto da linha hierárquica.
19) (TFC) A organização formal é, classicamente, definida como aquela onde são determinados os padrões de interrelação entre órgãos ou cargos, definidos logicamente através de diretrizes, normas e regulamentos visando ao alcance de seus objetivos. Em outras palavras, a organização é percebida como um conjunto de encargos funcionais e hierárquicos orientados para o objetivo de produção de bem e serviços. Suas principais características são:
a) flexibilidade, padronização e comunicação.
b) divisão do trabalho, especialização e hierarquia.
c) integração horizontal e vertical, descentralização e autonomia das partes.
d) competitividade, integração sistêmica e avaliação por resultados.
e) interdependência operacional, desconcentração decisória, comando horizontalizado.
20) (TFC) As organizações formais foram classicamente definidas como aquelas que apresentam padrões de interrelação entre unidades e cargos, logicamente estabelecidos através de regulamentos padronizados, destinados a viabilizar seus objetivos. No período recente, novos tipos de organização têm sido introduzidos em substituição aos padrões
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 45
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
organizacionais até então prevalecentes. Aponte a opção que melhor retrata essa mudança nas organizações atuais.
a) melhor relação custo – eficiência, dedicação à melhoria incremental de processos, redução das unidades organizacionais e do quantitativo de pessoal.
b) flexibilidade, diminuição de níveis hierárquicos, desenvolvimento de pessoal, criatividade, inovação e foco no cliente.
c) inovação tecnológica, controle centralizado, estabilidade de recursos humanos e avaliação de desempenho com base em processos de trabalho renovados.
d) informatização, rotinização de atividades, padronização de procedimentos e descentralização da execução e do controle.
e) desconcentração do planejamento, da execução e do controle, interação cautelosa com o meio ambiente externo em mutação, controle de custos.
21) (TCU) Determinada organização pública encontra-se diante do seguinte quadro:
- servidores desmotivados para o desenvolvimento das atividades que lhe são atribuídas;
- perspectiva de corte do orçamento previsto para suas atividades;
- servidores com alto grau de capacitação para o desenvolvimento das atividades previstas em seus cargos;
- instalações deficientes;
- predisposição de parlamentares a apoiar a mudança da legislação, de modo a conceder maior autonomia à organização.
Com referência à análise SWOT e à aplicação dessa análise à situação acima descrita, julgue os itens de 1 a 6.
1 O fato de os servidores estarem desmotivados para o desenvolvimento das atividades que lhe são atribuídas é um exemplo de ameaça à organização.
2 O fato de os servidores terem alto grau de capacitação para o desenvolvimento das atividades previstas em seus cargos é um exemplo de força da organização.
3 A predisposição parlamentar de apoio à mudança da legislação constitui um exemplo de força da organização.
4 A perspectiva de corte do orçamento previsto para o desenvolvimento das atividades da organização constitui exemplo de ameaça à organização.
5 A análise SWOT é obtida a partir da análise interna da organização, realizada ao longo de, no mínimo, um ano.
6 Instalações deficientes são exemplo de fraqueza da organização.
22) (TCU) Acerca de avaliação da gestão pública, julgue os itens de 1 a 10.
1 Um dos objetivos da avaliação da gestão pública, por intermédio da utilização de instrumentos de avaliação, como proposto pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), é ajudar as organizações públicas a se transformarem em organizações de classe mundial.
2 A pontuação obtida pela organização pública, conforme proposta do GESPÚBLICA, mostra o quanto a organização está melhor ou pior em sua administração, comparativamente a outras organizações similares.
3 O modelo de excelência em gestão pública, concebido a partir da premissa de que é preciso ser excelente sem deixar de ser público, deve estar alicerçado em fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea e condicionado aos princípios constitucionais peculiares da natureza pública das organizações.
4 A grande ênfase do GESPÚBLICA no processo de avaliação é a descrição do porquê de determinada prática ou processo ter sido desenvolvido, visando-se, desse modo, encontrar os responsáveis pela prática bem ou malsucedida.
5 O modelo de excelência em gestão pública é a representação de um sistema gerencial constituído de sete partes integradas, os chamados critérios, entre os quais se incluem estratégia e planos; informação e conhecimento; e pessoas.
6 Pela utilização do critério liderança, verifica-se como está estruturado o sistema de liderança da organização, ou seja, como serão formuladas as estratégias, a análise de ambientes, a busca de oportunidades, o envolvimento das pessoas, os aspectos fundamentais para o sucesso e a comunicação das estratégias a todas as partes interessadas.
7 No critério cidadãos e sociedade, examinam-se os níveis atuais, as tendências e os referenciais comparativos dos resultados da satisfação e insatisfação dos cidadãos, do atendimento ao universo potencial de cidadãos, da participação no mercado e da imagem da organização.
8 No critério processos, verificam-se os principais aspectos do funcionamento interno da organização, entre os quais se incluem a estruturação de seus processos com base em suas competências legais, a definição dos seus serviços com foco nas necessidades dos cidadãos, a implementação e a operacionalização de processos finalísticos, de apoio, orçamentários e financeiros e os relativos aos fornecedores.
9 O sistema de pontuação da avaliação do GESPÚBLICA prevê três dimensões de avaliação dos critérios e respectivos itens: os métodos utilizados, a aplicação desses métodos e os resultados obtidos pela sua aplicação.
10 Na avaliação dos resultados da organização, deve ser especificado um prazo mínimo para se estabelecer tendência; nesse caso, será considerada a variação consecutiva (melhoria dos resultados) de forma sustentada, no mínimo, dos dois últimos períodos de tempo.
23) (AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - 2000) De acordo com os princípios ideais do planejamento governamental contemporâneo, ele:
1. é especializado por fases: uns planejam, outros implementam; quem planeja não implementa, quem implementa não planeja.
2. baseia-se nos interesses e nas expectativas dos atores beneficiários ou envolvidos (stakeholders).
46 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
3. baseia-se predominantemente na formulação de planos detalhados, com metas e responsabilidades bem definidas.
4. é periódico e sequenciado, com prazos preestabelecidos para formulação e avaliação.
5. é referenciado em macroestratégias de desenvolvimento.
24) (INSS) Acerca do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.
1 Suponha-se que Francisca, servidora do INSS, ao atender um segurado e receber dele um requerimento de benefícios, tenha constatado que ele não havia incluído um item a que tinha direito. Suponha-se, ainda, que ela tenha decidido não lhe dizer nada a esse respeito. Nessa situação, a atitude de Francisca não pode ser reprovada, pois o servidor do INSS pode omitir de segurado a existência de direito a verba de benefício que não tenha sido explicitamente requerida.
2 Para que sejam efetivas, as funções administrativas de planejamento, direção, organização e controle devem ser impessoais.
3 Um plano que abranja o procedimento de recepção de segurados do INSS e as programações de tempo de espera para cada caso, visando à melhoria da qualidade do serviço de atendimento, é exemplo de planejamento estratégico.
4 O balanço e o relatório financeiro são exemplos de controle estratégico.
25) (INSS) Acerca da comunicação institucional, julgue os itens a seguir.
1 A comunicação institucional utiliza técnicas de relações públicas, marketing, publicidade, propaganda e
jornalismo.
2 A comunicação institucional propõe-se a tornar pública a instituição, agregando valores e projetando-a junto ao público desejado, com o intuito direto e específico de vender os produtos e serviços existentes na organização.
26) (INPI) Os critérios básicos de mensuração e avaliação do desempenho dos sistemas organizacionais são: eficiência, eficácia e competitividade. A eficácia pode ser vista como:
a) a capacidade de realizar atividades ou tarefas com perdas mínimas.
b) a capacidade de realizar tarefas com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível dos recursos.
c) a relação entre esforço e resultado.
d) o grau de coincidência dos resultados em relação aos objetivos.
e) a relação entre itens produzidos dentro das especificações e a quantidade total de itens.
27) (MINISTÉRIO PÚBLICO-RS) A função planejamento é uma das mais importantes em qualquer organização porque:
I – cabe a ela alocar os recursos necessários.
II – ela identifica os meios para alcançar os objetivos.
III – ela dirige os esforços para um propósito comum.
IV – ela desenvolve premissas sobre condições futuras.
V – ela compara o desempenho com os padrões.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I, III e IV
d) Apenas I, II e III
e) Apenas II e IV
28) (MPE-RO) Um departamento de uma organização pública está buscando alcançar maior eficiência na realização das tarefas efetuadas por seus servidores, pois foram identificadas perdas excessivas na produção do trabalho realizado. O chefe promoveu reuniões com seus subordinados para definir as ações a serem tomadas. O primeiro passo foi definir que eficiência significa:
a) condições adequadas de fazer o trabalho.
b) correta utilização dos recursos disponíveis.
c) redução da fadiga humana no posto de trabalho.
d) produção do trabalho no menor tempo possível.
e) padronização dos métodos de trabalho utilizados.
29) (TRE-AM) A direção, uma das funções do Administrador, engloba as seguintes atividades:
a) elaboração de relatórios, planejamento e controle.
b) liderança, controladoria e tomada de decisão.
c) comunicação, definição de objetivos e controle.
d) comando, organização e motivação.
e) motivação, comunicação e liderança.
30) (TRE-RS) O planejamento e o controle são duas das principais funções gerenciais, além de serem a base de qualquer desenvolvimento que uma organização pretenda implementar. Nesse sentido, julgue os seguintes itens.
1. No processo de planejamento estratégico, o diagnóstico ocupa um papel de suma importância e tem, entre seus objetivos principais, além da análise do ambiente interno, a análise externa da empresa, apresentando as oportunidades e as ameaças relacionadas ao ambiente externo.
2. Os sistemas de controle de desempenho podem assinalar quando o desempenho de uma unidade está se deteriorando; em termos motivacionais, podem ser utilizados para provocar melhores desempenhos.
3. O planejamento para ação impõe decisões específicas e ações para serem levadas a efeito em um determinado momento, enquanto o controle de desempenho impõe padrões de desempenho por um período de tempo, sem referência a ações específicas.
4. Uma das principais abordagens de planejamento é a APO, que tem as seguintes características: cada objetivo tem um período de tempo específico, os objetivos são determinados participativamente e existe um feedback contínuo de desempenho.
5. O controle por resultados se distingue do controle burocrático por ser próprio de ambientes pouco competitivos e característico de organizações com estruturas fortemente centralizadas.
31) (PF) Lúcio é agente administrativo do DPF com lotação na unidade do Distrito Federal. No exercício do cargo, Lúcio deve manter contatos com seus pares, com técnicos de nível superior e com autoridades de
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 47
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
alto nível hierárquico. Além disso, deve supervisionar trabalhos relacionados às áreas de pessoal, orçamento, organização, métodos e material. Essas atribuições exigem que ele seja competente na comunicação interpessoal.
Em face da situação hipotética apresentada acima, julgue os itens seguintes, relativos ao processo de comunicação humana nas relações internas e públicas de trabalho.
1. Lúcio deve levar em conta que os canais de comunicação diferem quanto à capacidade de transmitir informações.
2. Sendo Lúcio, na sua organização, responsável por contatos tanto horizontais quanto verticais, ele deve usar a mesma linguagem em todas as situações.
3. Para enviar a seus superiores informações relativas à publicação de nova legislação pertinente ao trabalho do DPF, Lúcio poderá fazer uso de e-mail, que é um canal de comunicação apropriado para esse fim.
4. No exercício de sua função, Lúcio deve ater-se à comunicação verbal, pois a comunicação gestual é inexequível nas organizações.
5. Quando Lúcio se comunica com seus pares utilizando terminologia especializada ou linguagem especifica de seu grupo profissional, ele está-se valendo de um jargão.
6. Considere que, ao se comunicar com seus superiores, Lúcio manipula a informação para que ela seja recebida de maneira mais favorável. Nesse caso, Lúcio cria uma barreira à comunicação eficaz.
7. A comunicação de Lúcio será descendente toda vez que ele estiver mantendo contato com autoridades.
8. As redes de comunicação interpessoal utilizadas por Lúcio no DPF são caracterizadas como redes informais de comunicação, pois ele conhece as pessoas com as quais se comunica.
32) (TRE-BA) Determina, dentre outros fatores, uma comunicação efetiva:
a) ampliar os canais de comunicação.
b) potencializar os ruídos de comunicação.
c) saber ouvir.
d) ter fluência na interlocução.
e) ter expressão corporal e correção gramatical acurados.
33) (AFT) Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) as definições sobre as características da comunicação na gestão pública. A seguir, indique a opção correta.
( ) A comunicação deve respeitar e se manter nas esferas de influência federal, estadual e municipal.
( ) O servidor público deve satisfação apenas ao seu superior imediato, que deve arbitrar que informações podem ser passadas para a comunidade.
( ) A comunicação no setor público é mais do que uma necessidade mercadológica; é um direito do cidadão em muitos casos.
( ) As novas tecnologias de comunicação estão mudando a forma como o orçamento e o seu controle são realizados, permitindo uma maior participação da sociedade.
( ) A comunicação na gestão pública cria redes organizacionais que são sempre coordenadas pelo Governo federal.
a) V, F, V, V, F
b) F, V, F, V, V
c) V, V, F, F, F
d) V, F, V, F, V
e) F, F, V, V, F
34) (TST) O planejamento estratégico ocupa, entre outros, papel importante na definição dos cursos de ação a serem seguidos por uma empresa. Com relação ao planejamento estratégico, julgue os itens que se seguem.
1. O planejamento estratégico tem início com a elaboração do diagnóstico estratégico, e posteriormente a organização estabelece sua missão, seus valores, seus objetivos, suas estratégias e metas.
2. É fundamental a definição dos objetivos da organização no planejamento estratégico, os quais devem ser, sempre que possível, hierárquicos bem como realistas, consistentes e motivadores.
3. No planejamento estratégico, são definidos apenas dois mecanismos de controle e de avaliação a serem empregados em momentos específicos: o controle preliminar, efetuado antes da ocorrência do evento que se pretende controlar, e o controle corrente, efetuado ao mesmo tempo da ocorrência do evento que se pretende controlar.
4. A missão, a razão de ser da empresa, exerce função orientadora e delimitadora da ação empresarial, devendo sempre ser realista, motivadora e quantitativa.
35) (HEMOBRAS) Considere a seguinte situação hipotética.
―Souza, diretor financeiro da empresa Beta, ao perceber que concentrava muitas atividades, o que exigia dele uma sobrecarga de trabalho, delegou parte de suas atividades aos subordinados Meira, chefe da divisão de pagamentos, e Veiga, chefe da divisão de contabilidade. Nessa situação, a empresa Beta passará a cobrar diretamente de Meira e Veiga as responsabilidades que lhes foram delegadas por Souza.‖
Acerca do processo grupal nas organizações, julgue os itens a seguir.
1 Emissor, receptor, mensagem, canal e ruído são elementos do processo de comunicação nas organizações.
2 Uma das vantagens do correio eletrônico sobre os demais meios de transmissão de informação é a de ser o meio que apresenta a maior rapidez no fornecimento de feedback.
3 Um grupo de pessoas com problemas de relacionamento, em que uma não se envolve na tarefa da outra, mas cada uma desempenha suas tarefas da melhor maneira possível, com empenho e determinação para cumprir a sua meta específica, não constitui uma equipe de trabalho, mas apenas um grupo de trabalho.
36) (HEMOBRAS) Planejamento pode ser definido como o processo consciente e sistemático de tomar decisões relacionadas a objetivos que uma organização pretende atingir. A esse respeito, julgue os itens que seguem.
48 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
1 Os objetivos de longo prazo, relacionados ao cumprimento da missão e alcance da visão organizacionais e que envolvem toda a organização são definidos no planejamento estratégico.
2 Entre os tipos de planejamento, o planejamento operacional é o que apresenta menor alcance em termos de tempo e menor foco em termos de atividades organizacionais.
37) (TRF – 5ª REGIÃO) O instrumento gráfico utilizado para identificar o processo informacional de um determinado setor operacional denomina-se
a) Fluxograma.
b) Cronograma.
c) Organograma.
d) Quadro de distribuição de trabalho (QDT).
e) Lay out.
38) (TRF – 1ª Região) Assinale a alternativa que contém a correta correlação entre os elementos das rotinas e os símbolos que devem ser desenhados no fluxograma.
Rotinas Símbolos
I. Relatório de materiais estocados. a.
II. Decide, através de verificação no relatório
de materiais estocados, se existem materiais b.
que necessitam ser comprados.
III. Programa a emissão de pedido de compra, c.
caso existam materiais a serem comprados.
IV. Arquiva o relatório de materiais estocados,
caso não existam materiais a serem compra- d.
dos.
a) I-a; II-b; III-c; IV-d.
b) I-b; II –a; III-d; IV-c.
c) I-c; II-b; III-a; IV-d.
d) I-d; II-a; III-b; IV-c.
e) I-d; II-a; III-c; IV-b.
39) (TRF – 1ª REGIÃO) Quanto às vantagens da utilização dos fluxogramas, é INCORRETO afirmar que
a) permitem compreender ou estabelecer, com clareza e facilidade as relações entre as unidades simples ou complexas de trabalho.
b) possibilitam identificar, no órgão em estudo, as relações que possam ser eliminadas ou devam ser alteradas.
c) facilitam a identificação das fases de execução que ficariam mais bem situadas em outro ponto do fluxo de trabalho.
d) permitem identificar e suprimir os movimentos inúteis de um elemento qualquer, como por exemplo, um documento.
e) possibilitam caracterizar a forma pela qual uma posição se relaciona com as demais dentro do órgão, isto é, seu nível de responsabilidade.
40) (EPE) A elaboração de fluxograma é uma das técnicas mais utilizadas nos estudos de processos administrativos. O uso de uma simbologia universal permite a leitura do fluxograma por profissionais de diferentes nacionalidades. Os símbolos da Associação
dos Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos da América (ASME) são adotados na elaboração dos fluxogramas vertical e horizontal. Operação, transporte, controle, espera, arquivo provisório e arquivo definitivo têm símbolos que os identificam. Nessa perspectiva, os símbolos que definem um fluxo de operação, controle e transporte, nessa ordem, são:
a) D O
b) □ ∆
c) O D
d) O □
e) D O ∆
GABARITO
17 18 19 20
B D B B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E-C-E-C-E-C
C-E-C-E-C-E-E-C-C-E
E-C-E-E-C
E-E-E-C
C-E
D E B E C-C-C-C-E
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C E C E C C E E
C E C C E E
C E C
C C
A D E D
VAMOS TREINAR QUESTÕES DA FGV
01. (TJ-SC/FGV) O supervisor de produção de uma
empresa fabricante de autopeças observou um aumento no número de peças fora dos padrões definidos. O supervisor gostaria de monitorar continuamente as atividades, adotando um controle simultâneo. Um controle simultâneo adequado seria:
(A) inspeção de matérias-primas;
(B) programa de manutenção preventiva;
(C) controle estatístico do processo;
(D) controle de qualidade das peças produzidas;
(E) definição de regras e procedimentos de produção.
02. (AL-MA/FGV) Leia o fragmento a seguir:
―A estrutura _____ representada _____ foca o sistema de autoridade, _____, divisão de _____, comunicação e processo
_____‖.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.
(A) informal – pela rede de relações sociais – responsabilidade – atribuições – decisório
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 49
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(B) informal – pelo organograma – responsabilidade – tarefas – decisório
(C) formal – pela rede de relações sociais– responsabilidade – trabalho – burocrático
(D) formal – pelo organograma – responsabilidade – trabalho – decisório
(E) informal – pela rede de relações sociais – responsabilidade – tarefas – burocrático
03. (AL-MA/FGV) Considerando a departamentalização
por função ou funcional, analise as afirmativas a seguir.
I. É inadequada quando a tecnologia e as circunstâncias externas são mutáveis ou imprevisíveis.
II. Enfatiza a coordenação em detrimento da especialização.
III. Acarreta o enxugamento downsizing da área e sua descentralização rumo aos usuários.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente a afirmativa I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
04. (MP-AL/FGV) A ferramenta administrativa
responsável pela representação gráfica das funções hierárquicas da estrutura organizacional é chamada de
(A) organograma.
(B) gráfico em pizza.
(C) fluxograma.
(D) cronograma.
(E) cadeia de valor.
05. (MP-AL/FGV) O controle é uma atividade que pode
ser realizada em diferentes níveis organizacionais, agindo de diferentes maneiras em cada contexto. Assinale a opção que apresenta um exemplo de ação utilizada no nível estratégico. (A) Verificar a taxa de defeitos na produção de determinado produto.
(B) Avaliar o número de reclamações de clientes.
(C) Apreciar o grau de realização da visão da organização.
(D) Analisar a adequação das demonstrações contábeis realizadas pelo gerente financeiro.
(E) Mensurar o resultado de uma nova campanha publicitária.
06. (MP-AL/FGV) Manuel é gerente de recursos humanos
de um renomado escritório de advocacia. Ao realizar os processos de recrutamento de novos colaboradores, Manuel aplica uma avaliação que contém as disciplinas de Direito Civil, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Conhecimentos Gerais, propiciando a seleção de candidatos adequados ao perfil da empresa. Com base no aspecto temporal, evidencia-se na situação, a utilização de um controle
(A) reativo.
(B) posterior.
(C) simultâneo.
(D) preventivo.
(E) feedback.
07. (MP-AL/FGV) Demócrito, administrador de uma
grande rede de restaurantes, decide ampliar suas
operações no Brasil, abrindo filiais em numerosos estados do país, estabelecendo a meta de ser a maior empresa no ramo, em até 5 anos. Concernente às funções básicas da administração, Demócrito está exercendo a função de
(A) planejamento.
(B) coordenação.
(C) liderança.
(D) direção.
(E) organização.
08. (TCE-BA/FGV) Quanto às características básicas das
organizações formais modernas, analise as afirmativas a seguir.
I. Enquanto o modelo burocrático pauta a Administração Pública no que foi aprovado em lei, o modelo gerencial, por seu caráter inovador, busca a renovação constante das ações governamentais.
II. A postura paternalista e autorregulada da administração burocrática se contrapõe àquela proposta pela administração gerencial que é orientada para o consumidor dos serviços públicos e focada nos resultados.
III. Em qualquer modelo de administração para o setor público é necessário que o gestor não se descuide dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
09. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) A
utilização da técnica de fluxograma implica conhecer um conjunto de símbolos que representam as etapas do processo, as pessoas ou os setores envolvidos, a sequência das operações e a circulação dos dados e dos documentos, conforme figura a seguir.
não
Sim
Início
Ligar o rádio
Estação Certa?
Mudar a estação
Ouvir o rádio
Fim
50 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O losango na figura apresentada significa:
(A) decisão;
(B) entrada;
(C) limites;
(D) operação;
(E) sentido do fluxo.
10. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) A
estrutura organizacional espelha a criação e a construção de uma arquitetura que propõe o entendimento dos sistemas e dos processos básicos que guiam a organização. A estrutura espelha, portanto, a distribuição de um conjunto de fatores necessários ao adequado funcionamento da organização, EXCETO a distribuição de:
(A) autoridades informais;
(B) capital financeiro;
(C) recursos humanos;
(D) poder decisório;
(E) processos de trabalho.
11. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) Na
administração pública devem ser constantes os esforços no sentido de modernização das estruturas organizacionais, de forma a promover a integração da organização ao ambiente externo. Essa integração deve estar adequadamente centrada na ideia de:
(A) serviços estabelecidos pela oferta;
(B) processos orientados pelos técnicos;
(C) formação de equipes dependentes;
(D) extinção da configuração hierárquica;
(E) adaptação às mudanças conjunturais.
12. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) O Plano
Estratégico 2012-2015 do IBGE define a missão institucional como: "Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania." O conceito de missão:
(A) declara, sucintamente, a razão de ser da instituição, a finalidade de sua existência, revelando o que ela faz e para que faz;
(B) estabelece o conjunto de crenças impulsionadoras de comportamentos cotidianos a serem seguidos pelo corpo funcional;
(C) direciona os rumos e descreve o futuro desejado pela instituição no horizonte de tempo do Plano Estratégico;
(D) aponta as condições essenciais para a efetividade da estratégia estabelecida para o seu cumprimento;
(E) estabelece os conjuntos de atividades realizadas pela instituição que contribuem sinergicamente para o alcance dos seus objetivos estratégicos.
13. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) Neste
momento duas organizações estão construindo os seus respectivos planos estratégicos e optaram pela Matriz SWOT (Matriz FOFA, em português) como ferramenta para a análise de seus ambientes de atuação. Ambas identificaram a variação cambial como fator que afeta ou poderá afetar os seus ambientes de negócios. Sendo assim, a variação cambial pode ser considerada:
(A) uma oportunidade ou uma fraqueza;
(B) uma fraqueza ou uma ameaça;
(C) uma força ou uma fraqueza;
(D) uma oportunidade ou uma força;
(E) uma ameaça ou uma oportunidade.
14. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) A maioria
dos ciclos de vida de processos de negócios pode ser mapeada como um ciclo básico PDCA (Plan, Do, Check, Act) de Deming. Nesse ciclo básico:
(A) Planejar (Plan) é assegurar alinhamento do contexto de processos de negócio e do desenho de processos com os objetivos estratégicos da organização;
(B) Fazer (Do) é revisar o processo de acordo com as especificações desenvolvidas na fase Planejar (Plan);
(C) Verificar (Check) é implementar o desempenho esperado;
(D) Agir (Act) é medir o desempenho real do processo em comparação ao desempenho esperado;
(E) Fazer (Do) é definir ações e agir de acordo com os dados de desempenho do processo coletados na fase Verificar (Check).
15. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV) Uma
organização mede sistematicamente o desempenho de um determinado processo a fim de identificar possíveis flutuações e, se necessário, realizar intervenções. Esse processo possui determinados requisitos para a sua execução. Uma forma de avaliação de processos é:
(A) quanto ao seu custo, uma avaliação de sua eficiência;
(B) quanto ao atendimento dos requisitos definidos, uma avaliação de sua eficácia;
(C) quanto à sua adaptabilidade, uma avaliação de sua capacidade de adaptação a requisitos ambientais;
(D) quanto à sua desagregabilidade, uma avaliação de sua capacidade de representação regionalizada;
(E) quanto ao seu impacto, uma avaliação de seus efeitos imediatos.
Gabarito: 01/C; 02/D; 03/A; 04/A; 05/C; 06/D; 07/A; 08/E;
09/A; 10/A; 11/E; 12/A; 13/E; 14/A; 15/B.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 1
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA Teoria, dicas e questões de provas FGV
Prof. Janilson Santos
Administrador graduado pela UECE - Universidade Estadual do Ceará; é Pós-Graduado (Especialista) em Planejamento Educacional pela UNIVERSO – Universidade Salgado Oliveira e Mestre em Ciências da Educação pela UNESA – Universidade Estácio de Sá; é Professor de Administração do Centro Universitário UniFanor | Wyden e da UNIP – Universidade Paulista. Leciona também nos principais cursos preparatórios para concursos de Fortaleza(CE) e Natal(RN).
2019.7
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 Modelos de gestão pública: patrimonialista, burocrático (Weber) e gerencial. ................................ 1
Questões de concursos ............................................ 7
2 Conceitos de eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública: avaliação e mensuração do desempenho governamental. .................................... 10
Questões de concursos .......................................... 14
3 Orçamento público. 3.1 Princípios orçamentários. 3.2 Diretrizes orçamentárias. 3.3 Processo orçamentário. 3.4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. 3.5 Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 3.6 Despesa pública: categorias, estágios. 3.7 Suprimento de fundos. 3.8 Restos a pagar. 3.9 Despesas de exercícios anteriores. 3.10 A conta única do Tesouro. ..................................................... 15
4 Gestão de suprimentos e logística na Administração Pública. ...................................................................... 15
4.1 A modernização do processo de compras. .......... 20
Questões de concursos .......................................... 22
5 Noções de licitação pública: fases, modalidades, dispensa e inexigibilidade. ........................................ 23
Questões de provas FGV .............................................. 23
MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA: PATRIMONIALISTA, BUROCRÁTICO (WEBER) E GERENCIAL.
INTRODUÇÃO
As bases da excelência na gestão já estão dadas pela Carta Magna e pela lei – é inerente a uma administração pública democrática, voltada para resultados, a observância dos fundamentos que a
Constituição Federal estabelece para a sua atuação. Dentre eles, cabe destacar os seguintes:
a) a soberania popular e a moralidade, que
submetem as estruturas do Poder Executivo e
a Justiça à orientação e ao controle do Poder Político;
b) a legalidade, segundo o qual o poder e a
atividade estatais são regulados e controlados pela lei (regime administrativo), entendendo-se a lei, nesse contexto, como a expressão da vontade geral (por ser democrático);
c) a separação dos poderes de legislar, executar
e judicar, em garantia à segurança democrática, que orienta para a segregação das funções normativas, executivas e de julgamento dentro das estruturas do Poder Executivo;
d) a autonomia dos entes federados, com ênfase
na capacidade formuladora e coordenadora da esfera Federal; do potencial de articulação dos estados e da execução de políticas públicas em nível municipal, onde estão, de fato, os cidadãos;
e) a atuação das instituições públicas no estrito limite das suas competências e poderes constitucionais ou legais. É importante
atentar que a Administração Pública não tem vontade, nem poderes senão aqueles que lhes foram delegados pela Constituição e pela Lei para serem aplicados na realização dos interesses públicos;
f) o pluralismo e o respeito às diferenças;
g) o respeito ao pacto federativos e à autonomia política dos entes federados;
h) a descentralização federativa; a cooperação estado-sociedade;
i) a participação e o controle social;
j) o foco em resultados e na eficiência da ação pública;
k) a impessoalidade; e
l) a publicidade e transparência dos atos públicos. As políticas de transparência
tendem, normalmente, a ser dramáticas e apresentar resistências dentro da burocracia pública. Transparência não implica e não impacta a participação social. São duas dimensões importantes, mas que não necessariamente têm relação de causa e efeito.
GESTÃO PÚBLICA: PATRIMONIALISTA, BUROCRÁTICO E GERENCIAL.
AS TRÊS FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
No plano administrativo, a administração pública burocrática surgiu no século passado conjuntamente com o Estado liberal, exatamente como uma forma de defender a coisa pública contra o patrimonialismo. Na medida, porém, que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais e crescia em dimensão, os custos dessa defesa passaram a ser mais altos que os benefícios do controle. Por isso, neste século as práticas burocráticas vêm cedendo lugar a um novo tipo de administração: a administração gerencial.
Assim, partindo-se de uma perspectiva histórica, verifica-se que a administração pública evoluiu através de três modelos básicos:
1) a administração pública patrimonialista,
2) a burocrática e
3) a gerencial.
2 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Essas três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada.
1) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PATRIMONIALISTA
A primeira forma importante de administração pública foi o Patrimonialismo. Nele o aparelho do Estado
funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A coisa pública não é diferenciada da coisa particular. Em consequência, a corrupção, o clientelismo e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração.
Este cenário muda no final do século XIX, no momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes. Mercado e Sociedade Civil passam a se distinguir do Estado.
Neste novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se inaceitável, pois não mais cabia um modelo de administração pública que privilegiava uns poucos em detrimento de muitos.
As novas exigências de um mundo em transformação, com o desenvolvimento econômico que se seguia, trouxeram a necessidade de reformulação do modo de gestão do Estado.
- Caracteriza-se pela predominância no período Feudal, onde o patrimonialismo atendia ao interesse da classe dominante. Hoje, o patrimonialismo compromete a finalidade de o Estado defender a coisa pública quando as atividades deixam de estar comprometidas com a melhor relação custo benefício para atender questões que privilegiam poucos.
- Teve início na Idade Média e predominou nas monarquias absolutistas do Século XV ao XVIII.
- Chegou ao fim no Século XIX (incompatibilidade com o capitalismo industrial e com a democracia parlamentar).
- A população era composta por um conjunto amorfo de súditos e não havia distinção clara entre a res publica e a res principis, quer dizer, acerca daquilo que pertence ao Estado ou ao próprio soberano, já que nesta fase há uma clara fusão dos dois expressa na célebre frase de Luís XIV da França: ―L’etat c’est moi‖ (o Estado sou eu).
- Em termos de modelos de gestão pública, o patrimonialismo moldou e consolidou algumas especificidades:
a) a administração é do estado, mas não é pública; não visa ao interesse público, numa confusão entre o que é público e o que é privado;
b) predomínio de práticas patrimonialistas e clientelistas, a partir da vontade unipessoal do dirigente;
c) práticas de nepotismo;
d) cargos públicos propriedade de uma nobreza prebentária;
e) corrupção; e,
f) servilismo.
Resumo das características:
• Extensão do poder soberano;
• Servidores possuem status de nobreza real;
• Os cargos públicos são considerados prebendas;
• Res publica não é diferenciada da res principis;
• Corrupção/nepotismo (protecionismo / filhotismo / coronelismo).
2) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A BUROCRÁTICA
Em seguida tivemos a Burocracia. Ela surge
como uma forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas.
Por outro lado, o controle - a garantia do poder do Estado - transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Esse defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade.
O idealizador da Teoria Burocrática, o sociólogo Max Weber, entendia a burocracia como sendo o padrão mais eficiente para a Administração.
Constituem princípios orientadores do MODELO
BUROCRÁTICO:
• a profissionalização,
• a ideia de carreira,
• a hierarquia funcional,
• a impessoalidade,
• o formalismo
• o controle
• o poder racional legal.
Características
O Estado burocrático comporta instituições basicamente hierarquizadas e controle enfocado nos processos.
Combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista eram seus maiores objetivos. Para tal, orientava-se pelas ideias de profissionalização, carreira, hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo.
As críticas à administração pública burocrática são muitas; dentre elas a separação do Estado e sociedade, pelo fato de os funcionários se concentrarem no controle e na garantia do poder do Estado.
Em resumo, os atributos da administração pública burocrática poderiam ser representados pelo controle efetivo dos abusos. Os defeitos, por sua vez, seriam a ineficiência e a incapacidade de se voltarem para o serviço dos cidadãos como clientes.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 3
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Principais disfunções da burocracia:
O paradigma do tipo ideal de burocracia criado por Weber é constituído de características que formam as organizações formais, representadas segundo
Maximiano (2000, p. 95), como sendo:
• Particularismo - Defender dentro da organização
interesses de grupos internos, por motivos de convicção, amizade ou interesse material.
• Satisfação de Interesses Pessoais - Defender
interesses pessoais dentro da organização.
• Excesso de Regras - Multiplicidade de regras e
exigências para a obtenção de determinado serviço.
• Hierarquia e individualismo - A hierarquia
divide responsabilidades e atravanca o processo decisório. Realça vaidades e estimula disputas pelo poder.
• Mecanicismo - Burocracias são sistemas de
cargos limitados, que colocam pessoas em situações alienantes.
Enumeração de suas características
Mesmo não tendo se preocupado em definir burocracia, Max Weber (Bergue, 2005, p. 64/67), preferiu conceituar a burocracia através da extensa enumeração de suas características, que são as seguintes:
1) A legitimidade das normas
Esse postulado afirma que, em uma burocracia, as normas de procedimento estão estabelecidas na forma de leis reconhecidas pelos gestores e administrados. Assim se processa na administração pública: as pessoas conferem legitimidade às normas, observando-as, por acreditarem que são emanadas de autoridade competente.
2) A natureza formal das comunicações
No serviço público, como traço característico da administração burocrática, figura o imperativo dos comunicados e das cientificações formais (escritos, documentados, preferencialmente com aposições de 'Ciente', 'Visto', 'Recebido', 'De acordo', entre outras formas de confirmação). A edição de circulares, ofícios, memorandos, guias de pedido de material, formulários em geral, etc. são exemplos dessa característica do modelo burocrático.
3) A divisão racional do trabalho
A divisão do trabalho, inclusive como condição de racionalidade (economicidade), constitui também aspecto característico da administração pública brasileira. Esse princípio burocrático está materializado na divisão do aparelho administrativo em áreas específicas (Secretarias, Departamentos, Seções, etc.), com o propósito de abrigar em cada um desses subsistemas organizacionais os processos e as atividades correlatas (Educação, Saúde, Obras e saneamento, Desenvolvimento Econômico, etc.).
4) A impessoalidade das relações
Especialmente por envolver direta e intensamente a dimensão humana da organização, essa característica constitui-se em um ideal. Trata-se de algo que se deve buscar. Tanto é assim, que é elevado à categoria de princípio constitucional da administração pública (art. 37,
caput). Diante desse princípio, os atos de gestão não devem considerar vínculos ou afinidades pessoais, impondo-se sempre que seja atribuída ao ato uma orientação geral e não particular.
5) A hierarquia da autoridade
Esse é outro traço bastante característico das organizações burocráticas, enfatizado no setor público - a ênfase na definição de estratos hierárquicos bem definidos, aos quais são associados os correspondentes níveis de autoridade. Esse aspecto faz prevalecer a noção de hierarquia como fundamento do processo decisorial, ou seja, as decisões são tomadas pelo dirigente situado em posição superior - verticalizando esse processo - independentemente das efetivas condições técnicas do gestor.
6) A padronização das rotinas e dos procedimentos
No setor público, essa tendência à padronização assume, ainda, outra dimensão, qual seja a de imprimir determinado grau de impessoalidade às relações no ambiente de trabalho e de oferta de bens e serviços. Nesses termos, a impessoalidade exigida na condição de princípio constitucional reforça a manutenção desse traço inerente ao modelo burocrático na administração pública. Assim, o encaminhamento de um pedido de licença para tratamento de interesses particulares, por exemplo, é processado formalmente, em geral, a partir do preenchimento de um formulário, que percorrerá um fluxo determinado e ensejará tratamento semelhante conforme as condições específicas de direito em relação à solicitação, além do juízo de conveniência e oportunidade para a administração.
7) A competência técnica e o poder do mérito
Na administração pública existe uma tendência, essencialmente sob o ponto de vista formal, de valorização da competência técnica e dos méritos profissionais. Essa característica materializa-se já pela imposição do concurso público, como requisito geral de ingresso no serviço público, assim como nos critérios legais de promoção na carreira, definidos nos planos de cargos e carreiras, complementando o critério de antiguidade. Ocorrem, todavia, desvios da regra geral, legalmente previstos, não somente para privilegiar pessoas, mas para atender a situações excepcionais onde os atributos de competência e mérito específicos não podem ser verificados ou aferidos com segurança mediante processos formais de seleção. É o caso das investiduras em cargos comissionados específicos, onde a confiança é um aspecto de mérito bastante particular.
8) A profissionalização da administração
As organizações públicas são instrumentos de atuação do Estado, cujo funcionamento (gerência e execução) depende da participação de pessoas (agentes públicos).
Assim, a composição humana do aparelho administrativo não detém a propriedade dos recursos materiais de produção (financeiros, máquinas, equipamentos, instalações, etc.), que são públicos (propriedade coletiva).
O corpo funcional permanente, segundo o modelo burocrático, tende a apresentar um caráter eminentemente profissional - pessoas que servem ao Estado, ainda que com diferentes graus de
4 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
comprometimento, mediante uma contraprestação pecuniária (ao que se acrescem, como é sabido, outros componentes, como segurança financeira, status social ou profissional, etc.).
9) A plena previsibilidade de funcionamento
Como qualquer organização, as estruturas do setor público - por estarem, como as demais, permeadas por pessoas que, em última instância, determinam sua dinâmica de funcionamento - buscam minimizar os efeitos da incerteza frente ao desconhecido. Para tanto, as organizações públicas desenvolvem processos de trabalho observando os moldes característicos do modelo burocrático (formalizados, padronizados, especializados, impessoais, profissionalizados, etc.), com o fim de tornar tão previsível quanto possível seu funcionamento.
Essa tendência assenta-se em dois aspectos fundamentais. O primeiro possui caráter eminentemente pessoal, ou seja, deve-se ao fato de que as pessoas em geral têm aversão ao risco, especialmente quando este enseja perdas potenciais de espaço ou poder em sentido amplo. Nesse contexto, a previsibilidade de funcionamento tem o efeito de amenizar esse sentimento.
O segundo aspecto está relacionado, essencialmente, às condições de gestão, sobretudo no tocante à necessidade de planejamento das ações da administração. Ambientes estáveis, em tese, tendem a gerar cenários futuros bastante previsíveis (elevada probabilidade de confirmação), condição que facilita a ação planejada, e, por conseguinte, eficiente e eficaz.
DISFUNÇÕES
As disfunções como irregularidades ou anormalidades que se confundem nos processos administrativos das organizações, ocasionando confrontos até mesmo no comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho, faz com que os objetivos pretendidos pela organização deixem de ser atendidos e a qualidade de vida dos indivíduos da organização se torne insatisfatória (Oliveira, 2006, p. 291-292).
São disfunções da Burocracia:
1) Internalização e elevado apego às normas
Esse aspecto disfuncional decorre, fundamentalmente, do excesso e da exacerbada importância que as pessoas conferem às normas organizacionais, posição que repele mesmo os esforços orientados para a necessária adaptação da norma a novas realidades. Esse fenômeno expressa, em essência, um mecanismo de exercício e manutenção de poder na organização. Mediante a adoção sistemática desse expediente de obstaculização (especialmente dos processos de mudança), o especialista - detentor do conhecimento pormenorizado da estrutura normativa da organização - define o ritmo das transformações e, por conseguinte, do desenvolvimento organizacional.
2) Excesso de formalização, rotinas e registros
Esse desvio de funcionamento é consequência do excesso de formalização e mesmo padronização dos procedimentos e do excesso de rotinas, despachos, encaminhamentos e controles aos quais passam a ser submetidos os atos administrativos, mesmo nos procedimentos de natureza mais operacional. É certo que deve haver controles, rotinas, procedimentos, etc., mas na
estrita medida da necessidade, observando as condições de adição de valor ao produto no transcorrer do processo.
3) Resistência às mudanças
Pode-se afirmar que a resistência à mudança encerra, em sua essência, o temor pela perda potencial de espaço ou poder. Assim, as pessoas ou grupos, em geral, resistem a qualquer movimento capaz de causar perturbação na ordem vigente, em razão do risco potencial de que tal mudança possa comprometer suas conquistas já consolidadas, ou em processo. Padrão de comportamento diverso, no entanto, pode ser observado nas situações em que as pessoas aspiram à mudança e se transformam em agentes ou entusiastas desse processo, quando percebem a possibilidade de reflexos envolvendo melhorias no plano pessoal ou para um grupo afim.
De qualquer forma, dado que o espaço organizacional caracteriza-se por ser um ambiente em constante conflito de poder envolvendo indivíduos ou grupos, haverá geralmente pessoas em posição de destaque em termos de privilégios valorizados na cultura e realidade da organização. Sendo assim, existirão sempre indivíduos ou grupos demandando mudanças, ao passo que outros buscarão a manutenção das condições vigentes, com vistas a garantir, tanto quanto possível, sua condição destacada.
4) Despersonalização dos relacionamentos
Esse reflexo disfuncional decorre da acentuada ênfase na impessoalidade das relações preconizada pelo modelo burocrático. Esse fenômeno se manifesta de forma explícita nos casos de organizações que atingem grandes dimensões, quando servidores são submetidos a procedimentos de comunicação formais com a chefia superior; quando passam a ser conhecidos como números de matrícula, ou como o pessoal da área tal. Enfim, são manifestações que, embora pouco se possa fazer para amenizar seus efeitos em grandes corporações, caracterizam-se como consequências bastante comuns da despersonalização dos relacionamentos em ambientes organizacionais complexos.
5) Ausência de inovação e conformidade às rotinas
Esse é um fenômeno bastante comum em determinados segmentos da administração pública, especialmente naqueles onde as rotinas de trabalho são mais padronizadas e formalizadas. Nessas áreas, como decorrência especialmente de uma tendência natural dos indivíduos em geral, de buscar a manutenção de um estado de segurança e de constante redução de esforços despendidos no trabalho, as inovações nos processos organizacionais tendem a ser reduzidas. As pessoas, nesses casos e situações, acabam por conformar-se com as atividades e os métodos de trabalho vigentes, desconsiderando, inclusive, as possibilidades e as necessidades de mudança.
6) Exibição de sinais de autoridade
A exibição excessiva de sinais de autoridade pode ser, também, associada a um fenômeno disfuncional típico das organizações burocráticas - os símbolos de status profissional. Sua origem pode ser atribuída à tendência que as pessoas têm de constituir feudos, com o
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 5
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
propósito de sinalizar e preservar determinado território de poder na organização.
Nesse particular, as organizações públicas mostram-se como ambientes propícios para a proliferação desse indicador disfuncional. Podem ser citados como exemplos de sinais de autoridade, que quando exibidos em excesso evidenciam disfunção, os seguintes: a segregação por salas; equipamentos diferenciados (mesas maiores, equipamentos melhores, veículos especiais, etc.); apresentação pessoal (trajes, roupas, acessórios, coletes, equipamentos especiais, etc.); documentação funcional ou profissional (carteiras e cédulas de identidade funcional, crachás, diplomas, certificados, etc.).
7) Dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público
A dificuldade de relacionamento com o público constitui disfunção específica que atinge a administração pública. Manifesta-se pela imposição de obstáculos para a interação entre a administração e o usuário dos bens e serviços públicos.
Essa interface necessária, condição de troca de informação entre Estado e sociedade, fica prejudicada, em especial, pela excessiva padronização e afirmação de valores internos (interesses, cultura, etc.) que distanciam os agentes públicos da compreensão acerca do que sejam os efetivos objetivos institucionais do órgão ou da entidade. Como reflexo principal dessa postura imprópria, tem-se uma organização pública voltada essencialmente para seu interior, negligenciando a necessária observância das demandas do ambiente.
8) Categorização como base do processo de tomada de decisão
Uma das tendências disfuncionais mais intensamente associadas ao processo decisorial no âmbito das organizações públicas é a denominada categorização. O caráter padronizado e normalizado dos processos administrativos em uma burocracia impõe determinada conformação à estrutura organizacional, especialmente no que tange à tomada de decisões.
Como decorrência da intensa busca pela definição de esferas de competência de cargos e órgãos (unidades administrativas de uma organização), as pessoas tendem a preservar espaços de poder, que podem ser traduzidos em vantagens ou ônus da função.
- Tipos de Sociedade:
Weber estudou três tipos de sociedade e de autoridade.
1. de caráter racional: onde predominam normas impessoais e racionalidade na escolha dos meios e dos fins.
2. de caráter tradicional: onde predominam características patriarcais e patrimonialistas.
3. de caráter carismático: onde predominam características místicas, arbitrárias e personalísticas.
- Tipos de Autoridade:
1. autoridade legal: é baseada na crença da
legalidade de ordenações instituídas, e dos direitos de mando. É o tipo de autoridade técnica, meritocrática e administrada.
2. autoridade tradicional: baseia-se na crença no
passado eterno e nas tradições que vigoram há muito tempo. É o domínio patriarcal do pai-de-família, do chefe do clã, onde o poder pode ser transmitido por herança.
3. autoridade carismática: Weber usou o termo
no sentido de uma qualidade extraordinária, como uma força personalística, com a qual os subordinados se identificam, não sendo portanto delegada, nem recebida como herança.
3) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL
Emerge na segunda metade do século XX e a eficiência na administração pública passa a ser essencial, o Estado, portanto, passa a ser orientado pela qualidade na prestação de serviços públicos e no desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.
A administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados.
Conceito
Administração pública gerencial é aquela construída sobre bases que consideram o Estado uma grande empresa cujos serviços são destinados aos seus clientes, outrora cidadãos; na eficiência dos serviços, na avaliação de desempenho e no controle de resultados, suas principais características.
A Administração gerencial seria consequência dos avanços tecnológicos e da nova organização política e econômica mundial, para tornar o Estado capaz de competir com outros países.
Características
O Estado marcado com uma administração gerencial é aquele que tem como objetivos principais atender a duas exigências do mundo atual: adaptar-se à revisão das formas de atuação do Estado, que são empreendidas nos cenários de cada país; e atender às exigências das democracias de massa contemporâneas.
O pensamento favorável a este novo modelo resume-se em que o Estado burocrático não é mais capaz de atender às exigências democráticas do mundo atual.
A administração gerencial repousa em descentralizações política e administrativa, a instituição de formatos organizacionais com poucos níveis hierárquicos, flexibilidade organizacional, controle de resultados, ao invés de controle, passo a passo, de processos administrativos, adoção de confiança limitada, no lugar de desconfiança total, em relação aos funcionários e dirigentes e, por último, uma administração voltada para o atendimento do cidadão e aberta ao controle social.
O Estado gerencial tem uma administração baseada em concepção democrática e plural.
6 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A administração gerencial empreende adequar as organizações públicas aos seus objetivos prioritários, que são os resultados. Busca identificação com os usuários e incrementar sua eficiência com mecanismos de quase-mercado ou concorrência administrada.
A administração pública gerencial teria como apoio a administração burocrática, conservando alguns dos seus princípios, embora flexibilizados, mas teria como fundamentos a admissão segundo critérios rígidos de mérito, um sistema estruturado e universal de remuneração, carreiras, avaliação de desempenho realizada constantemente e treinamento sistemático.
Princípios fundamentais
A administração pública gerencial constitui um avanço, e até certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. Isso não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como:
• A admissão segundo rígidos critérios de mérito (concurso público);
• A existência de um sistema estruturado e universal de remuneração (planos de carreira);
• A avaliação constante de desempenho (dos funcionários e de suas equipes de trabalho);
• O treinamento e a capacitação contínua do corpo funcional.
Plano Diretor da Reforma do Estado
Utilizando-se do Plano Diretor da Reforma do Estado, busca-se dotar o Estado de um núcleo estratégico, que formule e controle a implementação de políticas públicas.
Parte deste plano de reforma administrativa foi confiado ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que veio a transformar-se em uma secretaria; seu lema era o de ajudar o Governo a funcionar melhor, ao menor custo possível, promovendo a administração gerencial, transparente e profissional, em benefício do cidadão.
Esta citação esclarece o assunto:
"O objetivo central é o de reforçar a governança, mediante transição programada, de um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão."
As estratégias da administração pública gerencial são voltadas:
a) para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade;
b) para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados;
c) para o controle posterior dos resultados.
A administração pública gerencial deve aceitar maior participação dos agentes privados e ou das organizações da sociedade civil.
Por fim, interessante comparação da administração pública gerencial com a administração de empresas privadas é feita pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Isto porque a administração pública gerencial, apesar de inspirar-se na administração de empresas, não pode ser confundida com esta última. Os modos de ingresso de recursos, o controle e os fins de uma e de outra são entre si distintos e marcam as suas diferenças.
O "Plano Diretor" diz que a administração gerencial é a solução do problema da administração burocrática. Isto porque a flexibilização da estabilidade dos servidores, do sistema de licitações e dos orçamentos que deixariam de ser tão detalhados, representaria a superação dos obstáculos por meio de mudança das leis e das instituições seguida de evolução para o sentido de uma administração pública gerencial.
A figura 1 apresenta o relacionamento entre as formas de propriedade e de administração e as áreas de atuação do Estado, segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995:
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 7
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
RESUMINDO OS TRÊS MODELOS:
Ainda comparando os três modelos, temos:
Fonte: https://twitter.com/advocaciageral/status/642835098623045632
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (TJ-SC/FGV-2018) O chefe de departamento da
secretaria de educação do município ―X‖, temendo a reprovação de seu filho na disciplina de matemática na escola, oferece ao professor um cargo em comissão na secretaria em troca de uma ―ajudinha‖ na prova.
No contexto dos paradigmas da administração pública, essa atitude do chefe de departamento, que percebe o aparelho
estatal como instrumento do detentor do poder, pode ser considerada típica do modelo:
(A) patrimonialista;
(B) consumerista;
(C) social-democrata;
(D) burocrático;
(E) contingencial.
02. (TJ-SC/FGV-2018) O Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado (PDRAE), proposto por Bresser Pereira na década de 90, tinha como foco principal a reforma administrativa do Estado pautada em uma ótica gerencial.
De acordo com o PDRAE, a reforma tinha o intuito de promover, dentre outras matérias:
(A) reformulação das políticas de ―campeões nacionais‖;
(B) ampliação da área de atuação do Estado;
(C) privatização dos serviços sociais autônomos;
(D) delegação, por meio de concessão, de atividades do núcleo estratégico;
(E) separação entre formulação política e execução.
03. (TJ-SC/FGV-2018) A Administração Pública tem entre
seus fundamentos o princípio da supremacia do interesse público, garantidor de prerrogativas que
8 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
possibilitam o cumprimento de objetivos necessários à atuação estatal.
Esse princípio é adequadamente evidenciado quando:
(A) governador remove servidor como forma de punição;
(B) estado aluga prédio de particular para alocar a secretaria de fazenda;
(C) administrador público pode fazer tudo aquilo que não é considerado ilícito;
(D) prefeito desapropria imóveis para a construção de viaduto, garantindo indenização prévia;
(E) polícia civil decide discricionariamente sobre interceptação telefônica.
04. (TCM-SP/FGV-2015) A administração pública
gerencial surgida no final do século passado tem como fundamento o pressuposto de que:
(A) atividades regulares necessárias aos objetivos da estrutura governada são distribuídas de forma fixa como deveres oficiais;
(B) princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de autoridade significam um sistema ordenado de subordinação, com supervisão dos postos inferiores pelos superiores;
(C) autonomia na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros é necessária para colocar foco na qualidade e produtividade do serviço público;
(D) autoridade se distribui de forma estável, sendo delimitada pelas normas relacionadas com os meios de coerção;
(E) pessoas que atuam na administração pública têm qualificações previstas por um regulamento geral, e são empregadas somente por meio de concurso público.
05. (TRE-MA - Analista Judiciário) A reforma gerencial da
administração pública brasileira tornou-se fundamental à medida que o processo de globalização surgiu e influenciou o nível de autonomia dos estados, principalmente com relação às políticas públicas. Quanto à administração pública e à estruturação da máquina administrativa no Brasil, assinale a opção correta.
a) A primeira geração de reformas do Estado nos anos 80 possibilitou um ajuste estrutural microeconômico por meio de ajustes fiscais, da liberalização de preços e da liberalização comercial, tendo como ênfase os programas de privatização, em direção a um Estado máximo.
b) A reforma do Estado, ou seja, a reforma administrativa, envolve também a reconstituição da poupança pública e a reforma da previdência social e pressupõe que, particularmente nas áreas social e científica, o Estado será eficiente, à medida que se utilize de instituições e demais organizações públicas estatais para compor as estratégias gerenciais para execução dos serviços por ele apoiados.
c) A reforma do Estado tem como objetivo tornar o Estado mais governável, com maior capacidade de governança, de modo a não só garantir a propriedade e os contratos, como pensado pelos neoliberais, mas também para complementar o mercado na tarefa de coordenar a economia e promover distribuição de renda mais justa.
d) A reforma gerencial do Estado tem como um dos seus objetivos fundamentais proteger o Estado da corrupção e do nepotismo, de modo a manter o direito de cada cidadão com relação, por exemplo, à
utilização do patrimônio público com finalidade pública, mesmo que em detrimento dos interesses privados.
e) Com a criação da Escola Nacional de Administração Pública, em 1985, o Estado passou a ser intervencionista, embasado na expansão dos órgãos e das entidades da administração indireta, enfatizando o seu controle, em busca da eficiência e da centralização política e administrativa.
06. (TRE-ES) No que se refere à administração pública,
julgue os itens a seguir.
Enquanto o modelo burocrático utiliza o controle rígido para combater a corrupção, o modelo pós-burocrático adota meios como indicadores de desempenho e controle de resultados.
07. (TRE-ES) No que se refere aos fundamentos da
administração pública no Brasil nos últimos 30 anos, julgue os seguintes itens.
O modelo de Estado gerencial é importante para que se alcancem a efetividade e a eficiência na oferta de serviços públicos, independentemente da função social do Estado.
08. (MPE-PI) Com relação às abordagens clássica,
burocrática e sistêmica da administração pública, tendo por base as reformas administrativas no Brasil após 1930, julgue os itens a seguir.
A reforma burocrática mais recente da administração pública seguiu um modelo cujos pilares envolvem conceitos de impessoalidade, profissionalismo e formalidade.
09. (Anal.Jud.TRE-RN) Com relação à passagem do
modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático, considere as afirmativas abaixo.
I. Apesar da forte tendência de flexibilização, não houve ruptura com o modelo burocrático, tendo em vista que a lógica de ação predominante nas organizações continua sendo voltada para o cálculo utilitário de consequências, associado à racionalidade formal.
II. As organizações ditas pós-burocráticas ainda estão fortemente vinculadas à autoridade racional- legal, base do modelo criado por Max Weber.
III. A organização pós-moderna teria como principais características a centralização e a estruturação em redes hierarquizadas conectadas pelas tecnologias de informação.
IV. A liderança nas organizações pós-burocráticas é facilitadora e solucionadora de conflitos e problemas, baseando-se na abertura, participação, confiança e comprometimento.
V. O tipo organizacional pós-burocrático é representado por organizações simbolicamente intensivas, produtoras de consenso por meio da institucionalização do diálogo.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, II e III.
b) II e IV.
c) III, IV e V.
d) I, II, IV e V.
e) I, II, III e IV.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 9
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
10. (Espec.Pol.Públicas) O paradigma pós-burocrático,
subjacente ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995,
a) propõe a substituição da racionalidade administrativa pelo estímulo à iniciativa e à criatividade dos funcionários e à verticalização dos processos.
b) baseia-se em novos conceitos de administração e eficiência, adoção de estruturas descentralizadas e controle a posteriori dos resultados, em lugar do controle rígido dos processos administrativos.
c) propõe a reformulação das hierarquias funcionais, com a expansão das chefias intermediárias e redução dos cargos de direção centralizada.
d) procura demonstrar a superioridade das tecnologias administrativas baseadas na gestão orçamentário-financeira, com ênfase na estrutura organizacional hierarquizada.
e) sustenta o esgotamento das estruturas organizacionais permanentes, propondo a sua substituição por pequenas organizações autogestionárias, assentadas no planejamento normativo.
11. (Tec.Sup.PGE-SP) A implantação do paradigma pós-
burocrático no Brasil orientou-se para o aumento da capacidade de governo, por meio da adoção dos princípios da administração gerencial. Em relação a esses princípios:
I. A principal forma de controle sobre as unidades executoras de políticas públicas é o controle social direto: através da participação em conselhos.
II. O núcleo estratégico das atividades típicas de Estado deve ser convertido em cargos de nomeação política, passando a controlar de forma exclusiva a formulação e a gestão de políticas públicas.
III. As secretarias formuladoras de políticas e as unidades executoras dessas políticas devem ser separadas e a relação entre elas operada por meio de contratos de gestão baseados no desempenho de resultados.
IV. O Estado deve orientar suas ações para o cidadão-usuário de seus serviços.
V. Um dos princípios centrais do paradigma pós-burocrático é a ênfase no controle de resultados por meio dos contratos de gestão.
a) Estão corretas APENAS as afirmativas I e II.
b) Estão corretas APENAS as afirmativas I, II e V.
c) Estão corretas APENAS as afirmativas II, III e IV.
d) Estão corretas APENAS as afirmativas III e IV.
e) Estão corretas APENAS as afirmativas III, IV e V.
12. (TCM-CE) O modelo burocrático define-se,
basicamente, como o tipo de organização apta a realizar de modo eficiente tarefas administrativas em grande escala, mediante trabalho racionalmente organizado. Constituem princípios administrativos típicos da burocracia
a) organização por departamento, planejamento estratégico e autonomia funcional.
b) especialização dos níveis intermediários, valorização dos escalões de base e restrição dos privilégios dos superiores hierárquicos.
c) processos decisórios horizontalizados, participação permanente e rotina administrativa.
d) flexibilidade gerencial, estruturação de carreiras e transparência orçamentária.
e) especialização, autoridade hierarquizada, sistema de regras normativas e impessoalidade.
13. (TCE - ES) Desde o final da década de 70 diversos
países vêm procurando avançar em relação ao modelo racional-legal de administração, adotando novas formas de gestão da coisa pública que configuram a chamada administração gerencial. Entre as opções abaixo, assinale aquela que melhor sintetiza esse processo de mudanças na gestão da coisa pública.
a) a administração gerencial significa uma revolução na gestão da coisa pública, abalando decisivamente os pilares da burocracia.
b) a administração gerencial é muito próximo à burocracia, substituindo apenas alguns princípios desta última, tais como os sistemas de mérito e de hierarquia rígida.
c) a administração gerencial procura aperfeiçoar a administração burocrática, mantendo uma série de princípios fundamentais a esta última e dotando-a de mais agilidade e flexibilidade.
d) a administração burocrática e a administração gerencial só se diferenciam na verdade pelo fato desta última focalizar o cidadão.
e) a administração gerencial adota a lógica privada na gestão da coisa pública, dotando-a de mais eficiência, eficácia e efetividade.
14. (Analista de planej. orçamento) De acordo com
Bresser Pereira (In Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial, Fundação Getúlio Vargas, 1998), a Reforma Administrativa implementada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso teve como objetivo geral transitar de uma administração pública burocrática para a gerencial. Assinale, entre as opções relacionadas a seguir, aquela que melhor retrata as premissas subjacentes à administração pública gerencial.
a) A administração pública gerencial, para ser efetiva, deve romper integralmente com o antigo modelo burocrático.
b) A administração pública gerencial deve fazer tábula rasa do paradigma burocrático, para proteger-se dos vícios desse modelo administrativo.
c) A administração pública gerencial deve conservar algumas instituições burocráticas, como o concurso público, as carreiras estruturadas e o sistema universal de remuneração.
d) A administração pública gerencial deve conservar algumas instituições burocráticas, como o concurso público, o treinamento subordinado às etapas da carreira e a recompensa por tempo de serviço.
e) a administração pública gerencial deve ser implementada de forma irrestrita em todos os setores, como forma de evitar a permanência de práticas burocráticas.
15. (AGENTE FISCAL DE RENDAS) Max Weber criou um
tipo ideal de burocracia, argumentando ser a forma mais eficiente de organização, dadas suas características de superioridade em precisão, estabilidade, rigor de sua disciplina e confiabilidade.
10 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Assinale a alternativa que contém os três elementos mais encontrados em qualquer burocracia e na que foi proposta por Max Weber em particular.
a) Tradição, carisma e razão.
b) Confiabilidade, variabilidade e hierarquia.
c) Disciplina, nepotismo e autoridade
d) Formalidade, impessoalidade e profissionalismo.
e) Eficiência, eficácia e efetividade.
Gabarito: 01/A; 02/E; 03/D; 04/C; 05/C; 06/C; 07/E; 08/C;
09/D; 10/B; 11/E; 12/E; 13/C; 14/C; 15/D
CONCEITOS DE EFICÁCIA E EFETIVIDADE APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO GOVERNAMENTAL.
FONTE: Aulas de Administração Pública, Rafael Encinas. www.pontodosconcursos.com.br
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO GOVERNAMENTAL
O ―policy cycle‖ não pode ser concebido como um processo simples e linear, mas sim como um processo dinâmico. Não existe um ponto de partida ou de chegada definidos, e envolve não só formuladores e implementadores, mas também os stakeholders – pessoas envolvidas numa política ou nela interessadas. A avaliação deve estar presente em cada uma das diferentes etapas que compõem uma política pública.
Na formulação, a avaliação busca avaliar a adequabilidade das ações/estratégias às demandas existentes e determinar a aceitabilidade do planejamento, comparando custos com benefícios. A avaliação de implementação permite compreender e analisar aspectos diversos da dinâmica institucional e organizacional, no tocante ao funcionamento do programa, incluindo sua formulação. Já a avaliação dos resultados e impactos tem como objetivo compreender e analisar o que se obteve com o programa, inclusive na sua implementação.
No início, a premissa era a de que os resultados da avaliação seriam automática e necessariamente encampados pelos tomadores de decisões para a melhoria da política ou do programa em questão. A discussão acerca do uso da avaliação restringia-se, assim, ao que hoje se denomina uso "instrumental".
Segundo Carlos Augusto Pimenta de Faria, hoje podemos enxergar quatro dimensões do uso da avaliação: instrumental (relativa ao apoio às decisões e à busca de resoluçãode problemas); conceitual (ou função "educativa"); como instrumento de persuasão; e para o ―esclarecimento‖.
A avaliação instrumental caracteriza-se pelo uso de resultados, que são incorporados e usados de forma racional pelos gestores como forma de melhoria dos processos. Por isso as decisões e ações são a consequência direta de seu uso.
O segundo tipo de uso é o "conceitual", geralmente circunscrito aos técnicos do programa, a quem não é com frequência atribuído um maior poder de decisão. Nesse caso, as descobertas da avaliação (e o seu próprio processo de realização) podem alterar a maneira como esses técnicos compreendem a natureza, o modo de operação e o impacto do programa que implementam. O uso conceitual das descobertas diferencia-se do uso instrumental porque, no primeiro
caso, nenhuma decisão ou ação é esperada (pelo menos não imediatamente).
A avaliação também pode ser usada como instrumento de persuasão, quando ela é utilizada para mobilizar o apoio para a posição que os tomadores desejam. O objetivo é legitimar uma posição e ganhar novos adeptos para as mudanças desejadas. Um exemplo foi a forma como o ditador Augusto Pinochet usou o sistema de avaliação educacional implantado por ele no Chile (Simce), em 1988, para dar maior visibilidade e legitimidade ao processo de privatização do ensino no país, posto que os primeiros resultados mostravam com clareza o desempenho superior das instituições privadas.
Por fim, há o uso para o "esclarecimento", que nem sempre é propositado, mas que acarreta, pela via do acúmulo de conhecimento oriundo de diversas avaliações, impacto sobre as redes de profissionais, sobre os formadores de opinião e sobre as advocacy coalitions, bem como alterações nas crenças e na forma de ação das instituições, pautando, assim, a agenda governamental. Esse é um tipo de influência que ultrapassa a esfera mais restrita das políticas e dos programas avaliados.
O desempenho pode ser avaliado sob várias
óticas, como a eficiência, a economia, a qualidade, a equidade, etc. Vamos ver agora três dimensões do desempenho muito importantes.
2.1 Conceitos de Eficiência, Eficácia e Efetividade
Primeiro vamos passar por sua aplicação na administração privada. Para Maximiano:
-Eficácia é a palavra usada para indicar que a
organização realiza seus objetivos.
Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz.
-Eficiência é a palavra usada para indicar que a
organização utiliza produtivamente, ou de maneira econômica, seus recursos. Isso significa uma menor quantidade de recursos para produzir mais
A eficácia sempre está associada com o alcance de metas, com o alcance de objetivos.
Para Richard Daft:
-A eficácia organizacional é o grau no qual a
administração alcança uma meta declarada. Isso significa que a organização tem sucesso em alcançar o que ela tenta fazer. Eficácia organizacional significa proporcionar um produto que os clientes valorizem.
-Eficiência organizacional se refere à
quantidade de recursos usados para alcançar a meta organizacional. Pode ser calculada como a quantia de recursos usados para produzir um produto ou serviço.
Segundo o MPOG:
-Eficiência: uso otimizado, com economia e
qualidade, dos bens e recursos empregados na implementação das ações.
-Eficácia: capacidade de alcance das metas
previstas;
-Efetividade: correspondência entre os
resultados da implantação de um programa e o alcance dos seus objetivos, tendo como referência os impactos na sociedade;
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 11
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Assim, podemos dizer que a EFICIÊNCIA é a racionalização no uso dos insumos. A eficiência é alcançada quando os insumos são manipulados de forma adequada para atingir os produtos.
A EFICÁCIA consiste no grau de alcance das METAS programadas em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos e metas, mais a organização é eficaz.
A EFETIVIDADE observa se houve algum IMPACTO resultante da ação governamental.
Não basta chegar ao produto, alcançando as metas, é preciso que ele produza alguma alteração na sociedade.
Podemos observar melhor estas dimensões no quadro abaixo:
Além desses três conceitos, outro que também é importante é o de economicidade está relacionada com os custos dos insumos. Quando avaliamos o desempenho em termos de economicidade, queremos saber o preço dos insumos usados na produção. A economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição.
No entanto, em vários momentos vemos a economicidade dentro da eficiência. Nos concursos, quando eles falam em custos estão se referindo à eficiência. Esta envolveria otimizar a produção quanto reduzir o custo dos insumos.
Assim, a eficiência observa a relação entre
PRODUTOS (bens e serviços) gerados por uma atividade e os CUSTOS dos insumos empregados, em um determinado período de tempo. Uma organização é eficiente quando utiliza seus recursos da forma mais produtiva e econômica possível, também conhecida como forma racional de utilização.
A eficiência é definida como a relação entre os
produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los em um determinado período de tempo, mantidos os padrões de qualidade. Essa dimensão refere-se ao esforço do processo de transformação de insumos em produtos. Pode ser examinada sob duas perspectivas: minimização do custo total ou dos meios necessários para obter a mesma quantidade e qualidade de produto; ou otimização da combinação de insumos para maximizar o produto quando o gasto total está previamente fixado.
Nesse caso, a análise do tempo necessário para execução das tarefas é uma variável a ser considerada . A eficiência pode ser medida calculando-se e
comparando-se o custo unitário da produção de um bem ou serviço. Portanto, podemos considerar que o conceito de eficiência está relacionado ao de economicidade.
A eficácia é definida como o grau de alcance
das metas programadas (de bens e serviços) em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. O conceito de eficácia diz respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos
traduzidos em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços de acordo com o estabelecido no planejamento das ações.
É importante observar que a análise de eficácia deve considerar os critérios adotados para fixação da meta a ser alcançada. Uma meta subestimada pode levar a conclusões equivocadas a respeito da eficácia do programa ou da atividade sob exame. Além disso, fatores externos como restrições orçamentárias podem comprometer o alcance das metas planejadas e devem ser levados em conta durante a análise da eficácia.
A efetividade diz respeito ao alcance dos
resultados pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se à relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a população-alvo (impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos da intervenção. Trata-se de verificar a ocorrência de mudanças na população-alvo que se poderia razoavelmente atribuir às ações do programa avaliado.
Portanto, ao examinar a efetividade de uma
intervenção governamental, pretende-se ir além do cumprimento de objetivos imediatos ou específicos, em geral consubstanciados em metas de produção ou de atendimento (exame da eficácia da gestão). Trata-se de verificar se os resultados observados foram realmente causados pelas ações desenvolvidas e não por outros fatores. A avaliação da efetividade pressupõe que bens e/ou serviços foram ofertados de acordo com o previsto. O exame da efetividade ou avaliação de impacto requer tratamento metodológico específico que busca estabelecer a relação de causalidade entre as variáveis do programa e os efeitos observados, comparando-os com uma estimativa do que aconteceria caso o programa não existisse Vamos analisar um exemplo. Num programa do governo de distribuição de óculos para crianças do ensino fundamental, o objetivo é melhorar a educação, já que as crianças estarão enxergando melhor e poderão se concentrar mais. Entende-se que os pais não apresentam condições financeiras de levar a criança a um oftalmologista e de comprar os óculos, por isso seria importante que o Estado desempenhasse esse papel.
A economicidade significa que os óculos foram comprados a um preço baixo. A eficiência refere-se ao governo entregar um número maior de óculos com os mesmos recursos, o mesmo número de pessoas, de carros, etc.
A eficácia corresponde ao alcance de metas.
Assim, se o objetivo era entregar 20.000 óculos e foi entregue um número maior, o programa é eficaz. Por fim, a efetividade se refere ao resultado da ação governamental na sociedade. No exemplo, corresponde a melhora no índice de educação.
Alguns autores conceituam efetividade como a soma da eficiência e da eficácia ao longo do tempo. Não concordo com esta visão, mas é importante conhecermos, pois a ESAF já deu ele como certo.
Vamos ver mais alguns conceitos, agora da Maria das Graças Rua:
Eficácia: significa realizar aquilo que foi
pretendido. Suponha-se, por exemplo, que uma ação de governo é uma campanha de vacinação para 50000 crianças. A eficácia será dada pelo numero de crianças vacinadas. As perguntas, então, são: os insumos foram disponibilizados? Estiveram disponíveis a tempo? Foram suficientes para gerar os outputs pretendidos?
12 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Eficiência: significa realizar aquilo que foi
pretendido, de acordo com a estratégia selecionada, com os custos estabelecidos ou menos. A eficiência é um critério que remete à racionalidade dos processos, não se refere somente aos resultados, mas às relações entre meios e fins. As perguntas são: Os insumos foram totalmente utilizados para os fins pretendidos? Houve insumos não utilizados? Algum dos insumos foi usado de maneira que não contribuiu para os resultados? A escala de utilização dos recursos foi apropriada, excessiva ou insuficiente? Houve atrasos? Erros? Haveria algum método de obter o mesmo resultado com custo e prazo menor? Houve perdas, desperdícios? Houve atrasos na disponibilização dos insumos? Houve inadequação de quantidade ou qualidade dos insumos? Houve erros de operação dos processos ou de gestão dos recursos e atividades?
Efetividade: significa que o que foi realizado
produziu os efeitos pretendidos. A efetividade é o grande critério de sucesso de um programa ou projeto. Refere-se aos efeitos, que são resultados diretos da ação realizada. É muito importante lembrar que é possível ter eficácia sem ter efetividade. Exemplo; é possível ter todas as 50000 crianças vacinadas e ainda assim ter muitos casos da doença devido à baixa qualidade das vacinas ou devido à sua aplicação numa ocasião em que uma epidemia já estivesse em andamento.
2.2 Tipos de avaliação
A avaliação tem sido, usualmente, classificada em função do seu timing (antes, durante ou depois da implementação da política ou programa), da posição do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi-independente) e da natureza do bjeto avaliado (contexto, insumos, processos e resultados).
Em relação ao momento em que é realizada
Vamos ver a primeira classificação, a que se refere ao momento em que ela é realizada.
a) Avaliações Ex-ante
Refere-se à avaliação que é realizada antes do início do projeto, ou seja, trata-se de uma avaliação que procura medir a viabilidade do programa a ser implementado.
Geralmente é muito utilizada por órgãos financiadores de projetos e pode ter como objetivo a identificação de prioridades e metas. Entretanto, Lubambo e Araújo mencionam que nem sempre essa relação pode ser restringida à viabilidade econômico-financeira, uma vez que a viabilidade política e institucional, bem como as expectativas dos beneficiários da ação, devem ser consideradas e incorporadas nessa ―conta‖.
A avaliação ex-ante, procura orientar sobre a realização de um dado programa, no que diz respeito a sua formulação e desenvolvimento, através do estudo de seus objetivos, dos beneficiários e suas necessidades e do seu campo de atuação. Desta forma, propõe-se ser um instrumento que permite escolher a melhor opção estratégica. A avaliação ex-ante permite escolher a melhor opção dos programas e projetos nos quais se concretizam as políticas.
b) Avaliações Ex-post ou Somativas
São conduzidas, frequentemente, quando o programa já está implementado, para estudar sua eficácia e o julgamento de seu valor geral. Essas avaliações são
tipicamente utilizadas como meio de assistir a alocação de recursos ou na promoção de mais responsabilidade. Os clientes geralmente são externos, tais como políticos e outros agentes de decisão. Essas avaliações muitas vezes são conduzidas por avaliadores externos. As questões quanto ao resultado ou relevância geral do programa devem ser abordadas.
Esta categoria de avaliação investiga em que medida o programa atinge os resultados esperados pelos formuladores. Entretanto, essa análise de resultados pode ser agrupada em duas modalidades: resultados esperados e resultados não-esperados.
Referem-se, respectivamente, aos efeitos gerados e aos efeitos não-antecipados pelo programa no plano de implementação.
Quando a variável ―resultados‖, independentemente de sua modalidade, ganha centralidade no processo de avaliação, é prudente reputar algumas indagações, que são tidas como essenciais:
_ que tipos de serviços ou benefícios os beneficiários do programa estão recebendo?
_ em que medida os serviços ou benefícios realmente recebidos pelos beneficiários do programa estão de acordo com as intenções originais dos formuladores?
_ os beneficiários estão satisfeitos com os resultados atingidos pelo programa?
_ os resultados atingidos são compatíveis com os resultados esperados?
_ como e porque os programas implementados geram resultados não esperados?
Nesta categoria, em que os resultados de um programa ou política são focalizados, a avaliação assume um caráter somativo. Essa modalidade de avaliação que se realiza ao final da fase de implementação ou após a conclusão de um programa, consiste no exame e análise de objetivos, impactos e resultados. Focaliza a relação entre processo, resultados e impacto, comparando os diferentes programas, o que possibilita escolher o mais adequado e viável para atingir as metas no prazo pretendido. O objetivo principal da avaliação Somativa é o de analisar a efetividade de um programa, compreendendo em que medida o mesmo atingiu os resultados esperados.
c) Avaliações formativas
Geralmente adotadas durante a implementação de um programa (avaliação intermediária) como meio de se adquirir mais conhecimento quanto a um processo de aprendizagem para o qual se deseja contribuir. O propósito é o de apoiar e melhorar a gestão, a implementação e o desenvolvimento do programa. Os avaliadores, assim como os clientes, geralmente são internos, e, frequentemente, os gerentes do programa em questão (auto-avaliação). A objetividade das constatações geralmente não se coloca como preocupação central: mais ênfase é dada à aplicabilidade direta dos resultados. Devem lidar com questões operacionais de monitoramento dos eventos e, em certo grau, também com aspectos relacionados ao impacto.
Esta categoria de avaliação procura investigar como o programa funciona (observação das etapas, mecanismos, processos e conexões), quais são as estratégias utilizadas para o alcance dos resultados, ou seja, procura articular os meios com os fins,
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 13
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
estabelecendo dessa forma sua consonância ou incompatibilidade.
Nesta situação, em que se procura focar o funcionamento e a gestão do programa, a avaliação assume caráter formativo. Como este tipo de avaliação se centraliza nos processos e não nos resultados, podemos concluir que é mais utilizada na fase de implementação de um programa ou política, pois focaliza os aspectos que têm relação direta com a formação do programa, enquanto está em funcionamento, portanto, é desenvolvida durante o processo de implementação da ação avaliada.
Trata de realizar o acompanhamento de ações e tarefas, no que fiz respeito ao conteúdo, método e instrumentos inerentes à execução de um programa ou projeto.
Trata-se, portanto, de um conceito de extrema relevância no processo de avaliação de políticas públicas, pois possibilita compreender em que medida a otimização dos recursos públicos acontecem - aqui entendidos como os recursos financeiros, materiais e humanos - através da comparação entre metas alcançadas, recursos empreendidos e tempo de execução.
Portanto, este tipo de avaliação não se preocupa com a efetividade do programa, pois focaliza seus processos e mecanismos de execução. Sua função maior é a de observar em que medida o programa está sendo implementado como planejado. Preocupa-se em responder, entre outras, as seguintes indagações:
-A população-alvo está sendo atendida, conforme as metas?
-O cronograma está sendo cumprido?
-Os recursos estão sendo alocados com eficiência?
Assim, a avaliação de processos se constitui, basicamente, em um instrumento que se preocupa em diagnosticar as possíveis falhas de um programa, no que diz respeito aos instrumentos, procedimentos, conteúdos e métodos, adequação ao público-alvo, visando o seu aperfeiçoamento, através da interferência direcionada para seus aspectos intrínsecos. Esta modalidade de avaliação tem por objetivo ―fazer as coisas certas‖ Comparando a avaliação formativa com a somativa, temos que estes conceitos são originários do campo da educação, no contexto da avaliação de currículos. A "avaliação formativa" ocorreria enquanto a atividade a ser avaliada ainda estivesse em andamento, com a finalidade de melhorá-la, redirecioná-la. Em contraste, a "avaliação somativa" seria dirigida a um produto final, buscando verificar a efetividade da intervenção, bem como o potencial deste "produto" em relação a futuras aplicações.
A Avaliação Formativa ocorre durante o processo de execução de um programa ou projeto, com o objetivo de fornecer um feedback aos responsáveis pela intervenção que está sendo avaliada, podendo realizar-se durante o desenvolvimento da intervenção, nas fases de diagnóstico, formulação, implementação da execução da mesma. Já a avaliação somativa refere-se aos "resultados ou efeitos" da intervenção, sendo realizada ao final da mesma, daí também ser denominada de "avaliação final", cujos resultados servem para "determinar futuras ações" sobre a intervenção, no sentido de mantê-la, modificá-la ou suspendê-la.
Em relação à procedência dos avaliadores
A avaliação externa é realizada por pessoas não ligadas à organização executora do projeto. São pessoas
não envolvidas com os processos organizacionais. Esse não envolvimento permite uma maior objetividade na avaliação e, além disso, supostamente, esses avaliadores possuem maior experiência e são capazes de realizar comparações sobre eficiência e eficácia de diferentes soluções aos problemas enfrentados.
No entanto, afirma-se que as avaliações externas tendem a dar mais importância ao método da avaliação do que ao conhecimento substantivo da área em que o projeto foi avaliado. A maior vantagem do avaliador externo estaria em seu conhecimento da metodologia de avaliação. Já seus pontos fracos estariam na área substantiva e nas especificidades do projeto.
A avaliação interna é realizada dentro da organização gestora do projeto, mas não por pessoas diretamente responsáveis por sua execução. Por ser realizada por pessoas conhecedoras da disciplina, "o fato de participar desse processo permite com frequência compreender melhor as atividades que são avaliadas e enfocar de modo mais construtivo sua execução e as necessidades de ação futura".
No entanto, a literatura alerta para o risco de perda de objetividade uma vez que a organização agente seria "juiz e interessado" e que os avaliadores teriam ideias preconcebidas (e, portanto, não imparciais) a respeito do projeto.
Na avaliação mista recorre-se a uma combinação das duas anteriores, fazendo com que avaliadores externos realizem seu trabalho em estreito contato com a equipe interna.
Assim, busca-se eliminar os fatores negativos de ambas as avaliações anteriores (objetividade e conhecimento necessário à avaliação).
A avaliação participativa surge como alternativa democrática e resposta crítica aos três tipos anteriormente apresentados, que ausentam os beneficiários do projeto de sua avaliação. Cohen e Franco esclarecem que no processo de um projeto social a estratégia participativa prevê a adesão da comunidade no planejamento, programação, execução, operação e avaliação do mesmo e que na avaliação (independentemente da estratégia do projeto), existem instâncias em que a participação comunitária é imprescindível.
Enfoques da avaliação
Outra classificação importante é a da Maria Ozanira da segundo a qual a avaliação pode ocorrer através de quatro enfoques diferenciados: o monitoramento, a avaliação política da política, a avaliação de processo e a avaliação de impacto.
O monitoramento permite o acompanhamento constante, através do gerenciamento do cumprimento de metas e prazos, buscando o cumprimento do cronograma das atividades com o objetivo de garantir a eficiência do programa.
A avaliação política da política emite juízo de valor em relação à política ou ao programa a partir de critérios e princípios fundamentados em concepções teóricas de bem-estar humano e de qualidade de vida. Essa avaliação possibilita uma análise da operacionalização do programa, bem como de todo o planejamento do mesmo. Está centrada nos fundamentos e condicionamentos de formulação da política ou de elaboração de um plano, discutindo e buscando novas alternativas, até mesmo no período de implementação de um certo programa ou política. Considera, também, os
14 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
mecanismos institucionais disponíveis, seus limites e todos os recursos necessários para que o programa aconteça.
A avaliação de processo está centrada no desenvolvimento do programa, tendo em vista aferir sua eficácia e efetuar correções durante a implementação. Assim, pretende antecipar se o desejo inicial pode ou não ser alcançado, sendo a questão central da avaliação de processo o funcionamento do programa e os serviços prestados.
A avaliação de impactos tem como foco central as mudanças quantitativas e qualitativas decorrentes de determinadas ações governamentais (política/programa) sobre as condições de vida de uma população, tendo, portanto, como critério a efetividade. Há que se considerar que sempre se parte da suposição de que existe relação causal entre uma variável independente (o programa) e uma variável dependente (alteração nas condições sociais).
Para entender o que seja ―impacto‖, é preciso conceituar primeiro ―efeito‖, entendido como todo comportamento ou acontecimento que sofreu influência de algum aspecto do programa. O efeito pode ser procurado, previsto, positivo e relevante ou não procurado, positivo ou negativo.
Por impacto entende-se o resultado dos efeitos de um programa (efeitos líquidos decorrentes dos efeitos de um programa). Nesse sentido, a determinação de impactos exige considerar dois momentos – antes e depois – para se saber qual a diferença entre eles.
Avaliação X Monitoramento
A avaliação deve ser diferenciada do
acompanhamento. Este, segundo a ONU:
É o exame contínuo ou periódico efetuado pela administração, em todos os seus níveis hierárquicos, do modo como se está executando uma atividade. Com isso, se procura assegurar que a entrega de insumos, os calendários de trabalho, os produtos esperados se consubstanciam nas metas estabelecidas e que outras ações que são necessárias progridam de acordo com o traçado.
O monitoramento – ou acompanhamento – é
uma atividade gerencial interna que se realiza durante o período de execução e operação. Já a avaliação pode ser realizada tanto antes quanto durante a implementação, ou ainda depois desta estar concluída.
O monitoramento é um processo sistemático e periódico de análise da gestão, funcionamento e desempenho de programas e projetos. Tem como objetivo identificar desvios na execução das ações, entre o programado e o executado, diagnosticando suas causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à adequação entre o plano e sua implementação.
As atividades de monitoramento são
desenvolvidas durante a execução do programa.
Entretanto, para realizá-las é necessário ter conhecimento do projeto nas suas fases inicial e final, bem como na sua fase de desenvolvimento, pois isto permite verificar o seu andamento com relação a objetivos e metas, viabilizando, se necessário, redirecionar, ou mesmo, redesenhar algumas ações que se comportaram de forma não prevista. Trata-se, portanto, de um processo contínuo que retroalimenta o ciclo de ajustes de uma política.
De forma resumida, o monitoramento é um processo sistemático e contínuo que, produzindo informações sintéticas e em tempo eficaz, permite rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que corrige ou confirma as ações monitoradas.
Algumas características do monitoramento de projetos de desenvolvimento, que neste estudo tem especial relevância, são assinaladas:
-visa otimizar a realização dos objetivos do projeto e evitar efeitos negativos.
-facilita obter os conhecimentos que estão sendo aproveitados para redefinição e a adequação do projeto.
-observa elementos específicos e definidos, isto quer dizer que não trabalha com todos os aspectos do projeto.
-é realizado sistematicamente, com um objetivo definido.
-usa como instrumento de medição indicadores, que são qualitativos e/ou quantitativos. Os indicadores quantitativos podem ser _ interpretados de maneira qualitativa.
-basicamente é feito por pessoas internas, ao projeto.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (TJ-SC/FGV-2018) Um dos indicadores de
desempenho relacionados à avaliação de políticas públicas se baseia no aspecto da efetividade. Pode ser considerado um exemplo de política pública efetiva relacionada à segurança:
(A) alocação de contingente policial em área perigosa de um município;
(B) descontos na munição adquirida para operações especiais em comunidades;
(C) redução da criminalidade em uma região litorânea;
(D) aquisição de uma nova frota de carros para a Polícia Militar;
(E) eliminação de desperdício de papéis em delegacias.
02. (INMETRO) Com relação aos processos de avaliação
e mensuração do desempenho governamental, assinale a opção correta.
A Os indicadores de desempenho, representados por unidades de medida associadas a objetivos genéricos da organização, são expressos, exclusivamente, na forma de números naturais.
B Entre os atributos essenciais a um bom modelo de gestão para resultados, destacam-se: precisão, rigidez, abrangência e unidimensionalidade.
C No modelo da cadeia de valor e dos 6Es do desempenho, eficiência, eficácia e efetividade são considerados critérios de esforço.
D Entende-se por desempenho o direcionamento dos esforços empreendidos em relação aos resultados a serem alcançados, em outras palavras, desempenho consiste na soma de aspectos relativos a esforços e aspectos relativos a resultados.
E Indicadores de processos ou de esforço são medidas que orientam a alocação de recursos materiais, humanos e financeiros em diferentes atividades, projetos, programas, áreas ou funções de uma organização.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 15
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
03. (CESPE - 2009 - INMETRO - Analista Executivo em
Metrologia e Qualidade) Na mensuração do desempenho governamental, destaca-se a avaliação de efetividade na implantação das políticas públicas, que tem como objetivo comparar o esforço realizado na execução dos programas governamentais e os resultados obtidos, verificando se os recursos, técnicas e instrumentos empregados foram adequados e permitiram atingir o resultado com menor custo.
( ) Certo ( ) Errado
04. (MPE-RO) Um departamento de uma organização
pública está buscando alcançar maior eficiência na realização das tarefas efetuadas por seus servidores, pois foram identificadas perdas excessivas na produção do trabalho realizado. O chefe promoveu reuniões com seus subordinados para definir as ações a serem tomadas. O primeiro passo foi definir que eficiência significa:
a) condições adequadas de fazer o trabalho.
b) correta utilização dos recursos disponíveis.
c) redução da fadiga humana no posto de trabalho.
d) produção do trabalho no menor tempo possível.
e) padronização dos métodos de trabalho utilizados.
05. (INPI) Os critérios básicos de mensuração e avaliação
do desempenho dos sistemas organizacionais são: eficiência, eficácia e competitividade. A eficácia pode ser vista como:
a) a capacidade de realizar atividades ou tarefas com perdas mínimas.
b) a capacidade de realizar tarefas com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível dos recursos.
c) a relação entre esforço e resultado.
d) o grau de coincidência dos resultados em relação aos objetivos.
e) a relação entre itens produzidos dentro das especificações e a quantidade total de itens.
Gabarito: 01/C; 02/D; 03/E; 04/B; 05/D
ORÇAMENTO PÚBLICO
Ver módulo “ORÇAMENTO PÚBLICO”///
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRAS.
INTRODUÇÃO
Uma das formas para conceituar a Administração é sendo como um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais.
Uma organização pública também realiza esse processo. KOHAMA(2006, p. 09), expressa que "No setor estatal, administrar é gerir recursos públicos. Ou seja, significa não só prestar serviço e/ou executá-lo, como
também, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil para a sociedade".
Como resultado da administração destas atividades gera-se o movimento de bens e serviços ao público-alvo organizacional, havendo como decorrência a geração das chamadas utilidades de tempo e/ou de lugar, que por sua vez são fatores fundamentais para a aplicação das funções logísticas na organização, tanto pública quanto privada.
Na organização pública, a missão do gestor é estabelecer o nível de atividades logísticas necessário para atender ao público-alvo organizacional no tempo certo, no local certo e nas condições e formas desejadas, de forma economicamente eficaz, eficiente e efetiva no uso dos recursos públicos.
Para BALLOU(1993, p. 23) a logística empresarial associa estudo e administração dos fluxos de bens e serviços e da informação associada que os põe em movimento. O objetivo é vencer o tempo
e a distância na movimentação de bens e/ou na entrega de serviços de forma eficaz, eficiente e efetiva.
Na organização pública, a missão do gestor é estabelecer o nível de atividades logísticas necessário para atender ao público-alvo organizacional no tempo certo, no local certo e nas condições e formas desejadas, de forma economicamente eficaz, eficiente e efetiva no uso dos recursos públicos.
Logística, de acordo com BALLOU, 2003, p. 37, é
entendida como um processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficaz e economicamente eficiente de materiais e informações desde o ponto de origem até o seu destino com o propósito de atender o público-alvo.
Convém ressaltar que o autor emprega o termo ―produto‖ em seu sentido lato, incluindo tanto bens quanto serviços, explicando que logística é uma síntese dos principais conceitos, princípios e métodos das áreas de marketing, produção, contabilidade, compras e transportes, bem como das disciplinas de matemática aplicada, comportamento organizacional e economia (BALLOU, 1993, p. 37).
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FONTE: ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, Prof. Wagner Rabello Jr., www.canaldosconcursos.com.br
A tão propalada expressão – logística -, na atualidade, vem tomando corpo maior que a Administração de Materiais. Nem sempre foi assim. A partir da década de 50, quando as organizações passaram a dar, com mais ênfase, o devido valor à Administração de Materiais, os serviços de logística estavam limitados à parte de movimentação (recebimento, deslocamento e entrega de materiais e produtos acabados, por exemplo) dos materiais. Ao longo dos anos a atividade e o conceito de logística foram ganhando fôlego e hoje a mesma é vista de forma mais ampla que a Administração de Materiais. A definição de logística conforme o CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals é a seguinte:
“Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com
16 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
o propósito de atender às exigências dos clientes”.
A logística analisa como a administração pode prover melhor o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controles efetivos para atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. A logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável.
LOGÍSTICA INTEGRADA
Gestão da Cadeia de Suprimentos — Supply Chain Management (SCM) (Gestão da Cadeia de Suprimentos) tem apresentado uma nova e promissora fronteira para empresas interessadas na obtenção de vantagens competitivas de forma efetiva. SCM nos direciona para uma atitude em que as empresas devem definir suas estratégias competitivas através de um posicionamento, tanto como fornecedores, quanto como clientes dentro das cadeias produtivas nas quais se inserem. Assim, torna-se importante ressaltar que o pressuposto básico da gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management) abrange toda a cadeia
produtiva, incluindo a relação da empresa com seus fornecedores e seus clientes. Supply Chain Management, também, introduz importante mudança no desenvolvimento da visão de competição no mercado (POZO, p. 29, 2008).
Portanto, pode-se afirmar que o Supply Chain Management – gestão da cadeia de suprimentos – consiste no estabelecimento de relações de parceiras, de longo prazo, entre os componentes de uma cadeia produtiva, que passarão a planejar estrategicamente suas atividades e partilhar informações de modo a desenvolverem as suas atividades logísticas de forma integrada, através e entre suas organizações, com o objetivo de melhorar o desempenho coletivo pela busca de oportunidades, implementada em toda a cadeia, e pela redução de custos para agregar mais valor ao cliente final (POZO, p. 30, 2008).
Para Marco Aurélio P. Dias:
“Um sistema logístico integrado, que começa no planejamento das necessidades de materiais e termina com a colocação do produto acabado para o cliente final, deve ser desenvolvido dentro de uma realidade de vendas e de disposição dos recursos financeiros”. Esse sistema deve preocupar-se com uma dos fatores básicos para o dimensionamento de estoques e com a eficácia do processo produtivo, que é o “quando” repor os estoques, ao contrário do tradicional “quanto” comprar. Possuir a quantidade certa no momento errado não resulta em benefícios.
(...) Um sistema de materiais deve estabelecer uma integração desde a previsão de vendas, passando pelo planejamento de programa-mestre de produção, até a produção e a entrega do produto final”.
O conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos ou gerenciamento logístico integrado, de acordo com Christopher (1997), é entendido como a
gestão e a coordenação dos fluxos de informações e materiais entre a fonte e os usuários como um sistema, de forma integrada. A ligação entre cada fase do processo, na medida em que os produtos e materiais se deslocam em direção ao consumidor é baseada na otimização, ou seja, na maximização do serviço ao cliente, enquanto se reduzem os custos e os ativos detidos no fluxo logístico.
Para corroborar este conceito Chopra & Meindl afirmam que o objetivo de toda cadeia de suprimento é maximizar o valor global gerado. O valor gerado por uma cadeia de suprimentos é a diferença entre o valor do produto final para o cliente e o esforço realizado pela cadeia de suprimento para atender ao seu pedido.
Na verdade, existe ainda muita confusão nos termos logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, segundo Wanke (2003), é uma tarefa mais complexa que a gerência logística dos fluxos de produtos, serviços e informações relacionadas do ponto de origem para o ponto de consumo, ou seja, a estratégia logística é necessária no gerenciamento da cadeia de suprimentos, porém este visa além da gerência logística, uma maior integração das atividades das organizações, além do estabelecimento de relacionamentos confiáveis e duradouros com clientes e fornecedores.
Vale ainda ressaltar que tudo isso deve ser permeado por sistemas de informações que deem suporte ao processo, para que, dessa forma, a organização consiga agregar ao produto acabado valor perceptível aos consumidores finais.
Uma visão mais abrangente do processo do gerenciamento da cadeia de suprimentos, que não termina com a simples entrega do produto ao consumidor final, mas também se preocupa com o fluxo reverso desses bens, constitui-se em uma preocupação crescente das empresas, pois, considerando-se que as organizações hoje atuam em um mercado global, as exigências de fornecedores e clientes quanto a questões ambientais se multiplicam, tornando-se um fator de peso em negociações.
Dentro da logística integrada temos que fazer uma diferenciação entre as variantes da logística:
A logística de abastecimento é a atividade que
administra o transporte de materiais dos fornecedores para a empresa, o descarregamento no recebimento e armazenamento das matérias primas e concorrentes. Também podemos citar a estruturação da modulação de abastecimento, embalagem de materiais, administração do retorno das embalagens e decisões sobre acordos no sistema de abastecimento da empresa.
A logística de distribuição é a administração do
centro de distribuição, localização de unidades de movimentação nos seus endereços, abastecimento da área de separação de pedidos, controle da expedição, transporte de cargas entre fábricas e centro de distribuição e coordenação dos roteiros de transportes urbanos.
A logística de manufatura é a atividade que
administra a movimentação para abastecer os postos de conformação e montagem, segundo ordens e cronogramas estabelecidos pela programação da produção. Desovas das peças conformadas como semi-acabados e componentes, armazenamento nos almoxarifados de semi-acabados.
Deslocamento dos produtos acabados no final das linhas de montagem para os armazéns de produtos acabados.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 17
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A logística organizacional é a logística dentro de
um sistema organizacional, em função da organização, planejamento, controle e execução do fluxo de produtos, desde o desenvolvimento e aquisição até produção e distribuição para o consumidor final, para atender às necessidades do mercado a custos reduzidos e uso mínimo de capital.
Outro fator importante que surgiu com a evolução da logística foi a Logística Reversa, que é a área da
logística empresarial associada a retornos de produtos, reciclagem, substituição de materiais, reutilização de materiais, descarte de resíduos e reformas, reparos e remanufatura, ou seja, está ligada à chamada Responsabilidade Social Corporativa. Ex: Fabricantes de aparelhos celulares que possuem projetos de recolhimento das baterias.
Todas as atividades acima passam pela gerência de logística. A missão do gerenciamento logístico é
planejar e coordenar todas as atividades necessárias para alcançar níveis desejáveis dos serviços e qualidade ao custo mais baixo possível. Portanto, a logística deve ser vista como o elo entre o mercado e a atividade operacional da empresa.
O raio de ação da logística estende-se sobre toda a organização, do gerenciamento de matérias-primas até a entrega do produto final.
A seguir temos uma tabela para visualizar de forma sintetizada as definições:
logística de
abastecimento
É a atividade que administra o transporte de materiais dos fornecedores para a empresa, o
descarregamento no recebimento e armazenamento das matérias primas e concorrentes.
logística de
distribuição
É a administração do centro de distribuição, localização de unidades de movimentação nos seus endereços, abastecimento da área de separação de pedidos, controle da expedição, transporte de cargas entre fábricas e centro de distribuição e coordenação dos roteiros de transportes urbanos.
logística de
manufatura
É a atividade que administra a movimentação para
abastecer os postos de conformação e montagem, segundo ordens e cronogramas estabelecidos pela programação da produção.
logística
organizacional
É a logística dentro de um sistema organizacional, em função da organização, planejamento, controle e execução do fluxo de produtos, desde o desenvolvimento e aquisição até produção e distribuição para o consumidor final, para atender às necessidades do mercado a custos reduzidos e uso mínimo de capital.
logística
reversa
É a área da logística empresarial associada a retornos de produtos, reciclagem, substituição de
materiais, reutilização de materiais, descarte de resíduos e reformas, reparos e remanufatura, ou
seja, está ligada à chamada
Responsabilidade Social Corporativa.
gerenciamento
logístico
A missão do gerenciamento logístico é planejar e coordenar
todas as atividades necessárias para
alcançar níveis desejáveis dos serviços e qualidade ao custo mais baixo possível.
ATENÇÃO:
Nas cadeias de suprimentos mais avançadas do ponto de vista gerencial têm sido introduzidos sistemas de electronic data interchange (EDI), MRP/MRP II e
ERP, envolvendo fabricantes, fornecedores e distribuidores, visando reduzir custos e estoques e ganhar rapidez de resposta na oferta de novos produtos.
Segundo Poirier & Reiter (1996), o EDI consiste no intercâmbio de documentos de papéis por métodos eletrônicos que são usados na transmissão subsequente de informações em transações padronizadas de negócios, como ordens de compra, faturas, etc.
2 ATIVIDADES LOGÍSTICAS/MATERIAIS
-Atividades primárias: Transportes, gestão de
estoques, processamento de pedidos
-Atividades de apoio: Armazenagem, manuseio
de materiais, embalagem, suprimentos, planejamento, sistema de informação
3 LOGÍSTICA COMO VANTAGEM COMPETITIVA ORGANIZACIONAL
“A procura de uma vantagem competitiva sustentável e defensável tem se tornado a preocupação do gerente moderno e com visão para as realidades do mercado. Já não se pode pressupor que os produtos bons sempre vendem, nem é aceitável imaginar que o sucesso de hoje continuará no futuro”. (Hamilton Pozo)
Para autores como POZO, a logística é uma metodologia de trabalho que, quando bem aplicada, tem recursos suficientes para alavancar a organização rumo à vantagem competitiva, isto porque a logística é capaz de gerar um diferencial aos olhos dos clientes (ex: qualidade e entregas rápidas) e pela capacidade de fazer a organização operar com custos mais baixos, ou seja, a logística é capaz de satisfazer o cliente e, ao mesmo tempo, maximizar o retorno do negócio.
Para que tal vantagem seja alcançada, Hamilton Pozo propõe cinco passos:
1) Integração da infra-estrutura com clientes e fornecedores
Integração de sistemas de informações entre clientes, fornecedores e operadores logísticos, permitindo a flexibilização do atendimento ao cliente, redução dos custos, proporcionando práticas de Just-intime e consequente diminuição dos níveis gerais de estoque
2) Reestruturação do número de fornecedores e clientes
Normalmente através da redução do número de clientes e fornecedores no sentido de construir e aprofundar relações de parcerias com o conjunto das organizações com as quais realmente deseja desenvolver
18 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
um relacionamento colaborativo e forte que proporcione uma ação sinergética
3) Desenvolvimento integrado do produto
O envolvimento de fornecedores e clientes desde a etapa inicial do desenvolvimento de produtos proporciona redução nos tempos e nos custos, além de atender os reais requisitos dos clientes.
4) Desenvolvimento logístico do produto
Permite a concepção de produtos visando seu desempenho logístico dentro da cadeia de suprimentos, visando redução de custo em todo processo e facilitando o atendimento ao cliente
5) Cadeia estratégica produtiva
Estruturação estratégica e compatibilização dos fluxos das cadeias de suprimentos da empresa e controle das medidas de desempenho atrelada aos objetivos de toda cadeia produtiva.
Dentro da questão da cadeia estratégica produtiva é importante ressaltarmos o conceito de Outsourcing que é a ação em que parte dos conjuntos de produtos e serviços utilizados pela empresa, dentro de uma cadeia produtiva, é providenciada por uma terceira empresa num relacionamento colaborativo e interdependente.
5. ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE MATERIAIS
Agora vamos verificar as principais áreas dentro de um tradicional sistema de materiais. É bom ressaltar que na prática, dependendo da complexidade da organização, ocorrem algumas pequenas variações em relação aos sistemas e suas nomenclaturas. Para fins de concurso, a análise abaixo é suficiente.
Controle de estoques
Sistema que tem por escopo acompanhar e controlar o nível de estoque e o investimento financeiro envolvido. Em relação a essa última tarefa, devemos ressaltar que a mesma é realizada pela gerencia de materiais em conjunto com a gerência financeira. Duas áreas que costumam ter atritos tendo em vista que: de um lado o gerente de materiais luta para não faltar matéria prima (ruptura de estoque) e com isso quer sempre uma
margem razoável de estoques, de outro lado a gerência financeira (responsável pela saúde financeira da organização) está sempre querendo reduzir os custos e com isso busca um estoque menor. Os materiais em estoque, basicamente, são: matéria-prima, produtos em fabricação, produtos acabados e materiais auxiliares.
Compras
É o setor responsável pela aquisição dos materiais necessários ao pleno funcionamento da organização. Essa responsabilidade envolve: quantidade correta de compra, menor prazo possível para recebimento dos materiais, compra pelo preço mais favorável e, em algumas organizações, observância ao código de ética do setor de compras.
Almoxarifado
Também chamado de depósito ou armazém é o setor responsável guarda física dos materiais que estão em estoque (materiais auxiliares e matérias-primas), com
exceção daqueles que já estão em processo de transformação e os produtos acabados.
Planejamento e controle da produção (PCP)
Trata-se do setor responsável pelo controle e pela programação do processo produtivo. O PCP realiza uma das atividades mais estratégicas dentro do sistema de materiais tendo em vista que praticamente tudo que será adquirido, no tempo e na quantidade certa, é comprado com base no PCP. Um dado importante, segundo Marco Aurélio P. Dias, é que o PCP, na prática, em algumas organizações, não está atrelado à gerência de materiais, mas sim à gerência de produção. Segundo Rita Lopes:
―O Planejamento e Controle de Produção é a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto. “O planejamento dá as bases para todas as atividades gerenciais futuras ao estabelecer linhas de ação que devem ser seguidas para satisfazer objetivos estabelecidos, bem como estipula o momento em que essas ações devem ocorrer. Utiliza-se o planejamento e o controle em todo o processo de produção, desde antes dele e após estar concluído. Isso porque todas as etapas do processo produtivo demanda planejamento e controle. Entre os tipos de planejamento e controle utilizados pelas indústrias estão: planejamento e controle de capacidade produtiva; de estoque, da cadeia de suprimentos, MRP, Just in Time, de projetos e, finalmente, planejamento e controle de qualidade.”.
Transportes e distribuição
Setor responsável pela entrega dos produtos acabados aos clientes e também pela entrega das matérias-primas na fábrica, tendo em vista que algumas organizações possuem estoques de matérias-primas em pontos distantes do local de fabricação dos seus produtos. O setor de transportes e distribuição também é responsável pela coordenação de toda frota de veículos da organização ou pela contratação (terceirização) de tal atividade.
Importação/Exportação
Obviamente que é um setor existente apenas em organizações que lidam diretamente com essa atividade. As atividades desse setor envolvem:
-Realização de compra (importação) ou venda (exportação) de matérias primas e/ou produtos acabados;
-Desembaraço aduaneiro
6. GOVERNO ELETRÔNICO E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO
Agora vamos fazer uma análise sobre a necessidade e viabilidade de o setor público utilizar o comércio eletrônico na gestão da sua cadeia de
suprimento, combinado com a aplicação de conceitos modernos de logística empresarial. A tecnologia da informação nos tempos atuais é um componente que
está presente em toda inovação dos processos organizacionais. O governo precisa enfrentar desafios para tornar a situação um pouco melhor. Educação e saúde são áreas que precisam de investimentos constantes e também infraestrutura para se alcançar o
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 19
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
desenvolvimento sustentável. No entanto, com recursos limitados para atender todas as demandas e ainda gerir o funcionamento da máquina pública, o governo precisa encontrar uma forma inteligente de arrecadar e gastar o dinheiro público. Nesse quesito, a tecnologia da informação é essencial para facilitar a vida dos usuários, permitindo interação entre toda estrutura organizacional e possibilitando o desenvolvimento de ferramentas que deixem todo processo mais claro e dinâmico. O ponto importante, que torna necessária a inclusão do estudo do comércio eletrônico nos processos organizacionais, é permitir a capilaridade necessária em todos os pontos operacionais com menor custo, a fim de se ter maior amplitude na gestão. O comércio eletrônico(e-commerce) tem se constituído num modelo de negócios que tem crescido vigorosamente desde os anos 1990, com a difusão do uso da internet. Neste aspecto o governo tem se utilizado do potencial das ferramentas de governo eletrônico.
Governo eletrônico é um conceito ainda
emergente e, portanto, de difícil detalhamento. Some-se a isso o caráter extremante abrangente que a ele é dado atualmente. Usando um conceito de Zweers e Planqué (apud Jóia, 2001), "Governo Eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar disponíveis informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a todoss stakeholders envolvidos com a esfera pública". Ainda neste contexto, Lenk e Traunmuller (apud Jóia, 2001) apresentam quatro perspectivas acerca de governo eletrônico que podem ser vislumbradas:
1. A perspectiva do cidadão: visando oferecer serviços de utilidade pública ao cidadão contribuinte;
2. A perspectiva de processo: visando repensar o modus operandi dos processos produtivos existentes no governo, em suas várias esferas, tais como os processos de licitação para compras (e-procurement);
3. A perspectiva da cooperação: visando integrar os vários órgãos governamentais, e estes com outras organizações privadas e não governamentais, de modo que o processo decisório possa ser agilizado sem perda de qualidade, assim como evitando-se fragmentação e redundâncias hoje existentes nas relações entre esses vários atores;
4. A perspectiva da gestão do conhecimento: visando permitir ao governo, em suas várias esferas, criar, gerenciar e disponibilizar em repositórios adequados, o conhecimento tanto gerado quanto acumulado por seus vários órgãos.
Para o governo eletrônico existem recomendações bem claras sobre as tendências a serem trabalhadas pelo poder público. A OEA (2004) apresentou recomendações baseadas em experiências de vários países, como Chile, Canadá e Brasil. Entre as recomendações e observações podemos citar: os executivos de TI devem trabalhar para colocar as práticas de governo eletrônico na sua agenda e comunicar a todos da burocracia estatal; um governo eletrônico de sucesso requer infraestrutura organizacional com um líder que possa garantir recursos financeiros para as demandas; deve haver completo comprometimento dos governantes; o poder público deve atrair parcerias com o setor privado para dar maior efetividade nas atividades de governo eletrônico; os serviços oferecidos
pelos governos devem ser seguros e consistentes para dar credibilidade à tecnologia; o incremento dos acessos públicos deve ser prioritário nos sites dos governos.
Uma das principais áreas de ação do governo eletrônico é de compras e suprimento. Nesse sentido, podemos dizer que foi criado nesta área o maior ferramental de estrutura burocrática para controle e prevenção de possíveis desvios e de melhoria da eficiência dos processos internos e externos dos governos. Aliados a estes conceitos de gestão eletrônica, temos de incorporar ainda conceitos de gestão da iniciativa privada, pois a capacidade de inovação deste segmento é muito maior que a do setor público. Entre os conceitos estão os de gestão da cadeia logística, onde destacamos alguns que podem colaborar na melhoria da cadeia de suprimento do setor público, e também subsistemas já utilizados na iniciativa privada. Cabe aqui inicialmente conceituar, do ponto de vista do setor privado, o que seria gestão da cadeia de suprimento (GCS). O conceito de Cristopher (apud Guarnieri e Hatakeyama, 2007) diz que GCS é entendida como a coordenação dos fluxos de informações e de materiais entre a fonte e os usuários como um sistema, de forma integrada. A ligação entre cada fase do processo, na medida em que os produtos e materiais se deslocam em direção ao consumidor, é baseada na otimização, ou seja, na maximização do serviço ao cliente, e na redução dos custos e dos ativos retidos no fluxo logístico.
Adequando este conceito à GCSSP, poderíamos afirmar que as fontes seriam os fornecedores públicos cadastrados de acordo com a legislação, e os usuários seriam a população em geral e servidores públicos que executam os serviços para a população. No entanto, o deslocamento de produtos e serviços seria otimizado para atender as demandas dos usuários, evitando-se estoques desnecessários nos órgãos e reduzindo custo de operação das fases do processo. Este conceito é difícil de ser compreendido no setor público, pois não existe competição. Os serviços são executados de forma tradicional, consumindo recursos dos orçamentos limitados e com isto não atendendo as demandas na sua capacidade máxima, ou seja, boa parte dos recursos é desperdiçada sem chegar à população. Considerando a relevância do assunto, isto deveria ter maior atenção no setor público e participar da agenda de todos os gestores públicos. Neste contexto, é fundamental a concepção de um modelo para Gestão de Cadeia de Suprimento Integrada, utilizando-se como suporte o comércio eletrônico e a tecnologia da informação.
Segundo Silva Filho (2004), a crescente importância dada à logística na área acadêmica, através de pesquisas e estudos, aponta para o potencial do emprego dessa atividade no aprimoramento do processo administrativo e de estrutura organizacional, tendo concorrido para sua consolidação no meio empresarial. Todo sistema logístico que se pretende estabelecer, seja na iniciativa privada ou no setor público, de acordo com Bowersox e Closs (apud Silva Filho, 2004), deve refletir uma adequada administração da movimentação de mercadorias, serviços e informações, desde a aquisição do insumo até a distribuição do produto final. Aplicando este conceito ao setor público, um sistema logístico para atender aos clientes finais, que seriam a população através do uso dos serviços públicos, deverá ser concebido com os mesmos conceitos de administração propostos pelos autores supracitados, de tal forma que possa atender os conhecidos princípios de economicidade e qualidade no atendimento que deve ter toda a administração pública.
20 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Neste sentido, podemos trazer alguns princípios, que podem nortear um sistema logístico aplicado ao setor público, extraídos de conceitos da iniciativa privada, não significando a apresentação integral. Conceitos como os de Mcginnis (apud Silva Filho, 2004), extraídos da logística militar, podem ser considerados aplicáveis à logística empresarial e também úteis para o setor público. Do ponto de vista empresarial, o propósito da logística é ajudar a empresa a atingir seus objetivos estratégicos e operacionais. Qualquer sistema logístico que se pretenda implantar no serviço público deverá ter medidas de desempenho. Segundo Harrington (apud Nauri, 1998), a medição de desempenho é importante para o aperfeiçoamento por concentrar a atenção em fatores que contribuem para a realização da organização, por mostrar a eficiência com que se empregam os recursos e para fornecer dados que levem a determinar as causas básicas e origens dos erros. A medição fornece meios para saber se a organização está ganhando ou perdendo e ajuda a monitorar o processo de melhoria.
Assim como na iniciativa privada, é importante ter no setor público sistemas de gestão logística, construídos a partir da utilização das ferramentas de governo eletrônico com incorporação de técnicas, processos e princípios extraídos da iniciativa privada. Nos passos seguintes iremos apresentar os principais componentes do sistema de gestão logística que foram objetos de nossa pesquisa para organização de ideias norteadoras de ações do setor público para a melhoria da eficiência dos gastos públicos correntes.
1 A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRAS
Para qualquer organização, o setor de compras se constitui como um dos segmentos principais para o alcance dos objetivos a serem atingidos. É por meio
de uma aquisição de bens e serviços eficiente que uma organização conseguirá atingir seus fins com menos dispêndio de recursos financeiros, tendo por outro lado a satisfação dos seus stakeholders.
O sistema de compras apresenta muitas diferenças quando se compara o setor público às empresas privadas. Em um sistema de mercado, dada a competição entre as firmas, as organizações privadas precisam de um setor de compras eficiente para o cumprimento da meta de maximização dos lucros.
Para o alcance dessa meta, são lançadas estratégias que entrelaçam parcerias, fidelização de clientes e relacionamentos de longo prazo a fim de se obter o crescimento constante dos lucros.
Em organizações públicas, o foco é a transparência das relações e o emprego dos recursos para a satisfação da sociedade. Assim, percebe-se que
na governabilidade do País deverão ser preservados valores que garantam a eficiência e a eficácia na utilização dos bens públicos da sociedade. Para isso, a administração pública vê-se obrigada a utilizar-se de um alto grau de formalismo nas suas relações para aquisições de bens e contratações de serviços.
Diante da necessidade por envolvi mento abrangente com todos os aspectos relevantes do nosso País, a compreensão das compras realizadas por órgãos do governo se revela de grande importância para os cidadãos brasileiros. Em geral, tais aquisições são as concretizações de planejamentos anuais que visam à satisfação das necessidades da sociedade brasileira.
Com a finalidade de regulamentar o assunto, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI, estabelece que a administração pública direta e indieta de qualquer dos poderes da União, dos estados e dos municípios deverá adquirir bens e serviços mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.
Assim, a administração pública busca o menor custo e o maior benefício por meio da proposta mais vantajosa, apresentada por procedimentos estabelecidos na licitação para o contrato de seu interesse.
A modernização do setor de compras e contratações na Administração Pública Federal
brasileira teve início com a edição do Decreto nº 1.094/1994, que regulamentou o Sistema de Serviços Gerais – SISG.
O SISG tem por objetivo organizar, sob a forma de sistema, a gestão das atividades de serviços gerais, que compreende a administração de edifícios públicos e imóveis funcionais, material, transporte, comunicações administrativas e documentação do Governo Federal.
O SIASG é um sistema informatizado, disponível em terminais ou microcomputadores nas diversas Unidades Administrativas de Serviços Gerais – UASG’s integrantes do SISG, que possibilita, em tempo real, consultas, registros de documentos, operações, controle e compatibilização das atividades e procedimentos relativos ao SISG, notadamente relacionados com licitações, contratos e compras.
Deverá ser observado pela Administração o que consta da IN n° 01/SLTI/MP, de 08.08.2002, que estabelece procedimentos destinados a operacionalização do SIASG.
O PREGÃO
Para aquisição de bens e serviços comuns, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios utilizam-se do pregão, que é uma modalidade de
licitação válida para quaisquer limites de valor em que a disputa é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.
O pregão eletrônico, por sua vez, possui as
mesmas premissas da modalidade pregão (presencial), deste diferenciando-se por utilizar recursos de tecnologia da informação. Dessa forma, como objetivo, este artigo se propôs a avaliar quais as vantagens e desvantagens do pregão eletrônico em relação ao pregão presencial para aquisição de bens/serviços na gestão pública de saúde.
A função compras no setor
―A função compras é um seguimento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimento, que tem
por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços.‖(DIAS, 1995, p. 259). Dessa forma, sua atividade consiste no suprimento de bens ou serviços necessários às atividades da organização por meio do planejamento quantitativo satisfazendo-as no momento correto e armazenando-as de maneira adequada.
―As compras, como uma função administrativa, têm a responsabilidade de participar do planejamento e das previsões de sua empresa‖. (HEINRITZ; FARRELL, 1972, p.252). Assim, o bom planejamento, o controle e a execução das compras para uma organização são indispensáveis ao desenvolvimento das atividades que a compõem, pois mantêm os custos conforme o previsto. Nesse processo, o instrumento licitação é obrigatório para
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 21
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
a organização pública, salvo disposições expressas em lei.
A licitação é substanciada por procedimentos administrativos que se relacionam entre o público e os
interessados por meio de condições anteriormente acordadas, dentre as quais será selecionada a mais conveniente para a celebração de contrato. (DI PIETRO, 2004).
A Lei no 8.666/1993 OBRIGA a aplicação de licitação para contratos de obras, serviços (inclusive
de publicidade), compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública quando contratados com terceiros, ressalvados casos previstos na lei. (art. 2º). Já as empresas estatais que possuem personalidade jurídica de direito privado possuem regulamentos próprios, mas ficam sujeitas às disposições gerais da lei de licitações. (Art. 119). Assim, segundo Meirelles, ―justifica-se essa diversidade de tratamento porque as pessoas jurídicas de direito público estão submetidas a normas de operatividade mais rígidas que as pessoas jurídicas de direito privado, que colaboram com o poder público‖ (2003, p. 269). Tem se, ainda, o Decreto no 5.504/2005, que prevê a obrigatoriedade da realização de licitação pública para entidades não integrantes da administração pública, inclusive as OS e as OSCIP, quando envolvam recursos públicos diretamente repassados pela União. Neste caso, para bens e serviços comuns, é obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial sua forma eletrônica. (Decreto no 5.504/05, art 1º, § 1º).
De acordo com a Lei no 8.666/1993, artigo 22, existem cinco modalidades clássicas de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A figura 1 apresenta cada uma delas com suas respectivas características.
Segundo GUSMÃO (2004), as modalidades de licitação possuem características próprias que as distinguem umas das outras, sendo cada qual apropriada a determinados tipos de contratação. Analisado o objeto de contratação, seguirá a escolha da modalidade mais apropriada para a efetiva contratação de acordo com parâmetros estabelecidos na lei.
Fonte: Lei 8.666/93, artigo 22 (BRASIL, 1993). Figura 1: Modalidades clássicas de licitação
Com a finalidade inicial de ser utilizada exclusivamente pela União, foi criado recentemente o pregão, uma nova modalidade de licitação, posteriormente disciplinada pela Lei no 10.520, de 17 de junho 2002. É com essa modalidade que se ocupa a próxima seção deste artigo.
O pregão: nova modalidade de licitação
Assim como as outras modalidades de licitação, o pregão se desenvolve por meio de vários atos da administração e dos licitantes, todos eles instituídos no processo respectivo. Compreende duas etapas, a primeira delas é a fase interna ou de preparação, e a seguinte, a fase externa.
A fase interna do pregão, também chamada de
fase preparatória pelo art.3º da Lei no 10.520, desenvolve-se no âmbito interno do órgão ou da entidade responsável pela compra dos bens ou serviços desejados.
Essa fase inicia-se com o ato da autoridade competente pelo qual justifica a necessidade da contratação, definindo seu objeto, as regras de habilitação, os critérios das propostas a serem aceitas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato. (MEIRELLES, 2003).
A fase externa do pregão inicia-se com a
convocação dos interessados. Nessa fase, encontra-se a maior vantagem do pregão em relação às outras modalidades de licitação, uma vez que estabelece a habili tação, ao final, apenas do licitante que ofertou o menor preço. Caso o licitante da oferta de menor preço não apresente os documentos conforme exigido no edital, será avaliada a proposta do segundo classificado e dos demais em ordem crescente. ―Supri-se, assim, tempo precioso despendido no exame da documentação dos concorrentes que foram eliminados no julgamento das propostas‖ (MEIRELLES, 2003, p. 316).
Para essa modalidade, o tipo de licitação é sempre o de menor preço, observados ainda conforme o Decreto 3.555/2000, art. 8o, ―os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetro mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital.‖ Assim, as propostas escritas são dispostas em ordem decrescente de preços ofertados, sendo posteriormente oferecida a chance das melhores propostas abrirem os lances até o alcance do menor preço. Assim, ressalta Niebuhr: ―No pregão, os licitantes mais bem classificados dispõem de uma
22 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
segunda oportunidade, em que, de forma oral, podem reduzir os seus preços‖ (2004, p. 21). Vê-se que essa característica confere ao pregão a similaridade de um leilão às avessas, uma vez que são ofertados lances de forma oral e em voz alta até o alcance de proposta de menor preço.
De acordo com Gusmão (2004), as peculiaridades do pregão, destacadas na figura 2, são importantes porque instituíram uma modalidade de licitação com procedi mento mais simplificado. Assim, vemos a importância da aplicabilidade do pregão à aquisição de bens e serviços comuns, uma vez que por outra modalidade demandaria mais tempo e maior custo.
O pregão eletrônico
O pregão como nova modalidade de licitação, foi instituído por meio da Medida Provisória no 2.026, de 04 de maio de 2000, e regulamentado pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000. Anteriormente, a Medida Provisória no 2.026/2000 instituía o pregão apenas no âmbito da União, conforme artigo 1º ―para aquisição de bens e serviços comuns, a União poderá adotar licitação na modalidade pregão.‖
Posteriormente, a Lei 10.520, de 17 de julho 2002, estendeu a aplicação da modalidade pregão também aos estados e municípios.
A partir do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005, foi regulamentada a modalidade pregão, na forma eletrônica, de acordo com o dispositivo do art. 2º da Lei no 10.520, destinada à aquisição de bens e contratação de serviços comuns.
O pregão eletrônico é a modalidade de licitação em que recursos de tecnologia de informação são utilizados para compra de bens e contratação de serviços comuns.
Segundo Niebuhr, ―em apertadíssima síntese, o pregão eletrônico é o modo de realizar a modalidade pregão, valendo-se da Internet‖ (2004, p. 226).
A particularidade desse meio de realização de compras incide na ausência física de quaisquer interessados ou documentos, já que os mesmos estão presentes via sistema eletrônico. Para a garantia da segurança do processo, temos a presença de recursos de criptografia e autenticação, que ajudarão na condução do sistema eletrônico. (Decreto no 5.450, art. 2o, § 3º)
As atribuições da autoridade competente do órgão que promoverá o pregão eletrônico serão as mesmas do pregão comum, acrescentando-se apenas, a responsabilidade de indicar o provedor do sistema, ―evitando que tal procedimento seja efetivado por outrem, mesmo que agente público‖. (GUSMÃO, 2004, p. 73).
Gusmão (2004) explica que, ao pregoeiro caberão as mesmas responsabilidades atribuídas com a operação
do pregão comum, deste se diferenciando por apresentar facilidades advindas do apoio do sistema de tecnologia. Para esse ponto, o autor declara:
Note-se que, nesse tocante o programa poderá em muito auxiliar e até aliviar o trabalho do pregoeiro, constando de sua rotina a exclusão automática de lances fora das condições de adminissibilidade da administração, como é o caso de lances iguais ou de valor reduzido, bem como recebendo ofertas e documentado-as, além de enviar mensagem ao licitante confirmando a operação (2004, p. 76)
Assim, percebe-se que existe uma vantagem do pregão eletrônico em comparação ao pregão comum, uma vez que há uma simplificação das atividades do pregoeiro já que o sistema recebe e ordena os lances automaticamente.
De acordo com o artigo 4º do Decreto no 5.450, a modalidade pregão eletrônico será preferencial quando da aquisição de bens e serviços comuns realizada em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União. Aos outros casos de aquisição de bens ou contratação de serviços, deverão ser adotadas as outras modalidades ou, ainda, o pregão comum.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (AL-MA/FGV-2013) ―As negociações relativas a preço, prazo de entrega, especificações de fornecimento, embalagem, garantias de qualidade, performance e assistência técnica completam a responsabilidade do administrador de suprimentos‖.
De acordo com o fragmento, assinale a alternativa que caracterize um requisito de informação básica dentro da atividade típica de suprimento.
(A) Controle e registro de especificações.
(B) Estudo de mercado.
(C) Garantia de transferência de materiais.
(D) Conferir fatura de compra.
(E) Negociar contratos.
02. (AL-MA/FGV-2013) A atividade de manter sobre
controle todos os pedidos em carteira do processo de recebimento do material, com a finalidade de evitar problemas com os clientes e prejudicar a imagem da organização, é denominada
(A) pedido de compras.
(B) solicitação de compras.
(C) negociação.
(D) coleta de preços.
(E) acompanhamento de pedidos.
03. (IMETRO/CESPE) Julgue os itens seguintes, que
versam sobre a gestão de suprimentos e a modernização do processo de compras no setor público.
104 O sistema de compras apresenta muitas diferenças quando se compara o setor público às empresas privadas. Nas organizações públicas, o foco é a transparência das relações e o emprego dos recursos para a satisfação da sociedade. Na governabilidade do país, deverão ser preservados valores que garantam a eficiência e a eficácia na utilização dos bens públicos da sociedade, o que obriga a administração pública a utilizar-se de um alto grau de formalismo nas suas relações para aquisições de bens e contratações de serviços.
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 23
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
105 A partir da reforma gerencial do Estado brasileiro, ocorreu uma profunda modernização no processo de compras da administração pública, destacando-se a emergência do setor público não estatal, incluindo as organizações sociais de interesse público. Essas organizações, mesmo recebendo recursos públicos da União, não têm a obrigatoriedade de realização de licitação pública para a compra de bens e serviços.
106 Na modernização do setor de compras, destaca-se a criação de uma nova modalidade de licitação, o pregão eletrônico. Essa é a modalidade preferencial de licitação para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União.
04. (ANALISTA - INMETRO - CESPE/2009) Julgue o item
seguinte, que versa sobre a gestão de suprimentos e a modernização do processo de compras no setor público.
1) O sistema de compras apresenta muitas diferenças quando se compara o setor público às empresas privadas. Nas organizações públicas, o foco é a transparência das relações e o emprego dos recursos para a satisfação da sociedade. Na governabilidade do país, deverão ser preservados valores que garantam a eficiência e a eficácia na utilização dos bens públicos da sociedade, o que obriga a administração pública a utilizar-se de um alto grau de formalismo nas suas relações para aquisições de bens e contratações de serviços.
05. (CESPE/EMBASA/ADMINISTRAÇÃO/2010) Um
sistema logístico bem elaborado é responsável por entregar mercadorias / produtos / serviços na quantia certa, no local certo, no momento certo, ao menor custo possível.
Gabarito: 01/A; 02/E; 03/CEC; 04/C; 05/C
5 NOÇÕES DE LICITAÇÃO PÚBLICA: FASES, MODALIDADES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.
Ver módulo “DIREITO ADMINISTRATIVO”
TREINE MAIS QUESTÕES DA FGV
01. (TCM-SP/FGV-2015) A transição de um modelo
burocrático de gestão para um modelo gerencial pode gerar um hibridismo de práticas de gestão que vão desde o excesso até a escassez de burocratização, trazendo consequências capazes de levar à desordem.
É um exemplo de escassez de burocratização:
(A) formalização das comunicações em documentos.
(B) superespecialização e responsabilização;
(C) destaque aos cargos e às exigências;
(D) foco nas disciplinas com base em regras;
(E) ênfase nas pessoas e na liberdade de ação;
02. (TCM-SP/FGV-2015) A reforma do aparelho do
Estado introduzida pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967
trouxe algumas iniciativas no sentido de romper com o modelo burocrático estabelecido por Getúlio Vargas.
A reforma proposta centrava-se em diversos conceitos, EXCETO no de:
(A) delegação de competência como instrumento de descentralização administrativa para assegurar rapidez e objetividade;
(B) planejamento de ação governamental com base em plano geral e plurianual, programas gerais, setoriais e regionais;
(C) execução descentralizada mediante convênio, contratos ou concessões com entes federados e organizações privadas;
(D) publicização de serviços públicos para organizações de direito privado como forma de ampliação do atendimento em áreas fundamentais de políticas públicas;
(E) controle imediato pela chefia competente para execução e observância de normas, bem como por meio da especificação do TCU como órgão de controle externo.
03. (TCM-SP/FGV-2015) Analise o trecho a seguir: ―Neste
novo cenário as redes de políticas públicas se auto organizam. Trocando em miúdos, auto-organização quer dizer que as redes são autônomas e autogovernáveis, elas se desvinculam da liderança governamental, desenvolvem suas próprias políticas e moldam seus ambientes‖ R. A. W. Rhodes (1997:52)
O autor está abordando a transição de um modelo de gestão das políticas públicas para aquele centrado no conceito de:
(A) Gerencialismo;
(B) Accountability;
(C) Responsabilização;
(D) Privatização;
(E) Governança.
04. (AL-MA/FGV-2013) O Estado vem abandonando o
papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo‐se, entretanto, no papel de regulador, provedor ou promotor. A atuação do Estado nesse papel consiste em subsidiá‐los, controlá‐los e
regulamentá‐los, o que significa uma alteração de
atuação, marcando a fase do empreendedorismo governamental.
A esse respeito, assinale a alternativa que enumera três características do empreendedorismo governamental.
(A) Parcerias com o setor privado, flexibilização das regras que regem o modelo patriarcal, ênfase e
orientação da ação do Estado para o cidadão‐cliente.
(B) Parcerias com o setor privado e com as organizações não governamentais – ONGs, rigidez das regras que regem a burocracia pública, ênfase e orientação da
ação do Estado para o cidadão‐fornecedor.
(C) Parcerias com o setor privado e com as organizações não governamentais ‐ ONGs, flexibilização das regras
que regem a burocracia pública, ênfase e orientação da ação do Estado para o cidadão‐cliente.
(D) Parcerias com o setor privado e com as organizações não governamentais ‐ ONGs, rigidez das regras que
regem a burocracia tradicional, ênfase e orientação da ação do Estado para o cidadão‐fornecedor.
(E) Parcerias com o setor privado e com as organizações não governamentais ‐ ONGs, rigidez das regras que regem a burocracia patriarcal, ênfase e orientação da
ação do Estado para o cidadão‐cliente.
24 NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
05. (TCE-BA/FGV-2013) O atendimento das inúmeras
demandas sociais encontra uma limitação prática na vida do Estado moderno em razão da escassez de recursos e das restrições fiscais que trazem como consequência a necessidade cada vez mais urgente do administrador público melhorar seu desempenho de forma a adotar modelos gerenciais que se aproximam da administração privada, como é o caso da gestão com foco no cliente que na administração pública representa o cidadão consumidor de bens e serviços disponíveis.
Como exemplo de ação da gestão com foco no cidadão é correto citar
(A) o aprimoramento da burocracia administrativa de forma verticalizada e centralizada para satisfação do cliente cidadão.
(B) a implantação de serviços padronizados a fim de evitar privilégios ou regalias que restrinjam a universalização e democratização dos serviços públicos.
(C) o atendimento integral dos limites impostos pela responsabilidade fiscal mesmo que haja necessidade de restrição temporária dos serviços por força do cumprimento das metas fiscais.
(D) a implantação de sistemas flexíveis de atendimento ao cidadão, com maiores condições de atendimento segmentado ou personalizado.
(E) a condução da gestão pública como reguladora da economia de forma a deter as ações de exploração econômica de qualquer natureza como garantia de atendimento a todos os cidadãos.
06. (TCE-BA/FGV-2013) As atividades de compras
podem ser divididas em dois grandes blocos: administração da aquisição e administração do fornecimento.
Em relação à administração do fornecimento, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Visa a garantir que o contrato seja cumprido nos prazos e nas condições acordadas entre as partes.
(B) Acompanha o mercado supridor com o objetivo de obter a máxima garantia de que o contrato será cumprido.
(C) Mantém contato permanente com os fornecedores contratados e acompanha sistematicamente as situações de mercado.
(D) Escolhe as fontes de suprimentos a serem consultadas e realiza pesquisa de preços.
(E) É responsável por significativas reduções nos custos.
07. (TCE-BA/FGV-2013) Com relação à principal meta no
que diz respeito à seleção e ao cadastramento de fornecedores para a aquisição de materiais, analise as afirmativas a seguir.
I. Identificar os fornecedores que podem de fato fornecer os materiais procurados na quantidade desejada, com a qualidade almejada e no prazo estipulado.
II. Identificar os fornecedores que possam ser fonte regular de suprimento dos materiais procurados.
III. Identificar os fornecedores que tenham preços e condições competitivos.
Assinale
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
08. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV-2016) A
trajetória histórica da Administração Pública no Brasil, após 1930, revela um conjunto de fatores que justificaram a criação e a implementação do modelo gerencial a partir de meados da
década de 90.
A justificativa para a adoção do modelo gerencial NÃO pode ser atribuída:
(A) à crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do Estado;
(B) à dificuldade em administrar as crescentes expectativas em relação à política de bem-estar;
(C) ao esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado;
(D) à falência da estratégia de substituição de importações;
(E) à necessidade de fortalecer o papel do Estado como responsável pelo desenvolvimento econômico e social.
09. (TCM-SP/FGV-2015) Um conselho de gestão é uma
forma de organização administrativa que possibilita a participação da população na gestão das políticas públicas - como saúde, educação e assistência social -, possuindo funções distintas.
Quando um conselho realiza controle e acompanhamento das ações de gestão dos governantes, entende-se que está desenvolvendo a função:
(A) fiscalizadora;
(B) mobilizadora;
(C) deliberativa;
(D) consultiva;
(E) estabilizadora.
10. (IBGE-PLANEJAMENTO E GESTÃO/FGV-2016) O
Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado introduziu no Brasil, em meados da década de 90, a estratégia de flexibilização denominada publicização. Esta foi definida como sendo o processo de descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços como educação, saúde, cultura e pesquisa científica.
A estratégia de publicização introduziu na administração pública brasileira, por meio da Lei nº 9.637/98, a contratação de:
(A) Autarquia;
(B) Consórcio Público;
(C) Empresa de Propósito Específico;
(D) Organização Social;
(E) Parceria Público-Privada.
Gabarito: 01/E; 02/D; 03/E; 04/C; 05/D; 06/D; 07/E; 08/E;
09/A; 10/D
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 1
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Bruno Sales
2019.7
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ORÇAMENTO PÚBLICO. ................................................. 2
1 Princípios orçamentários. .............................................. 7
Questões de concursos ............................................ 9
2 Diretrizes orçamentárias. ............................................ 10
Questões de concursos .......................................... 14
3 Processo orçamentário. .............................................. 14
Questões de concursos .......................................... 16
4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. .......................................... 10
Questões de concursos .......................................... 14
5 Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. ......................................................................... 17
Questões de concursos .......................................... 26
6 Despesa pública: categorias, estágios. ....................... 26
Questões de concursos .......................................... 29
7 Suprimento de fundos. ................................................ 29
Questões de concursos .......................................... 30
8 Restos a pagar. ........................................................... 30
Questões de concursos .......................................... 31
9 Despesas de exercícios anteriores. ............................ 32
Questões de concursos .......................................... 32
10 A conta única do Tesouro. ........................................ 33
Questões de concursos .......................................... 35
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA (AFO) – NOÇÕES INTRODUTÓRIAS
A administração financeira e orçamentária é
uma área que trata dos assuntos relacionados às operações financeiras das organizações, tais como as operações de fluxo de caixa, transações financeiras, operações de crédito, pagamentos, etc. A maioria dos casos de falência das organizações ocorre, principalmente, devido a falta de informações financeiras precisas sobre o balanço patrimonial da empresa e problemas decorrentes do setor financeiro.Muitas vezes as falhas derivam de um controle inadequado, e acometem em grande parte um gestor de finanças (CFO) pouco qualificado e despreparado.
O setor financeiro é considerado por muitos o principal combustível de uma empresa, pois se o mesmo não estiver bem das pernas, com certeza a organização não apresentará um crescimento adequado e auto-suficiente. A administração financeira e orçamentária
visa a melhor rentabilidade possível sobre o investimento efetuado pelos sócios e acionistas, através de métodos otimizados de utilização de recursos, que por muitas vezes, são escassos. Por isso, todos os aspectos de uma empresa estão sob a ótica deste setor.
OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Primeiramente, é necessário dizer que o objetivo primário da administração financeira e orçamentária é a
maximização do lucro, ou seja, o valor de mercado do capital investido. Não importa o tipo de empresa, pois
em qualquer delas, as boas decisões financeiras tendem a aumentar o valor de mercado da organização em si. Devido a esse aspecto, a administração financeira deve se dedicar a avaliar e tomar decisões financeiras que impulsionem a criação de valor para a companhia. Pode-se dizer que a administração financeira e orçamentária possui três objetivos distintos, que são:
> Criar valor para os acionistas: Como dito
acima, o lucro é uma excelente maneira de medir a eficácia organizacional, ou seja, seu desempenho. Contudo, esse indicador está sujeito a diversas restrições, uma vez que é determinado por princípios contábeis, mas que não evidenciam a capacidade real da organização. É importante salientar também que o lucro contábil não mensura o risco inerente à atividade empresarial, pois suas projeções não levam em conta as variações no rendimento.
> Maximizar o valor de mercado: O valor de
mercado é considerado um dos melhores critérios para a tomada de decisão financeira. A taxa mínima de atratividade deve representar a remuneração mínima aceitável para os acionistas diante do risco assumido. Nesse objetivo, duas variáveis são importantes de se levar em consideração: o retorno esperado e a taxa de oportunidade. O importante é a capacidade da empresa de gerar resultado, promovendo a maximização do valor de mercado de suas ações e a satisfação dos stakeholders.
> Maximizar a riqueza: Como último objetivo nós
temos a maximização da riqueza, ou seja, a elevação da receita obtida pelos acionistas. Esse objetivo é alcançado mediante o incremento do valor de mercado (sucede os objetivos anteriores). O alcance desse objetivo fica por conta dos investimentos em gestão, tecnologia e inovação, assim como no descobrimento de oportunidades futuras. A geração de riqueza não deve ser vista de forma isolada, mas como uma consequência determinada pelos objetivos secundários.
ÁREAS E FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A administração financeira e orçamentária está estritamente ligada à Economia e Contabilidade, podendo ser vista como uma forma de economia aplicada, que se baseia amplamente em conceitos econômicos, como também em dados contábeis para suas análises. As áreas mais importantes da administração financeira podem ser resumidas ao se analisar as oportunidades profissionais desse setor. Essas oportunidades em geral caem em três categorias interdependentes: o operacional, os serviços financeiros e a administração financeira.
> Operacional: As atividades operacionais de uma
organização existem de acordo com os setores da empresa. Ela visa proporcionar por meio de operações viáveis um retorno ensejado pelos acionistas. A atividade operacional também reflete no que acontece na demonstração de resultados, uma vez que é parte integrante da maioria dos processos empresariais e caso não demonstra retorno pode sofrer certo enxugamento. Por outro lado, quando a operação demonstra um retorno acima do esperado ela tende a ser ampliada.
> Serviços Financeiros: Essa é área de finanças
voltada à concepção e prestação de assessoria, como também, na entrega de produtos financeiros a indivíduos, empresas e governos. Envolve oportunidades em bancos (instituições financeiras), investimentos, bem imóveis e
2 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
seguros. É importante ressaltar que, é necessário o conhecimento de economia para se entender o ambiente financeiro e assim poder prestar um serviço de qualidade. As teorias (macro e microeconômicas) constituem a base da administração financeira contemporânea.
> Gestão financeira: Trata-se das obrigações do
administrador financeiro nas empresas, ou seja, as finanças corporativas. Questões como, concessão de crédito, avaliações de investimentos, obtenção de recursos e operações financeiras, fazem parte dessas obrigações. Reflete principalmente as decisões tomadas diante das atividades operacionais e de investimentos. Alguns consideram a função financeira (corporativa) e a contábil como sendo virtualmente a mesma. Embora existe uma certa relação entre as duas, uma é vista como um insumo necessário à outra.
Todas as atividades empresariais envolvem recursos e, portanto, devem ser conduzidas para obtenção de lucro (criação de valor é o objetivo máximo da administração financeira e orçamentária). As
atividades financeiras de uma empresa possuem como base as informações retiradas de seu balanço patrimonial e do fluxo de caixa (onde se percebe o disponível circulante para investimentos e financiamentos). As funções típicas da administração financeira são: planejamento financeiro (seleção de ativos rentáveis), controladoria (avaliação do desempenho financeiro), administração de Ativos (gestão do capital de giro), administração de Passivos (gestão da estrutura do capital – financiamentos).
ORÇAMENTO PÚBLICO
INTRODUÇÃO
O governo precisa obter recursos para garantir o funcionamento de suas atividades. Este processo é caracterizado pela arrecadação de receitas. Para gerir estes recursos entra a figura do orçamento público, no qual consta uma previsão de todas as receitas e uma limitação dos gastos a serem realizados.
Todo gasto governamental precisa estar previamente definido no orçamento. O orçamento tem sua vigência de um exercício financeiro, isto é, de um ano. O orçamento é tido como uma ferramenta de gestão, pois todas as ações do governo, inclusive as políticas públicas, devem estar sintonizadas com o orçamento.
CONCEITO
“Orçamento é o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei” (Baleeiro)
Orçamento Público é, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o detalhamento dos programas e subprogramas constantes da programação de governo, em ações específicas materializadas nos projetos/ atividades/ subprojetos/subatividades orçamentários.
Compreende, também, a especificação dos insumos materiais e recursos humanos necessários ao desenvolvimento dessas ações específicas, em conformidade com a classificação por objeto de gasto legalmente adotada. Tudo isso materializado na Lei de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita e fixa a
despesa da administração pública e que é elaborada em um exercício para depois de aprovada pelo Poder Legislativo, vigorar no exercício seguinte.
Consoante Giacomoni, de acordo com o modelo de integração entre planejamento e orçamento, o orçamento anual constitui-se em
instrumento, de curto prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas.
MUITO IMPORTANTE:
Lato Sensu: É a conceituação tradicional,
conforme aquelas expostas acima. Em seu sentido lato sensu, o orçamento é um instrumento de intervenção planejada que evidencia a política de trabalho e o plano do governo, mediante autorização legislativa para a realização de receitas e despesas, e é materializado pelos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e Lei Orçamentária Anual (LOA).
Em sentido estrito, o orçamento é a Lei
Orçamentária (Anual) – LOA - propriamente dita. Estudaremos, em momento oportuno, cada um dos instrumentos de planejamento, mas basta saber que há uma lei aprovada anualmente pelo Poder Legislativo, de inciativa do Poder executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o período de um ano.
DICA DE CONCURSO:
São instrumentos de planejamento do setor público, previstos na Constituição Federal e elaborados por leis de iniciativa: A) do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
CARACTERÍSTICAS DO ORÇAMENTO PÚBLICO
Documento legal: LOA.
Vigência restrita a um exercício financeiro, que é igual a um ano civil (1 de janeiro a 31 de dezembro).
O orçamento contém um plano de trabalho. O Governo somente poderá executar aquilo que está previsto no orçamento.
Previsão das receitas: as receitas são estimadas.
Fixação das despesas: as despesas são fixadas, isto é, o limite definido não pode ser ultrapassado. O orçamento no Brasil é autorizativo e não impositivo, ou seja, o gestor público possui um limite para a execução de obras, mas caso ele decida por não realizar alguma obra por algum motivo ele não será obrigado a desenvolver aquela atividade. No orçamento impositivo o gestor ficaria obrigado a realizar os gastos previstos no orçamento.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 3
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
TIPOS DE ORÇAMENTOS / TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS
Ao longo da história, muitos tipos de orçamentos foram testados até chegarmos ao modelo de orçamento-programa modernamente utilizado na maior parte do mundo. A STN nos ajuda a conhecer os principais tipos de orçamento:
1) Orçamento Tradicional;
2) Orçamento Base Zero;
3) Orçamento de Desempenho;
4) Orçamento-Programa;
5) Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento;
6) Sistema de Racionalização do Orçamento;
- dentre outras técnicas.
1. ORÇAMENTO TRADICIONAL:
Processo orçamentário em que apenas uma dimensão do orçamento é explicitada, qual seja, o objeto de gasto. Também é conhecido como
2. ORÇAMENTO CLÁSSICO.
Este tipo de orçamento não apresenta qualquer tipo de vinculação com planejamento dos programas e sua continuidade consistindo, basicamente, em ajustamento de valores do orçamento vigente para o ano seguinte.
3. ORÇAMENTO BASE-ZERO:
Também conhecido por Orçamento por Estratégia, é abordagem orçamentária desenvolvida nos
Estados Unidos da América, pela Texas Instruments Inc., Durante o ano de 1969. Foi adotada pelo estado de Geórgia (gov. Jimmy Carter), com vistas ao ano fiscal de 1973. Principais características: análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto já existente; todos os programas devem ser justificados cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário.
Este tipo de orçamento é, em certa parte, o contrário do modelo tradicional, na medida em que, mesmo os projetos que estivessem apresentando resultados deveriam ser inteiramente justificados para que pudessem ser continuados. Não havia qualquer tipo de compromisso com continuidade (direitos adquiridos),
impossibilitando qualquer planejamento de médio e longo prazos, além de gerar um desgaste administrativo para se justificar os recursos e revisar todos os gastos já em
andamento.
IMPORTANTE:
A palavra-chave do Orçamento Base Zero é DIREITO ADQUIRIDO. No Orçamento Base Zero, NÃO existe o que chamamos de DIREITO ADQUIRIDO em relação às despesas efetuadas pelo gestor no ano anterior. A cada ano, é necessária uma exposição justificada dos gastos, evitando-se criar direitos com base nos gastos feitos no ano anterior, corrigido de um índice inflacionário (que seria o orçamento incremental).
DICAS DE CONCURSOS:
O orçamento de base zero envolve o controle operacional pelo qual cada gestor deve justificar todas as solicitações de dotações orçamentárias em detalhes, a partir do ponto zero, para serem avaliadas por análises sistemáticas e classificadas por ordem de importância em diferentes etapas operacionais. (Tec.Jud. Contb.TRE-MG -
CESPE/2009)
4. ORÇAMENTO DE DESEMPENHO:
Processo orçamentário que se caracteriza por apresentar duas dimensões do orçamento: o objeto de gasto e um programa de trabalho, contendo as ações desenvolvidas. Toda a ênfase reside no desempenho organizacional, sendo também conhecido como orçamento funcional. Ou seja, o foco é no resultado do que o governo faz, sem considerar como foi feito. Foi
o precursor do orçamento-programa.
5. ORÇAMENTO PROGRAMA:
Também conhecido como Orçamento Moderno,
originalmente, sistema de planejamento, programação e orçamentação, introduzido nos Estados Unidos da América, no final da década de 50, sob a denominação de PPBS (Planning Programning Budgeting System). Hoje, é a própria Lei Orçamentária Anual – LOA. É elaborado com base nos programas de trabalho do governo que serão executados o exercício financeiro seguinte.
O orçamento é o elo entre o planejamento e o orçamento.
O programa, assim definido pela portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, é o instrumento de organização da ação
4 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. E é ele que faz a vinculação entre a LOA e o PPA.
Para elaborar um orçamento-programa é necessário passar por algumas etapas que incluem a definição dos objetivos (planejamento) e as atividades
necessárias para que aqueles sejam atingidos (programação). Em seguida, deve-se estimar a
quantidade de recursos - financeiros e humanos - suficientes para financiar as atividades (projeto e orçamentação) e, por fim, mensurar seu cumprimento e os resultados (avaliação).
As principais características do orçamento-programa são: integração, planejamento, orçamento;
quantificação de objetivos e fixação de metas; relações insumo-produto; alternativas programáticas; acompanhamento físico-financeiro; avaliação de resultados; e gerência por objetivos.
O PLPPA 2016-2019 contemplará os Programas
Temáticos e os de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, introduzidos pelo PPA 2012-2015:
- Programa Temático: aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;
- Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Programa
é o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual.
Projeto instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo.
Atividade instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.
Operações especiais
despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
OUTRAS DIMENSÕES
O orçamento público ainda possui outras dimensões que não a de programação, que vimos acima, e que ampliam o seu conceito.
Dimensão política: O orçamento é fruto de uma
arena de disputa ou de cooperação entre os múltiplos
interesses que orbitam o sistema político, obedecendo a regras formais (ordenamento jurídico) e também informais (cultura, lobby, poder velado).
Dimensão jurídica: O orçamento público é uma
lei elaborada pelo Poder Executivo que é aprovada pelo Poder Legislativo e estabelece os parâmetros legais para a previsão das receitas e a execução das despesas para um determinado exercício financeiro, ainda obedecendo aos ditames constitucionais e infraconstitucionais.
Importante salientar que o orçamento é doutrinariamente entendido como sendo uma lei de caráter autorizativo, ou seja, é lei em seu caráter formal e não material, mas ainda sim, produz efeitos concretos. Sendo assim, não há a obrigação jurídica
para o governo, a partir da lei orçamentária, em realizar todos os gastos nele fixados.
Dimensão gerencial: O orçamento público dá
suporte à boa administração dos recursos e ao controle e à avaliação de desempenho da gestão.
Dimensão econômica: O orçamento público
passa a ter esta dimensão quando se torna instrumento de cumprimento das funções econômicas clássicas do Estado.
Função alocativa: Acontece quando o Estado
promove os investimentos na infra-estrutura econômica ou na criação de bens públicos e bens meritórios utilizando o orçamento público como instrumento de realização, principalmente nos casos nos quais a iniciativa privada não é economicamente eficiente e/ou socialmente justa ou ainda que envolvam questões de relevância nacional.
Função distributiva: O orçamento pode ser
utilizado com instrumento para viabilizar políticas públicas de distribuição de renda.
Função estabilizadora: É nesta função na
qual realmente se materializam, via orçamento público, os quatro objetivos macroeconômicos da política monetária
(executada pelo Banco Central) e tendo como importante instrumento de operacionalização a política fiscal (executada por todos os
órgão e entidades da administração), tais como a manutenção dos níveis de emprego, a estabilidade de preços – combate à inflação, o equilíbrio no balanço de pagamentos e as taxas de crescimento econômico satisfatórias).
Sendo assim, o orçamento público pode ser um instrumento expansionista ou contracionista da
economia a depender dos objetivos a serem alcançados pelo governo, por exemplo, expandir a demanda agregada, combater à inflação, fomentar o investimento interno, diminuir o desemprego. É importante também compreender que a política fiscal possui duas dimensões: tributária (aumento ou redução de alíquotas, isenções) e orçamentária (aumento ou redução dos
gastos do governo).
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 5
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (2018 / FGV / Câmara de Salvador-BA / Analista
Legislativo Municipal) Um dos modelos orçamentários difundidos a partir da aplicação da lógica empresarial no setor público tem como base para elaboração do orçamento atual a não vinculação com os montantes de despesa ou nível de atividade do exercício anterior. Embora de difícil operacionalização, o modelo propicia reavaliações constantes das alocações de recursos.
Esse modelo orçamentário é denominado orçamento:
a) programa;
b) base-zero;
c) incremental;
d) operacional;
e) com teto móvel.
02. (ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área
Planejamento Estratégico – CESPE/2010) Com relação a orçamento base-zero, julgue os itens a seguir.
No processo de implementação do orçamento base-zero, os pacotes de decisão, ordenados por critérios previamente fixados pela alta direção da organização, são informados por meio do planejamento estratégico.
( ) Certo ( ) Errado
03. (ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área
Planejamento Estratégico – CESPE/2010) Com relação a orçamento base-zero, julgue os itens a seguir.
De acordo com o princípio que rege o orçamento base-zero, todas as atividades devem ser justificadas antes de serem tomadas as decisões relativas aos recursos a serem alocadas em cada departamento ou setor.
6 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
( ) Certo ( ) Errado
04. (ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área
Planejamento Estratégico – CESPE/2010) Com relação a orçamento base-zero, julgue os itens a seguir.
No processo de implementação do orçamento base-zero, os incrementos nos pacotes de decisão somente devem ser aprovados após o responsável pelo pacote, justificar os resultados do aumento dos gastos e enfatizar os benefícios para a organização.
( ) Certo ( ) Errado
05. (TCE/MG - Analista de Controle Externo - Área
Administração – CESPE/2018) A respeito das técnicas orçamentárias, julgue os itens a seguir.
I O orçamento base-zero pressupõe um reexame crítico dos dispêndios de cada área governamental após cada ciclo orçamentário, de modo que não haja direitos adquiridos sobre o montante dos gastos do exercício anterior, salvo no caso de despesas de caráter obrigatório.
II No orçamento de desempenho, ou tradicional, embora seja possível saber o que faz o governo, não ocorre vinculação com o planejamento governamental.
III O orçamento participativo caracteriza-se por uma participação direta e efetiva das comunidades, de tal forma que o chefe do Poder Executivo está obrigado legalmente a seguir as sugestões da população.
IV No âmbito dos municípios, o orçamento participativo é de observância obrigatória, de modo que a realização de debates, audiências e consultas públicas é condição obrigatória para a aprovação do orçamento anual pela câmara municipal.
Assinale a opção correta.
A.Apenas o item II está certo.
B.Apenas o item IV está certo.
C.Apenas os itens I e IV estão certos.
D.Apenas os itens I e III estão certos.
E.Apenas os itens II e III estão certos.
Gabarito: 01/B; 02/C; 03/C; 04/C; 05/A
FUNÇÕES DO ORÇAMENTO
Quando falamos em Funções do Orçamento Público estamos nos referindo às Funções Econômicas do Estado, ou seja, o papel do Estado na gestão das finanças públicas.
Veja o conceito de Orçamento Público, de acordo com o Ministério do Planejamento:
Orçamento Público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas.
É no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados.
No próprio conceito de Orçamento já é possível intuir quais são suas funções, definidas classicamente:
1. Função Alocativa.
2. Função Distributiva.
3. Função Estabilizadora.
Função Alocativa
A Função Alocativa corresponde à atuação dos governos na complementação da ação do mercado.
Quando falhas no sistema econômico são detectadas, sem que o mercado consiga dar conta, o Estado tem a capacidade de alocar (disponibilizar) recursos para corrigir distorções.
Um exemplo é quando o Estado detecta a existência de monopólios, que causam um sobrepreço ao conjunto de consumidores. Nesse caso, o Estado tanto pode atuar para aumentar a concorrência ou até mesmo assumir a atividade e tornar o monopólio público.
Função Distributiva
A Função Distributiva nada mais é que a capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores para disponibilizá-los em setores mais necessitados.
É através da Função Distributiva que o Estado realiza a organização da distribuição da renda, resultante dos fatores de produção – capital, trabalho e terra – e da venda dos serviços desses fatores no mercado.
Na prática, é o governo se utilizando do Orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos como forma de tentar resolver problemas sociais e econômicos.
Função Estabilizadora
Por fim, a Função Estabilizadora, que relaciona-se ao uso da política orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego, a estabilidade econômica e o controle de preços.
Essa política pode se manifestar diretamente, através da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente, pela redução das alíquotas de impostos, que eleva a renda disponível do setor privado.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (FGV/2014) A intervenção do Governo sobre o
crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo ou de investimentos por meio do controle dos gastos públicos, dos créditos e do nível de tributação, relaciona-se à função
a) estabilizadora.
b) distributiva.
c) alocativa.
d) reguladora.
e) monetária
02. (FUNCAB/2014) No âmbito das Finanças Públicas há
uma classificação das funções econômicas dos Estados, conhecidas como ―funções fiscais‖ ou
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 7
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
―funções do orçamento‖, que manifestam a ação estatal na economia. A função econômica que o Estado aciona para tentar resolver os problemas de oferta de bens públicos denomina-se função:
a) estabilizadora.
b) alocativa.
c) distributiva.
d) provedora.
e) intervencionista.
03. (Cespe/2016) A função do orçamento público que visa
melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e, com isso, corrigir falhas do mercado é denominada função
a) controladora.
b) alocativa.
c) distributiva.
d) estabilizadora.
e) econômica.
04. (MDA / Contador2014 / FUNCAB /) No âmbito das
Finanças Públicas há uma classificação das funções econômicas dos Estados, conhecidas como ―funções fiscais‖ ou ―funções do orçamento‖, que manifestam a ação estatal na economia. A função econômica que o Estado aciona para tentar resolver os problemas de oferta de bens públicos denomina-se função:
a) estabilizadora.
b) alocativa.
c) distributiva.
d) provedora.
e) intervencionista.
Gabarito: 01/A; 02/B; 03/C; 04/B
PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS
Finalizando o estudo do Orçamento Público, é preciso conhecer os princípios que regem a sua elaboração. De acordo com a STN, os Princípios Orçamentários são regras que cercam a instituição
orçamentária, visando dar-lhe consistência, principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo.
Para que o orçamento seja desenvolvido, ele deverá seguir algumas regras básicas, isto é, alguns princípios oriundos da doutrina de direito.
Assim, os princípios orçamentários visam estabelecer regras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para todos os poderes e para todos os entes federativos - união, estados, distrito federal e municípios -, são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais e infraconstitucionais quanto pela doutrina.
Anualidade:
O orçamento deve compreender o período de um exercício financeiro, que no Brasil corresponde ao ano fiscal. A anualidade está prevista art. 2 da Lei 4.320/64; inciso II do art. 48; art. 165, parágrafo 5°, inciso III, da CF. Exceção: Autorização para a abertura de créditos orçamentários especiais e extraordinários com vigência
em mais de um exercício financeiro se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso, em que, reabertos nos limites
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente (art. 167, § 2º CF/88).
Unidade:
Cada esfera de governo deve possuir apenas um orçamento, que contemple toda a política orçamentária. Deste modo, cada esfera de poder deverá elaborar sua lei que irá reger o orçamento público. O princípio da unidade está previsto no art. 165 da CF e art. 2º da Lei 4.320/64;
Universalidade:
A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nada pode ficar de fora do orçamento. Este princípio está expresso no art. 165 da CF; artigos 2º e 4º da Lei 4.320/64. Exceções: A Lei
4.320/64, art. 3º, parágrafo único, estabelece: ―Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros‖. E, as receitas e despesas
operacionais de empresas públicas e sociedades de economia mista consideradas estatais não dependentes.
Exclusividade:
Veda que a lei orçamentária contenha dispositivo estranho à fixação de despesas e a previsão de receitas. Está previsto no parágrafo 8° do art. 165 da CF/88.
Exceções: Autorização para o poder executivo
abrir crédito adicional suplementar e autorização para contratar operações de crédito, ainda que por antecipação da receita.
8 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Legalidade:
A começar pela obediência do artigo 37 da CF/88, todo o ciclo orçamentário é regido por leis autorizativas de gastos, instituição de créditos suplementares e especiais e a própria execução do orçamento que deve observar os preceitos das leis do PPA e LOA, LRF e 8.666 (lei das licitações). Exceção: Abertura de créditos extraordinários
para atender despesas imprevisíveis e urgentes (Art. 167, §3º CF/88).
Publicidade:
É obrigação de dar publicidade ao orçamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal define prazos para publicação de relatório bimestral resumido da execução orçamentária e de relatório quadrimestral de gestão fiscal (art. 37, CF).
Especificação:
Tem por finalidade a vedação de dotações globais. Ou seja, determina a discriminação da despesa. Este princípio está previsto no art. 5° e 15° da Lei 4320/64;
Exceções: “Os programas especiais de trabalho
que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente a normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais,
classificadas entre as Despesas de Capital (art. 20 da Lei 4.320/64) e a Reserva de Contingência, que é uma
dotação global para atender passivos contingentes e outras despesas imprevistas.
Orçamento Bruto:
Algumas vezes considerado pelos doutrinadores como sinônimo do principio da Universalidade, na verdade, é distinto deste, conforme apregoa o artigo 6º da lei 4.320/64, todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, ou seja, por seus valores integrais. Cuidado
para não confundir os dois conceitos. É o que a banca tentará fazer.
Não-afetação de receitas:
Proíbe a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas às exceções
previstas na Constituição, que são:
Todos os fundos constitucionais: FPE, FPM, Centro Oeste, Norte, Nordeste, Compensação pela exportação de produtos industrializados e outros;
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 9
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e da Valorização do Magistério (FUNDEB);
Ações e serviços públicos de saúde;
Garantias às operações de crédito por antecipação da receita (ARO);
Atividades da Administração Tributária;
Vinculação de impostos estaduais e municipais para prestação de garantia ou contragarantia à União.
Unidade de Caixa ou de Tesouraria:
Tem previsão na lei 4.320/64 no art. 56: O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. Exceções: Os Fundos Especiais que possuem,
dada a sua natureza, gestão descentralizada, como o FUNDEF, FMDA, FUNDET e demais.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (TCE-AC/2008 – Analista Controle Externo – CESPE)
- Os princípios orçamentários são premissas e linhas norteadoras de ação a serem observadas na elaboração do orçamento público. A Lei n.º 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal (DF), determina a obediência aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos princípios orçamentários.
a) O princípio da unidade permite que o Poder Legislativo conheça, a priori, todas as receitas e despesas do governo e, assim, possa dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização.
b) Em consonância com os princípios da unidade e da universalidade, a Constituição Federal determina a inclusão, na Lei Orçamentária Anual (LOA), de três orçamentos: orçamento fiscal; orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto; e orçamento da seguridade social.
c) O princípio da anualidade foi reforçado pela Constituição Federal, que proíbe a incorporação dos créditos especiais e extraordinários ao orçamento do exercício financeiro subsequente.
d) Pelo princípio da anualidade, a LOA deve dispor das alterações na legislação tributária, que influenciarão as estimativas de arrecadação.
02. (CESPE - 2010 - DPU - Analista Administrativo) -
Acerca dos princípios orçamentários, julgue os itens.
22. O princípio do orçamento bruto determina que o orçamento deva abranger todo o universo das receitas a serem arrecadadas e das despesas a serem executadas pelo Estado.
23. O princípio da legalidade, um dos primeiros a serem incorporados e aceitos nas finanças públicas, dispõe que o orçamento será, necessariamente, objeto de uma lei, resultante de um processo legislativo completo, isto é, um projeto preparado e submetido, pelo Poder Executivo, ao Poder Legislativo, para apreciação e posterior devolução ao Poder Executivo, para sanção e publicação.
24. O princípio da anualidade ou da periodicidade estabelece que o orçamento obedeça a determinada periodicidade, geralmente um ano, já que esta é a medida normal das previsões humanas, para que a interferência e o controle do Poder Legislativo possam ser efetivados em prazos razoáveis, que permitam a correção de eventuais desvios ou irregularidades verificados na sua execução. No Brasil, a periodicidade varia de um a dois anos, dependendo do ente federativo.
25. O princípio da totalidade, explícito de forma literal na legislação brasileira, determina que todas as receitas e despesas devem integrar um único documento legal. Mesmo sendo os orçamentos executados em peças separadas, as informações acerca de cada uma dessas peças são devidamente consolidadas e compatibilizadas em diversos quadros demonstrativos.
26. O princípio da especificação determina que, como qualquer ato legal ou regulamentar, as decisões sobre orçamento só têm validade após a sua publicação em órgão da imprensa oficial. Além disso, exige que as
10 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
informações acerca da discussão, elaboração e execução dos orçamentos tenham a mais ampla publicidade, de forma a garantir a transparência na preparação e execução do orçamento, em nome da racionalidade e da eficiência.
03. (PC-BA / Escrivão de Polícia Civil -MOVENS/2009)
Quanto aos princípios orçamentários, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I – O princípio do equilíbrio estabelece que cada ente federativo deve possuir apenas um orçamento.
II – O princípio da universalidade estabelece que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado, e tem como objetivo possibilitar ao Poder Legislativo conhecer e autorizar, previamente, todas essas receitas e despesas.
III – O princípio da anualidade estabelece que o orçamento público deve ser elaborado e autorizado por determinado período; no Brasil, esse período é de um ano.
IV – O princípio da unidade é um princípio clássico na área de Finanças, segundo o qual as despesas não podem exceder as receitas. A seqüência correta é:
a) V, V, F, F.
b) V, F, F, V.
c) F, F, V, V.
d) F, V, V, F.
Gabarito: 01/B; 02/CEEEE; 03/D
ASPECTOS LEGAIS / INSTRUMENTOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO
A Constituição Federal de 1988 delineou o modelo atual de ciclo orçamentário.
O ciclo orçamentário, que é o planejamento
estratégico e operacional, de médio e de curto prazo dos orçamentos, incluindo planos, programas e projetos, é previsto no art.165 da Constituição Federal de 1988, e é
de reprodução obrigatória por todos os entes da federação:
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
O parágrafo 4º do mesmo artigo ainda prevê um quarto instrumento de planejamento: “Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional”.
Esta programação orçamentária é de extrema importância como instrumento não só de planejamento das ações governamentais para o estabelecimento das políticas públicas, como também ferramenta imprescindível ao cidadão para fiscalização das contas públicas, uma vez que a própria Constituição assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal tornam obrigatória sua divulgação de forma acessível e transparente.
É interessante observar que ao contrário do Plano Plurianual e do orçamento anual, que já tinham previsão legal em outros ordenamentos jurídicos anteriores, a Lei de Diretrizes Orçamentária é inovação
constitucional e, conforme veremos adiante, é instrumento de integração entre os dois demais dispositivos legais.
1) PLANO PLURIANUAL (PPA)
Lei que estabelece o planejamento das ações do governo por região e por um período de quatro anos. O PPA em vigor foi instituído para o período de 2016 a 2019, por meio da Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016.
O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento do Governo Federal que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Retrata, em visão macro, as intenções do gestor público para um período de quatro anos, podendo ser revisado, durante sua vigência, por meio de inclusão, exclusão ou alteração de programas.
Segundo o art. 165 da CF/1988:
§ 1º - “A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.
O PPA deve ser elaborado de forma regionalizada. Um grande desafio do planejamento é promover, de maneira integrada, oportunidades de investimentos que sejam definidas a partir das realidades regionais e locais, levando a um desenvolvimento mais equilibrado entre as diversas regiões do País. O desenvolvimento do Brasil tem sido territorialmente desigual. As diversas regiões brasileiras não possuem as mesmas condições para fazer frente às transformações socioeconômicas em curso, especialmente aquelas associadas ao processo de inserção do País na economia mundial. Tais mudanças são estruturais e demandam um amplo horizonte de tempo e perseverança para se concretizarem, motivo pelo qual devem ser tratadas na perspectiva do planejamento de longo prazo. O papel do Plano Plurianual nesse contexto é o de implementar o necessário elo entre o planejamento de longo prazo e os orçamentos anuais. O planejamento de longo prazo encontra, assim, nos sucessivos planos plurianuais (médio prazo), as condições para sua materialização. Com isso, o planejamento constitui-se em instrumento de coordenação e busca de sinergias entre as ações do Governo Federal e os demais entes federados e entre a esfera pública e a iniciativa privada.
Diretriz é, em essência, a visão de médio prazo
da administração pública, sob uma ótica macro, expandida. Por exemplo, promover o aumento do bem estar social.
Objetivos são traçados mais especificamente,
com prazos e resultados a serem alcançados, como por exemplo, reduzir os indicadores de pobreza, aumentar a expectativa de vida.
Metas são as ações a serem realizadas para que
sejam alcançados os objetivos e, por fim, as diretrizes. Por exemplo, aumentar a abrangência do programa Bolsa Família na área X, promover o saneamento básico no município Y.
O PPA é um planejamento estratégico de médio ou de longo prazo, a depender do entendimento doutrinário, com duração de quatro anos. No primeiro
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 11
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
ano de mandato, o chefe do executivo, enquanto elabora o seu próprio projeto do PPA, executa o planejamento deixado por seu antecessor, de forma que, o mandato e o PPA, apesar de terem duração igual de quatro anos, não são coincidentes.
O PPA deve ser elaborado pelo poder executivo de cada esfera e encaminhado ao poder legislativo até 31 de agosto ou, conforme a Constituição, até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro
do mandato do novo chefe do executivo e devolvido para sanção ou veto até o encerramento da sessão legislativa, conforme orientações estabelecidas no artigo 35 § 2º inciso I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, da CF/1988. Na esfera federal, este prazo é até o dia 22 de dezembro, conforme descrito no art. 57 da Carta Magna, alterado em 2006 pela Emenda Constitucional 50.
É neste planejamento que o governante deve apresentar seus projetos a serem realizados nos próximos quatro anos, de forma regionalizada, assim como as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital (escolas, hospitais, estradas) e outras delas decorrentes (manutenção, salários) e para os programas de duração continuada (que levarão mais de um exercício financeiro
para serem executados). O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é o exemplo mais pungente da atual administração pública federal.
A partir do que for definido no PPA, seu projetos e programas de trabalho serão contemplados na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Ver Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 - Institui o
Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13249.htm
2) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
Define as metas e as prioridades da administração pública, orientando a elaboração da LOA. A LDO 2016 foi instituída pela Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é dispositivo orçamentário previsto originalmente no texto constitucional de 1988 e de todos os instrumentos de planejamento é o que possui o maior número de comandos ordenatórios:
Art. 65. ..
§ 2º - “A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”.
A LDO é anual no sentido de que a cada ano teremos uma LDO (LDO-2016, LDO-2017, LDO-2018 etc). Todavia, a vigência (duração) da LDO extrapola o exercício financeiro, uma vez que ela é aprovada até o encerramento do primeiro período legislativo e orienta a elaboração da LOA no segundo semestre, bem como estabelece regras orçamentárias a serem executadas ao longo do exercício financeiro subsequente. Por
exemplo, a LDO elaborada em 2016 terá vigência já em 2016 para que oriente a elaboração da LOA e também durante todo o ano de 2017, quando ocorrerá a execução orçamentária.
No art. 169, em seu parágrafo 1º também determina, entre outros incisos que, ―A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas (II) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista‖.
Na prática a LDO é um instrumento de ligação
entre o PPA e a LOA, que transformará em realidade através da execução do orçamento o que está previsto no plano do governo.
Conforme prevê o ADTC em seu parágrafo 2º inciso II, ―o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até (15/04) oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para
sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa‖. E que, de acordo com o art. 57 § 2º da CF/88, não poderá ser interrompida sem a aprovação do referido projeto.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dedicou todo seu art. 4º ao tratamento da LDO, incorporando uma série de inovações legais para sua elaboração e determinando assuntos que por ela deverão ser obrigatoriamente tratados, além da confecção de dois anexos. Apesar da LRF não ser cobrada diretamente no edital, não é possível fazer um estudo adequado da LDO sem a leitura do referido artigo, que nos dá um panorama geral da complexidade e da relevância que este dispositivo legal passou a ter na elaboração dos orçamentos e também dos inúmeros mecanismos fiscalizatórios postos à disposição da sociedade a fim de dá-lhe cumprimento.
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9
o e no inciso II do § 1
o
do art. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
II - (VETADO)
12 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
III - (VETADO)
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
§ 2o O Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá
Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da
União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente‖.
3) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)
A Lei Orçamentária Anual é apontada pela doutrina como o planejamento operacional da
administração pública elaborada para dar cumprimento ao planejamento estratégico (PPA), de forma compatível com este e também com a LDO e a LRF. Em essência, é o confronto das receitas previstas com as despesas fixadas para o exercício seguinte.
A finalidade da LOA é a concretização dos
objetivos e metas estabelecidos no PPA. É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA, em consonância com o que foi estabelecido na LDO. Portanto, orientada pelas diretrizes, objetivos e metas do PPA, compreende as ações a serem executadas, seguindo as metas e prioridades estabelecidas na LDO.
A LOA terá vigência de um ano e, via de regra, corresponde ao ano civil e contemplará o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos nas empresas estatais em que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social e o orçamento da seguridade social, conforme podemos
observar no mesmo dispositivo constitucional:
CF: Art. 165:
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional.
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
Conforme pode-se observar, a Constituição Federal foi bastante exaustiva ao contemplar a LOA, estabelecendo uma série de regras e princípios, em parte, em função de se tentar evitar a recorrência de erros do passado orçamentário conturbado, então recente, quando da elaboração do texto constitucional.
Apesar de todo o zelo do constituinte originário, os legisladores ao elaborarem a LRF, entenderam por bem acrescentar ainda mais dispositivos orientadores da elaboração da LOA, sendo os mais importantes o relatório de compatibilização do orçamento com o PPA, a previsão de reserva de contingências e demonstrativo das despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e das receitas que as
atenderão. Uma série de impositivos mais específicos pode ser observada da leitura direta do artigo 5º da LRF:
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual,
elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1
o do art. 4
o;
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6
o do art. 165 da Constituição, bem
como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 13
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida
pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública
constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da
dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1
o do art. 167 da
Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil,
apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.
§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.
§ 2o O impacto e o custo fiscal das operações
realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.
§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central
do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.
DECRETO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
O mecanismo utilizado para limitação dos gastos do Governo Federal é a publicação do decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e o cronograma mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000). Durante o exercício, as portarias interministeriais detalham os valores autorizados para movimentação e empenho e para pagamentos após as alterações nos limites estabelecidos no ―contingenciamento‖. O decreto dispõe sobre os seguintes temas específicos constantes na execução orçamentária:
• programação e execução orçamentária;
• execução financeira;
• operações de crédito;
• competência para alterações de limites;
• despesas com pessoal;
• vedações, esclarecimentos e informações; e
• metas fiscais.
14 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Objetivos do Decreto
• estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício;
• estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação dos recursos financeiros (pagamentos) para o Governo Federal;
• cumprir a legislação orçamentária (Lei nº 4.320/64 e LC nº 101/2000 – LRF); e
• assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (FAPESE / UFS - Assistente em Administração/2018)
O PPA- Plano Plurianual constitui-se no principal instrumento de Planejamento das ações do gestor público. O que deve conter este Plano?
a) Todos os montantes a serem arrecadados e gastos.
b) Todas as diretrizes para que a Administração Pública cumpra as metas e objetivos planejados.
c) Unicamente os valores que serão arrecadados no ano seguinte.
d) Todas as propostas estudadas no ano imediatamente anterior e suas emendas.
e) Todas as ações planejadas pelo governo, indicando recursos humanos usados, equipamentos e custo dos mesmos.
02. (PC-MG - Analista da Polícia Civil - FUMARC/2013) A
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF atribuiu novas e importantes funções à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Acerca do tema, NÃO é correto o que se indica em:
a) Estabelecimento de metas fiscais.
b) Estabelecimento de ações de médio prazo, coincidindo com a duração de um mandato do Chefe do Executivo.
c) Fixação de critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira.
d) Publicação da avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores civis e militares.
03. (PC-MG - Analista da Polícia Civil - FUMARC/2013)
Acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, NÃO é correto afirmar que
a) compreende a programação das ações a serem executadas e norteia apenas a elaboração do orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas.
b) estabelece os parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a realização das metas e objetivos contemplados no PPA - Plano Plurianual.
c) compreende as metas e prioridades da administração pública e dispõe sobre as normas relativas ao controle
de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.
d) tem como parte integrante as metas fiscais que estabelecem as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativos a receitas e despesas para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Gabarito: 01/B; 02/B; 03/A
PROCESSO ORÇAMENTÁRIO.
Processo orçamentário e ciclo orçamentário
explicam o mesmo assunto, para tanto não há distinção entre o uso de um termo e outro.
Basicamente ciclo orçamentário abrange: (1) elaboração, (2) discussão, votação e aprovação, (3) execução orçamentária e (4) controle e avaliação da execução orçamentária.
Para a lei orçamentária anual, sua elaboração é realizada pelos poderes, órgãos, fundações, autarquias e empresas estatais dependentes e posteriormente é consolidada pelo Executivo. O Poder Legislativo recebe a proposta de orçamento encaminhada pelo Executivo, discute, emenda e vota, cabendo ao Executivo a sanção. Após aprovada inicia a execução orçamentária pela administração pública com a realização de gastos assim como arrecadação de receitas pelos órgãos que cabem realizar arrecadação. E por fim, controle e avaliação, podendo ocorrer simultaneamente com a execução orçamentária e posteriormente ao encerramento do exercício financeiro com julgamento da prestação de contas do Presidente da República.
Ciclo orçamentário ampliado
Ciclo orçamentário ampliado é apresentado por Sanches (2006) e inclui PPA, LDO e LOA no ciclo com 8 fases, que são:
“formação do planejamento plurianual, pelo Executivo;
apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo;
proposição de metas e prioridade para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo;
apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo;
elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo;
apreciação, adequação e autorização legislativa;
execução dos orçamentos aprovados;
avaliação da execução e julgamento das contas.‖ (Sanches, 2006, p. 192)
A representação visual do ciclo orçamentário ampliado é a seguinte:
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 15
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Ciclo orçamentário ampliado
E para facilitar a compreensão do ciclo orçamentário ampliado, outro quadro foi montado com simplificação das fases.
Ciclo orçamentário
Esta representação dá a ideia do processo que se inicia com a elaboração do PPA, seguindo para a discussão, votação e aprovação do PPA. Da mesma forma há as fases de elaboração da LDO e LOA, assim como as fases de discussão, votação e aprovação da LDO e LOA, respectivamente.
Por outro lado, não há uma fase de execução para o PPA, outra para LDO e outra para LOA, assim como não há fase de controle e avaliação para o PPA, para LDO e outra para a LOA. Há sim uma fase de execução orçamentária que será de acordo com o plano plurianual, com a LDO e com a previsão de receitas e alocação de recursos da LOA. A execução orçamentária tem periodicidade definida pelo princípio da anualidade, indo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
A execução orçamentária é resultado do planejamento feito no PPA, da orientação, priorização de
gastos e metas fiscais da LDO e da previsão de ingressos e alocação de recursos nas ações orçamentárias na LOA. A execução ocorre para cada ano a partir das 3 leis, cabendo ressaltar que o PPA, por viger por 4 anos, tem parte de sua programação destacado para execução a cada ano pela LDO. Assim, ressaltando a ressalva do PPA, a execução orçamentária é resultado das priorizações para cada ano das 3 leis (PPA, LDO e LOA).
A fase de controle e avaliação da execução orçamentária pode ocorrer concomitantemente com a execução orçamentária, como também após o encerramento do ano com o julgamento das contas. Nesta fase de controle e avaliação da execução orçamentária, o tribunal de contas possui prazo de 60 dias, após recebimento da prestação de contas, para emitir parecer prévio.
Agora voltando para elaboração, o quadro mostra que no ciclo orçamentário há uma fase para elaboração
16 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
do PPA, uma de elaboração da LDO e outra de elaboração da LOA.
Utilizando do MTO de 2019 (Manual Técnico do Orçamento), a elaboração da proposta orçamentária se desdobra nas seguintes etapas:
Planejamento do processo de elaboração;
Definição de macrodiretrizes;
Revisão da estrutura programática;
Elaboração da pré-proposta;
Avaliação das Necessidades de Financiamento do Governo Central (NFGC) para a proposta orçamentária;
Estudo, definição e divulgação de limites para a proposta setorial;
Captação da proposta setorial;
Análise e ajuste da proposta setorial;
Fechamento, compatibilização e consolidação da proposta orçamentária;
Elaboração e formalização da mensagem presidencial e do projeto de lei orçamentária;
Elaboração e formalização das informações complementares ao PLOA (MTO de 2019).
FIQUE LIGADO: Este detalhamento é para a elaboração do projeto de LOA.
A elaboração da proposta orçamentária da União é feita no sistema de informação SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal).
O órgão, quando apresenta a proposta setorial no SIOP, identificado pela etapa de captação da proposta setorial, já foi realizado o processo de planejamento da elaboração, a revisão da estrutura programática, avaliação das NFGC e os limites para proposta orçamentária de cada órgão já foram distribuídos.
A fase seguinte é discussão, votação e aprovação, nela dá se destaque para a LOA.
A discussão, votação e aprovação da LOA é influenciada em proporção significativa pela LDO, que tem papel de orientar a elaboração da LOA. O projeto de LOA é encaminhado ao Congresso Nacional com mensagem do Presidente da República. No Congresso Nacional há relator geral do orçamento e relatores setoriais. É nesta fase de discussão e votação que os parlamentares apresentam emendas de despesa. Os parlamentares com as emendas de despesa buscam destinar recursos da União para finalidades que julgam meritórias.
Os pareceres setoriais são consolidados pelo relator geral do orçamento. Concluída a apreciação pela CMO, o plenário do Congresso Nacional realiza discussão e votação. Finalizada a votação da proposta orçamentária, o Congresso envia o autógrafo ao Poder Executivo para sanção.
As fases de (1) elaboração e (2) discussão, votação e aprovação do orçamento precisam, por lógica temporal, terminar antes do início do exercício financeiro (ano civil) para o qual o orçamento diz respeito. Em outras palavras, o orçamento de 2019 para ser executado precisa ter sido elaborado e aprovado em 2018.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (ANTT – Técnico administrativo – CESPE/2013) No
Brasil, o ciclo orçamentário se divide em duas etapas: a elaboração/planejamento da proposta orçamentária e a execução orçamentária/financeira.
02 (DEPEN – Agente penitenciário federal –
CESPE/2015) O ciclo orçamentário inicia-se com a formulação do planejamento plurianual pelo Poder Executivo e encerra-se com a avaliação da execução e do julgamento das contas.
03. (DEPEN – Agente penitenciário federal –
CESPE/2015) As fases do ciclo orçamentário podem ser aglutinadas de acordo com suas finalidades e periodicidades.
04. (DEPEN – Agente penitenciário federal –
CESPE/2015) Compete ao Poder Legislativo propor, no ciclo orçamentário, as metas e as prioridades para a administração pública.
05. (2014 – CESPE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO – AGENTE ADMINISTRATIVO) No momento da promulgação da lei orçamentária anual, encerra-se a participação do Congresso Nacional no ciclo orçamentário.
05. (TRE-GO – Analista judiciário – área: administrativa –
CESPE/2015) Caso o processo orçamentário de determinado ente público se encontre na fase de definição dos limites para as propostas setoriais, a fase de revisão da estrutura programática já terá sido executada.
07. (STF - Analista judiciário – área: administrativa –
CESPE/2013) Nos termos da CF, o ciclo orçamentário desdobra-se em oito fases, cada uma com ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida.
08. (TRE-MT – Analista judiciário – área: administrativa –
CESPE/2015) Cada uma das opções seguintes apresenta algumas das fases do ciclo orçamentário ampliado previsto na CF em vigor. Assinale a opção em que as fases apresentadas, embora não estejam em ordem de sucessão imediata, estejam em ordem lógica progressiva de acontecimento no referido ciclo. Nesse sentido, considere que as siglas PPA e LDO, sempre que utilizadas, se referem ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias.
A) proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Poder Executivo; elaboração da proposta de orçamento pelo Poder Executivo; execução dos orçamentos aprovados.
B) formulação do PPA pelo Poder Executivo; apreciação, adequação e autorização legislativa para a formulação da LDO; proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Poder Executivo.
C) elaboração da proposta de orçamento pelo Poder Executivo; apreciação e adequação do planejamento plurianual pelo Poder Legislativo; execução dos orçamentos aprovados.
D) formulação do PPA pelo Poder Executivo; avaliação da execução e julgamento das contas; apreciação e adequação da LDO pelo Poder Legislativo.
E) elaboração da proposta de orçamento pelo Poder Executivo; apreciação, adequação e autorização legislativa; proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Poder Executivo.
Gabarito: 1 – E; 2 – C; 3 – E; 4 – E; 5 – E; 6 – C; 7 – C; 8
– A
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 17
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
RECEITA PÚBLICA: CATEGORIAS, FONTES, ESTÁGIOS; DÍVIDA ATIVA.
1. INTRODUÇÃO
O orçamento é instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado período.
A matéria pertinente à receita é disciplinada, em linhas gerais, pelos arts. 2º, 3º. 6º, 9º, 11, 35, 56 e 57 da Lei nº 4.320, de 1964.
Receita Pública, em sentido amplo, compreende
todos os ingressos financeiros ao patrimônio público. Portanto, abrange o fluxo de recebimentos auferidos pelo Estado.
Em sentido estrito, a Receita Pública equivale a todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos
pelo Poder Público, compreendendo qualquer ente da Federação ou suas entidades, para atender as despesas públicas. Nesse conceito, equivale à Receita Pública Orçamentária.
Essa distinção é importante pelo fato de que alguns ingressos financeiros no caixa do Poder Público têm um caráter transitório, extemporâneo, não podendo
ser utilizadas pelo Estado na sua programação normal de despesas. Exemplos são cauções, depósitos, etc... Equivalem esses ingressos à chamada Receita Pública Extra-orçamentária.
1.1 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Recursos financeiros que apresentam caráter temporário e não integram a LOA. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Exemplos: Depósitos em Caução, Fianças, Operações de Crédito por ARO
1, emissão de
moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros.
1.2 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a receita orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é
1 Operações de crédito, via de regra, classificam-se como receita
orçamentária. Aqui se fala sobre uma exceção à regra dessas
operações, intitulada ARO. Classificam-se como receita
extraorçamentária, conforme o art. 3o da Lei no 4.320, de
1964, por não representarem novas receitas ao orçamento. A
matéria pertinente à ARO é disciplinada, em linhas gerais,
pelo art. 38 da Lei no 101, de 2000 - LRF; pelo parágrafo
único do art. 3o da Lei nº 4.320, de 1964, e pelos arts. 165,
§8o, e 167, X, da CF.
atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.
Essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do Poder Público, aumentam- lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA.
Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhes retiram o caráter orçamentário, haja vista o art. 57 da Lei n. 4.320, de 1964, classificar como receita orçamentária toda receita arrecadada que represente ingresso financeiro orçamentário, inclusive a proveniente de operações de crédito.
2. CLASSIFICAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
QUANTO À ORIGREM (OU COERCITIVIDADE): ORIGINÁRIAS OU DERIVADAS.
a) Receitas Originárias (Patrimoniais, de Economia Privada, de Direito Privado)
São aquelas provenientes da exploração do patrimônio da pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Estado coloca parte do seu patrimônio a disposição de pessoas físicas ou jurídicas, que poderão se beneficiar de bens ou de serviços, mediante pagamento de um preço estipulado.
Elas independem de autorização legal e podem ocorrer a qualquer momento, e são oriundas da exploração do patrimônio mobiliário ou imobiliário, ou do exercício de atividade econômica, industrial, comercial ou de serviços, pelo Estado ou suas entidades. Exemplos:
Rendas provenientes da venda de bens e de empresas comerciais ou industriais;
Rendas obtidas sobre os bens sujeitos à sua propriedade (aluguéis, dividendos, aplicações financeiras);
Rendas do exercício de atividades econômicas, ou seja, industriais, comerciais ou de serviços.
b) Receitas Derivadas (Não-patrimoniais, de Economia Pública, de Direito Público)
São aquelas cobradas pelo Estado, por força do seu poder de império, sobre as relações econômicas praticadas pelos particulares, pessoas físicas ou jurídicas, ou sobre seus bens.
Na atualidade, constitui-se na instituição de tributos, que serão exigidos da população, para financiar os gastos da administração pública em geral, ou para o custeio de serviços públicos específicos prestados ou colocados a disposição da comunidade.
São exemplos mais significativos das receitas derivadas os tributos que se encontram estabelecidos na Constituição Federal nos termos do art. 145:
Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas"
18 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Quanto ao poder de tributar, seus limites são estabelecidos na Norma Constitucional nos seguintes termos:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros:
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de créditos, câmbio e seguro, ou relativas a titulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar;
§ 10. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, lI, IV e V.
Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição;
II - na iminência ou no caso de guerra externa impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veiculos automotores;
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, lI, definidos em lei complementar;
CLASSIFICAÇÕES: QUANTO À NATUREZA, FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS E INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO
(Conforme MCASP 7ª edição/2017)2
A classificação a seguir foi compilado do blog do Professor Deusvaldo Carvalho.
É importante frisar que a classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os
2 Fonte: https://blog.pontodosconcursos.com.br/novas-
classificacoes-da-receita-no-mcas-7a-edicao/
entes da Federação, sendo facultado apenas seu desdobramento para atendimento das peculiaridades dos Entes. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:
1. Natureza;
2. Fonte/Destinação de Recursos; e
3. Indicador de Resultado Primário.
1. Natureza –
Visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador, ou seja, acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos.
E ainda, a natureza de receita é a menor célula de informação no contexto orçamentário para as receitas públicas; por isso, contém todas as informações necessárias para as devidas alocações orçamentárias.
2. Fonte/Destinação de Recursos –
A classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos
públicos.
IMPORTANTE!
Classificação da receita por fonte/destinação de recursos – objetivo: identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.
Por meio do orçamento público, essas fontes/destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.
Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.
3. Indicador de Resultado Primário –
De pronto, é importante saber o que significa resultado primário.
Refere ao somatório das receitas primárias, deduzidas as receitas financeiras, ou seja, receitas primárias (-) receitas financeiras. Do total das receitas primárias deduzem-se as despesas primárias, que são
basicamente as despesas correntes.
Exemplo:
Receitas correntes———–100 milhões
(- ) Receitas financeiras——(10 milhões)
= Total das receitas primárias—–90 milhões
(-) Total das despesas primárias——(70 milhões)
= Resultado primário—-----—————20 milhões.
Exemplo de receitas financeiras: emissão de
títulos, contratação de operações de crédito por organismos oficiais, receitas de aplicações financeiras da União (juros recebidos), privatizações, amortização de empréstimos concedidos e outras.
IMPORTANTE!
Essa classificação orçamentária da receita não tem caráter obrigatório para todos os entes e foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do Governo
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 19
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Federal, que é representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias.
ATENÇÃO!
Indicador de resultado primário – não tem caráter obrigatório para todos os entes
federados.
Receitas primárias são, em regra, as receitas
correntes (exceto os juros, transferência de capital e de alienação de bens). Exemplo: tributos, contribuições
sociais e econômicas, concessões, dividendos, serviços, etc.
Detalhamento da natureza da receita
O detalhamento das classificações orçamentárias da receita, no âmbito da União, é normatizado por meio de portaria da Secretaria de Orçamento Federal – SOF, órgão do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão – MPDG.
A estrutura da nova codificação cria possibilidade de associar, de forma imediata, a receita principal com aquelas dela originadas. Exemplo: multas e juros, dívida
ativa, multas e juros da dívida ativa.
A associação é efetuada por meio de um código numérico de 8 dígitos, cujas posições ordinais passam a
ter o seguinte significado:
C O E DDDD T
Categoria Econômica
Origem Espécie
Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita Tipo
Tipo
C – CATEGORIA ECONÔMICA DAS RECEITAS
Conforme as normas legais, a receita pública orçamentária está estruturada em duas categorias econômicas e classificada nos demonstrativos contábeis
conforme segue:
CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA
1. Receitas correntes
7. Receitas correntes intraorçamentárias
2. Receitas de capital
8. Receitas de capital intraorçamentárias
IMPORTANTE!
Receitas de operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo.
Exemplo: receitas recebidas pela Imprensa
Nacional, paga pela Polícia Federal, para fins de publicação de edital de pregão eletrônico (procedimento licitatório).
ATENÇÃO!
As receitas intraorçamentárias não constituem novas categorias econômicas, mas apenas especificações das Categorias Econômicas ―Receita Corrente‖ e ―Receita de Capital‖.
RECEITAS CORRENTES: classificam-se nessa
categoria aquelas receitas arrecadadas dentro do
exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas.
Rol das receitas correntes: Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria, de contribuições, da exploração de seu patrimônio – patrimonial, da exploração de atividades econômicas – agropecuária, industrial e de serviços; as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes – transferências correntes; e as demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores – outras receitas correntes.
RECEITAS DE CAPITAL: são aquelas
arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas.
Porém, de forma diversa das receitas correntes, as receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido,
Rol das receitas de capital: provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão, em espécie, de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente.
As receitas de capital são representadas por mutações patrimoniais, em regra nada acrescentam ao patrimônio público, só ocorrendo uma troca de elementos patrimoniais, isto é, aumento nas disponibilidades financeiras e baixa no subsistema patrimonial (saída do patrimônio em troca de recursos financeiros).
O – ORIGEM DA RECEITA
A Origem é o detalhamento das categorias
econômicas ―Receitas Correntes‖ e ―Receitas de Capital‖, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos.
Exemplo:
Origem da receita
1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
2 Contribuições
3 Receita Patrimonial
4 Receita Agropecuária
5 Receita Industrial
6 Receita de Serviços
7 Transferências Correntes
9 Outras Receitas Correntes
1 Operações de Crédito
2 Alienação de Bens
3 Amortização de Empréstimos
4 Transferências de Capital
9 Outras Receitas de Capital
RESUMINDO – CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM:
CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA
1. Receitas correntes
7. Receitas correntes
2. Receitas de capital
8. Receitas de capital
20 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
intraorçamentárias intraorçamentárias
ORIGEM DA RECEITA
1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
2 Contribuições
3 Receita Patrimonial
4 Receita Agropecuária
5 Receita Industrial
6 Receita de Serviços
7 Transferências Correntes
9 Outras Receitas Correntes
1 Operações de Crédito
2 Alienação de Bens
3 Amortização de Empréstimos
4 Transferências de Capital
9 Outras Receitas de Capital
ATENÇÃO!
O quadro acima demonstra a classificação atualizada da receita conforme o MCASP/2016 e o Manual Nacional da Receita/2008.
Exemplificação da codificação acima:
Suponha-se uma estrutura de receita com a seguinte codificação: 1.1.1.3.01.1.1 (imposto de renda pessoa física – IRPF).
C 1 Receita corrente Categoria econômica
O 1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Origem
E 1 Receita de impostos
Espécie
DDDD 3011 Impostos sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Desdobramento para identificação das peculiaridades
T 1 Principal Tipo
IMPORTANTE!
A receita da dívida ativa é classificada na categoria econômica receitas correntes – outras receitas correntes.
Foi cobrado em concurso!
(ESAF – TFC) A Lei n° 4.320, de 17/03/1964, que estatui as
normas gerais do Direito Financeiro, classifica as receitas
públicas em receitas correntes e receitas de capital. Indique,
entre as opções abaixo, aquela que representa corretamente as
receitas de capital.
a) Receitas tributárias, receitas dos contribuintes, receitas patrimoniais, transferências de capital e outras receitas de capital.
b) Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.
c) Operações de crédito, alienação de bens, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias e receitas industriais.
d) Receitas tributárias, receitas de serviços, amortizações de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.
e) Operações de crédito, receitas tributárias, receitas patrimoniais, transferências de capital e outras receitas de capital.
Resolução
O Anexo I da portaria STN nº. 163/01 estabelece a
classificação das receitas da seguinte forma:
Receitas Correntes
1100.00.00 Receita Tributária
1110.00.00 Impostos
1120.00.00 Taxas
1130.00.00 Contribuição de Melhoria
1200.00.00 Receita de Contribuições
1210.00.00 Contribuições Sociais
1220.00.00 Contribuições Econômicas
1300.00.00 Receita Patrimonial
1400.00.00 Receita Agropecuária
1500.00.00 Receita Industrial
1600.00.00 Receita de Serviços
1700.00.00 Transferências Correntes
1900.00.00 Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
2100.00.00 Operações de Crédito
2200.00.00 Alienação de Bens
2300.00.00 Amortização de Empréstimos
2400.00.00 Transferências de Capital
2500.00.00 Outras Receitas de Capital
OBSERVAÇÃO: Verifique que as receitas de
contribuições são segregadas das receitas tributárias.
Observando o quadro acima (origem das receitas), pode-
se verificar que as receitas de capital são: operações de crédito,
alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências
de capital e outras receitas de capital. Letra B.
E – ESPÉCIE
É o nível de classificação vinculado à Origem que
permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas.
Exemplo: dentro da Origem Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria, identifica-se a ESPÉCIE ―IRPF‖, ―IRPJ‖, taxa de emissão de passaporte, etc.
RESUMO DAS ESPÉCIES DE RECEITAS:
Receita Corrente – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Tributo é uma das origens da Receita Corrente. Trata-se de receita derivada e Sujeitam-se aos princípios da reserva legal e da anterioridade da lei, salvo exceções.
Impostos
Os impostos são espécies tributárias cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, o qual não recebe contraprestação direta ou imediata pelo pagamento.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 21
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Taxas
As taxas são espécie de tributo e cobradas pelos Entes Federados no âmbito das respectivas atribuições. Tem como fato gerador, o exercício regular do poder de polícia administrativa, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.
Contribuição de Melhoria
É espécie de tributo e tem como fato gerador valorização imobiliária que decorra de obras públicas, contanto que haja nexo causal entre a melhoria havida e a realização da obra pública.
Receita Corrente – Contribuições
O art. 149 da CF/88 reza que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas.
Espécies:
Contribuições Sociais – atendem a duas
finalidades básicas: seguridade social (saúde, previdência e assistência social) e outros direitos sociais, a exemplo do salário educação.
A competência para instituição é da União, exceto das contribuições dos servidores estatutários dos estados, DF e municípios, que são instituídas pelos respectivos entes.
Contribuições Econômicas – Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). Exemplo: CID – combustíveis.
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional – instituída
para atender a determinadas categorias profissionais ou econômicas, vinculando sua arrecadação às entidades que as instituíram. Importante! Não transitam pelo
Orçamento da União.
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – Instituída pela EC nº 39/2002, com a finalidade
de custear o serviço de iluminação pública. A competência para instituição é dos municípios e do Distrito Federal.
Receita Corrente – Patrimonial
Receita proveniente do patrimônio de ente público. Exemplo: bens mobiliários e imobiliários ou,
ainda, bens intangíveis e participações societárias, concessões e permissões, cessão de direitos, dentre outras. Trata-se de receitas originárias.
Receita Corrente – Agropecuária
Trata-se de uma receita originária, o Estado atua como empresário, em pé de igualdade como o particular. Ex.: venda de produtos agrícolas.
Receita Corrente – Industrial
São provenientes das atividades industriais. Exemplo: produção e comercialização de petróleo e demais hidrocarbonetos, atividades de edição, impressão ou comercialização de publicações em meio físico, digital ou audiovisual, etc.
Receita Corrente – Serviços
São receitas decorrentes das atividades econômicas na prestação de serviços por parte do ente público, tais como: comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares.
Receita Corrente – Transferências Correntes
São receitas recebidas de outras pessoas de direito público ou privado, destinadas a atender despesas de manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade pública específica, mas que não correspondam a uma contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou a transferência.
Existem diversos tipos de transferências correntes.
Exemplo:
Transferências da União e de suas Entidades;
Transferências de Pessoas Físicas.
Receita Corrente – Outras Receitas Correntes
Constituem-se pelas receitas cujas características não permitam o enquadramento nas demais classificações da receita corrente, tais como indenizações, restituições, ressarcimentos, multas administrativas, contratuais e judiciais, previstas em legislações específicas, dívida ativa, entre outras.
Receita de Capital – Operações de Crédito
São receitas financeiras oriundas da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas.
Tipos:
Operações de Crédito Internas;
Operações de Crédito Externas.
Receita de Capital – Alienação de Bens
Receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público.
IMPORTANTE!
A LRF veda a aplicação da receita de capital decorrente da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público, para financiar despesas correntes, salvo as destinadas por lei aos regimes previdenciários geral e próprio dos servidores públicos.
Receita de Capital – Amortização de Empréstimos
São receitas financeiras provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos. Nesse caso o estado está recebendo o que
emprestou. Representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público.
Receita de Capital – Transferências de Capital
São receitas recebidas de outras pessoas de direito público ou privado e destinadas para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor.
Podem ocorrer em nível intragovernamental (no âmbito de um mesmo governo) ou intergovernamental
22 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(governos diferentes, da União para estados, do estado para os municípios), assim como recebidos de instituições privadas (do exterior e de pessoas).
Receita de Capital – Outras Receitas de Capital
São que não atendem às especificações anteriores. Enquadram-se nessa classificação, a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras.
ATENÇÃO PARA NÃO CONFUNDIR!
Distinção entre TAXA e TARIFA
A distinção entre taxa e preço público
(denominada de tarifa), esta está descrita na Súmula nº 545 do STF:
“Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que a instituiu”.
Assim, preço público (ou tarifa) decorre da utilização de serviços públicos facultativos (não compulsórios) que a administração pública, de forma direta ou por delegação para concessionária ou permissionária, coloca à disposição da população, que poderá escolher se os contrata ou não.
Portanto, as tarifas são provenientes de serviços prestados em decorrência de uma relação contratual regida pelo direito privado.
Já a taxa decorre de lei e serve para custear os
serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição do contribuinte diretamente pelo Estado.
O tema é regido pelas normas de direito público. Há casos em que não é simples estabelecer se um serviço é remunerado por taxa ou por preço público. Exemplo: fornecimento de energia elétrica. Em
localidades onde estes serviços forem colocados à disposição do usuário, pelo Estado, mas cuja utilização seja de uso obrigatório, compulsório (por exemplo, a lei não permite que se coloque um gerador de energia elétrica), a remuneração destes serviços é feita mediante taxa e sofrerá as limitações impostas pelos princípios gerais de tributação (legalidade, anterioridade, etc).
Por outro lado, se a lei permite o uso de gerador próprio para obtenção de energia elétrica, o serviço estatal oferecido pelo ente público, ou por seus delegados, não teria natureza obrigatória, seria facultativo e, portanto, seria remunerado mediante preço público.
DDDD – Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita
Na nova estrutura de codificação existem 4 dígitos para desdobramentos com o objetivo de identificar as particularidades de cada receita, caso seja necessário.
IMPORTANTE!
O desdobramento para identificação de peculiaridades da receita Não é obrigatório para todos os Entes da Federação.
Assim, esses dígitos podem ou não ser utilizados, observando-se a necessidade de especificação do recurso.
Exemplo: As receitas exclusivas de estados,
Distrito Federal e municípios, serão identificadas pelo
quarto dígito da codificação, que utilizará o número ―8‖ (Ex.: 1.9.0.8.xx.x.x – Outras Receitas Correntes Exclusivas de Estados e Municípios), respeitando a estrutura dos três dígitos iniciais. Assim, os demais dígitos (quinto, sexto e sétimo) serão utilizados para atendimento das peculiaridades e necessidades gerenciais dos entes.
Para fixar, vamos recordar! A associação é efetuada por meio de um código numérico de 8 dígitos,
cujas posições ordinais passam a ter o seguinte significado:
C O E DDDD T
Categoria Econômica
Origem Espécie
Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita Tipo
Tipo
Interpretando os dígitos acima (1.9.0.8.xx.x.x).
Dígito 1 – receita corrente;
Dígito 9 – outras receitas correntes;
Dígito 0 – Receita de impostos
Dígito 8 – receitas exclusivas de estados, Distrito Federal e municípios;
Os outros dígitos serão conforme a receita arrecadada pelos Entes (estados, DF e municípios).
T – Tipo
O tipo, correspondente ao último dígito na
natureza de receita, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo:
0 Quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora
1 Quando se tratar da arrecadação Principal da receita
2 Quando se tratar de multas e juros de mora da respectiva receita
3 Quando se tratar de dívida ativa da respectiva receita
4 Quando se tratar de multas e juros de mora da dívida ativa da respectiva receita
IMPORTANTE!
Todos os códigos que o primeiro dígito seja ―1‖, representa a categoria econômica receitas
correntes. No caso do dígito ―2‖, receitas de capital.
3. ETAPAS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando- se em consideração o modelo de orçamento existente no País. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a de recolhimento.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 23
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
OBSERVAÇÃO:
Exceção às Etapas da Receita
Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. Pode ocorrer arrecadação de receitas não previstas e também das que não foram lançadas, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelos entes públicos.
3.1 PREVISÃO
Efetuar a previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas que constará na proposta orçamentária. Isso deverá ser realizado em conformidade com as normas técnicas e legais correlatas e, em especial, com as disposições constantes na LRF. Sobre o assunto, vale citar o art. 12 da referida norma:
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
No âmbito federal, a metodologia de projeção de receitas busca assimilar o comportamento da arrecadação de determinada receita em exercícios anteriores, a fim de projetá-la para o período seguinte, com o auxílio de modelos estatísticos e matemáticos. O modelo dependerá do comportamento da série histórica de arrecadação e de informações fornecidas pelos órgãos orçamentários ou unidades arrecadadoras envolvidos no processo.
A previsão de receitas é a etapa que antecede a fixação do montante de despesas que irá constar nas leis de orçamento, além de ser base para se estimar as necessidades de financiamento do governo.
3.2 LANÇAMENTO
O art. 53 da Lei nº 4.320, de 1964, define o lançamento como ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Por sua vez, conforme o art. 142 do CTN, lançamento é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.
Observa-se que, segundo o disposto nos arts. 142 a 150 do CTN, a etapa de lançamento situa-se no contexto de constituição do crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria.
3.3 ARRECADAÇÃO
Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro Nacional pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente.
Vale destacar que, segundo o art. 35 da Lei n.
4.320, de 1964, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, o que representa a adoção do regime de caixa para o ingresso das receitas públicas.
3.4 RECOLHIMENTO
Consiste na transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional, responsável pela administração e controle da arrecadação e pela programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme determina o art. 56 da Lei nº 4.320, de 1964, a seguir transcrito:
Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.
1. DÍVIDA ATIVA.
Nem sempre todas as receitas previstas são arrecadadas, pois há casos de sonegação de tributos e também do não pagamento de serviços prestados pelo Estado.
Assim sendo, a Dívida Ativa que pode ser tributária ou não, é representada pelos créditos devidos à Fazenda Pública pelo transcurso do prazo de pagamento.
A leitura direta do artigo e parágrafos da Lei 4.320/64 nos fornece as informações complementares:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.
§ 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários.
§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art.
24 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978.
§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
Esta previsão legal, que é extensível aos demais entes da federação, é regulamentada pela Lei de Execução Fiscal 6.830/80 e confere à dívida ativa em seu ato de inscrição presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito e é constituída pelo valor
principal mais multas e encargos. É importante observar que a inscrição da dívida ativa é um direito a receber e que somente o seu pagamento constitui receita corrente/outras receitas correntes do exercício no qual
ocorrer.
Cronologia dos Estágios da Receita
O comportamento dos estágios da receita orçamentária é dependente da ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos e obedece à ordem: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Esses estágios são estabelecidos levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no país e a tecnologia utilizada. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a previsão e termina com o recolhimento.
A arrecadação consiste na entrega do recurso
ao agente ou banco arrecadador pelo contribuinte ou devedor.
O recolhimento consiste no depósito em conta
do Tesouro, aberta especificamente para esse fim, pelos caixas avançados do próprio ente ou bancos arrecadadores.
Dependendo da sistematização dos processos dos estágios da arrecadação e do recolhimento, no momento da classificação da receita deverão ser compatibilizadas as arrecadações classificadas com o recolhimento efetivado. Em termos didáticos, a ordem dos estágios da Receita Pública é a seguinte:
RECONHECIMENTO DA RECEITA
Reconhecimento da receita (sob o enfoque Patrimonial)
A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime orçamentário da receita, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária sob a ótica de caixa. No
entanto, deve observar os Princípios Fundamentais de Contabilidade da Competência, Prudência e Oportunidade, além dos demais princípios. A harmonia
entre os princípios contábeis e orçamentários é a prova da eficiência contábil da administração pública.
A contabilidade aplicada ao setor público efetua o registro orçamentário da receita, atendendo ao
disposto na Lei n.º 4.320/1964, que determina o reconhecimento da receita sob a ótica de caixa e deve observar os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
O reconhecimento da receita, sob o enfoque patrimonial, consiste na aplicação dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade para reconhecimento da variação ativa ocorrida no patrimônio, em contrapartida ao registro do direito no momento da ocorrência do fato gerador, antes da efetivação do correspondente ingresso
de disponibilidades.
Por exemplo, legislação que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU estabelece, de modo geral, que o fato gerador deste tributo ocorrerá no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse momento, deve ser efetuado o seguinte registro contábil:
Lançamento no Sistema Patrimonial
Título da Conta Sistema de Contas
D Ativo Circulante – IPTU a Receber
C Variação Ativa Extra-Orçamentária
Patrimonial
Esse registro provoca o aumento do ativo e do resultado do exercício, atendendo ao disposto nos artigos 100 e 104 da Lei nº 4.320/64.
Na arrecadação, registra-se a receita orçamentária e procede-se à baixa do ativo registrado.
Título da Conta Sistema de Contas
D Receita Realizada
C Receita a Realizar
Orçamentário
Título da Conta Sistema de Contas
D Banco Conta Movimento
C Receita Orçamentária Corrente
Financeiro
Título da Conta Sistema de Contas
D Variação Passiva Extra-Orçamentária
C Ativo Circulante – IPTU a Receber
Patrimonial
Esses registros não impactam o resultado do exercício, pois ocorrem, simultaneamente, um lançamento a crédito (2º lançamento) e um a débito (3º lançamento) em contas de resultado.
Quando o reconhecimento do crédito a receber basear-se em estimativas de arrecadação, pode ocorrer: excesso de arrecadação, não estando contabilizado o direito, ocorrendo o impacto na situação patrimonial no momento da arrecadação ou frustração na arrecadação, devendo-se proceder à baixa do direito por ocasião do encerramento do exercício.
Reconhecimento da Receita Orçamentária
O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação, conforme artigo 35
da Lei nº 4.320/1964 e decorre do enfoque orçamentário dessa lei, tendo por objetivo evitar que a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva.
Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos de:
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 25
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Superávit Financeiro – a diferença positiva
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais;
Cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar – consiste na baixa da obrigação
constituída em exercícios anteriores, portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originária de receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada.
O cancelamento de Restos a Pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes
de despesas pagas em exercícios anteriores que devem ser reconhecidos como receita orçamentária.
Relacionamento do Regime Orçamentário com o Regime de Competência
É comum encontrar na doutrina contábil a interpretação do artigo 35 da Lei nº 4.320/1964, de que na área pública o regime contábil é um regime misto, ou
seja, regime de competência para a despesa e de caixa para a receita:
“Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I – as receitas nele arrecadadas;
II – as despesas nele legalmente empenhadas.”
Contudo, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece aos princípios fundamentais de contabilidade. Dessa forma, aplica-se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, tanto na
receita quanto na despesa.
Na verdade, o artigo 35 refere-se ao regime orçamentário e não ao regime contábil, pois a
contabilidade é tratada em título específico, no qual determina-se que as variações patrimoniais devem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.
“Título IX – Da Contabilidade
(...)
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
(...)
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial.
(...)
Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.
(...)
Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”
Observa-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, exige-se a evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, exigindo que os fatos
modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício.
A contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros.
Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no Patrimônio, deve haver o registro da receita em função do fato gerador, observando-se os Princípios da Competência e da Oportunidade.
O reconhecimento da receita, sob o enfoque patrimonial, apresenta como principal dificuldade a determinação do momento de ocorrência do fato gerador.
Para a receita tributária pode-se utilizar o momento do lançamento como referência para o reconhecimento, pois nesse estágio da execução da receita orçamentária é que:
Verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
Determina-se a matéria tributável;
Calcula-se o montante do tributo devido;
Identifica-se o sujeito passivo.
Ocorrido o fato gerador, pode-se proceder ao registro contábil do direito em contrapartida a uma variação ativa, em contas do sistema patrimonial, o que representa o registro da receita por competência.
Etapas da Receita Orçamentária
Para melhor compreensão do processo orçamentário, pode-se dividir a gestão da receita orçamentária em três etapas:
Planejamento;
Execução; e
Controle e avaliação.
Planejamento: Compreende a previsão de
arrecadação da receita orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual – LOA, resultante de metodologias de projeção usualmente adotadas, observada as disposições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Importante: a previsão só é considerada estágio da
receita para os doutrinadores e não possui previsão na Lei nº 4.320/1964.
Execução: A Lei nº 4.320/1964 estabelece como
estágios da execução da receita orçamentária o lançamento, a arrecadação e o recolhimento.
Lançamento: Segundo o Código Tributário
Nacional, art. 142, lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
26 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
penalidade cabível. Tendo ocorrido o fato gerador, há condições de se proceder ao registro contábil do direito da fazenda pública em contrapartida a uma variação ativa, em contas do sistema patrimonial, o que representa o registro da receita por competência.
Algumas receitas não percorrem o estágio do lançamento, conforme se depreende pelo art. 52 da Lei
nº 4.320/64: ―São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.‖
Arrecadação: É a entrega, realizada pelos
contribuintes ou devedores, aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente, dos recursos devidos ao Tesouro. De acordo com a Lei 4.320/64, em seu artigo 35: Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas;
Recolhimento: É a transferência dos valores
arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o Princípio da Unidade de Caixa, representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em cada ente.
Controle e Avaliação: Esta fase compreende a
fiscalização realizada pela própria administração, pelos órgãos de controle e pela sociedade. O controle do desempenho da arrecadação deve ser realizado em consonância com a previsão da receita, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (Cespe/2017) Com relação à receita pública, assinale
a opção correta.
a) São receitas de capital os recursos financeiros recebidos por ente público para custear despesas com pessoal, com serviços de terceiros ou com material de consumo.
b) Um dos estágios da receita pública é o recolhimento, que consiste na entrega dos recursos devidos pelos contribuintes ou devedores ao Tesouro Nacional.
c) A classificação da receita pública por fonte de recursos indica a origem do recurso segundo o seu fato gerador, quer seja recurso do Tesouro Nacional, quer de outras fontes.
d) As dívidas da União dividem-se em dívidas ativas e dívidas passivas, conforme a etapa da execução orçamentária em que se encontre o pagamento da obrigação da União.
e) A receita pública origina-se tanto da exploração de patrimônio de pessoa jurídica de direito público quanto do poder do Estado de exigir prestações pecuniárias dos cidadãos.
02. (Funrio/2018) A categoria econômica e a origem da
receita de Concessões e Permissões são:
a) Corrente – Tributária.
b) Corrente – Transferências Correntes.
c) Corrente – Patrimonial.
d) Capital – Operações de Crédito.
e) Capital – Outras Receitas.
03. (FGV/2018) Os recursos recebidos por entidades
públicas decorrentes de royalties pelo uso de ativos de longo prazo dessas entidades podem ser classificados como receita:
a) derivada;
b) de contribuições;
c) extraorçamentária;
d) com contraprestação;
e) de transferências correntes.
04. (FCC/2017) É classificada como uma receita de
capital aquela que decorre
a) da multa e de juros de mora cobrados sobre a Dívida Ativa do ente público.
b) de dividendos pagos por empresas nas quais o ente da federação tiver a maioria do capital social votante.
c) das contribuições de melhoria cobradas pelo ente público.
d) da alienação de imóveis de propriedade do ente público.
e) de cauções recebidas como garantia do cumprimento de contratos celebrados com o ente público.
05. (IDECAN/2017) Entende-se por estágios da receita
orçamentária cada passo identificado que evidencia o ingresso da receita no caixa do governo. Afirma-se que os estágios da receita pública representam as fases percorridas pela receita na execução orçamentária. Com referência aos estágios da receita orçamentária, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Declaração, momento em que o contribuinte declara o quanto auferiu de renda e o Estado calcula o valor devido.
b) Previsão representa a estimativa do que se espera arrecadar durante o exercício e que consta da Lei Orçamentária Anual (LOA).
c) Recolhimento é o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diretamente ao tesouro público o produto da arrecadação.
d) Lançamento é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
e) Arrecadação é o momento em que os contribuintes comparecem perante os agentes arrecadadores, devidamente credenciados e contratados, e paga suas obrigações para com o Estado.
Gabarito: 01/E; 02/C; 03/D; 04/D; 05/A
DESPESAS PÚBLICAS: CATEGORIAS, ESTÁGIOS
CONCEITO
A despesa pública consiste na realização de gastos, isto é, na aplicação de recursos financeiros de forma direta na aquisição de meios que possibilitem a manutenção, o funcionamento e a expansão dos serviços públicos, ou de forma indireta.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 27
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
―conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos” – ALIOMAR BALEEIRO
CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS
Quanto à Natureza
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: correspondem ao desembolso de recursos que não possuem correspondência com ingressos anteriores, fixados na
lei orçamentária e que serão utilizados para pagamento dos gastos públicos (JUND, 2008). Em outras palavras, são fixadas e especificadas na lei do orçamento e/ou na lei de créditos adicionais. A classificação por categoria econômica em despesas correntes e de capital, que será vista adiante, faz parte das despesas orçamentárias, isto é, daquelas que fazem parte do orçamento.
Despesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: saída de
recursos transitórios anteriormente obtidos sob a forma de receitas-extra-orçamentárias. Exemplo: restituição de depósitos, restituição de cauções, pagamento de restos a pagar, resgate de operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO), entre outros. Estas despesas não precisam de autorização orçamentária para se efetivarem, pois não pertencem ao órgão público,
mas caracterizam-se por um serem uma devolução de recursos financeiros pertencentes a terceiros.
Quanto à Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES
Despesas de custeio: dotações destinadas à
manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive para atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis (Art. 12, Lei 4.320). Jund (2008) complementa com mais exemplos: pagamento de serviços terceiros, pagamento de pessoal e encargos, aquisição de material de consumo, entre outras.
Transferências correntes: dotações para
despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Exemplos: tranferências de assistência e previdência social, pagamento de salário-família, juros da dívida pública.
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos: dotações para o planejamento
e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro (Art. 12, § 4º, Lei 4.320)).
Inversões financeiras: Conforme Art. 12, § 5º,
Lei 4.320, são as dotações destinadas para:
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;
II - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital;
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.
Transferências de capital: dotações para
investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.
Quanto à Afetação Patrimonial
Despesa EFETIVA: reduzem a situação líquida
patrimonial (SLP) do Estado, provocando um fato contábil modificativo diminutivo. Exemplos: pessoal e encargos; juros e encargos da dívida interna e externa; outras despesas correntes, salvo aquelas de material de consumo para estoque.
Despesa NÃO EFETIVA (ou por mudança
patrimonial): não provocam alteração na Situação Líquida Patrimonial (SLP) do Estado. Exemplo: investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida interna e externa, outras despesas de capital, salvo aquelas destinadas a auxílios e contribuições de capital bem como os investimentos em bens de uso comum do povo; despesa corrente para formação de estoque de material de consumo.
Quanto à Regularidade
ORDINÁRIAS: destinadas à manutenção
contínua dos serviços públicos. Se repetem em todos os exercícios.
EXTRAORDINÁRIAS: de caráter esporádico ou
excepcional, provocadas por circunstâncias especiais e inconstantes. Não aparecem todos os anos nas dotações orçamentarias.
Quanto à Competência Institucional
A competência institucional da despesa pública pode ser Federal, Estadual ou Municipal.
Federal: competência da União. Atende
demandas de dispositivo constitucional, leis ou contratos.
Estadual: competência dos Estados.
Municipal: competência dos Municípios.
FASES DE FORMAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA (INTERNAS/PRÉVIAS):
- AUTORIZAÇÃO: deve haver previsão
orçamentária – a despesa deve estar autorizada por lei ou, extraordinariamente por MP – ordenar despesa não autorizada por lei pode caracterizar o crime previsto no artigo 359-D do CPB.
- LICITAÇÃO: verificação da necessidade ou não
de licitação - procedimento administrativo pelo
28 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
qual a administração seleciona a proposta que lhe trará mais vantagens
- ADJUDICAÇÃO: atribuir ao vencedor o objeto da
licitação – contrato com a adm. Pública
As fases elencadas acima são as chamadas fases internas (prévias). A partir de então surgem as fases previstas na Lei nº 4320/64, artigos 58/ss, como se observa a seguir.
3.1 ESTÁGIOS DA DESPESA
Após o recebimento do crédito orçamentário, as unidades gestoras estão em condições de efetuar a realização da despesa, que obedece alguns estágios.
As despesas públicas possuem etapas e estágios, os quais serão apresentados a seguir. Além disso, este texto também apresenta os conceitos de restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimentos de fundos. Inicialmente cabe destacar que os termos "etapas" e "estágios", quando relacionados com as despesas públicas, não são tratados como sinônimos. O Manual da Despesa Nacional afirma que as etapas da despesa orçamentária são três:
1. planejamento;
2. execução; e
3. controle e avaliação
"Despesas orçamentárias correspondem ao desembolso de recursos que não possuem correspondência com ingressos anteriores, fixados na lei orçamentária e que serão utilizados para pagamento dos gastos públicos" (JUND, 2008).
Os estágios, por sua vez, fazem parte da etapa de execução e, conforme a Lei 4.320/64,
incluem o empenho, a liquidação e o pagamento. No entanto, Jund (2008) afirma que a doutrina majoritária inclui a Fixação da despesa como sendo um dos estágios. Logo, os estágios da despesa são:
1. fixação;
2. empenho;
3. liquidação; e
4. pagamento.
MNEMÔNICA: “FELOP”:
Etapa 1: Planejamento
A etapa do planejamento e contratação abrange, de modo geral, a fixação da despesa orçamentária, a descentralização/movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira e o processo de licitação.
Fixação (Estágio #1)
Compreende a adoção de medidas em direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades
traçadas pelo governo. A criação ou expansão da despesa requer adequação orçamentária e
compatibilidade com a LDO e o PPA.
O processo da fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização dada pelo poder legislativo por meio da lei orçamentária anual.
Descentralização De Créditos Orçamentários
Ocorrem quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária.
As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com transferências e transposição.
Programação Orçamentária E Financeira
Consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando o ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e da arrecadação.
Processo De Licitação
Compreende um conjunto de procedimentos administrativos que objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer concessões de serviços públicos com as melhores condições para o Estado.
Conforme artigo 165 da Constituição Federal de 1988, os instrumentos de planejamento compreendem o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
Etapa 2: Execução
Após a publicação da Lei Orçamentária, do quadro de detalhamento da despesa e observadas as normas de execução orçamentária e de programação financeira do exercício, já existem condições para que as unidades orçamentárias iniciem a execução orçamentária.
De acordo com o Manual de Despesa Nacional a Fixação da despesa é parte da etapa de Planejamento. Além disso, conforme a Lei 4.320/64, os estágios da despesa são empenho, liquidação e pagamento, sem incluir a fixação. Contudo, Jund (2008) afirma que a fixação é aceita pela doutrina majoritária como sendo o primeiro estágio da despesa.
Após a fixação, os demais estágios da despesa são:
Empenho (Estágio #2)
É o ato que cria a obrigação de pagamento para o Estado, pendente ou não do implemento de condição.
O empenho precede a realização da despesa e está restrito ao limite de crédito orçamentário. Além disso, é vedada a realização de despesa sem o prévio empenho.
"Empenhar deduz o valor da dotação orçamentária, tonando a quantia empenhada indisponível para nova aplicação"(JUND, 2008, p. 208). O estágio do empenho está sujeito a três etapas:
1. autorização;
2. indicação da modalidade licitatória, sua dispensa ou inexigibilidade;
3. formalização, comprovada pela emissão da nota de empenho e a respectiva dedução do valor da despesa.
O empenho ainda, conforme sua natureza e finalidade, pode ser emitido em uma das seguintes formas:
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 29
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
empenho ordinário: o montante é
conhecido e o pagamento deve ocorrer em uma única vez;
empenho global: o montante também é
conhecido, mas o pagamento será parcelado. Exemplos: aluguéis, contrato de prestação de serviços por terceiros, vencimentos, salários, proventos e pensões, inclusive as obrigações patronais decorrentes, entre outros.
empenho por estimativa: o montante não
pode ser previamente determinado e a base é periodicamente não homogênea. Exemplos: serviços de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e telefone, gratificações, diárias e reprodução de documentos, entre outras.
Existe também a figura do pré-empenho, o qual
possui por objetivo registrar pré-compromissos para atender a objetivo específico, nos casos em que a despesa cumpre etapas com intervalos de tempo desde a decisão até a efetivação da emissão da Nota de Empenho. É como se o gestor efetivasse uma "reserva" de dotação orçamentária, visando a realização de determinada despesa.
Liquidação (Estágio #3)
Conforme dispõe o artigo 63 da Lei 4.320/64, a liquidação consiste na verificação do direitoadquirido
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem por objetivo apurar:
I. A origem e o objeto do que se deve pagar;
II. A importância exata a pagar; e
III. A quem se deve pagar a importância para
extinguir a obrigação.
Jund (2008) explica que o estágio da liquidação envolve todos os atos de verificação e conferência, desde a entrada do material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa.
Pagamento (Estágio #4)
É o último estágio da realização da despesa. Consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamentos ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa.
A Lei 4.320/1964, em seu artigo 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. A ordem de pagamento só pode ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.
É o estágio caracterizado pela entrega dos recursos equivalentes à divida líquida.
Etapa 3: Controle E Avaliação
Esta etapa compreende a fiscalização realizada
pelos órgãos de controle e pela sociedade.
O Sistema de Controle visa à avaliação da ação governamental, da gestão dos administradores públicos e da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito Privado, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com finalidade de:
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; e
b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (CESPE - 2009/SEAD/CEHAP) O empenho é o ato
emanado por autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O empenho da despesa
A deverá ser emitido logo após a liquidação da despesa nos casos de existência de contratos.
B será feito por estimativa, quando não se possa determinar o seu valor exato.
C será sempre acompanhado da emissão da nota de empenho.
D em casos de dispensa de licitação, poderá exceder os limites de créditos disponíveis.
02. (DETRAN-CE / Analista de Trânsito e Transporte -
UECE-CEV/2018) O estágio da despesa pública em que a Administração reconhece o direito adquirido do credor denomina-se
a) empenho.
b) pagamento.
c) programação.
d) liquidação.
03. (TCE-PB / Auditor de Contas Públicas - CESPE/2018)
A respeito do ato de limitação de empenho decorrente do acompanhamento da execução orçamentária, assinale a opção correta.
a) Cabe ao Poder Executivo definir os critérios de limitação de empenho.
b) A recomposição das dotações, objeto do ato de limitação, depende do restabelecimento integral da receita.
c) A limitação de empenho implica a desvinculação dos recursos previamente vinculados a finalidade específica.
d) É vedada a limitação de despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente.
e) O referido ato pode ser publicado em qualquer momento da execução, a critério do Poder Executivo.
Gabarito: 01/B; 02/D; 03/B
SUPRIMENTOS DE FUNDOS (ADIANTAMENTO)
CONCEITO E OBJETIVO
Em casos excepcionais, a autoridade competente poderá autorizar a realização de despesa por meio de suprimento de fundos, quando essa não puder ser realizada pelo processo normal da execução orçamentária. Essa previsão está contida no art. 74 do
30 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Decreto-lei 200/67 e artigos 68 e 69 da Lei 4.320/64, bem como nos artigos 45 e 47 do Decreto nº 93.872/86.
O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas.
Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.
Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois no momento da concessão não ocorre redução no patrimônio líquido.
Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário adiantado.
A concessão do suprimento de fundos ocorrerá
para as despesas:
1. com serviços que exigem pronto pagamento em espécie;
2. despesas eventuais, extraordinárias e urgentes;
3. que devam ser feitas em caráter sigiloso, adotando-se o mesmo grau de sigilo, conforme se classificar em regulamento; e
4. de pequeno vulto, assim entendida aquela cujo valor não ultrapasse aos limites estabelecidos pela legislação, que pode variar de acordo com o entre que o estabeleça.
A vedação do suprimento de fundos ocorrerá para
o servidor que estiver em umas das seguintes situações:
1. responsável por dois suprimentos;
2. não estiver em efetivo exercício ou que seja responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação; e
3. servidor declarado em alcance, ou que esteja respondendo a inquérito administrativo
"Servidor em alcance é aquele que não prestou contas do suprimento, no prazo regulamentar, ou que não teve aprovadas as contas em virtude de desvio, desfalque, má aplicação verificada na prestação de contas de dinheiro, bens ou valores confiados à sua guarda" (JUND, 2008).
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (ANAC / Analista Administrativo - ESAF/2016) De
acordo com a norma vigente, não se deve conceder suprimento de fundos nos seguintes casos, exceto:
a) a responsável por dois suprimentos.
b) a servidor que tenha sob sua guarda um exemplar do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
c) a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor.
d) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação.
e) a servidor declarado em alcance
02. (TJCE/CE - Técnico Judiciário - Área Administrativa –
CESPE/2014) No tocante ao suprimento de fundos, assinale a opção correta.
A.O suprimento de fundos pode ser concedido para atender ao pagamento de despesas de caráter secreto.
B.O suprimento de fundos pode ser considerado uma modalidade de adiantamento para execução de despesas, excluídas as despesas de diárias, passagens e outras despesas em viagens de servidores.
C.O empenho da despesa de suprimento de fundos deve ser emitido em nome da unidade gestora que efetuará a despesa, sendo o agente suprido apenas um preposto da unidade para a execução da despesa.
D.A concessão de suprimento de fundos não constitui despesa pública orçamentária, o que ocorre somente após a prestação de contas.
E.No momento da concessão de suprimento de fundos, o estágio da despesa denominado pagamento ocorrerá somente após o fornecedor do serviço ou da mercadoria adquirida cumprir a sua obrigação de entrega.
03. (TRE PR - Cargo: Analista Judiciário - Contabilidade –
FCC/2012) É uma das características do adiantamento (suprimento) de fundos:
A.ser utilizado para financiar despesas que poderiam ser realizadas por meio de licitação regular.
B.realizar o empenho da despesa após a prestação de contas do suprido.
C.ser concedido somente a servidor público ou a terceiro autorizado pelo ordenador da despesa.
D.seu prazo de aplicação não poder ultrapassar o exercício financeiro.
E.poder ser concedido a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, mesmo que haja na repartição outros servidores.
04. (EPE - Analista de Gestão Corporativa - Área
Finanças - CESGRANRIO/2014) O suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. O suprimento de fundos poderá ser utilizado para atender a diversos casos.
NÃO constitui um desses casos as despesas
A.em viagem e com serviços especiais que exijam pronto pagamento
B.eventuais que exijam pronto pagamento
C.extraordinárias e urgentes
D.de caráter sigiloso
E.de pequeno vulto
Gabarito: 01/B; 02/A; 03/D; 04/D
RESTOS A PAGAR (OU RESÍDUOS PASSIVOS)
As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas, ao final do exercício, isto é, em 31 de dezembro, serão inscritas em Restos a Pagar e constituirão a Dívida Flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de
Restos a Pagar, os Processados e os Não-processados.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 31
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O conceito de Restos a Pagar está na Lei 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
O art. 36 dessa norma diz o seguinte:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
CLASSIFICAÇÃO
Conforme a sua natureza, as despesas inscritas em ―restos a pagar‖ podem ser classificadas em:
a) processadas: liquidadas, ou seja, as despesas
em que o credor já cumpriu as suas obrigações, isto é, entregou o material, prestou os serviços ou executou a etapa da obra, dentro do exercício, tendo, portanto, direito líquido e certo, faltando apenas o pagamento.
b) não processadas: não liquidadas, ou seja, são
aquelas que dependem da prestação do serviço ou fornecimento do material, isto é, aquelas em que o direito do credor não foi apurado.
É bom lembrar que um dos princípios do Orçamento Público é a anualidade, que determina a vigência do orçamento para somente o exercício ao qual se refere, não sendo permitida a sua transferência para o exercício seguinte.
Por isso a Lei 4.420/64 é clara ao dizer que ―o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício‖.
A seguir vamos entender a diferença entre Restos a Pagar processados e Restos a Pagar não-processados.
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São os restos a pagar liquidadas e não pagas. Isso significa que o credor já realizou seu serviço e/ou entregou os materiais previstos em contrato dentro do exercício, tendo o direito líquido de receber o pagamento.
MUITA ATNEÇÃO: Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor
de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar, sob pena de estar deixando de cumprir o princípio da moralidade que rege a Administração Pública.
O cancelamento dos restos a pagar processados caracteriza, inclusive, forma de enriquecimento ilícito, conforme Parecer nº 401/2000 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Já os restos a pagar não-processados são aqueles em que as despesas estão empenhados, mas não estão liquidadas. Nesse caso, ainda não foi apurado se o credor realizou o serviço ou entregou o material.
De acordo com o Decreto 7.654/2011, ―os restos a pagar inscritos na condição de não-processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição―.
INSCRIÇÃO
A inscrição de despesa em Restos a Pagar não-processados é procedida após a depuração das despesas pela anulação de empenhos, no exercício financeiro de sua emissão, ou seja, verificam-se quais despesas devem ser inscritas em Restos a Pagar, anulam-se as demais e
inscrevem-se os Restos a Pagar não-processados do exercício.
No Governo Federal, os empenhos não anulados, bem como os referentes a despesas
já liquidadas e não pagas, serão automaticamente inscritos em Restos a
Pagar no encerramento do exercício, pelo valor devido ou estimado, caso seja desconhecido.
É vedada a reinscrição de empenhos em
Restos a Pagar.
O reconhecimento de eventual direito do credor ocorrerá por meio de emissão de nova Nota de Empenho.
Conforme a LRF é vedada a inscrição de despesas em Restos a Pagar nos últimos dois quadrimestres do mandato eletivo, bem
como contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele.
Pagamento
Cumpridas as formalidades legais de empenho e liquidação, o pagamento das despesas inscritas em Restos a Pagar ocorrerá automaticamente, sem ser necessário o requerimento por parte do credor.
No momento do pagamento de Restos a Pagar referente à despesa empenhada pelo valor estimado, verifica-se se existe diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser pago; se existir diferença, procede-se da seguinte forma:
Se o valor real a ser pago for superior ao valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada a conta de despesas de exercícios anteriores;
Se o valor real for inferior ao valor inscrito, o saldo existente deverá ser cancelado.
A inscrição de Restos a Pagar deve observar aos limites e condições de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (2009 / MOVENS / PC-PA / Investigador) Na sua
origem, a rubrica Restos a Pagar destinava-se a compatibilizar o término do exercício financeiro com a continuidade da Administração Pública. Com o passar do tempo, os valores contabilizados nessa rubrica passaram a ser mal utilizados e se tornaram um poderoso instrumento de rolagem de dívidas, prática esta legalmente proibida no âmbito da gestão fiscal pública.
Com a proibição da rolagem de dívidas, no último ano de mandato eletivo, por meio dessa rubrica contábil, em regra esses registros contábeis devem obedecer ao regime de
a) caixa.
b) competência.
c) individualização de responsabilidade.
d) outras despesas de pessoal.
02. (FUNRIO/2018) A despesa com a compra de material
de consumo foi empenhada regularmente, o material entregue e devidamente atestado, sendo processada a liquidação da despesa, porém não foi paga no exercício. Neste caso caberá a seguinte providência:
32 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
a) cancelar a despesa para ser realizada no ano seguinte.
b) inscrever a despesa em restos a pagar processado.
c) inscrever a despesa em dívida ativa para pagamento futuro.
d) inscrever a despesa em restos a pagar não processado.
e) registrar a obrigação a pagar no passivo não circulante.
03. (FCC/2017) Em uma situação hipotética, um TRT
realizou despesas no exercício de 2016, mas que não foram pagas até 31 de dezembro desse mesmo ano. Essas despesas devem ser classificadas contabilmente nos balanços de 2016 como
a) dívida ativa.
b) restos a pagar.
c) antecipação da receita orçamentária.
d) postergação da despesa orçamentária.
e) operação de crédito atípica.
04. (Cespe/2017) Determinada despesa orçamentária
empenhada e liquidada não foi paga até o dia trinta e um de dezembro de determinado ano. Se inscrita em restos a pagar, essa despesa
a) continuará vigente, independentemente de qualquer ato das unidades gestoras, após trinta de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição.
b) será automaticamente cancelada, independentemente de qualquer ato das unidades gestoras, após encerrado o primeiro exercício financeiro subsequente ao da sua primeira renovação.
c) será automaticamente cancelada após trinta de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição.
d) continuará vigente após trinta de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição, desde que realizado o respectivo processamento.
Gabarito: 01/B; 02/B; 03/B; 04/A
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
As despesas são computadas pelo regime de competência, ou seja, pertencem ao exercício em que foram empenhadas. Quando estes compromissos não são pagos no exercício no qual foram gerados, as dívidas resultantes são pagas à conta das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), que é uma dotação orçamentária, conforme se depreende da leitura do artigo
37 da Lei 4.320/64:
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Serão consideradas despesas de exercícios encerrados, de acordo com o artigo 37 da Lei nº
4.320/64, e poderão ser pagas à conta de dotação
destinada a atender despesas de exercícios anteriores (DEA), respeitada a categoria, as despesas abaixo:
a) despesas de exercícios encerrados, para as
quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenha processado na época própria.
b) os compromissos decorrentes de obrigação de pagamento criada em virtude de lei e reconhecidos após o encerramento do exercício financeiro correspondente.
c Restos a pagar com prescrição interrompida.
O reconhecimento da dívida a ser paga à conta
de despesas de exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhá-la, devendo o processo conter, no mínimo, os seguintes elementos:
• importância a pagar;
• nome, CPF ou CNPJ e endereço do credor;
• data do vencimento do compromisso;
• causa da não emissão do empenho, se for o caso; e
• comprovação de que havia saldo de crédito suficiente para atender à despesa, em dotação adequada, no exercício em que a mesma tenha acontecido.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (FGV – DPE/RO – 2015) Em uma entidade da
administração pública, durante o exercício de 2008 foi emitida uma nota de empenho para prestação de serviços de manutenção no sistema de ar refrigerado. A prestação de serviço foi iniciada em 2008, mas encerrada apenas no exercício seguinte. A empresa prestadora de serviço enviou a documentação de cobrança comprobatória da prestação do serviço somente em 2013. A partir do recebimento da cobrança, essa despesa deve ser tratada pelo ente como:
a) restos a pagar processados;
b) operações orçamentárias anuladas;
c) despesa do exercício em que o pagamento foi reclamado;
d) despesa de exercícios anteriores, que teve prescrição interrompida;
e) despesa não passível de pagamento em decorrência de prescrição de prazo de cobrança.
02. (FCC – TRT/3R-2015) Determinado órgão público
empenhou despesa com serviços de manutenção de elevadores, para o período de março a novembro de 2014, no valor de R$ 90.000,00. Por lapso do contador, a despesa referente ao mês dezembro de 2014 não foi empenhada. Nestas condições, no exercício de 2015, tal despesa deve ser empenhada no seguinte elemento de despesa:
a) indenizações.
b) restos a pagar.
c) despesas de exercícios anteriores.
d) despesas não liquidadas a pagar.
e serviços de terceiros − pessoa jurídica.
Resolução:
De acordo com o enunciado da questão o contador
cometeu um lapso ao não empenhar também a despesa de
dezembro. O que dá a entender que o credor cumpriu com a sua
obrigação em prestar o serviço. Neste caso, a despesa não foi
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 33
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
processada na época própria e por isso o empenho foi
insubsistente.
Ressalte-se que o Decreto Lei nº 4.320/64 estabelece
que a DEA poderão ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, neste caso 2015.
Assim, em 2015 a despesa dever ser empenhada no
elemento de despesas: despesa de exercícios anteriores.
03. (EBSERH / Analista Administrativo - IBFC/2016) As
Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) abrangem três situações: I. Despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria.
II. Restos a pagar com prescrição interrompida.
III. Compromissos não reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente.
Estão corretas:
a) I e III apenas.
b) II e III apenas.
c) I apenas.
d) I e II apenas.
e) III apenas.
04. (TRT - 20ª Região / Analista Judiciário – FCC/2016)
As despesas com serviços realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2015 com a manutenção dos elevadores instalados no prédio central de determinado órgão público, embora o orçamento respectivo consignasse crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, não foram empenhadas no respectivo exercício. Na execução orçamentária do exercício de 2016, segundo a Lei Federal no 4.320/1964, as despesas serão empenhadas no elemento de despesa denominado de
a) indenização e restituições.
b) despesas de exercícios anteriores.
c) locação de mão de obra.
d) obrigações de exercícios anteriores.
e) ressarcimentos de exercícios anteriores.
05. (TCM-RJ / Técnico de Controle Externo - IBFC/2016)
Quanto às despesas de exercícios anteriores:
a) São despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento e que por erro não foram contabilizados como restos a pagar processados.
b) São despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores, àquele em que deva ocorrer o pagamento. Não se confundem com restos a pagar, tendo em vista que sequer foram empenhadas ou, se foram, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados.
c) São despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele, em que deva ocorrer o pagamento e que por erro não foram contabilizados como restos a pagar não processados.
d) São despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercício corrente, mas que não sendo possível a
realização dos pagamentos, se consigna no orçamento do ano seguinte o valor correspondente.
Gabarito: 01/B; 02/C; 03/D; 04/B; 05/B
A CONTA ÚNICA DO TESOURO
Para atender o princípio da unidade de caixa, previsto no art. 92 do Decreto-Lei nº 200/1967, no art. 56 da Lei nº 4.320/1964 e nos arts. 1º ao 8º do Decreto nº 93.872/1986, a União criou a Conta Única do Tesouro Nacional. A Conta Única, mantida no Banco Central do Brasil - BACEN, tem por finalidade acolher todas as disponibilidades financeiras da União.
A operacionalização da Conta Única é efetuada por meio de documentos registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e é movimentada por intermédio das Unidades Gestoras - UG integrantes do SIAFI sob a forma de acesso on-line. Para efetuar pagamentos e recebimentos, utiliza o Banco do Brasil S/A como Agente Financeiro. Outros Agentes Financeiros também podem ser utilizados, desde que autorizados pelo Ministério da Fazenda.
DOCUMENTOS QUE MOVIMENTAM A CONTA ÚNICA
Ordem Bancária - OB - utilizada para pagamento de obrigações da UG;
Guia de Recolhimento da União - GRU - utilizada para recolhimento de todas as receitas;
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF - utilizado para recolhimento de receitas federais administradas pela Secretaria da Receita Federal;
Guia da Previdência Social - GPS - utilizada para recolhimento de receitas da previdência Social;
Documento de Receitas de Estados e Municípios - DAR - utilizado para recolhimento de tributos dos Estados e Municípios;
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP - utilizada para recolhimento de receitas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
Nota de Sistema - NS - utilizada para registro dos movimentos financeiros efetuados pelo Banco Central na Conta Única, mediante autorização da STN;
Nota de Lançamento - NL - utilizada para lançamentos complementares da conciliação da Conta Única.
FUNCIONAMENTO DA CONTA ÚNICA
Toda receita arrecadada pela União deve ser recolhida à Conta Única (princípio da unidade de tesouraria);
Todas as UG devem se cadastrar na conta-corrente referente ao Banco do Brasil S/A (997380632) para fins de movimentação de recursos (operacionalização da Conta Única);
O órgão responsável pela movimentação dos recursos na Conta Única é a STN - Secretaria do Tesouro Nacional;
34 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
As receitas próprias de todas os órgãos da União devem ser recolhidos à Conta Única do Tesouro Nacional.
Os pagamentos da despesa será feito mediante saques contra a Conta Única do Tesouro Nacional, dentro dos limites estabelecidos na programação financeira.
A Conta Única é um instrumento de controle das finanças públicas, ferramenta que permite a inspeção dos recursos financeiros, além de desembaraçar os processos de transferência e repasse financeiro e os pagamentos a terceiros feito pela União, inclusive suas autarquias e fundações. Com a unificação dos recursos movimentados pelo Tesouro Nacional, através da Conta Única, a União obteve maior economia operacional e a redução dos procedimentos relativos a execução da programação financeira de desembolso.
Movimentação de Recursos
A execução financeira compreende a utilização efetiva dos recursos para realização dos programas de trabalho definidos no orçamento.
A movimentação de recursos entre as unidades do sistema de programação financeira é executada por meio de liberações de cota, de repasse e de sub-repasse, definidos da seguinte forma:
• Cota – É a primeira fase da movimentação dos recursos, realizada em consonância com a programação financeira aprovada pela STN. Esses recursos são colocados à disposição dos Órgãos Setoriais de Programação Financeira (OSPF) mediante movimentação intra-SIAFI dos recursos da Conta Única do Tesouro Nacional.
• Repasse – É a liberação de recursos realizada pelos OSPFs para UGs de outros órgãos.
• Sub-Repasse – É a liberação de recursos dos OSPFs para as UGs de um mesmo órgão.
Dispêndio de Recursos
O dispêndio de recursos é o último e não menos importante processo integrante da Conta Única, traduzindo-se no pagamento. O pagamento, por sua vez, é o terceiro estágio da despesa, e consiste na entrega de numerário ao credor, extinguindo, dessa forma, a obrigação.
Esse procedimento é efetuado por meio da emissão, no SIAFI, do documento Ordem Bancária, que contém os dados necessários para crédito na conta do favorecido.
A partir daí, gera-se ao final do dia um arquivo magnético que é enviado ao Banco do Brasil.
De posse do arquivo e da relação de OBs, o Banco do Brasil efetua o crédito na conta do beneficiário, uma vez que está autorizado a sacar o montante correspondente junto à reserva bancária do Tesouro.
Sobre pagamento pode-se obter melhores informações no tópico Estágios da Execução da Despesa, em Execução Orçamentária.
QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (TCE/ES- Analista Administrativo - Área Ciências
Contábeis – CESPE/2014) A respeito da Conta Única do Tesouro Nacional, assinale a opção correta.
A.As autarquias, fundos, fundações públicas e órgãos da administração pública federal direta não poderão efetuar aplicações financeiras na Conta Única do
Tesouro Nacional nas modalidades de prazo fixo e diárias, sem a autorização legislativa específica.
B.As contas de fomentos são aquelas utilizadas exclusivamente para movimentação de recursos destinados à execução de programas sociais do governo federal.
C.As contas de suprimento de fundos quando não movimentadas por mais de dois meses deverão ter o saldo transferido para aplicações financeiras diárias.
D.Nos casos específicos em que os recursos não possam ser movimentados diretamente na Conta Única do Tesouro Nacional poderão ser abertas contas especiais que são utilizadas para movimentação das disponibilidades financeiras das unidades gestoras que operam com cartão de crédito corporativo na modalidade off line.
E.A Conta Única do Tesouro Nacional é operacionalizada por intermédio do Banco do Brasil e tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas pelas unidades gestoras da administração pública federal.
02. (TCE-ES - Analista Administrativo –Ciências
Contábeis – CESPE/2013) A respeito da Conta Única do Tesouro Nacional, assinale a opção correta
A As autarquias, fundos, fundações publicas e órgãos da administração publica federal direta não poderão efetuar aplicações financeiras na Conta Única do Tesouro Nacional nas modalidades de prazo fixo e diárias, sem a autorização legislativa especifica.
B As contas de fomentos são aquelas utilizadas exclusivamente para movimentação de recursos destinados a execução de programas sociais do governo federal.
C As contas de suprimento de fundos quando não movimentadas por mais de dois meses deverão ter o saldo transferido para aplicações financeiras diárias.
D Nos casos específicos em que os recursos não possam ser movimentados diretamente na Conta Única do Tesouro Nacional poderão ser abertas contas especiais que são utilizadas para movimentação das disponibilidades financeiras das unidades gestoras que operam com cartão de credito corporativo na modalidade off lei.
E A Conta Única do Tesouro Nacional e operacionalizada por intermédio do Banco do Brasil e tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas pelas unidades gestoras da administração publica federal.
03. (2017 / Quadrix / CONTER / Analista Administrativo) A
Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, é utilizada para:
a) registrar a movimentação dos recursos financeiros de responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e da Advocacia-Geral da União.
b) viabilizar a movimentação dos recursos financeiros conduzida pela Caixa Econômica Federal.
c) registrar a movimentação dos recursos financeiros de responsabilidade dos Órgãos e Entidades da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), por meio de termo de cooperação técnica firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS 35
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
d) viabilizar a arrecadação e a movimentação de recursos sob a responsabilidade da Advocacia-Geral da União.
e) viabilizar a gestão dos recursos financeiros movimentados pela Advocacia-Geral da União, sendo que tal gestão é conduzida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), vinculado à Presidência da República.
04. (2017 / CESPE / TRE-PE) Com referência ao
funcionamento da Conta Única do Tesouro Nacional, que é utilizada para registrar a movimentação dos recursos financeiros das entidades da administração pública federal, assinale a opção correta.
a) Recursos depositados nessa conta, em espécie, estarão imediatamente e automaticamente disponíveis.
b) Essa conta é operacionalizada por meio de documentos registrados nos sistemas de informações gerenciais do governo federal.
c) A conta em apreço só pode receber aplicações financeiras de entidades que possuírem autorização específica regulamentada em lei.
d) Mesmo entidades não integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social podem realizar aplicações financeiras nessa conta.
e) Caso seja necessário devolver recursos para a unidade gestora de origem, terá de haver o cancelamento da ordem bancária entre a unidade gestora e essa conta.
Gabarito: 01/E; 02/E; 03/C; 04/C
QUESTÕES DE PROVAS FGV
01. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) Ao final
de um determinado exercício, o Estado de Santa Catarina apurou o montante de R$ 5,7 bilhões de Receita Corrente Líquida. A partir dessa referência, o limite prudencial da despesa total com pessoal do Poder Judiciário naquele exercício é (em milhões de reais):
(A) 114;
(B) 171;
(C) 307,8;
(D) 324,9;
(E) 342.
02. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) A parte I
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que aborda os Procedimentos Contábeis Orçamentários, trata da classificação orçamentária por fontes e destinações de recursos. Acerca dessa classificação, analise as afirmativas a seguir.
I) Um mesmo código é utilizado para o controle das destinações da receita orçamentária e para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária.
II) O controle das disponibilidades financeiras por fonte e destinação de recursos deve ser feito apenas durante a execução orçamentária.
III) O princípio da não vinculação de receitas veda a apresentação das receitas por vinculação de recursos na proposta orçamentária.
IV) Na destinação ordinária ocorre a alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. Está correto somente o que se afirma em:
(A) I e II;
(B) I e III;
(C) I e IV;
(D) II e III;
(E) III e IV.
03. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) Um
determinado órgão público recebeu notificação de cobrança de um credor que havia fornecido bens ao órgão no exercício anterior, mas que estava pendente em decorrência de não conformidade com a descrição do empenho, que foi anulado. Ao final do exercício em curso o fornecimento foi atestado e o credor reclamou o pagamento.
Tal pagamento se enquadra como:
(A) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício;
(B) despesas não processadas na época própria;
(C) despesas extraorçamentárias;
(D) restos a pagar processados;
(E) restos a pagar não processados.
04. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) Em
determinado exercício, um ente público obteve R$ 16 milhões em receitas de origem tributária e empenhou despesas de R$ 15,2 milhões. Das despesas executadas, os valores dos serviços prestados e materiais recebidos efetivamente representam R$ 14 milhões, dos quais 10% ficaram pendentes de pagamento. No início do exercício o ente público apresentava saldo de caixa igual a zero.
A partir das informações dadas, é correto afirmar que:
(A) houve excesso de arrecadação;
(B) houve economia orçamentária de R$ 1,2 milhão;
(C) o resultado orçamentário foi superavitário;
(D) o saldo final de caixa no exercício foi de R$ 2 milhões;
(E) o montante inscrito em restos a pagar foi de R$ 1,4 milhão.
05. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) A
despesa total com pessoal de um órgão ultrapassou o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre de 2011, em R$ 75.000,00. Considerando exclusivamente as informações dadas e as normas para recondução ao limite, o órgão deverá:
(A) eliminar ao menos 10% do excedente no quadrimestre subsequente;
(B) eliminar pelo menos 1/3 do excesso até o primeiro quadrimestre de 2012;
(C) eliminar todo o excedente até o final do exercício em que o limite foi ultrapassado;
(D) reduzir o excedente em pelo menos R$ 37.500,00 até o final do exercício;
(E) reduzir todo o excedente até o primeiro quadrimestre de 2012.
06. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) O
Relatório de Gestão Fiscal é de elaboração obrigatória pelos Poderes e órgãos definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porém com diferenças na periodicidade de publicação dos anexos. No que tange à obrigatoriedade de relatórios a serem
36 NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAS
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
elaborados pelos órgãos do Poder Judiciário, o Manual de Demonstrativos Fiscais orienta que:
(A) o Demonstrativo da Despesa com Pessoal é o único anexo obrigatório em todos os quadrimestres;
(B) o Demonstrativo da Despesa com Pessoal e o Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal são anexos obrigatórios em todos os quadrimestres;
(C) o Demonstrativo da Despesa com Pessoal é obrigatório apenas no último quadrimestre;
(D) o Demonstrativo da Dívida Consolidada é anexo obrigatório apenas no último quadrimestre;
(E) o Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal é obrigatório apenas para o Poder Executivo, que consolida todos os Poderes.
07. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) No
exercício de 2014, um ente público foi notificado pelo banco do recebimento, acrescido de juros e multas, de valores lançados como receitas tributárias no exercício de 2009, mas não pagas no vencimento. O valor total foi de R$ 127.000,00, sendo R$ 7.000 relativos a juros e multas. O pagamento se deu após comunicação ao sujeito passivo da inscrição da dívida em seu nome. O recebimento de tais receitas deverá ser reconhecido:
(A) como receitas extraorçamentárias, R$ 127.000,00, pois foram lançadas em exercícios anteriores;
(B) o principal como receita tributária, R$ 120.000,00, e os juros e multas como receitas extraorçamentárias, R$ 7.000,00;
(C) como receitas tributárias, R$ 127.000,00, no exercício em que se deu o recebimento;
(D) o principal como receita tributária, R$ 120.000,00, e os juros e multas como outras receitas correntes, R$ 7.000,00;
(E) como outras receitas correntes, R$ 127.000,00, no exercício em que se deu o recebimento.
08. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015)
Quadro I – Dados extraídos do sistema de contabilidade de um órgão público referentes ao segundo bimestre em um determinado exercício.
Receitas Despesas
Impostos 1.000,00
Folha de pagamento
1.300,00
Taxas 200,00 Juros 250,00
Contribuições sociais
450,00
Atualizações cambiais da dívida
100,00
Multas 100,00 Multas 50,00
Juros 150,00 Material de consumo
450,00
Dívida Ativa 350,00 Aluguéis 600,00
Transferências correntes
1.500,00
Doações e auxílios
200,00
Operações de crédito 700,00 Diárias 300,00
Aluguéis 250,00 Aquisição de softwares
550,00
Serviços
150,00
Pagamento do principal da dívida
400,00
Amortização de 300,00 Execução de 800,00
empréstimos obras
Depósitos em garantia
250,00 Aquisição de móveis
400,00
Pagamento de restos a pagar
250,00
A partir das informações do Quadro I e das disposições legais e normativas relativas à classificação das receitas públicas, é correto afirmar que:
(A) as receitas tributárias foram de 1.650,00;
(B) não houve recebimento de receitas extraorçamentárias;
(C) as receitas de capital totalizaram 1.250,00;
(D) as receitas correntes representam menos de 2/3 do total arrecadado;
(E) mais de 1/3 das receitas correntes não foram arrecadadas pelo ente.
09. (TJSC - Analista Administrativo – FGV/2015) A partir
das informações do Quadro I e das disposições legais e normativas relativas à classificação das despesas públicas, é correto afirmar que:
(A) as despesas correntes representam mais de 2/3 das despesas executadas no período;
(B) as despesas extraorçamentárias foram de 350,00;
(C) houve redução do endividamento no período;
(D) as despesas de capital totalizaram 2.250,00;
(E) houve equilíbrio no orçamento corrente.
Gabarito: 01/D; 02/C; 03/B; 04/C; 05/E; 06/A; 07/E; 08/E;
09/D
REFERÊNCIAS:
BARBOSA, A. Administração Financeira. 2 ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
ROSS, S. A. Administração Financeira: corporate finance. 2
ed. São Paulo: Atlas, 2002.
ASSAF NETO, A. Administração do Capital de Giro. 3 ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
BRIGHAM, E. F.; GAPENSKI, L. C.; EHRHARDT, M.
C. Administração Financeira: teoria e prática. São Paulo:
Atlas, 2001.
Jund, S. (2008). Administração, Orçamento e Contabilidade
Pública (3rd ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.
SOUZA, A. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos. 5
ed. São Paulo: Atlas, 2004
https://sites.google.com/site/admufvjm10/administracao-
financeira
http://contabilidadepublica.com/despesas-exercicios-anteriores
http://igepp.com.br/uploads/arquivos/lista_afo_marcel_2015_ex
erc_gabaritados.pdf
https://www.adminconcursos.com.br/2014/09/despesas-publicas-conceito-e.html
DIREITO CONSTITUCIONAL 1
www.editoradince.com.br
DIREITO CONSTITUCIONAL Teoria, comentários, dicas e questões FGV
por assunto.
Prof. Valdeci Cunha
e-mail: [email protected]
facebook: Valdeci Cunha
Conforme EC nº 101, de 3 de julho de 2019
2019.7
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Constituição.1.1 Conceito, classificações, princípios fundamentais. ............................................................. 1
2 Direitos e garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. ..................................................................... 4
3 Organização político-administrativa. 3.1 União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. .................. 45
4 Administração pública. 4.1 Disposições gerais, servidores públicos. .................................................. 59
5 Poder legislativo. 5.1 Congresso nacional, câmara dos deputados, senado federal, deputados e senadores. 71
6 Poder executivo. 6.1 atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. .................... 101
7 Poder judiciário. 7.1 Disposições gerais. 7.2 Órgãos do poder judiciário. 7.2.1 Competências. 7.3 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 7.3.1 Composição e competências. ........................................................ 109
8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério público, advocacia e defensoria públicas. ............................ 133
Questões de provas FGV ............................................ 138
A BANCA FGV, FIQUE ATENTO!
As provas de direito da FGV não são muito aprofundadas, como as do CESPE ou ESAF, por exemplo, mesmo em concursos públicos para cargos exclusivos para bacharéis em direito, como técnico e analista judiciário.
Mas, mesmo assim, é importante estudar muito a disciplinas de direito, principalmente direito constitucional e direito administrativo.
Também é de suma importante conhecer a letra da lei, já que a maioria das questões de direito da FGV cobram somente o que está escrito nas normas.
Neste material, além da letra da lei cuidadosamente analisada e explicada, colocamos dicas, esquemas, jurisprudência e questões da banca FGV.
Boa sorte.
CONSTITUIÇÃO
CONCEITO
Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, contendo normas e princípios relativos à estruturação do Estado, à forma de Estado, à forma e sistema do Governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana e aos direitos econômicos e sociais.
Em decorrência do principio supremacia da Constituição, toda e qualquer norma do ordenamento jurídico deve, obrigatoriamente, ser compatível com seu conteúdo.
CONCEPÇÕES
Destacam-se as seguintes acepções:
Concepção sociológica: de Ferdinand
Lassalle, para o qual a Constituição significa a soma dos fatores reais de poder e, desse modo não prevalece o ―que está escrito‖, mas, sim, o próprio poder da sociedade.
Concepção política: de Carl Schmitt,
considerando a ―decisão política fundamental‖, a qual estabelece a própria estrutura do Estado e os Direitos Fundamentais. Desse modo, os demais dispositivos seriam apenas leis constitucionais.
Concepção jurídica: de Hans kelsen, sendo a
Constituição a ―norma hipotética fundamental‖ (lei suprema), decorrente da vontade racional do homem, e não de qualquer lei natural. Seu fundamento não é sociológico, político ou filosófico, mas a própria racionalidade humana. De ressaltar, por fim, que a constituição se coloca no plano do dever ser, e não do ser (da
realidade).
DIREITO CONSTITUCIONAL 2
www.editoradince.com.br
ELEMENTOS
a) Orgânicos: são aqueles que estruturam o Estado e o poder; abrangem os seguintes temas:
1) Organização dos Poderes; 2) Organização do Estado; 3) Forças Armadas; 4) Segurança Pública; 5) Tributação e Orçamento.
b) Limitativos: são os que limitam o Estado; abrangem o tema ―direitos e garantias fundamentais‖, exceto os direitos sociais;
c) Sócio-ideológicos: são os que revelam o compromisso do Estado com a ordem econômica e social do país; abrangem os seguintes temas:
1) Ordem econômica; 2) Ordem social; 3) Direitos sociais;
d) Estabilidade Constitucional: são os que visam
assegurar a defesa da Constituição, a defesa do Estado, a defesa das instituições democráticas, a solução dos conflitos constitucionais e a paz social; abrangem os seguintes temas:
1) Estado de Sítio; 2) Estado de Defesa; 3) Intervenção Federal; 4) ADIN; 5) Emenda Constitucional; 6) Jurisdição Constitucional;
e) Formas de aplicabilidade: são os que trazem regras de aplicação da própria Constituição, como, por exemplo, art. 5º, § 1º, preâmbulo, do ADCT etc.
CLASSIFICAÇÃO:
As Constituições podem apresentar-se de diferentes maneiras. Da analise das diversas constituições, sejam de época diversas, sejam de países diferentes, a doutrina elaborou uma classificação a qual passa a ser apresentada.
1. Quanto ao CONTEÚDO
Materiais: conjunto de regras materialmente
constitucionais, codificadas num documento escrito ou não. São normas essencialmente constitucionais, na medida em que dispõem sobre a estrutura e os poderes do Estado e estabelecem os direitos fundamentais da pessoa humana.
Formais: documento solenemente fixado pelo
poder constituinte originário. Todas as regras estabelecidas neste documento escrito são constitucionais. Por exemplo, o art. 226 da CF/88 traz normas de Direito Civil, porém, por estarem na Constituição promulgada em 1988, a qual é formal, são normas constitucionais. Desse modo tratando-se de uma constituição, não importa seu conteúdo, pois todas normas lá dispostas serão constitucionais e hierarquicamente superiores às demais do ordenamento jurídico.
2. Quanto à FORMA
Escritas: conjunto de regras codificado e
sistematizado em um só documento, o qual contém todas as normas fundamentais.
Não escritas ou costumeiras: quando as
normas constitucionais não constam de um único documento solene, baseando-se nos costumes, na jurisprudência e eventualmente em alguns textos esparsos (por exemplo, a constituição inglesa).
3. Quanto ao MODO DE ELABORAÇÃO
Dogmáticas: apresentam-se como produto
escrito e sistematizado por um órgão constituinte, reunindo as ideias fundamentais da teoria política e do direito dominante em determinada época, expressando os valores sociais prevalentes.
Históricas: resultado de lenta e contínua
evolução das tradições e costumes de um determinado povo.
4. Quanto à ORIGEM
Promulgadas, democráticas ou populares:
fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo para esse fim. Resultam, portanto, de vontade popular e são elaboradas por representantes eleitos pelos cidadãos.
Outorgada: elaboradas sem participação
popular, por imposição de uma pessoa ou grupo que seja detentor de poder do Estado (por exemplo, rei, ditador).
5. Quanto à ESTABILIDAE
Imutáveis: Aquelas que não preveem qualquer
possibilidade de alteração em seu texto.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 3
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Rígidas: aquelas que só podem ser alteradas
por um processo legislativo mais solene e complexo que o previsto para a edição das demais espécies normativas. A própria Constituição estabelece essas regras diferenciadas, as quais tornam mais difícil a alteração do texto constitucional.
Flexíveis: em regra são Constituições não
escritas que podem ser alteradas pelo processo legislativo ordinário, ou seja, como qualquer outra norma. Assim, uma lei ordinária contrária à Constituição à revoga, na medida em que não há hierarquia entre a Constituição e as demais normas.
Semirrígidas: algumas regras são alteráveis
pelo processo legislativo ordinário e outras apenas pelo mais solene e dificultoso. Assim, parte dessa constituição é rígida e a outra é flexível.
6. Quanto à EXTENSÃO
Sintéticas: simplificadas, resumidas, contendo
tão-somente os princípios fundamentais e estruturais do Estado (por exemplo, Constituição dos Estados Unidos, de 1787).
Analíticas: regulamentam detalhadamente
todos os assuntos considerados relevantes para a organização e funcionamento do Estado, também denominadas dirigentes.
NOTA:
A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 classifica-se como: formal, escrita, dogmática, promulgada (democrática ou popular), rígida (com um núcleo super rígido) e analítica.
RESUMO RESUMIDO:
EXTENSÃO
Quanto a ORIGEM:
4. ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO
Analisar a estrutura da Constituição significa analisar suas partes componentes, segundo Messa (2010):
PREÂMBULO
O preâmbulo possui relevância jurídica indireta, pois apenas são princípios que indicam a intenção do constituinte.
Característica:
O preâmbulo apresenta como características:
1) É um discurso elaborado por quem fez a Constituição;
2) Não se situa no âmbito do Direito, mas no domínio da política, refletindo a posição ideológica do constituinte;
3) Não tem força obrigatória, pois não cria direitos ou deveres;
4) É parte integrante da Constituição, mas não do texto constitucional;
5) Não possui função normativa, sendo um repertório de intenções ou princípios de organização do Estado Brasileiro.
PRESTE ATENÇÃO!
Caso uma norma agrida o preâmbulo, não pode ser considerada inconstitucional, de forma que o ele não é paradigma para declaração de inconstitucionalidade (não
há inconstitucionalidade por violação ao preâmbulo).
CORPO
São as normas constitucionais propriamente ditas, compostas por 250 artigos agrupados em títulos, divididos em capítulos. Cada capítulo pode ser dividido em seções e subseções. Cada artigo é formado por um caput (cabeça do artigo), podendo ter incisos (algarismos romanos), alíneas (letras minúsculas) e parágrafos. O corpo da Constituição é chamada parte fixa ou permanente.
QUESTÕES DE CONCURSOS FGV
Ver no final deste material.
4 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS (Art. 5º a 11)
No Título II da Constituição Federal diz quais são os direitos e garantias fundamentais, ordenando-os em cinco espécies:
Direito é o que se protege (vida, propriedade,
etc.).
Garantia é o mecanismo criado para defender o
direito.
FUNÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL
Plano jurídico-político - proibir o Poder Público
de atentar contra a esfera individual da pessoa (competência negativa).
Plano jurídico-subjetivo - o poder de exercer os
direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos.
CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
1ª Geração:
São os direitos civis e políticos que compreendem as liberdades clássicas. Indivíduo frente ao Estado.
2ª Geração:
São os direitos econômicos, sociais e culturais. Exigem prestação do Estado em relação ao Indivíduo.
3ª Geração:
São direitos coletivos, como ao meio ambiente, à qualidade de vida, paz, autodeterminação dos povos e a defesa do consumidor, da infância e da juventude.
Segundo entendimento de Cançado Trindade, os direitos são chamados de 1ª dimensão, 2ª dimensão e 3ª dimensão. Ou seja, o jurista prefere chamar de "dimensão" ao invés de "geração", pois acredita que o termo geração pode dar uma falsa ideia de substituição de uma geração pela outra, o que não acontece. Na verdade, as gerações surgem e convivem juntas. Portanto, ele sugere o uso do termo dimensão, pois ele acredita ser o mais apropriado para indicar a sucessão de Direitos Fundamentais.
Obs.1: direitos fundamentais não são absolutos.
Obs.2: direitos fundamentais não são
renunciáveis, podendo seu titular apenas deixar de exercê-lo, mas não renunciar.
Assim, torna-se fluente entre os doutrinadores o discurso de que os direitos fundamentais apresentam-se em quatro dimensões evolutivas.
A primeira geração de direitos fundamentais,
contemporânea do movimento constitucionalista do
Século XVIII, exalta os valores fundamentais da pessoa humana, exigindo o reconhecimento de direitos básicos sem os quais não é possível conceber-se o próprio ser humano como pessoa.
Os direitos fundamentais de segunda geração
enfatizam as novas conquistas do homem, respondendo a um anseio geral de confirmação do indivíduo como pessoa cultural, economicamente ativa e como ser social. Esses ícones resultaram, primordialmente, do legado nocivo do culto egocêntrico e do individualismo liberal que plasmou o ambiente da revolução burguesa ao depor a monarquia do poder.
A terceira geração de direitos fundamentais
preconiza uma síntese dialética dos valores essencialmente decantados nas duas primeiras versões, pois não valoriza o indivíduo em si mesmo, nem tampouco ovaciona as conquistas culturais, sociais e econômicas, que buscaram corrigir os flagelos do pós-guerra. A nova versão, a nova percepção de direitos fundamentais, projeta o conceito humanitário como resultante da harmonização dos valores humanos, individuais e coletivos, com os valores socioculturais e econômicos. É o homem numa dimensão universalizante, sendo consagrados os direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, ao consumo, à comunicação. É na terceira geração de direitos fundamentais que se cultuam denominados direitos difusos.
Os direitos fundamentais de quarta geração
refletem os avanços tecnológicos que impõem uma nova dimensão do homem no mundo da globalização. A extrema capacidade de "estar" no mundo, sem limitações geográficas, e tendo como barreiras ("fronteiras") apenas os valores morais, culturais e tecnológicos, fazem o Direito redimensionar o valor do homem, hodiernamente. O redimensionamento do homem nesse novo espaço (cibernético globalizado) exige do Direito uma nova construção de princípios, regras e valores que tenham a capacidade de compatibilizar os direitos consolidados ao longo desses mais de três séculos de história constitucional e as novas perspectivas que se apresentam à realidade humana. Nesse contexto se localizam os direitos fundamentais de quarta geração.
Assim, os operadores do Direito vêm cunhando pela doutrina, pela jurisprudência e pela atividade legiferante as novas dimensões do homem em face do Estado. Conceitos clássicos de que fundamentam o Direito Constitucional, tais como Estado soberano dentro de uma dimensão territorial, cidadania, entre outros vão ser inexoravelmente realinhados, ante a inexpugnável força do avanço tecnológico, que atualmente passa a ser um fator de questionamento dos elementos constitutivos do Estado (território, povo, governo e finalidades). Tais elementos são visceralmente atingidos pelo fenômeno da globalização. Esse fenômeno da atualidade, para o Direito, não é mero evento econômico e social, é também e sobretudo jurídico-político.
QUESTÕES DE CONCURSOS FGV
Ver no final deste material.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Igualdade
O QUE DIZ A LEI?
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 5
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
A principal disposição do caput deste art. 5° é o Princípio da Igualdade Formal, ou Princípio da Isonomia, segundo o qual ―todos são iguais perante a
lei‖. Não significa que todas as pessoas terão tratamento absolutamente igual pelas leis brasileiras. Porém, terão tratamento diferenciado na medida das suas diferenças, o que leva a compreender que o verdadeiro conteúdo do princípio é o direito da pessoa de não ser desigualada pela Lei. O que a Constituição exige é que as diferenciações impostas sejam justificáveis pelos objetivos que se pretende atingir pela Lei. Assim, por exemplo, diferenciar homem e mulher num concurso público, será, em geral, inconstitucional, a não ser que o cargo seja exclusivo de mulheres, quando, então, a proibição de inscrição a indivíduos do sexo masculino se justifica.
Processualmente, aplicar o princípio da igualdade significa que o juiz deverá dar tratamento idêntico às partes, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
Ainda, vale à pena notar que uma interpretação literal do artigo conduziria ao entendimento de que o estrangeiro não residente no Brasil (um turista ou um empresário, por exemplo), poderia ser morto ou assaltado, o que é absurdo. Na verdade, a locução ―estrangeiros residentes‖ deve ser interpretada no sentido de abranger todo e qualquer estrangeiro, porque o Princípio da Isonomia garante isso, expressamente
(―sem distinção de qualquer natureza‖, diz o artigo). Além disso, o § 2° deste art. 5° garante o respeito, no Brasil, de
direitos oriundos de ―tratados internacionais‖ e, neles, está o dever de preservar a integridade de pessoa de outras nacionalidades que estejam no Brasil.
Em síntese, o Princípio da isonomia deve merecer
atenção tanto do elaborador da lei (Legislativo ou Executivo) quanto do julgador e do intérprete. O Constituinte consagra da isonomia em diversas passagens, como em relações internacionais (CF, art. 4°, V); nas relações do trabalho (CF, art. 7°, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV); na organização política (CF, art. 19, III); na administração pública (CF, art. 37, I).
Igualdade entre homens e mulheres
O QUE DIZ A LEI?
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição
SÍNTESE - Igualdade (ou Isonomia):
Este inciso impõe uma igualação entre homens e mulheres. Mas é uma igualdade relativa, não absoluta, porque a parte final informa que ela será nos termos da Constituição, o que implica dizer que a Constituição, e somente ela, poderá impor tratamento diferenciado entre os dois sexos. E, efetivamente, faz isso, como por exemplo, os dispositivos contidos nos arts. 7, XX, e 40, III.
As únicas diferenças entre os dois sexos são as expressamente ditas no texto constitucional. Ainda, a distinção de ordem sexual é aceita pela Constituição quando a finalidade pretendida for reduzir desigualdade, como no caso de uma prova de esforço físico entre candidatos homens e mulheres.
Princípio da Legalidade
O QUE DIZ A LEI?
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
SÍNTESE - Legalidade (legalidade na visão do cidadão):
Neste inciso está o importantíssimo Princípio da Legalidade, segundo o qual apenas uma lei,
regularmente votada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, é capaz de criar a alguma pessoa obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa. Lei, nessa linha é todo comando genérico, e abstrato aprovado pelo Legislativo que inova o ordenamento jurídico, obrigando, proibindo ou permitindo.
CUIDADO!
Este é o sentido do dispositivo constitucional.
É de se ressaltar a existência de uma nítida diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal.
Princípio da legalidade
Impõe a submissão à lei e admite duas leituras:
(1) a de que somente a lei pode obrigar, e nada mais, constituindo-se assim, em garantia da pessoa contra os excessos do Poder Público;
(2) e a de que, uma vez existindo a lei, o seu cumprimento é obrigatório. Isto, se constitui num dever da pessoa.
Princípio da reserva legal
Mais estrito, revela na submissão de determinada matéria ao regulamento por lei. Na Constituição aparece sob as formas “Nos termos da lei” ou “Na forma da lei”.
Sempre haverá, nesse caso, a identificação precisa da matéria que, no determinado dispositivo constitucional, está sendo submetida à lei. Porém, fique atento para as locuções, acima mencionadas.
Tortura
O QUE DIZ A LEI?
III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
SÍNTESE - Princípio da Vedação de Tortura
Princípio da vedação de tortura dentre outras
finalidades específicas, tem por função proteger a dignidade da pessoa contra atos que poderiam atentar contra ela.
Tratamento desumano
(contra a vida) é aquele que se tem por contrário à condição de pessoa humana.
Tratamento degradante
É aquele que, aplicado, diminui a condição de pessoa humana e sua dignidade.
Tortura
É sofrimento psíquico ou físico imposto a uma pessoa, por qualquer meio.
Decretos, portarias, instruções, resoluções, nada disso
pode criar uma obrigação a alguém senão estiver
fundamentada numa lei onde tal obrigação seja prevista.
6 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A Lei n ° 9.455, de 7/4/97, veio definir, finalmente, os crimes de tortura, até então não existentes, no Direito Brasileiro, tanto que o STF concedeu habeas corpus a um policial militar paulista que estava preso sob a alegação de ter “torturado” um preso, ocasião em que o Supremo reconheceu a inexistência do crime de tortura. Com essa Lei de 1997 passou a ter definição
legal, qual seja o constrangimento a alguém, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, física ou psíquica causando-lhe sofrimento físico ou mental. AGORA, ATENÇÃO: A palavra ―ninguém‖ abrange qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro.
Súmula Vinculante 11: ―Só é lícito o uso de
algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado‖.
Manifestação do pensamento
O QUE DIZ A LEI?
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
SÍNTESE - Manifestação do pensamento
A liberdade de manifestação do pensamento é o
direito que a pessoa tem de exprimir, por qualquer forma e meio, o que pensa a respeito de qualquer coisa. Em outras palavras, é o direito de uma pessoa dizer o que quer, de quem quiser, da maneira como quiser, no local em que quiser. A única exigência da Constituição é de que a pessoa que exerce esse direito se identifique, para impedir que ele seja fonte de leviandade ou que seja usado de maneira irresponsável. Sabendo quem é o autor do pensamento manifestado, o eventual prejudicado poderá usar o próximo inciso, o V, para defender-se.
Esse Direito vem do art. 19 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, e a melhor doutrina entende que não há qualquer limitação de ordem formal à livre manifestação do pensamento. Alguns, como Paulo José da Costa Júnior, entendem que, no plano lógico, a livre manifestação de ideias deverá ser delimitada pela veracidade e, no plano da imprensa, também pelo interesse público.
O sentido da liberdade de opinião é duplo: o
valor da indiferença impõe que a opinião não deve ser tomada em consideração; e o valor exigência, que impõe o respeito à opinião.
Finalmente, ressalta-se que o pensamento, em si, não é tutelado nem pela Constituição nem pelo Direito. Apenas a sua manifestação o é.
Direito de resposta
O QUE DIZ A LEI?
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
SÍNTESE - Direito de resposta e inviolabilidade de honra, imagem e vida privada
Se no inciso anterior falava-se do direito daquela pessoa que quer manifestar seu pensamento sobre qualquer coisa, aqui, neste inciso, cuida-se, de proteger a
pessoa eventualmente atingida por aquela manifestação, a qual saberá contra quem agir graças à proibição de anonimato. Os direitos do atingido são dados em duas linhas. A primeira, é o direito de resposta proporcional à
ofensa. Essa proporcionalidade deve ser observada no meio e no modo. Assim, se a pessoa foi atingida verbalmente, e somente ela própria ouviu a ofensa, a resposta deverá ser verbal e pessoal, não, por exemplo, escrita ou transmitida pela televisão. Além disso, se a ofensa foi por escrito, por escrito deverá ser a resposta, e não, por exemplo, através de agressão física.
A segunda linha de defesa do ofendido ocorre através do pedido de indenização em Juízo, pela ação cível própria.
Os danos indenizáveis são:
Dano material
Representado pelos danos causados e pelos lucros não obtidos por causa da ofensa.
Dano moral
À intimidade da pessoa, independentemente de ter a ofensa sido conhecida por qualquer outra pessoa, bastando que se sinta ofendido.
Dano à imagem
Dano produzido contra a pessoa em suas relações externas, ou seja, à maneira como ela aparece e é vista por outras pessoas.
As indenizações pedidas pelas três linhas são acumuláveis, o que significa dizer que podem ser pedidas na mesma ação e somadas para o pagamento final.
A quem pretende manifestar suas concepções, ideias e pensamentos.
Art. 5°, IV
Liberdade de se manifestar onde, como e quando quiser.
Obrigação de se identificar de maneira objetiva
À pessoa sobre quem foi feita a manifestação
Art. 5°, V
Direito de resposta proporcional à ofensa.
Direito a indenização financeira por danos morais, materiais e à imagem.
Liberdade de consciência
O QUE DIZ A LEI?
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias.
SÍNTESE - Liberdade de crença religiosa e filosófica
Este inciso trata de três direitos: o de ter liberdade de consciência e de crença (que não são a mesma coisa), o de ter livre o exercício do culto religioso pelo qual tenha optado, e o de ter os locais onde esses cultos são realizados protegidos contra agressões de quem quer que seja.
Consciência e crença são diferentes, porque a
primeira é uma orientação filosófica, como o pacifismo e o naturismo (nudismo), além do que, uma consciência livre pode optar por não ter crença nenhuma, como no caso dos ateus e agnósticos. Estes também estão protegidos pela Constituição, porque se trata de um direito individual. Os adeptos de ritos satânicos também estão protegidos pelo dispositivo, porque, mal ou bem, também é de crença que se trata, e, desde que respeitem os direitos de outras pessoas e as leis, poderão exercer os seus ritos sob proteção constitucional.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 7
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O livre exercício dos cultos não é amplo,
devendo ser observadas as leis sobre repouso noturno e horários de silêncio, por exemplo, bem como áreas de restrição a barulhos, como proximidade de hospitais.
A proteção aos locais de cultos impede que os
adeptos de determinada religião ou crença hostilizem os de outra, sob qualquer argumento. Incumbirá ao Poder Público (política), na forma da lei, dispor sobre a maneira como se fará essa proteção.
Assistência religiosa
O QUE DIZ A LEI?
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva
Pessoas que estiverem nessas entidades de internação coletiva civis (como hospitais, presídios e asilos) e militares (como os quartéis) podem querer praticar seus cultos ou crenças para engrandecimento espiritual.
Por estarem em locais de onde o acesso a seus templos e sacerdotes não é livre, e, já que não podem ir até os locais onde está a sua religião, terão direito de receber a assistência religiosa onde estiverem, sendo o Poder Público obrigado a permitir que isso aconteça.
Não poderá, haver, contudo, amparo material ou financeiro do Estado para isso, porque o art. 19, I, proíbe que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios tenham qualquer envolvimento com religiões ou seus representantes, salvo exceções especiais, esta não é uma delas. Essa assistência religiosa será prestada à conta da própria religião ou do interessado.
Entidades civis de internação coletiva
São os hospitais, presídios, asilos, estabelecimentos educacionais e correlatos.
Entidades militares de internação coletiva
São os quartéis, bases militares, embarcações militares, bases aéreas.
Crença religiosa ou de convicção filosófica ou política
O QUE DIZ A LEI?
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
SÍNTESE - Imperativo de Consciência
A regra geral é de que não poderá ocorrer a privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, até porque acabamos de ver, acima, que a Constituição dá direito à liberdade de consciência e de crença, e não poderia haver punição de qualquer tipo para a pessoa que exerce um direito constitucional.
Todavia, há possibilidade de ocorrer à privação de direitos se a pessoa, baseada em uma das liberdades citadas, recusar-se a cumprir obrigação legal a todos imposta e, também recusar-se a cumprir uma obrigação fixada como alternativa ao não querer cumprir aquela. Por exemplo, e para ficar mais claro: todo jovem na idade de 18 anos é obrigado a prestar serviço militar (obrigação legal a todos imposta); todavia, poderá recusar-se a alistar-se alegando que o Exército usa armas e que armas são instrumentos para tirar a vida de pessoas, o que a
sua religião não permite, pois a vida é divina (convicção religiosa), ou que a Marinha é instrumento de guerra, e ele é pacifista (convicção filosófica), ou que a Aeronáutica é uma força militar de um país capitalista, e ele é marxista convicto (convicção política).
Por qualquer desses argumentos, o jovem não poderá ser obrigado a alistar-se, e também não poderá ser punido por isso, até porque o inciso V, acima, fica garantida a inviolabilidade de consciência. Mas será obrigado a prestar uma outra obrigação, alternativa ao serviço militar, fixada em lei. Se se recusar a essa prestação alternativa, ai sim, será punido com a privação de direitos.
O direito à escusa de consciência não está limitado simplesmente ao serviço militar, podendo abranger outras obrigações, como o alistamento eleitoral, o voto e a participação em tribunal do júri.
Liberdade de pensamento e a censura
O QUE DIZ A LEI?
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.
Não pode mais o Poder Público controlar a produção de filmes, peças de teatro, livros, músicas, artes plásticas, textos em jornais e dos próprios jornais, livros e revistas, pois a regra constitucional é a da liberdade de expressão. Expressamente se diz que não poderá haver censura ou licença. O máximo que a Constituição permite é a classificação para efeito indicativo (art. 21, XVI), mas ela terá por objeto informar aos pais ou responsável, por exemplo, a que público e idade é adequado tal filme, aconselhando sobre isso, e não proibindo. As proibições que se têm visto sobre músicas e livros, por exemplo, são claras manifestações inconstitucionais de censura prévia. Cuida-se, aqui, de formas de manifestação de pensamento, já defendidas pelo inciso IV deste artigo, quando a expressão do pensamento assume forma de teatro, música, pintura, poesia, dentre outros.
Inviolabilidades
O QUE DIZ A LEI?
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Intimidade, qualquer pessoa tem, em qualquer
lugar onde se encontre, pois ela significa a esfera mais íntima, a mais subjetiva e mais profunda do ser humano, com as suas concepções pessoais, seus gostos, seus problemas, seus desvios, suas taras.
Vida privada é uma forma de extemar essa
intimidade, que acontece em lugares onde a pessoa esteja ou se sinta protegida da interferência de estranhos, como a casa onde mora.
Honra é um, atributo pessoal da pessoa, é uma
característica que reveste a imagem da pessoa dando-lhe respeitabilidade, bom nome e boa fama, além do sentimento íntimo, a consciência da própria dignidade pessoal. Em outras palavras, e na lição de Adriano de Cupis, honra é a dignidade pessoal refletida na consideração alheia e no sentimento da própria pessoa.
Imagem é a figura física e material da pessoa, não
só pessoal, mas também por pintura, por fotografia, por televisão, por caricatura, por charge ou por reprodução de
8 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
partes do corpo da pessoa pelas quais se possa identificá-las. Todas essas esferas estão constitucionalmente protegidas pela Constituição, neste inciso. Poderiam ser violadas, por exemplo, pela publicação de um livro sobre a vida de alguém (violaria intimidade e vida privada, e, talvez, a imagem), ou por fotos da pessoa num campo de nudismo, ou pela filmagem de uma pessoa muito bonita, excessivamente destacada, numa praia, para ilustrar um lançamento imobiliário.
O direito à imagem possui duas variações. Uma
se refere à produção gráfica da pessoa (retrato, desenho, filmagem). Outro é o conjunto de atributos cultivados pelo indivíduo e reconhecido pelo grupo social. Ambos estão protegidos pela Constituição, como também está por ser variável do direito à imagem, uma voz famosa, uma parte do corpo facilmente identificável a atribuível a determinada pessoa. O dano estético é indenizável, por se referir á proteção da integridade da imagem.
Inviolabilidade de domicílio
O QUE DIZ A LEI?
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
A casa é o lugar onde a pessoa que nela mora tem total proteção à sua intimidade e vida privada. Por isso, com seu consentimento, qualquer pessoa pode entrar nessa casa, mas não sem consentimento, nem contra ele, a não ser em alguns casos, que veremos agora. Antes disso, perceba que a proteção é dada ao morador, não ao proprietário, porque não importa, para esses fins, a que título à pessoa está morando no local. A proteção é dada a quem habita a casa (que abrange qualquer tipo de moradia, de barraca de camping e barracos até mansões e, em alguns casos, os locais de trabalho).
Uma casa pode ser penetrada a qualquer momento, durante o dia ou à noite, para prestação de socorro (como no caso de um acidente envolvendo o morador), e em caso de desastre (incêndio, inundação, queda de árvore sobre a casa, terremoto) e em flagrante delito (em todos os quatro casos que o Código Penal prevê: quando o crime está sendo cometido, quando acabou de ser cometido, quando houver perseguição ao criminoso, logo após o crime, e quando o criminoso for encontrado, logo depois, com objetos ou instrumento que façam presumir ser a pessoa o autor do crime). Vale lembrar que qualquer pessoa pode prender quem quer que se encontre numa das quatro situações de flagrante delito.
Por determinação judicial só é possível entrar em uma casa durante o ―dia‖. Como não há uma definição precisa e ―dia‖ para efeitos penais, é adotada a definição do Direito Processual Civil, onde dia é o período que vai das 6h às 20h (até dezembro de 1994 era das 6h às 18h).
Finalmente, vale informar que esse período de ―dia‖ é para o ingresso na casa, não para permanência nela, pelo que um oficial de justiça pode entrar, com mandado, numa casa, às 19:59h e lá permanecer até a conclusão da diligência ou até às 22h, quando começa o horário tido como repouso noturno.
A vedação constitucional é dirigida tanto ao Poder Público quanto ao particular, constituindo a violação dessa garantia, crime previsto no art. 150 do Código Penal.
São titulares de tal direito quaisquer pessoas,
brasileiros ou estrangeiros, e estende-se também, à pessoa jurídica, como forma de proteção da pessoa física.
A permissão de penetração em domicílio por determinação judicial é chamada de reserva jurisdicional.
Por fim, a Constituição comporta uma hipótese de quebra dessa inviolabilidade. Está ela prevista no art. 139, V, onde se lê a possibilidade e apreensão em domicílio no caso de estado de sítio.
Inviolabilidades de comunicações
O QUE DIZ A LEI?
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
Trata-se, aqui, da proteção constitucional a quatro sigilos, todos relacionados com comunicação. A única forma de sigilo que poderá ser quebrado, no dizer deste inciso, é o de comunicação telefônica, mas em hipóteses muito específicas:
(1) é necessário que haja uma ordem judicial prévia ao grampo;
(2) que essa violação esteja sendo feita para uma de duas únicas finalidades:
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 9
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
a. investigação criminal (que só pode ser feita por autoridade policial)
b. instrução processual penal (por autoridades judiciárias).
Liberdade profissional
O QUE DIZ A LEI?
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer
A regra é simples: Se não houver lei dispondo sobre determinada profissão, trabalho ou ofício, qualquer pessoa, a qualquer tempo, e de qualquer forma pode exercê-la (por exemplo, artesão, marceneiro, carnavalesco, detetive particular, ator de teatro). Ao contrário, se houver lei estabelecendo uma qualificação profissional necessária, somente aquele que atender ao que exige a lei pode exercer esse trabalho, ofício ou profissão (casos do advogado, do médico, do engenheiro, do piloto de avião).
Regra
Liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão.
Exceção Exercício de trabalho, ofício ou profissão condicionado às exigências impostas por lei, fundamentadas no interesse público ou social no desempenho de certas atividades.
Informação e publicidade
O QUE DIZ A LEI?
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional
Este dispositivo trata das duas pontas da relação de informação. Primeiramente, ao falar da pessoa, a quem se dirige a informação, diz ele que toda e qualquer pessoa dirige a informação, diz ele que toda e qualquer pessoa tem o direito constitucional de ser informada sobre tudo o que não estiver protegido pelo sigilo oficial.
De outro lado, sabia o constituinte que as informações mais importantes geralmente comprometem a sua fonte, pela sensibilidade dos interesses, envolvidos, pela relevância da questão, especialmente no setor público político e empresarial. Para que também essas informações cheguem ao brasileiro, e assim o seu direto pleno à informação seja amplamente atendido, foi assegurado ao profissional de imprensa o poder de manter a origem da informação divulgada sob sigilo.
A liberdade de informação, aqui prevista e preservada, abrange o direito de informar, de se informar e de ser informado. Ou seja: de passar a informação, de buscar a informação e de receber a informação.
Acesso à informação
Direito assegurado, como regra, a todas as pessoas no território brasileiro, a quem se defere o direito de ser informado sobre tudo o que detenha interesse pessoal, coletivo ou geral.
Sigilo da fonte
Garantia dirigida ao detentor da informação, com a dupla finalidade de protegê-lo e de estimular a liberação ou divulgação de informações.
Direito de ir, vir e ficar
O QUE DIZ A LEI?
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens
Direito fundamental da pessoa, o direito de ir, vir e ficar está assegurado nos termos deste inciso, e qualquer ato contra ele é atacável habeas corpus (inciso LXVIII deste art. 5°). Em tempo de paz significa tempo de normalidade democrática e institucional. Em caso de guerra ou mesmo em caso de estado de sítio (art. 139, I) poderá haver restrição ao direito de locomoção.
A parte final diz que qualquer pessoa (inclusive estrangeiro) poderá entrar, ficar ou sair do Brasil, nos termos da lei, lei esta que não poderá impor obstáculos intransponíveis a essa locomoção, mas apenas dispor sobre passaporte, registro, tributos e coisas do gênero. Qualquer bem móvel está compreendido na proteção do dispositivo. Uma pessoa submetida à quarentena médica (por doença contagiosa, por exemplo) não poderá invocar esse direito de liberdade de locomoção, porque entre esse e o direito da população de não ser contaminada pela doença prevalece este, o direto coletivo.
Ainda, no direito de ir, vir e ficar se compreende o direito de fixar residência. O direito de locomoção, na lição de José Afonso da Silva, implica o direito de circulação por via pública ou afetada ao uso público (como uma servidão).
O que é? Direito de ir, vir e ficar.
Direito de se deslocar.
A quem é assegurado?
Como regra, aos brasileiros e estrangeiros no território nacional.
Âmbito No território brasileiro, em tempos de paz.
Restrições Poderá haver restrições em tempos de guerra, no caso de Estado de Sítio, além de outras, fixadas em lei, como as relativas ao combate ou a contenção de epidemias, e as tributárias.
Garantias correspondentes
É a ação de habeas corpus.
Direito de reunião
O QUE DIZ A LEI?
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
Trata-se aqui do direito de reunião (cuja principal
característica é ser eventual e temporária) e que se define como um direito de ação coletiva que envolve a adesão consciente de duas ou mais pessoas com a finalidade de realização de um objetivo comum. Desde que pacifica (sem propósito hostil) e sem armas, a reunião em local aberto ao público depende de uma única providência, que é o prévio aviso à autoridade competente. Esse prévio aviso tem duas finalidades: a primeira, assegurar aos
10 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
comunicantes um direto de preferência sobre outras reuniões posteriormente marcadas para o mesmo local, dia e hora (note que uma reunião não poderá frustrar outra anteriormente convocada para o mesmo local); e a segunda, dar à autoridade condições de providenciar segurança e policiamento no local, se entender necessário. Esse prévio aviso não é, ressalte-se, um requerimento ou pedido; é uma mera comunicação. Se a reunião preencher as condições do inciso, não poderá a autoridade impedir a sua realização em local próprio. Segundo Canotilho, para haver reunião não basta que algumas pessoas se encontrem juntas, já que exige desde logo a consciência e a vontade de reunião. O caráter temporário é, também, essencial, pois, se houver permanência, tratar-se-á da associação.
Reunião É eventual e temporária, sendo definida como um direito de ação coletiva que envolve a adesão consciente de duas ou mais pessoas com a finalidade de realização de um objetivo comum.
A quem? É direito assegurado tanto a brasileiros quanto a estrangeiros, independente de idade ou capacidade civil.
Condições A reunião deve ser pacífica, ou seja, não ter por objetivo propósitos hostis ou belicosos, e seus participantes não podem estar armados.
Autorização A realização da reunião não estar sujeita à concordância do poder público. Este poderá, contudo, impedi-la se constar o caráter não pacífico ou a presença de armas.
Prévio aviso
Tem por objetivo permitir à autoridade pública a adoção de ações visando a acautelar o interesse dos participantes da reunião e de terceiros, como medidas relativas ao trânsito e à segurança de prédios públicos.
Direito de associação
O QUE DIZ A LEI?
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar
Associação é diferente de reunião por ter um
caráter de permanência e objetivos definidos, em torno dos quais se associam pessoas que os buscam. Ou seja, é uma coligação voluntária de duas ou mais pessoas com vistas à realização de um objetivo comum, sob direção única. Essa associação pode ter inúmeras características
(empresarial, cultural, filantrópica, política, sindical, esportiva, recreativa). Essa liberdade é plena, desde que os fins da associação sejam lícitos (e são lícitos os fins expressamente permitidos pela lei ou não expressamente proibidos pela lei); e não tenha ela caráter paramilitar.
Esse caráter é expressado geralmente pelo uso de uniformes, ou uso de armas ou treinamento marcial, ou sistema interno de hierarquia e uso de palavras de ordem. A ocorrência de uns ou alguns desses requisitos pode indicar a existência de uma associação de caráter paramilitar. Uma torcida organizada de futebol, por exemplo, poderá vir a ser encaixada nessa proibição.
Ainda, se a associação quiser adquirir personalidade jurídica, deverá ser registrada na forma da lei. Mas a aquisição dessa personalidade é opção dos associados.
Associação Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. É toda coligação voluntária de algumas ou de muitas pessoas físicas, por longo tempo, com o intuito de alcançar alguma finalidade lícita, sobe direção unificante.
Plena Impõe a impossibilidade, por inconstitucionalidade, de haver regramento legal ou administrativo ao direito de associação para fins lícitos.
Condicionamento
A finalidade deve ser lícita, ou seja, amparada pela lei ou não contrária a ela.
Caráter paramilitar
É indicado pelo uso de regramentos de funcionamento semelhante ao adotado pelas estruturas militares, com rígida hierarquia, uso de uniforme, adestramento de combate, uso de armas.
Criação de associações
O QUE DIZ A LEI?
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento
COMENTÁRIO - Se é plena a liberdade de associação, nada mais lógico do que o direito de criá-las
ser independente de autorização de quem quer que seja. Quem determina como vai ser a associação são os membros, e o Estado não pode interferir, por nenhum de seus órgãos, no funcionamento da entidade. Quanto à cooperativa a disciplina (é um pouco diferente). A sua criação também não depende de autorização de ninguém, e nenhum órgão estatal poderá interferir na sua gestão. No entanto, a Constituição determina que se obedeça a uma lei que vai dispor sobre a criação dessas entidades especiais, lei esta que imporá certos procedimentos e providências obrigatórias para que a entidade seja chamada de cooperativa, como podem ser, por exemplo, a obrigatoriedade de existência de Conselho Fiscal, de não renumerar os cargos de comando e de reaplicar os excedentes financeiros nos objetivos da cooperativa.
O QUE DIZ A LEI?
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado
A dissolução voluntária de associação depende
do que os associados decidirem a respeito, ou da disciplina do assunto dada pelo regimento interno, se houver um. O que a Constituição trata é como se fará a dissolução compulsória da associação, isto é, quando ela tiver que ser dissolvida contra a vontade de seus sócios. Tanto para suspensão das atividades quanto para dissolução compulsória, exige a Constituição uma
A interferência estatal é proibida, desde que a
associação ou a cooperativa estejam estruturadas e
funcionando na conformidade do dispositivo nesta
Constituição, para as associações, e na
Constituição e nas leis, para as cooperativas.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 11
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
decisão judicial, o que importa dizer que ordens administrativas ou policiais sobre o assunto são inconstitucionais. Além disso, é de se ver, enquanto uma associação pode ter as suas atividades suspensas por decisão judicial ainda modificável, como aquela da qual se recorreu, a dissolução exige decisão judicial com trânsito em julgado, isto é, decisão definitiva, imodificável, da qual não cabe mais recurso, isso porque essa decisão é mais drástica e de mais difícil reversão, pelo que tolerar uma decisão provisória dissolvesse associação e, depois, pela reforma da decisão, permitir a sua reestruturação, seria um contra senso. O que se pretende é a segurança.
O QUE DIZ A LEI?
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
O direito individual de associar-se é exatamente isso: um direito. Ninguém pode ser obrigado à associação, nem a permanecer em uma.
Esse dispositivo se aplica, além das associações, às entidades sindicais.
Ingresso em associação
É decisão da própria pessoa.
Permanência em associação
É decisão da própria pessoa.
Saída de associação
É decisão da própria pessoa.
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente
O assunto aqui é a representação processual,
isto é, o direito de uma entidade defender um juízo ou fora dele, em nome de terceiros, um direito que não é seu, mais de um, alguns ou todos os seus associados, amparado por mandato. Eduard Saad concorda em que, não se trata aqui, de substituição processual quando alguém age em juízo em nome próprio para a defesa de interesse alheio, e sempre em virtude de lei, conforme estatui o art. 6° do Código Civil. Como visto acima, a liberdade de constituir uma associação é plena e não é imposta nenhuma condicionante a isso. Em face dessa imprecisão, não se pode deduzir que uma pessoa que se ligue a uma associação de qualquer tipo esteja, ao filiar-se implicitamente autorizando a entidade a representá-la, judicial ou extrajudicialmente.
Como isso não pode ser presumido, a Constituição exige que uma associação, quando atuar em defesa de interesse de associados, antes de mais nada, prove por escrito que está autorizada expressamente por esse ou esses associados ao falar em nome deles. Sem essa prova, a associação é ilegítima para essa representação. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de autorização específica para a associação atuar em nome de seus associados, bastando à estatutária.
O mesmo não ocorre, por exemplo, em relação às organizações sindicais (art. 8°, III) também habilitadas a
defender os interesses dos seus sindicalizados judicial e extrajudicialmente, mas sem precisar provar que estão autorizados a isso, porque tal autorização se presume das próprias finalidades do sindicato. Quando alguém se filia a um sindicato é lícito admitir que fez isso procurando reforçar-se para defender os seus direitos. É feita a
ressalva, contudo, de que, quando o sindicato postula sobre seus direitos individuais de seus filiados é imprescindível à outorga de poderes a ele, para regularizar a representação processual.
Representação judicial ou extrajudicial por associações
Depende de autorização
Representação judicial ou extrajudicial por associações
Não Depende de autorização
Regime Constitucional do Direito de Propriedade
O QUE DIZ A LEI?
XXII - é garantido o direito de propriedade
Este dispositivo assegura toda e qualquer propriedade, desde a imobiliária até a intelectual e de
marcas. É um dispositivo pelo qual se reconhece à pessoa, no Brasil, o direto de ser proprietário de algo, em contraponto com exclusividade da propriedade estatal de outros regimes. O direito de propriedade,
genericamente, pode ser definido como um direito subjetivo que assegura à pessoa o monopólio da exploração de um bem e de fazer esse valer esse poder contra todos que eventualmente queiram a ele se oporem, segundo lição de Luiz Alberto David Araújo.
Direito de propriedade
É a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que quer, injustamente, a possua ou detenha, segundo conceitua o Código Civil.
Extensão Alcança tanto a propriedade material quanto a propriedade imaterial.
O QUE DIZ A LEI?
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social
SÍNTESE - Função social da propriedade
Função social da propriedade é um conceito que
dá a esta um atributo coletivo, não apenas individual. Significa dizer que a propriedade não é um direito que se exerce apenas pelo dono de alguma coisa, mas também que esse dono exerce em relação a terceiros. Ou seja, a propriedade, além de direito da pessoa, é também um encargo contra essa, que fica constitucionalmente obrigada a retribuir, de alguma forma, ao grupo social, um benefício pela manutenção e uso da propriedade.
A Constituição define o conceito de função social da propriedade em relação a dois dos seus tipos. Quanto
à propriedade urbana, função social é aquela estabelecida no art. 182, § 2°. Quanto à propriedade rural, o conceito está no art. 186.
O QUE DIZ A LEI?
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa, e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
SÍNTESE - Desapropriação Ordinária de Imóvel Urbano
Desapropriação é uma forma de aquisição de
bens pelo Poder Público. Em outras palavras, é um instrumento de que se vale o Estado para retirar a
12 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
propriedade de um particular e incorporar ao patrimônio público, indenizando o ex-proprietário.
A Constituição estabelece três tipos de desapropriação:
1. Por necessidade pública, quando é indispensável que determinado bem particular seja usado para finalidade pública;
2. Por utilidade pública, quando não é indispensável, mas é conveniente que determinado bem seja usado no desempenho de atividade pública;
3. Por interesse social, que é um argumento vasto, mas dentro do qual cabem argumentos que sustentem que a propriedade, por qualquer motivo, será mais bem aproveitada se transferida ao patrimônio público do que se mantida sob o poder do particular.
Além de justa, há que ser prévia, ou seja, antes de o Estado passar para o seu patrimônio a propriedade do particular, este já deve ter sido indenizado.
As indenizações devem ser pagas em dinheiro.
CUIDADO!!!
Há duas exceções a essa regra geral.
A primeira é que algumas desapropriações são feitas
mediante indenização justa e prévia, mas em títulos, não em
dinheiro. Esses títulos são devidos pela desapropriação de
imóveis rural (títulos da dívida pública), nos termos do art. 182,
§ 4°, III, geralmente, quando não cumpre a sua função social, ou
sob o mesmo argumento, pela desapropriação de imóveis rurais
(títulos da vida agrária), conforme previsto no art. 184, caput.
A segunda exceção é uma desapropriação com efeito de
confisco, feita, portanto, sem indenização do proprietário
particular, na forma do art. 243, sobre terras onde exista cultivo
de plantas psicotrópicas (cannabis sativa, eritroxilion coca,
epadu, papoula).
O QUE DIZ A LEI?
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano
SÍNTESE - Requisição administrativa da propriedade
O inciso fala do instituto da requisição administrativa, pelo qual o proprietário particular do bem
não perde a propriedade, mas terá que tolerar a ocupação ou o uso dela durante um certo período de tempo, para que o Poder Público enfrente uma situação de iminente perigo público, como uma enchente ou de guerra. Finda a ocupação, o Estado desocupará ou devolverá o bem do particular e ficará obrigado a indenizar este, se da ocupação ou uso resultou algum dano material ao bem.
O QUE DIZ A LEI?
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
SÍNTESE - Pequena propriedade rural
Este inciso abre uma exceção à regra de penhorabilidade dos bens dados em garantia de financiamentos. Como o pequeno proprietário subsiste do que colhe e produz em sua terra, tolerar a penhora desta
para o pagamento de dívidas seria o mesmo que condenar o pequeno colono à fome ou à marginalização das favelas nas cidades. Para isso, o constituinte fixou que a pequena propriedade rural não é penhorável, pedindo, para isso, quatro requisitos:
1. A propriedade deve ser classificada como pequena nos termos da lei;
2. Deve ser produtiva;
3. Deve produzir a partir do trabalho familiar, exclusivamente;
4. Finalmente, a origem da dívida deve ter sido financiamento da atividade produtiva da propriedade.
Como, nessas condições, dificilmente um pequeno colono obteria crédito agrícola em bancos, manda o inciso que a lei disponha sobre a forma como será viabilizado o financiamento da produção nessas propriedades.
QUE DIZ A LEI?
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
SÍNTESE - Direito autoral
O direto autoral é uma das formas de propriedade
garantidas pela Constituição. O resultado material da exploração da obra do autor é auferido por ele vitalicialmente. Com a sua morte, esses direitos passam aos herdeiros (cônjuge, pais ou filhos), caso em que serão desfrutados também de forma vitalícia. Se, contudo, tais herdeiros, forem distantes, a sucessão nesses direitos se dará por prazo determinado, que a lei informa ser, hoje, de 60 anos, a contar de primeiro de janeiro do ano seguinte à morte do autor.
O QUE DIZ A LEI?
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei
a) A proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
SÍNTESE - Direito de imagem e de fiscalização
Obras coletivas quer dizer uma peça de teatro,
um filme, uma novela, uma atividade desportiva coletiva. As pessoas que participam da realização dessas obras têm direito constitucional de receber renumeração por essa participação, na medida dela. E extensão desse direito à reprodução da imagem e voz humanas reconhece a importância dos trabalhos de certas pessoas na mídia, como os narradores e locutores esportivos, cuja presença em um ou em outro canal significa um aumento de qualidade e de arrecadação pelas emissoras.
A segunda alínea estabelece o direito de tais
participantes de fiscalizar o resultado econômico das obras de que participarem, de forma a não haver burla no cálculo do direito autoral a que fazem jus.
O QUE DIZ A LEI?
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização,
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 13
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País
SÍNTESE - Propriedade Industrial
A definição do que seja invento ou criação industrial é matéria do Código Nacional de Propriedade Industrial, em fase final de tramitação no Congresso Nacional, pelo que não vamos tratar aqui desses conceitos. Como o progresso tecnológico e sua importância para a humanidade dependem, em grande medida, de se conhecer determinados inventos, e partindo deles, obter-se inventos melhores, o constituinte resolveu impor uma proteção apenas temporária, para que o inventor através do recebimento de royalites, seja remunerado pelo seu talento e atividade intelectual empregados na invenção. Depois desse prazo, contudo, o invento cai no domínio comum, para acesso de qualquer pessoa.
O mesmo não acontece com as criações industriais, as marcas, os nomes de empresas e seus símbolos, que são propriedades perenes de seus detentores. É razoável a disciplina, já que o maior ou menor valor da marca ou do nome de uma empresa tem relação direta com a qualidade de seus produtos, o que justifica o interesse da empresa em aprimorá-los e o interesse do Estado em proteger essa propriedade.
A ressalva final, quanto ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País é perigosa e pode levar à negativa do reconhecimento de patentes e progressos tecnológicos estrangeiros utilizados no Brasil.
A proteção ao invento vem de longa data no Brasil. Foi introduzida entre nós pelo Alvará do Príncipe Regente de 28 de janeiro de 1809, o que nos tornou o quarto país do mundo a tratar do assunto.
O QUE DIZ A LEI?
XXX - é garantido o direito de herança
SÍNTESE - Herança
Herança é o patrimônio do falecido, ou seja, o
conjunto de seus direitos e deveres. Com a morte do titular, chamado por alguns de cujos e por outros de autor
da herança, esse conjunto se transfere, no momento exato do falecimento, aos herdeiros legítimos e testamentários do morto, segundo lição precisa de Sílvio Rodrigues. Essa sucessão pode dar-se de duas maneiras:
1. Decorrendo de disposições de última vontade (testamento), é chamada sucessão testamentária;
2. Decorrendo da lei, é dita sucessão legítima.
O QUE DIZ A LEI?
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujos"
SÍNTESE - Sucessão de bens de estrangeiros
Um bem (como um imóvel) de brasileiros, situados no Brasil, terá sempre a sua sucessão regulada pela lei brasileira. Um bem de estrangeiro, contudo, situado no Brasil, abre ao cônjuge sobrevivente e aos seus filhos, desde que brasileiros, o direito de escolher entre a lei
brasileira e a lei do País de origem do cônjuge falecido para regular a sucessão, podendo aplicar aqui qualquer das duas, escolhendo a que lhes seja mais favorável. Segundo Maria Helena Diniz, o termo sucessão indica o fato de uma pessoa inserir-se na titularidade de uma relação jurídica que lhe advém de uma outra pessoa, ou de outra forma, fazer-se titular de direitos e obrigações que não eram seus.
O QUE DIZ A LEI?
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
SÍNTESE - Defesa do consumidor
Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, ficou preenchido o sentido desse dispositivo, que se voltou à pessoa na condição do consumidor, para assegurar a ela um grupo de direitos que a tirem da posição de inferioridade em que estão em relação ao produtor ou ao vendedor de determinado produto ou serviço.
O QUE DIZ A LEI?
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
O que a Constituição quer garantir aqui é a publicidade dos atos de governo, impedindo uma
administração sigilosa ou secreta. O cidadão, que quer ser cada vez mais participativo da vida do Estado, pode requerer informações em que tenha interesse particular, mas também pode fazê-lo em relação àquelas em que tenha interesse remoto, posto que interessam à coletividade, à sociedade. Somente é admitida a não prestação das informações pelos órgãos públicos quando essa for de natureza sigilosa, como as relativas às Forças Armadas, à segurança nacional, às reservas enérgicas e a matéria radioativa.
SÍNTESE - Direito de informação em órgãos públicos.
O servidor a quem a lei incumbe o dever de prestar tais informações será punido pela prática de crime de responsabilidade se não fizer isso no prazo que a lei lhe estabelece.
Essas informações serão perdidas por requerimento ao órgão público competente para prestá-las.
Cabe anotar, por importante, que a não observância desse direito subjetivo a informações nem sempre será corrigida pelo habeas data, mas somente nos casos em que a informação perseguida diga respeito à própria pessoa do requerente. Nos demais casos (informações de interesse coletivo ou geral, ou informações de interesse pessoal que não seja a respeito da própria pessoa), a ação adequada é o mandado de segurança.
Todos A locução inclui tanto brasileiros quanto
estrangeiros
Órgãos
públicos
A referência alcança todos os órgãos públicos
federais, estaduais, distritais e municipais.
Interesse
particular
É interesse individual, da própria pessoa,
sobre si mesma ou outro, de seu exclusivo
interesse.
14 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Interesse
coletivo
Designa interesse de um grupo determinado,
como contribuintes, consumidores,
aposentados.
Interesse
geral
É interesse difuso, titularizado por todos; não
individualizável.
Responsabili
zação
Será civil, criminal e administrativa.
Restrições A referência alcança informações militares,
sigilosas ou de interesse estratégico.
O QUE DIZ A LEI?
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
SÍNTESE - Direito de petição e Direito de obter certidões
Toda e qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, pode requerer informações para defender seus direitos, ou obter certidões em repartição pública para defesa de direitos ou esclarecimento de situação pessoal. A locução ―em defesa de direitos‖ permite que o direito de petição seja usado para defender tanto direitos individuais quanto coletivos ou gerais.
O direito de petição, que este inciso consagra,
também identifica um instrumento de participação individual na vida do Estado, pois possibilita o exercício das prerrogativas de cidadania.
Essas informações serão prestadas pelo órgão competente, e a Constituição proíbe que seja cobrada a taxa (entendida como espécie do gênero tributo) sobre tais prestações.
Dentre as pessoas que podem usar o direito de petição estão o cidadão, para exercer o direito de obter informação, do qual tratamos no inciso anterior, e o servidor, para pedir a reapreciação de punição administrativa que tenha sofrido. O direito de petição é
um direito político, que pode ser exercido por qualquer um, pessoa física o jurídica, em forma rígida de procedimento para fazer-se valer, caracterizando-se pela informalidade, bastando à identificação do peticionário e o conteúdo sumário do que pretende. Pode vir exteriorizado como petição, representação, queixa ou reclamação.
O direito de certidão, previsto na alínea ―b‖,
segundo Luiz Alberto David Araújo, é estruturado para ser exercido contra as repartições públicas, compreendidas aí delegacias de polícia, órgão do Poder Judiciário, Mesas do Legislativo, secretarias do Ministério Público. Certidões administrativas, na lição de Hely Lopes Meireles, são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de ato ou fato constante de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas.
Dentre as certidões contidas na alínea ―b‖ estão a certidão de tempo de serviço para fins de averbação, folhas corridas e histórico funcional.
O QUE DIZ A LEI?
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
SÍNTESE - Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (ou do Acesso ao Judiciário, ou do Direito de Ação)
O inciso cuida do Importante Princípio da inafastabilidade da Jurisdição, ou do Acesso ao
Judiciário, ou do Direito de Ação, de onde se produzem de imediato dois importantes efeitos: primeiro, é consagrado ao judiciário, o monopólio da jurisprudição, e é garantido à pessoa, o direito de ter acesso a esse Poder; segundo, de acordo com o princípio, é inconstitucional qualquer obstáculo entre a pessoa cujo direito esteja lesado ou ameaçado de lesão e o Poder Judiciário, único competente para resolver definitivamente qualquer assunto que envolva direito. A decisão proferida pelo Judiciário é, assim, final e impositiva, e deverá ser observada pelas partes, sendo que não é possível a rediscussão do assunto no próprio Judiciário ou em qualquer dos outros Poderes da República.
Muito importante notar que não existe mais constitucionalidade numa figura adotada na esfera administrativa em tempos passados, chamada de instância administrativa de curso forçado, pela qual toda pessoa, especialmente servidor público, que fosse lesado por ato administrativo teria que expor suas razões primeiro ao próprio órgão, e só depois de resolvida por ele é que teria acesso ao Judiciário. Hoje, o ingresso na via administrativa é opção do administrado, que poderá usá-la ou não, a qualquer momento.
Como se viu na análise do inciso II deste artigo, o Princípio da Legalidade afirma que somente a lei pode obrigar a fazer ou não fazer alguma coisa. E essa lei nunca poderá prever que eventuais danos não poderão ser apreciados pelo Judiciário, ou somente poderão sê-lo depois da tomada de outra atitude.Isto é fato concreto.
Para Nelson Nery Júnior, o fato de as partes constituírem compromisso arbitral não significa ofensa ao princípio do direito de ação, porque somente os direitos disponíveis podem ser objeto desse compromisso, e as partes, quando o celebram, estão abrindo mão dos usos da jurisdição estatal, optando pela jurisdição arbitral.
A garantia do acesso à justiça não significa que o processo deva ser gratuito. Todavia, a cobrança de taxas excessivas, que criem obstáculos ao uso da jurisdição, tem sido dada por inconstitucional.
O QUE DIZ A LEI?
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
SÍNTASE - Princípio da Segurança nas Relações Jurídicas
Direito adquirido é aquele que já se incorporou
ao patrimônio da pessoa, pelo aperfeiçoamento de algum ato que o confere, e do domínio dessa pessoa não pode ser retirado. Ou, é um direito exercitável pela pessoa no momento em que se tenta tirá-lo dela.
Por exemplo, após três anos de efetivo exercício,
o servidor adquire o direito à estabilidade no serviço público. Se tentar exonerá-lo de oficio, esse servidor vai exercer o direito da estabilidade contra o ato; se tentar eliminar o direito por outra lei, essa nova lei será dada por inconstitucional.
Ato jurídico perfeito é aquele que reúne:
1. Sujeito capaz: com capacidade civil, plena, ou
seja, 18 anos;
2. Objeto lícito: o que se está fazendo deve ser
expressamente permitido por lei ou não expressamente proibido por ela e;
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 15
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
3. Forma prescrita ou não defesa em lei: o
revestimento externo do ato deve ser aquele que a lei obriga ou, não obrigando, um que a lei não proíba.
Coisa julgada é objeto sobre o qual versava
determinada demanda judicial, o qual, com o fim do processo, torna-se imodificável. Assim, se o processo era para saber quem é o proprietário de determinado imóvel, ao seu fim, com o trânsito em julgado, a justiça vai dizer quem é o proprietário, e a coisa (quem era o dono do imóvel) fica julgada, não mais podendo ser rediscutida.
O QUE DIZ A LEI?
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
SÍNTESE - Juiz Natural
Juízo ou tribunal de exceção é juízo ou tribunal
não previsto na Constituição. O Poder Judiciário não admite novidade na sua estrutura. Qualquer juízo não previsto, qualquer tribunal especial, será dado como de exceção e, por isso, declarado inconstitucional pelos meios próprios.
O Supremo Tribunal Federal, em acórdão
vencedor de autoria do Ministro Celso de Mello, já afirmou que a supressão, contra o réu, de quaisquer direitos processuais, garantias ou prerrogativas, com violação do devido processo legal, equivale a transformar qualquer juízo em juízo de exceção.
Na definição de Nelson Nery Junior, tribunal de exceção é aquele designado ou criado por deliberação
legislativa, ou não, para julgar determinado caso, tenha ele já ocorrido ou não, irrelevante a já existência do tribunal.
Também não se pode confundir tribunal de exceção com privilégio de foro, que ocorre quando a lei favorece alguém em razão de uma condição pessoal, no interesse público.
As regras referentes a este inciso são complementadas pelas do inciso LIII, onde se cuida do juiz natural.
O QUE DIZ A LEI?
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
SÍNTESE - Tribunal do Júri
O tribunal do júri é uma especialização da justiça
criminal de primeira instância. Crimes geralmente são julgados por Juízes chamados singulares porque sentenciam sozinho. Todavia, se se tratar de crime doloso contra a vida (definiremos logo abaixo), esse juiz não mais poderá prosseguir no processo, devendo remetê-lo
para um órgão chamado Tribunal do Júri, onde o julgamento será feito por sete pessoas comuns do povo, em geral não conhecedoras de Direito. Esse tribunal é presidido por um juiz de carreira, chamado juiz Presidente, a quem incumbe transformar a decisão dos jurados em sentença.
Plenitude da defesa é a garantia que o acusado
tem de usar todos os meios legais para tentar provar a sua inocência, desde que a prova lhe aproveite. Um tribunal de júri em que o juiz Presidente não permita ao acusado produzir determinada prova lícita que lhe era necessária é nulo.
O sigilo das votações impõe que os jurados ao
decidirem sobre os quesitos (perguntas feitas pelo juiz Presidente), terão que fazê-las sozinhos, com base no que entenderam de tudo o que foi dito pela acusação, pela defesa e pelas testemunhas. Não poderão se comunicar com ninguém enquanto fazem isso, nem quebrar o sigilo de sua decisão.
Soberania dos veredictos implica dizer que o juiz
Presidente, ao fixar a sentença do acusado, deverá respeitar tudo o quanto decidido pelos jurados. Se, por exemplo, o júri negar a tese da legítima defesa, o Juiz não poderá reconhecê-la na sentença.
A competência do júri é firmada pela existência,
no processo de crime doloso contra a vida.
São crimes que vão a julgamento pelo tribunal do júri, quando dolosos: o homicídio, o aborto, o infanticídio e o induzimento, instigação e auxílio a suicídio. Repita-se: quando tais crimes forem cometidos
por culpa (nos casos em que isso for possível), o julgamento não será feito pelo tribunal do júri, mas pelo juiz singular.
Finalmente, frise-se que vão a júri quaisquer dos crimes acima, desde que dolosos, tanto consumados (quando o resultado criminoso é produzido) quanto tentados (quando, apesar de o agente ter feito tudo para produzir o resultado, este não se produziu).
O QUE DIZ A LEI?
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
SÍNTASE - Princípio da Anterioridade da Lei Penal (Legalidade Penal)
Trata-se aqui do Princípio da Anterioridade da Lei Penal. Seu conteúdo é simples. Como o crime nada
mais é do que uma conduta humana punível, nenhuma conduta humana será considerada crime sem uma lei anterior ao fato (e não ao julgamento) que o preveja como crime. Essa lei anterior também precisa fixar a pena. Logo, antes da data em que o fato aconteceu é preciso que haja uma lei estabelecendo que aquela conduta é punível, sem o que não se poderá falar em crime.
Formalmente, pode-se dizer que crime é a
descrição de uma conduta acompanhada de sanção, pelo que o delinquente não viola a lei penal, mas, ao contrário, a realiza, incorrendo por isso na sanção a ela imposta. Impõe-se descrição específica, individualizadora do comportamento delituoso, ou seja, a definição da conduta punível deve ser precisa, para que se garanta o direito de liberdade da pessoa. E é dessa precisão que resulta a proibição de interpretações extensivas ou analógicas, que levem o julgador a, estendendo a descrição da norma penal, abranger e reger outras condutas não expressamente previstas. A conduta precisamente descrita pela lei como punível é chamada de tipo penal.
A proibição da existência de tribunais de
exceção NÃO abrange as justiças especializadas,
as quais são atribuições e a divisão da atividade
jurisdicional do Estado entre vários Órgãos do
Poder Judiciário.
16 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A pena, por seu turno, também há de vir especificada, determinada e delimitada em qualidade e quantidade.
Por fim, a competência para legislar sobre Direito Penal foi mantida como privativa da União (art. 22, I).
O QUE DIZ A LEI?
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
SÍNTESE - Princípio da Retroatividade da Lei Penal (Mais Benéfica– Irretroatividade da Lei Mais Gravosa e da Ultra-atividade da Lei penal mais Benigna)
Este singelo enunciado esconde três princípios: o Princípio da Retroatividade da Lei mais Benigna,
segundo o qual a lei penal retroage para beneficiar o réu; o Princípio da Irretroatividade da Lei mais Gravosa,
segundo o qual a lei mais prejudicial ao réu não retroage; e o Princípio da Ultra-atividade da Lei mais Benigna,
que estabelece que a lei mais benéfica ao réu age mesmo após a sua revogação, para amparar o processo e julgamento de réu que tenha cometido ilícito sob sua égide.
O QUE DIZ A LEI?
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
SÍNTESE - Proteção aos direitos e liberdades fundamentais
O que se pretende neste inciso é que a lei venha a estabelecer punições para toda e qualquer conduta com fundamento discriminatório, quer cometida por particular, quer pelo Estado. O dispositivo é na verdade, um reforço da garantia de igualdade perante a lei.
Mas segundo Gabriel Dezen Junior esse inciso é interpretado de outra forma. Ele afirma que ―as punições que vierem a ser estabelecidas na legislação referir-se-ão apenas às discriminações negativas, não atingindo as
discriminações positivas, cujo objetivo é o de fornecer ou assegurar tutela jurídica aos hipossuficientes (deficientes, menores, minoria étnica)‖.
O QUE DIZ A LEI?
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
SÍNTESE - Crimes inafiançáveis
Este inciso tem vários pontos técnicos. Primeiro, o próprio crime de racismo, que é a época da promulgação da Constituição ainda não existia, e que hoje é qualquer discriminação com base em raça (como chamar alguém de macaco, de amarelo, de branquela), e também as condutas adotadas com base em preconceito de raça (como não permitir que um negro entre no seu restaurante, proibir um oriental entrar no seu táxi ou um branco de entrar no seu clube).
Crime inafiançável é crime que não admite fiança,
e fiança é um pagamento que a pessoa faz ao Poder Judiciário para poder responder ao processo em liberdade provisória. A condição de inafiançável do crime de racismo, assim, impõe que, se quem o praticou estiver preso vai ficar até o final do processo.
Crime imprescritível é crime que não sofre
prescrição, e prescrição é um prazo dentro do qual o Estado tem poder para encontrar, processar, punir e
executar a pena do criminoso. Findo esse prazo, nada mais a Justiça pode fazer contra o criminoso. Crime imprescritível, pois, é crime em relação ao qual a Justiça jamais perde o poder de punir o seu autor.
A pena de reclusão, tanto quanto a de detenção, é
privativa de liberdade. A de reclusão, contudo, é a mais severa, pois é a única que pode levar o preso ao regime fechado de cumprimento de pena, em penitenciária.
O QUE DIZ A LEI?
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
Fiança é um pagamento feito pela pessoa presa
para responder ao processo penal em liberdade. Um crime considerado inafiançável é um crime que não admite fiança, o que significa dizer que, se a pessoa for presa em flagrante por tal crime, deverá ficar presa até o final do processo. Graça e anistia são dois tipos de benefícios que podem ser dados à pessoa presa ou condenada a prisão.
A graça considera as condições pessoais do preso, como bom comportamento, e a anistia parte de um
pressuposto objetivo, como um determinado limite de pena (poderiam ser anistiados todos os condenados a penas inferiores a 6 meses de reclusão, por exemplo).
Os crimes e o grupo de crimes previstos neste inciso não admitem nenhum dos dois benefícios. Note
também, que nada há sobre imprescritibilidade, o que implica dizer que todos esses crimes são prescritíveis. São eles o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura e os crimes hediondos (são hediondos, dentre outros, os crimes de homicídio qualificado, o latrocínio, e extorsão com morte, o estupro em todas as suas formas).
Resumo Resumido!
T Tortura
T Tráfico
T Terrorismo
H Hediondos
O QUE DIZ A LEI?
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
Sobre crime inafiançável e imprescritível, veja o
que se disse no comentário ao inciso XLIII. Por ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático entende-se o golpe de estado. Note que o fato de ser imprescritível toma o golpe de estado punível mesmo que tenha êxito e derrube o governo. Anos ou décadas depois, se o governo recuperar sua legitimidade, os golpistas poderão ser presos, sem direito a fiança, processados e condenados.
Resumo Resumido!
Racismo
Grupos armados
Prescritíveis Inafiançáveis Insuscetíveis de graça ou anistia
Imprescritível
Inafiançável
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 17
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O QUE DIZ A LEI?
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens serem, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
SÍNTESE - Princípio da Personalização da Pena
(Responsabilidade Pessoal)
Trata-se aqui do princípio da personalização da pena ou da responsabilidade pessoal, segundo o qual a
única pessoa que pode sofrer a condenação criminal é o próprio criminoso, o agente do crime, não podendo ser punido, por exemplo, um parente, o cônjuge ou um vizinho ou amigo. A execução penal, portanto, seja de que pena aplicada for restringir-se-á ao condenado. Não afasta esse princípio da personalização, portanto, o ser a pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção) multas, penas restritivas de direito e quaisquer outras penas alternativas.
Por outro lado, a segunda parte do inciso fala dos efeitos civis da sentença penal condenatória, quais sejam a imposição de uma obrigação de reparar o dano causado pelo criminoso, geralmente nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, o furto ou apropriação indébita. Condenado o criminoso por um desses crimes e falecendo antes de devolver à vítima o valor que dela tirou, essa vítima poderá processar os eventuais sucessores do criminoso para tirar deles os valores que tenham recebido como herança (não como sucessão). É muito importante notar que a vítima não poderá retirar dos sucessores do criminoso nenhum centavo a mais do que o valor recebido por eles na sucessão, não podendo ser tocado o patrimônio pessoal de nenhum deles. Se o valor transferido não bastar para indenizar a vítima, o caso resolve-se em perdas e danos contra a vítima.
Na raiz dessa sanção civil está a identificação do patrimônio do condenado como garantia de reparação de dano, já que a obrigação de repará-lo é inafastável do causador daquele. Com a morte, há transferência do patrimônio. E, havendo obrigações do falecido, cumpre ao espólio honrá-las. Note-se que os herdeiros do condenado falecido não têm obrigação de pagar o dano por aquele causado, pois essa obrigação é do espólio, não pessoal deles, razão pela qual, diz o inciso que, as dívidas serão executadas ―até o limite do valor do patrimônio transferido‖.
Por fim, o procedimento de bens é a perda destes em favor do Estado, para reparar aos cofres públicos uma quantia que deles tenha sido retirada, como no enriquecimento ilícito ou outros crimes funcionais, como peculato.
O QUE DIZ A LEI?
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
SÍNTESE - Princípio da Individualização da Pena
Este inciso trata das penas constitucionais e das penas possíveis no Direito brasileiro. Firma, desta forma, o chamado princípio da individualização da pena.
Perceba, antes de mais nada, que a relação não é definitiva, mas sim apenas ilustrativa, já que a Constituição tolera expressamente outras penas além das previstas, e desde que não sejam as do próximo inciso. Sinal de que é assim é a locução entre outras.
A privação é a perda total da liberdade, pela reclusão ou pela detenção. A restrição de liberdade é apenas um cercamento, uma diminuição dela. E ocorre no sursis, nos regimes aberto e semiaberto de prisão e no livramento condicional, por exemplo.
Perda de bens significa tê-los retirados pelo
Estado, para reparar à vítima ou a si próprio.
Multa é a imposição de uma penalidade
pecuniária, de um valor a ser pago pelo preso.
Prestação social alternativa é a condenação que
determina ao sentenciado fazer alguma coisa em benefício da sociedade, como forma de reparar todo ou
parte de seu crime. Como exemplo, exigência judicial de pintar as paredes de uma associação comunitária, auxiliar no atendimento em creche ou orfanatos, ministrar aulas e outros. Corresponde às penas restritivas de direitos, autônomas e substitutivas das penas privativas de liberdade, indicadas no Código Penal, art. 44.
Suspensão de direito é a supressão temporária
dele, como no caso do motorista que atropela e mata um pedestre, sendo que dirigia embriagado. A pena, além das referentes ao crime, poderá alcançar a retirada temporária ou definitiva da carteira de habilitação e, com ela, do direito de dirigir, além de outros entendimentos legais.
A individualização da pena de que fala o inciso é a sua fixação de acordo com as características pessoais do condenado, sua personalidade, a conduta social, sua condição escolar e financeira, histórico penal, periculosidade, circunstâncias agravantes e atenuantes, dentre outras.
O QUE DIZ A LEI?
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
SÍNTESE - Penas proibidas
Estão aqui todas as penas consideradas inconstitucionais. A relação é terminativa final, e
nenhuma outra pena poderá assim ser considerada.
A pena de morte é, como se sabe, punir o
criminoso condenado, tirando-lhe a vida. A discussão sobre a justiça que se faz a partir desse tipo de punição é profunda, controvertida de correntes inconciliáveis. A nosso estudo basta, contudo, saber que a pena de morte é constitucional nos casos em que o Brasil esteja oficialmente em guerra com outro país, por ter sido agredido e tendo respondido a essa agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou por ele referendado (art. 5°, XLVII combinado com o art. 84, XIX). São crimes puníveis com essa pena drástica a deserção, a espionagem e a traição. Somente nesses casos de guerra é que se admite a pena de morte.
Pena de caráter perpétuo – não é a mesma coisa que pena de prisão perpétua. O caráter perpétuo de uma
pena aparece quando o cumprimento de qualquer uma se alonga por toda a vida do condenado. A condenação de
18 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
um servidor público por corrupção a nunca mais poder ocupar o cargo público é inconstitucional por ter caráter perpétuo. Importante se ver que o sistema penal brasileiro possibilita penas centenárias em algumas ocasiões, podendo o condenado (como no caso da Candelária) pegar 100, 150, 200 anos de prisão. Essa é, contudo, a pena imposta. O Código Penal deixa claro que nenhuma pena, tenha a duração de que tiver, poderá ser executada por mais de 30 anos, justamente para afastar um caráter de perpetualidade.
A pena de trabalhos forçados pode ser
entendida de duas formas diferentes.
1ª – seria a proibição de ser o preso obrigado a
trabalhar, muito embora se reconheça os efeitos positivos de sua ocupação durante o cumprimento de pena a chamada laborterapia.
2ª – seria a proibição de sujeição do preso a um
trabalho para cuja execução se exija excepcional esforço físico ou mental, como fazer cadeiras durante 12 horas por dia, ou quebrar pedras durante o mesmo tempo. A melhor interpretação é a segunda.
Banimento é a expulsão de brasileiro do Brasil, ou
seja, condenar um brasileiro a viver fora do nosso País por um prazo (porque se fosse para sempre, seria também, uma pena de caráter perpétuo).
Penas cruéis – dependem ainda de definição,
muito embora a crueldade já exista no Código Penal, como agravante, e na Lei De Contravenções Penais, como delito autônomo. A Lei deverá dizer quais são tais penas, e se serão considerados também sofrimentos mentais, além de físicos. Cernicchiaro entende que essa futura legislação deverá tratar a pena de forma a que, na sua execução, não ofenda a dignidade do homem, submetendo o condenado a tratamento, degradante, física ou moralmente, que não os normais na execução das penas constitucionais e legais.
O QUE DIZ A LEI?
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
SÍNTESE - Direitos dos presos
É uma espécie de desdobramento do princípio da individualização da pena, pelo qual o preso deverá ter regime carcerário diferente em razão do seu sexo e idade, e também do tipo de crime cometido, para impedir, por exemplo, a convivência de presos e presas, de jovens com criminosos experimentados e de autores de pequenos furtos com grandes traficantes e homicidas.
O QUE DIZ A LEI?
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
Tem-se no Código Penal que o preso conserva todos os seus direitos não atingidos pela perda da liberdade. Assim, o fato de estar preso não autoriza um tratamento violento, depravado ou subumano, nem ordens que o submetam a atitudes ou situações constrangedoras. É de se notar que a Constituição fala em ―presos‖ e, portanto, não se refere apenas aos definitivamente presos
por sentença final, mas também aos presos temporariamente, pelas chamadas prisões processuais.
O QUE DIZ A LEI?
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
Pretende-se aqui não infligir dano aos filhos de presidiárias pelo fato de essas estarem com sua liberdade cerceada. É um dispositivo de conteúdo humano e, também pode ser confortavelmente situado sob o, princípio da individualização da pena.
O QUE DIZ A LEI?
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
SÍNTESE - Extradição
Extradição é a transferência de uma pessoa de
um país para outro, a pedido deste, para que nele seja processada e punida por algum crime. E um ato de soberania do Estado, que a defere se quiser, e depende da existência de tratados de extradição ou compromissos de reciprocidade. Hildebrando Accioly a define como o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo, acusado a um delito ou já condenado como criminoso, à justiça de outro, que o reclama, e que é competente para julgá-lo ou puni-lo.
O brasileiro nato não pode ser, em nenhuma
hipótese, extraditado pelo Brasil para nenhum outro país. Se fizer alguma coisa no estrangeiro, e essa conduta for punida no Brasil, esse brasileiro será processado e punido no Brasil, como se aqui tivesse cometido o crime, de acordo com as leis brasileiras. Isso se conseguir cometer esse crime em outro país e fugir antes de ser preso, pois, do contrário será processado e julgado pelo país onde estiver, de acordo com a lei local, seja qual for a pena, tendo aplicação o princípio da territorialidade.
O brasileiro naturalizado, isto é, aquele que era
estrangeiro e tornou-se brasileiro a pedido, somente por ser extraditado em duas situações:
1ª – pela prática de crime comum (pelas leis
brasileiras) antes da naturalização, ou seja, quando ainda era estrangeiro.
2ª – poderá ser extraditado a qualquer tempo, quer
antes, quer depois da naturalização, se for comprovado o seu envolvimento com tráfico ilícito de drogas, atuando em qualquer fase do processo desde a plantação ou cultivo da erva ou folha até o transporte, refino, venda ou lavagem de dinheiro. Note que neste caso a extradição somente será dada depois de ter essa pessoa cumprido pena imposta no Brasil.
Por fim, veja-se que não se confundem a extradição, a expulsão, o banimento e a deportação.
A expulsão é ato soberano de um Estado (país),
que retira do seu território determinada pessoa que haja, nele, cometido fato tido como criminoso pelas leis locais, ou, ainda que nele esteja irregularmente.
O banimento é a expulsão de pessoa natural do
Estado que expulsa.
A deportação é a devolução do estrangeiro ao
exterior, e ocorre geralmente na área de fronteira, portos
É bom ressaltar que a expulsão de estrangeiro é
legal e constitucional. Não o é apenas a expulsão
de brasileiro, que toma o nome de banimento.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 19
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
e aeroportos. Seu fundamento é o ingresso, ou tentativa de ingresso, irregular no território nacional.
O QUE DIZ A LEI?
LII - não será concedida EXTRADIÇÃO DE
ESTRANGEIRO por crime político ou de opinião;
Estrangeiro é, de regra, extraditável, sempre
dependendo de decisão soberana do Supremo Tribunal Federal. Não é possível a extradição, contudo, se o fato pelo qual o país que pretende a extradição e punição do estrangeiro seja, para a lei brasileira, crime político ou de opinião, caso em que esse estrangeiro será protegido pelo asilo político previsto no art. 4°, X, e uma eventual concessão de extradição seria inconstitucional. Como não há definição constitucional ou legal do que seja crime político, incumbe ao Supremo Tribunal Federal, em cada caso julgar o caráter político do fato criminoso, segundo a lição de Alexandre de Moraes.
RESUMO RESUMIDO!
O QUE DIZ A LEI?
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
SÍNTESE - Princípio do Juiz Natural (Promotor Natural)
Eis aqui o princípio do Juiz natural e, para alguns,
também o princípio do promotor natural. Segundo ele, as autoridades judiciárias que funcionem num processo precisam ser aquelas com competência. Para isso, tanto em razão do fato como da pessoa ou do local do ilícito. O desrespeito a esse princípio conduz à nulidade do processo.
A partir das lições dos direitos alemão e português, Nelson Nery Júnior ensina que o Princípio do Juiz natural se traduz no seguinte conteúdo:
a) exigência de determinabilidade, consistente na prévia individualização dos juízes por meio de leis gerais;
b) garantia de justiça material, ou seja, independência e imparcialidade dos juízes;
c) fixação de competência, ou seja, o estabelecimento de critérios objetivos para a determinação da competência dos juízes;
d) observância das determinações de procedimentos referentes à divisão funcional interna.
Para Nelson Nery Júnior, este princípio exige a presença de quatro requisitos:
a) a investidura no cargo de promotor de justiça;
b) a existência do órgão de execução;
c) a lotação por titularidade e inamovibilidade do promotor de justiça no órgão de execução;
d) a definição em lei das atribuições do órgão.
Princípio do Devido Processo Legal (ou Due Process of
Law)
O QUE DIZ A LEI?
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Este inciso encerra o Princípio do Devido Processo Legal (ou Due Process of Law, como também
aparece).
Para Luiz Alberto David Araújo, esse princípio assegura:
a) Direito à prévia citação;
b) Direito a juiz imparcial;
c) Direito ao arrolamento de testemunhas;
d) Direito ao contraditório;
e) Direito à defesa técnica;
f) Direito à igualdade entre acusação e defesa;
g) Direito ao não uso de provas ilícitas;
h) Privilégio contra autoincriminação.
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
O QUE DIZ A LEI?
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral é assegurada o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Aqui é encontrado o Princípio do Contraditório e da ampla defesa.
Contraditório é o poder que tem cada parte no
processo de resistir ao que pretende a outra parte, ou seja, de resistir à pretensão do outro, de discordar e de trazer as suas razões aos autos.
Ou, na definição de Nelson Nery Júnior, é, de um lado a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoráveis.
Ampla defesa é a garantia constitucional que a
parte tem de usar todos os meios legais de fazer prova para tentar provar a sua inocência ou para defender as suas alegações e o seu direito.
Não ofende nem o contraditório nem a ampla defesa o indeferimento, pelo juiz, de diligência tida por desnecessária, impertinente ou protelatória.
É importante notar que qualquer litigante (partes numa lide, num processo) tem esses direitos, tanto em processo judicial quanto administrativo, o que significa dizer que a sindicância e o processo administrativo terão que respeitar esses princípios. É importante notar que o contraditório assume diferentes feições nos processos penal, civil e administrativo.
Súmula Vinculante n° 5: A falta de defesa técnica
por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
Súmula Vinculante n° 14: É direito do defensor do
representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
20 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O QUE DIZ A LEI?
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
Uma prova produzida de maneira ilícita é uma prova inexistente para o Direito, e tudo e qualquer coisa
que ela provar, por melhor que seja a prova ou seu resultado, será desconsiderado e tido como não existente no processo. Também são considerados inexistentes todos os atos que se originaram nessa prova ilegal. Assim, se um delegado de polícia faz uma gravação telefônica (―grampo‖) ilegal na casa de alguém e consegue obter a confissão de envolvimento em tráfico de drogas, a prisão desse traficante e o confisco da própria droga serão ilegais e tidos como nulo.
Não é só a prova ilícita que resulta nula e inexiste no processo, mas também as chamadas provas ilícitas por derivação, conceito obtido da doutrina do fruits of the poisonous tree (Frutos da árvore envenenada). Por essa
orientação as provas colhidas por certos meios lícitos e também a partir de elementos colhidos de forma ilícita, são contaminadas pela ilicitude e tem o mesmo destino.
Prova ilegal
Subdivide-se em prova ilícita e prova ilegítima.
Prova ilícita
É a obtida mediante violação do direito material.
Prova ilegítima
É a obtida com lesão ao direito processual.
Princípio da Presunção de Inocência (Ou Princípio da Não- Culpabilidade)
O QUE DIZ A LEI?
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
Trata-se aqui do princípio da presunção de inocência, também chamado de princípio da Não-Culpabilidade, e não existia nas Constituições anteriores
do País. Por ele é inconstitucional qualquer ação no sentido de se apontar qualquer pessoa como culpada de qualquer coisa até que o competente processo legal esteja concluído sem mais possibilidade de recursos. Assim, durante uma investigação ou durante o próprio processo, enquanto ele ainda estiver tramitando, o réu é apenas acusado, não culpado. Em matéria penal, entende-se que não é admissível a inversão do ônus da prova ou de qualquer outra providência que force a uma situação de presunção de culpa.
Trânsito em julgado é expressão jurídica que
indica uma decisão judicial irreformável, não mais passível de recurso, consolidada.
A doutrina reconhece sob o nome de ―status de condenado‖, a situação do réu declarado culpado por sentença final.
Súmula nº 9 do STJ: A exigência da prisão
provisória, para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
Identificação criminal
O QUE DIZ A LEI?
LVIII - o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;
Identificação civil é aquela feita a partir de
qualquer documento civil apto para provar que a pessoa é
quem diz ser, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho, o passaporte.
Identificação criminal é a datiloscopia, ou seja, o
decalque das impressões digitais em papel. Para alguns, também a fotografia policial seria identificação criminal.
O que o inciso afirma, é que, como regra, qualquer pessoa que já tenha provado a sua identidade com um documento civil não poderá ser obrigada a ―tocar piano‖, ou seja, decalcar os dedos. As exceções, isso é, os casos em que poderá ser exigida a dupla identificação, civil e criminal, serão criadas por lei, que ainda não existe.
A autoridade policial somente poderá exigir a identificação criminal se a pessoa não puder ou não quiser apresentar documento civil de identidade, ou, apresentando, seja este tido por falso ou presumivelmente falso.
Ação penal privada subsidiária da pública
O QUE DIZ A LEI?
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
A ação penal pública, tanto considerada como
incondicionada, é exclusiva do Ministério Público, o que significa que apenas um promotor de Justiça ou um procurador da República poderá propô-la, sendo absolutamente proibido ao ofendido (vítima) que ajuíze tal ação.
Para o ofendido ou seu representante legal existe a ação penal privada, exclusiva dele.
A regra no Código Penal é de que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. Somente se admite outro tipo quando isto estiver expresso no Código ou na lei.
Pode ocorrer, contudo, que num crime de ação penal pública o Ministério Público não faça absolutamente nada, não comece a ação, não peça provas novas, não peça arquivamento. Neste caso, um criminoso poderia não vir a ser punido, já que a única ação poderia levar a punição até ele não foi começada pela autoridade que podia fazê-lo. Para essas situações, diz o inciso que o ofendido ou seu representante legal (pai, mãe, tutor ou curador) poderão oferecer uma ação privada, chamada subsidiária, na qual um crime que exigia ação pública será processado por ação privada oferecida pelo particular, garantindo assim, que o crime não fique impune.
Princípio Publicidade dos Atos Processuais
O QUE DIZ A LEI?
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
Este inciso se completa com o inciso IX do art. 93 desta Constituição. Por eles, atos processuais, audiências e julgamentos serão sempre como regra, públicos podendo qualquer pessoa presenciá-los, desde que guarde silêncio e porte-se de maneira respeitosa. Guarda-se, aqui, o princípio da publicidade. Com ele, ficam
proibidas as sessões secretas (que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal previa).
Como exceção, contudo, atos processuais, audiências e julgamentos poderão ser secretos, sigilosos, no que é chamado de segredo de justiça. Isso ocorre quando a intimidade das partes ou o interesse social exigirem que apenas as partes e seus advogados, ou somente estes, presenciem tais ocorrências judiciais.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 21
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Geralmente, isso ocorre nas ações de estado, como divórcio, separação judicial, alimentos e investigação de paternidade quando, pela natureza da matéria discutida, não é interesse da justiça e das partes que haja público para ouvir ou ler os debates.
Prisão
O QUE DIZ A LEI?
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
Com este inciso começa a disciplina constitucional da prisão. De inicio, veja-se que estão previstas exceções à regra. Realmente, na esfera militar, as prisões obedecem ao que consta no Código Penal Militar, e não sujeitas às regras gerais estabelecidas para o caso no campo das relações civis. Assim, um soldado que se recuse a obedecer a uma ordem de um superior ou o desrespeite pode ser preso (transgressão militar), e um militar que use arma de serviço para atirar em latas, aves ou para intimidar um transeunte pacífico ou para matar um desafeto também poderá sê-lo (crime militar próprio), sem que esteja em flagrante e sem ordem judicial.
A regra geral, contudo, impõe que a prisão somente poderá ocorrer sob dois argumentos:
1º – Ou a pessoa está em flagrante delito:
Cometendo o crime;
Acabando de cometê-lo;
Sendo perseguida logo após o crime ou;
Sendo encontrada logo depois com objetos ou instrumentos dos quais se presuma a autoria do crime.
2º – Ou obrigatoriamente, a prisão terá que ser executada em cumprimento de ordem judicial escrita
e fundamentada.
Não sendo militar, não estando em flagrante ou não tendo a fundamentação de ordem de autoridade judicial escrita e fundamentada, a prisão estará inconstitucional e ilegal.
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada e ao Ministério Público; (alterado pela
Lei 12.403 de maio de 2011)
São obrigatórias três comunicações a partir da prisão:
Uma, ao juiz competente, o qual vai justamente avaliar a legalidade da prisão, considerando o que consta no inciso anterior. Outra, ou à pessoa que o preso indicar, e que poderá ser seu advogado, ou alguém da família, se for possível identificá-la e ao Ministério Público.
O que se comunicará é o fato da prisão e o local
onde está detido o preso, para que essas pessoas possam verificar o estado físico e psíquico do encarcerado, e ajudá-lo.
O QUE DIZ A LEI?
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;
São vários os direitos do preso, dentre eles o de ser assistido pela família e por advogado, de ter preservada a sua integridade física e, explicito no inciso, o de ficar calado.
O melhor entendimento desse direito de ficar calado, é aquele que aponta o descabimento de ser o preso obrigado a falar e assim fornecer elementos que serão usados para prejudicá-lo e à sua defesa. No processo, qualquer preso, em qualquer situação, pode reservar-se o direito de somente falar em juízo, negando-se a responder a todas as perguntas da autoridade policial.
A antiga presunção de que ―quem cala, consente‖ não tem mais a menor valia, pois do silêncio do acusado nenhuma conclusão sobre sua culpa pode ser tirada, até por força do Princípio da Inocência, já visto. Hoje, quem cala não diz nada.
O QUE DIZ A LEI?
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;
O dispositivo tem finalidade nitidamente preventiva. Sabendo que o preso tem direito constitucional de identificá-lo, o policial que realizar a
NOTE que a Constituição quer ordem judicial, não
podendo mais ser uma ordem de autoridade policial
(como está na Lei de Contravenções Penais) ou
autoridade executiva (como no caso da prisão para
extradição por ordem do Ministro da Justiça).
Prisão Local
ou Responsáveis
Prisão
Interrogatório
policial
Identificação
22 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
prisão ou o interrogatório do preso saberá usar apenas a força necessária para um e outro ato, não podendo cometer excessos, pelos quais poderá vir a ser processado por abuso de autoridade. As autoridades policiais ficam obrigadas a oferecer ao preso todas as alternativas necessárias à identificação do policial ou da equipe que o prendeu ou interrogou.
Prisão ilegal
O QUE DIZ A LEI?
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
Prisão ilegal é aquela que não obedece aos
parâmetros legais, como, por exemplo, a da pessoa que não estiver em flagrante, presa sem ordem judicial escrita e fundamentada. Tal prisão, por mais que se tenha certeza de que o preso é o culpado, deverá ser relaxada (liberação do preso) por ordem judiciária.
O QUE DIZ A LEI?
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (v. Lei 12.403 de 04 de maio de
2011 e com vigência a partir de 4 de julho de 2011);
Há crimes inafiançáveis, dois dos quais já vimos
nos incisos anteriores. Há crimes afiançáveis, pelos quais se possibilita ao preso pagar uma quantia arbitrada por autoridade policial ou judicial (dependendo do crime) e, a partir desse pagamento, obter liberdade provisória. E há crimes levíssimos, cujos autores, mesmos presos em flagrante, deverão ser libertados provisoriamente sem precisar pagar qualquer quantia como fiança. No vocabulário jurídico, são ditos crimes cuja prisão o preso livra-se solto.
A liberdade obtida é provisória, primeiro, porque a prisão preventiva ou cautelar do acusado poderá ser pedida a qualquer momento, se assim entender a autoridade policial ou judiciária. E, segundo, porque ele poderá ser preso novamente se condenado ao final do processo ou privativa de liberdade.
RESUMO RESUMIDO
CRIME Inafian-
caveis
Impres-
critiveis
Insucetiveis graça / anistia
1 Racismo Sim 1 Não
2 Organização criminosas
Sim 2 Não
3 Tortura Sim Não 3
4 Trafico Sim Não 4
5 Terrorismo Sim Não 5
6 Hediondo Sim Não 6
Prisão civil por dívida
O QUE DIZ A LEI?
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (e a do depositário infiel).
Em decisão recente, o STF passou a determinar que a prisão civil por dívida é aplicável APENAS ao
responsável pelo não pagamento ―voluntário e inescusável de obrigação alimentícia‖. O Tribunal entendeu que a segunda parte do dispositivo constitucional, que versa sobre o assunto, ainda precisa de lei para a definição de rito processual e prazos.
O STF revogou ainda a Súmula 619, do próprio Tribunal, segundo a qual ―a prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constitui o encargo, independentemente da propositura de ação.
Então,
Observe a súmula vinculante do STF n°25:
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
Se a prova perguntar segundo a CF há dois tipos
de prisão por dívida: do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel.
Mas se a pergunta foi segundo o STF só há uma
possibilidade: do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
Te natureza punitiva, ou seja, a pessoas está presa como punição por ter cometido um delito. Configura uma repressão estatal punitiva pelo cometimento de ato definido como crime.
Tem natureza coercitiva, ou, em outras palavras, a pessoa é presa para ser pressionada a fazer alguma coisa, a cumprir uma obrigação que deveria ter cumprido
Prisão
Ilegal
Relaxa!
- Sem o que o preso esteja em flagrante
delito;
- Sem ordem judicial escrita e
fundamentada.
Em regra, NÃO haverá prisão civil por dívida.
ATENÇÃO
!
Regra
Não poderá haver prisão civil por dívida
Exceção
A CF autoriza a prisão civil por dívida pelo não
pagamento de pensão alimentícia, se o devedor não
tiver razões para isso e do depositário infiel.
O STF autoriza apenas a prisão por não
pagamento da pensão alimentícia, se o devedor não
tiver razões para isso.
Observação:
Prisão civil
Prisão criminal
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 23
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
e não a fez. Representa uma coação estatal para obrigar o preso a fazer algo a que está judicialmente obrigado.
REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
Habeas Corpus
O QUE DIZ A LEI?
LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
O Habeas-corpus é, atualmente, a única ação que
pode ser impetrada por qualquer pessoa, independentemente de advogado. Pode ser usada por qualquer pessoa em benefício próprio ou de outrem, e até o Ministério Público pode dela fazer uso em favor de quem quer que esteja preso ou ameaçado de prisão ilegal ou abusiva. Por ―qualquer pessoa‖ entendam-se inclusive estrangeiros, com ou sem capacidade jurídica.
O habeas corpus pode ser usado contra ato de qualquer pessoa, tanto autoridade pública quanto pessoa privada.
Finalmente, é necessário que a violência ou a coação contra a liberdade de locomoção tenha por fundamento um ato abusivo ou ilegal.
Note que essa ação pode ser:
Repressiva ou liberatória: quando alguém estiver
sofrendo violência ou coação contra o seu direito de locomoção.
Preventiva: quando alguém ainda não sofreu, mas
está ameaçado de sofrer tais ilegalidades.
O habeas corpus tem dupla natureza jurídica. De recurso, quando interposto contra uma decisão, ou de ação tutelar, quando impetrado contra possível ameaça
de constrangimento ilegal. Há fundada divergência doutrinária quanto a essa natureza jurídica. Paulo Lúcio Nogueira a reconhece com a natureza híbrida, de ação e de recurso judicial.
A legitimação ativa é ampla, podendo ser impetrado por ―qualquer pessoa‖ (art. 654 do CPP), independentemente de idade, profissão, condição social ou nacionalidade.
A liminar em habeas corpus não só é cabível como absolutamente necessária.
A partir da forte obra de Alexandre de Moraes, podemos elencar apontamentos fundamentais para a compreensão do habeas corpus:
Finalidade – é a proteção ao direito de locomoção,
não podendo ser usado para qualquer outra ilegalidade.
Fundamentos do pedido - o juiz ou tribunal competente para o julgamento não está vinculado à causa do pedido, podendo deferir a ordem por motivo diverso do alegado.
Natureza Jurídica – é ação constitucional de
caráter penal e procedimento especial.
Legitimação ativa – qualquer pessoa física,
nacional ou estrangeira, independente de estado mental, sexo, idade, profissão ou capacidade civil, em benefício próprio ou de terceiro. Pessoa jurídica pode ajuizar em benefício de pessoa física, promotor de Justiça pode
utilizar essa ação, mas juiz não, já que deverá, no caso, conceder a ordem de ofício.
Legitimação passiva – o coator ou quem ameaça
o ato de coação contra a liberdade de locomoção, podendo ser autoridade pública ou particular.
Tipos – pode ser preventivo (salvo conduto) ou
repressivo (habeas corpus liberatório).
Liminar – é admitida a concessão de liminar.
Objeto – cabe contra atos lesivos ao direito e
locomoção, contra atos de tribunais (exceto do Supremo Tribunal Federal), contra atos ilegais de promotor de justiça e contra atos de juízes e órgãos colegiados.
RESUMO RESUMIDO!
CPP, art. 654: O habeas corpus poderá ser
impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.
STF - Súmula n° 693: Não cabe HC contra
decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em que a pena pecuniária seja a única cominada. (Isso porque Habeas Corpus é para discutir a liberdade de alguém. Não serve para discutir multa e penas em dinheiro).
STF - Súmula n° 695: Não cabe habeas corpus
quando já extinta a pena privativa de liberdade. (Se a pena que privava a pessoa da liberdade já foi extinta. Para que se quer um habeas corpus?).
STF - Súmula n° 606 (com adaptação de outros
precedentes) Não cabe impetração de "habeas corpus" para o plenário contra decisão colegiada de qualquer das Turmas (ou do próprio Pleno) do STF, ainda que resultante do julgamento de outros processos de "habeas corpus" ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal.
Mandado de segurança
O QUE DIZ A LEI?
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
O mandado de segurança é uma ação que visa a
proteger todos os direitos líquidos e certos do impetrante, desde que não sejam o direito líquido e certo de locomoção (amparado por habeas corpus) e os direitos líquidos e certos de obter informação a seu respeito e de retificá-la (amparados por habeas data). Todos os demais direitos líquidos e certos são protegidos pelo mandado de segurança. Na definição de José Cretella Júnior, o mandado de segurança é ação de rito sumaríssimo, de
que pode utilizar-se pessoa física, pessoa jurídica privada ou pública ou qualquer entidade que tenha capacidade processual, para a proteção de direito líquido, certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato ou fato oriundo de autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder.
Uma prisão legal, apesar de quebrar a liberdade de
locomoção do preso, não pode ser desfeita por
habeas corpus.
- Protege direito líquido e certo de LOCOMOÇÃO (ir, vir e ficar); - Contra todos os atos que restrinjam ou impeçam esse direito; - Vindo de autoridade judiciária, do Ministério Público ou de pessoa física.
24 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Pode usar essa ação qualquer pessoa que comprove titularidade de direito líquido e certo.
Réu nessa ação deverá ser a autoridade pública competente para desfazer o ato que esteja violando direito líquido e certo de alguém. Também pode ser réu nessa ação, qualquer pessoa física, em nome próprio ou de pessoa jurídica, desde que no atacado, tenha agido como proposto ou intermediário de órgão público.
Frise-se que se o direito tiver duvidosa a sua existência, se não estiver dimensionado em seu alcance, se depender, para seu exercício, da ocorrência de fato futuro incerto, esse direito não será nem líquido nem certo.
Na legitimação ativa estão, como se viu, inclusive menores e estrangeiros, e até terceiros prejudicados em relação ao ato da administração.
A medida liminar é cabível e desejável, para assegurar a eficácia do instrumento judicial. A sentença que se concede mandado de segurança faz, sempre coisa julgada, segundo entre outros, Themístocles Brandão Cavalcanti.
O mandado de segurança cabe também contra ato judicial, desde que:
a) o ato não seja passível de revisão por recurso específico;
b) que embora sendo não tenha o recurso efetivo suspensivo. Tudo isso nos termos do art. 5° da Lei n 1.533/51.
O STF, contudo, já entendeu que se a lei tiver efeitos concretos, o mandado de segurança é cabível. Segundo o Ministro Carlos Velloso, também do STF, o mandado de segurança cabe contra ato disciplinar, não valendo a ressalva do art. 5°, III da Lei citada.
STF - Súmula n° 429: A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade (a palavra principal desta súmula é a "omissão", ou seja, de que adiantaria um recurso suspensivo se a autoridade não está agindo e sim se omitindo em agir?).
STF - Súmula n° 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. (Não se pode usar o MS para impugnar diretamente uma lei, pois isto é privativo da ação direta de inconstitucionalidade)
STF - Súmula n° 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recursos ou correição.
STF - Súmula n° 268: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
STF - Súmula n° 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes (veja que diferentemente do que ocorre na representação processual, em se tratando de MS coletivo - substituição
processual - basta autorização genérica, o que se dá com o simples ato de filiação, prescindindo-se que a entidade esteja expressamente autorizada para tal).
STF - Súmula n° 630: A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.
ATENÇÃO!
O MANDADO de SEGURANÇA foi regulamentado
pela Lei n° 12.016, de 7/08/2009. Por tratar-se de uma lei novíssima, sugerimos sua leitura como complemento de estudo para o concurso. Porém, na apostilha já vem atualizado.
Resumo Resumido!
O QUE DIZ A LEI?
LXX - o MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;
O mandado de segurança coletivo tem os mesmos pressupostos do mandado de segurança visto acima. A condição a diferenciá-los é que, enquanto no anterior o impetrante (autor) da ação de mandado de segurança é, também ao mesmo tempo, o dono e de direito reclamado, no mandado de segurança coletivo o impetrante não é o dono do direito líquido e certo. Detentor de tal direito pode ser qualquer grupo de pessoas, todas comprovadamente nessa condição de detentoras do direito. Impetrantes por outro lado, somente poderão ser as entidades citadas no inciso, a saber:
Partido político, desde que representado no
Congresso Nacional (e para isso basta que tenha ou um deputado federal ou um senador);
Organização sindical (que pode ser
confederação, federação ou sindicato) ou entidade de classe (que represente classe econômica);
Associação de qualquer tipo (desde que tenha fins legais e não tenha caráter paramilitar, como já visto), que esteja funcionando regularmente há pelo menos um ano e esteja constituída.
Note-se finalmente que o partido político pode usar a ação de mandado de segurança coletivo somente em benefício de seus filiados, com finalidade política e desde que haja autorização estatutária, segundo jurisprudência do STJ, como lembra o prof. Zélio Maria. As organizações sindicais, entidades de classes e associação só poderão usar essa ação na defesa de interesse de seus membros ou associados.
Os interesses que podem ser defendidos por esse instrumento são os coletivos ou individuais homogêneos.
As condições de admissibilidade da ação são o direito líquido e certo e o ato ilegal ou com abuso de poder. Direito líquido e certo, para Arnoldo Wald, é o que
- Tem por objetivo a defesa de todos os direitos líquido e certos que sejam os de:
- LOCOMOÇÃO (defensável por habeas corpus) ou;
- Obtenção de informações (defensável por habeas data).
Direito líquido e certo é todo aquele cuja titularidade possa ser inequivocamente demonstrada por quem o pretende (certo), que esteja delimitado em sua extensão, ou seja, que se tenha exatamente dimensionado o alcance do direito preterido (líquido).
Observação:
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, porque esta não fere direito individual.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 25
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
se apresenta devidamente individualizado e caracterizado, para que não haja dúvida alguma quanto aos exatos limites do que se pede. Pontes de Miranda ensinou que direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser alcarado de provas em dilações.
Uma última questão versa sobre o termo ―interesses‖, que serão defendidos pela ação para Uadi Lamêgo Bulos, calcado em vasta doutrina, tanto os ―interesses‖ deste inciso quanto os ―direitos‖ do anterior levam ao mesmo lugar. Segundo aquele mestre, a redação do modo como foi adotada evita excessos. A utilização do termo ―interesses‖ foi para reduzir a atuação dos substitutos processuais na defesa daqueles direitos para cuja tutela manifestaram interesse de filiar-se à associação em entidades. Para Calmon de Passos, a legitimação diz respeito não à defesa dos direitos de seus membros ou associados, tout court, mas sim, aos direitos de seus membros ou associados cujo substrato material seja um interesse de membro ou interesse de associado.
ATENÇÃO!
O MANDADO de SEGURANÇA COLETIVO foi
regulamentado pela Lei n° 12.016, de 7/08/2009. Por tratar-se de
uma lei novíssima, sugerimos sua leitura como complemento de
estudo para o concurso. Porém, na apostilha já vem atualizado.
Resumo Resumido!
Mandado de Injunção
O QUE DIZ A LEI?
LXXI - conceder-se-á MANDADO DE INJUNÇÃO sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
O mandado de injunção é, talvez, a ação
mandamental que menos utilidade tem tido para os seus autores, isso porque as repetidas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria têm tirado muito da força que o constituinte de 1988 pretendeu dar a ele.
Presta-se ela, ideologicamente, a suprir a falta de norma regulamentadora de direito, liberdade ou prerrogativa constitucional, sem a qual tais direitos não podem ser exercidos. Em outras palavras: a Constituição Federal, em várias passagens (por exemplo, art. 37, VII; art. 7°, XXI), estabeleceu direitos cujo exercício foi condicionado à elaboração de uma lei posterior que viesse a dizer em que termos isso iria ocorrer. Sem essa lei o direito garantido pela Constituição fica letra morta, ficaria sem efeito nenhum. Para impedir isso, o constituinte criou o mandado de injunção, ação ela qual o interessado no exercício do direito que depende de norma para ser desfrutado vai ao judiciário buscar o regramento,
para o seu caso concreto, e, assim, ganhar finalmente, as condições de exercitar o direito constitucional que tem.
No caso, são os presentes requisitos:
a) que haja direito, garantia ou prerrogativa assegurados na Constituição (e não na lei);
b) que esse direito, garantia ou prerrogativa exija regulamentação;
c) que essa regulamentação ainda não haja sido feita;
d) que, sem essa regulamentação, não seja possível exercitar a garantia constitucional.
A legitimação ativa é de qualquer pessoa com interesse no direito, na garantia ou na prerrogativa constitucionalmente assegurada. No pólo passivo figura o órgão a quem incumbe, constitucionalmente, a elaboração da norma faltante. Conforme a qualidade da norma, a competência será fixada, a partir do que dizem os arts. 102, I, q e 105, I, h.
Resumo Resumido!
Habeas data
O QUE DIZ A LEI?
LXXII - conceder-se-á "habeas-data":
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
O habeas data é ação adequada para que o
impetrante tenha acesso a informações a seu respeito, constantes de bancos de dados oficiais ou públicos e, se quiser através da mesma ação, fazer a retificação dos dados encontrados de modo a ajustá-los à realidade e à verdade. Tem, assim, dupla função: conhecimento e retificação.
Bancos de dados oficiais são aqueles mantidos por órgãos governamentais, de qualquer esfera administrativa, cuja atuação tenha por finalidade, se não exclusiva pelo menos relevante, o estoque de dados pessoais. É exemplo o ex-SNI e a Agência Brasileira de Inteligência, em estruturação.
Bancos de dados públicos são aqueles organizados e mantidos por entidades privadas, para
O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO pode ser impetrado por:
- Partido político com representação no Congresso Nacional – pelo menos um representante
na câmara dos deputados ou no senado federal; - Organização sindical; - Entidade de classe; - Associação – em funcionamento há pelo
menos 1 ano. (...) na defesa dos interesses de seus membros
ou associados.
O STF, a propósito, já reconheceu viabilidade
de mandado de injunção coletivo.
Destinado à obtenção de decisão judicial que permita
ao autor o exercício atribuído pela Constituição e não
exercível por falta de regulamentação.
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a
FALTA de norma reguladora torne inviável:
- o exercício dos direitos e liberdades constitucionais;
- e das prerrogativas inerentes:
- à Nacionalidade;
- à Soberania;
- à Cidadania.
26 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
qualquer fim. São exemplos o Serviço de Proteção ao Crédito e o Cadastro de Emitentes e Cheques sem Fundos.
Importante notar duas coisas: primeiro que o impetrante (autor) da ação de habeas data somente poderá usá-la para obter informações a SEU respeito.
Segundo, que a retificação pode ser feita de três maneiras: habeas data, processo administrativo sigiloso e processo judicial sigiloso.
A legitimação ativa é de qualquer pessoa, física ou jurídica, em seu próprio favor, para conhecer
informações a seu respeito.
A legitimação passiva é de todo órgão entidade governamental, incluindo-se a administração descentralizada e os entes privados, estes desde que as dimensões de sua atuação ganhem uma ressonância pública.
Grande discussão existe sobre a necessidade de requerimento administrativo antes do uso da ação de habeas data. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça, por maioria, ter entendido que tal requerimento é necessário, porque sua falta revelaria ausência de interesse de agir do impetrante, entendemos como muitos outros, que o habeas data pode ser usado sem esse requerimento, principalmente em face do princípio do amplo acesso ao judiciário, ou da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), e, também, porque a informação prestada administrativamente pode não ser tão séria ou completa quanto aquela prestada sob a ameaça do Judiciário, por ordem deste. O processamento do HD obedece à Lei 9507, de 12/11/1997.
Ação popular
O QUE DIZ A LEI?
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesiva ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
A nossa Constituição prevê a ação popular civil, mas não a ação popular penal. Seu fundamento está na natureza substancial do regime democrático, como salienta Sahid Maltif. Se todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, o exercício do poder deve estar sob a vigilância constante do povo. Onde houver ato funcional lesivo ao patrimônio público, há o direito e o dever cívico do cidadão de defendê-lo.
Segundo Pinto Ferreira, no direito brasileiro, a ação popular tem uma natureza civil, com um caráter corretivo, que pode também ter caráter preventivo,
visando à nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público ou ao interesse público, mediante a responsabilidade do autor do ato e de seus benefícios, mediante o pagamento de perdas e danos decorrentes da irregularidade cometida.
O objetivo da ação popular não é outro senão o
de anular um ato lesivo e bem constitucionalmente protegido, sendo estes apenas o patrimônio histórico e cultural, o patrimônio público, o meio ambiente e a moralidade pública, esta última um conceito muito amplo que dá extraordinário alcance à ação popular.
Pode propor essa ação somente o ―cidadão‖, o que implica dizer que NÃO é qualquer brasileiro que pode
fazê-lo, mas apenas aquele ou aqueles detentores de
direitos políticos, de capacidade eleitoral ativa, ou ainda de poder de voto.
Patrimônio público vê-se, abrange o econômico,
o histórico, o artístico, o cultural, o cívico, o comunitário.
Lê-se no inciso que como regra, o autor da ação popular não será obrigado a pagar nem custas nem ônus da sucumbência. Custas são todos os valores geralmente cobrados no curso de um processo judicial, como custas iniciais para atuação, honorários de peritos, tradutores e outros portes de remessa e retorno de recurso e assim por diante. Ônus da sucumbência é o dever que a parte, perdedora tem de pagar o advogado da parte vencedora. Perceba que isso não será imposto ao autor da ação popular sempre que ele for derrotado, mas apenas quando derrotado, ficar evidenciado que usou da ação popular da má-fé, para fins não escusáveis, pessoais, vis ou baixos.
A legitimação ativa é de qualquer cidadão, ou
seja, de brasileiro eleitor, sendo que essa qualidade se comprova com o título de eleitor. Segundo já sumulado pelo STF (Súmula 365), pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. A legitimação passiva é da autoridade ou preposto de autoridade pública responsável pelo ato lesivo. Os pressupostos são a legalidade (ou ileganidade) do ato e a sua lesividade. A liminar é admissível. A intervenção do Ministério Público, depois de 1965, foi reconhecida como obrigatória, sob pena de nulidade. O processamento é regulado pela Lei n. 4.717/65.
RESUMO RESUMIDO!
REMÉDIO SÍNTESE
Direito de Petição
Direito de certidão
Assegurado a todos,
independentemente do pagamento de
taxas.
Habeas
Corpus (HC)
Pode ser impetrado em face de
autoridade (abuso de poder) ou de
particular (ilegalidade). É gratuito. De
natureza penal. Pode ser preventivo ou
repressivo
Habeas Data (HD)
A pessoa pode preferir fazer a
retificação por outro meio, sigiloso,
seja judicial ou administrativo
É gratuito e depende de prévia
negativa administrativa
Mandado de
Segurança (MS)
É impetrado em face de autoridade
pública ou de agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do poder
público.
Mandado de
Segurança
Coletivo (MSC)
O partido político tem que ter
representação no Congresso Nacional.
Todavia, o requisito de um ano de
constituição civil é exigido apenas para
as associações e não para entidades de
classe ou organizações sindicais.
Mandado de
Injunção (MI)
São consideradas prerrogativas básicas
as inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
Ação
Popular (AP)
Pode ser proposta por qualquer
cidadão. Salvo comprovada má-fé, o
autor está isento de custas judiciais e
dos ônus da sucumbência.
Assistência jurídica estatal
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 27
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O QUE DIZ A LEI?
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
A assistência jurídica integral e gratuita é prestada por um órgão criado pela Constituição, a Defensoria Pública, prevista no art. 134, e cuja finalidade é propor e tocar as ações judiciais de interesse de pessoas que tenham insuficiência de recursos.
Insuficiência de recursos para os fins deste inciso, não é a situação de miserabilidade, mas sim a daquela pessoa que tem renda suficiente para manter-se, mas não pode desviar nenhum direito dessa renda para custear e manter uma batalha judicial. Obviamente também os miseráveis estão amparados. É para esses a Defensoria Pública.
Indenização por erro judiciário
O QUE DIZ A LEI?
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
Trata-se aqui da indenização de ato judicial típico, e não de ato administrativo realizado por autoridade judicial. E o ato judicial típico é a sentença, a decisão.
Existem somente dois fundamentos possíveis pelos quais se pode pedir indenização ao Estado por ato judicial. O primeiro é no caso de condenação por erro judiciário (por exemplo, de um irmão gêmeo, ou de um homônimo). O Segundo e último é o da prisão para além do tempo fixado na sentença. Ocorrendo qualquer dos dois casos o prejudicado entrará com uma ação cível de reparação de danos morais, materiais e à imagem contra o Poder Público.
Demais isenções e gratuidades
O QUE DIZ A LEI?
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
Trata-se aqui de dois favores estatais, não a todos os que tenham insuficiência de recursos, mas apenas aos reconhecidamente pobres, aqueles em situação de miserabilidade. A estes o Estado dará, gratuitamente, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito.
Reconhecidamente pobre é aquele que não tem renda suficiente sequer para prover a própria subsistência.
O QUE DIZ A LEI?
LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
Habeas corpus e habeas data são, portanto ações gratuitas, sem ônus de custas judiciais. O que absolutamente não significa dizer que o advogado escolhido pelo autor trabalhará de graça. A proibição de cobrar é fixada, aqui, contra o Poder Judiciário, não contra os profissionais que atuam nessas ações.
Por atos necessários ao exercício da cidadania entenda-se a confecção de título de eleitor, carteira de trabalho e carteira de identidade e o ato de valor.
Razoável duração do processo e celeridade
O QUE DIZ A LEI?
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
Resumo Resumido!
PRINCÍPIO SINTESE
1. Igualdade ou Isonomia (caput art. 5° + I)
Consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. ex.: sexo masculino para concurso de carcereiro em penitenciárias para homens e do sexo feminino para penitenciárias para mulheres.
2. Legalidade II Conduta correta baseada na lei. ≠ Licitude: conduta correta baseada na moral ou na ética. Reserva legal: é subconjunto de legalidade (equivale à: nos termos da lei, na forma da lei).
3. Vedação de tortura III
Ninguém pode ser torturado ou torturar alguém.
4. Inafastabilidade da Jurisdição XXXV
O poder judiciário não pode se excluir das vontades da pessoa física ou jurídica.
5. Anterioridade da lei Penal XXXIX
Não há crime sem lei anterior que o caracterize. Inciso 5° § 2°
6. Retroatividade da lei mais Benigna XL
Irretroatividade da lei mais Gravosa XL
Ultra-atividade da lei mais Benigna XL
Lei penal não retroagira salvo para benefício do rel.
7. Personalização da Pena XLV
Quando a pessoa está viva (nenhuma pena passara da pessoa do condenado, a não ser por dano – roubo).
8. Individualização da Pena XLVI
Quando a pessoa está viva
28 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
9. Juiz natural LIII A autoridade competente para julgar o caso. Promotor natural como garantia
10. Devido Processo Legal LIV
Há um tempo para que o processo ocorra através de meios lícitos.
11. Ampla da Defesa e Contraditório LV
A todos é assegurado o direito de se defender.
12. Presunção de Inocência LVII
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
13. Publicidade LX A lei tem o dever de publicar os processos públicos.
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS
Segundo Paulo e Alexandrino (2008) os Direitos Sociais constituem as liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por objetivo a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social.
Os Direitos Sociais, direitos fundamentais de segunda geração, encontram-se catalogados nos art. 6° ao 11° da Constituição Federal, e estão disciplinados ao longo do texto constitucional.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o TRANSPORTE, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 90, de 2015)
Este artigo enumera os direitos da pessoa, especialmente a pessoa trabalhadora. O acesso a todos eles vai atender de forma plena o art. 1° no inciso que comanda com um dos fundamentos da República Brasileira os valores do trabalho (IV). Traduzindo o trabalhador e a pessoa como resultado do seu trabalho, devem obter condições de adquirir e manter todos os direitos sociais aqui expostos.
A Emenda constitucional 26/00 inseriu, dentre os direitos sociais, a moradia. Trata-se visivelmente de uma
norma constitucional programática, ou seja, estabelecendo um objetivo necessário à ação do Estado, mas que não gera efeitos imediatos e nem dá liquidez ao direito de moradia.
Por conseguinte, a EC 90/2015 inseriu mais uma direito: TRANSPORTE.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
Trabalhadores, para este artigo da Constituição têm a mesma definição da CLT, qual seja: ―considera-se empregado toda pessoa que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário‖. Essa imposição conceitual inspira também a redação do inciso XXXIV deste artigo, onde se equipara ao trabalhador com vínculo permanente aquele
avulso, embora em nenhum dos dois entre o trabalhador eventual. Tem grande importância perceber que o texto constitucional equipara definitivamente ao trabalhador urbano rural, deixando ambos em pé de igualdade e com os mesmos direitos e em mesma extensão, restando um único ponto em que o tratamento é diferenciado, qual seja o que se trata da prescrição (inciso XXIX). Trabalhador rural é aquele que presta trabalho de natureza rural, e sua conceituação vem da Lei nº5.889, de 8 de junho de 1973, onde se lê que o empregado rural é ―toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário‖.
Também é importante notar que nem todos os direitos do trabalhador estão expressos neste art. 7° (Rol exemplificativo). A Constituição admite expressamente outros, pela locução ―além de outros que visem à melhoria de sua condição social‖, do caput.
Pelo sistema adotado pela Constituição, NÃO estão incluídos neste artigo os trabalhadores individuais
(aqueles que prestam trabalho ocasionalmente, a diferentes patrões, por tempo curto), os trabalhadores temporários (prestem serviços para as empresas de
trabalho temporário, as quais alugam tais serviços a outras empresas) e os trabalhadores autônomos (que
são aqueles que organizam a sua própria atividade, são seus próprios patrões).
Proteção ao emprego
O QUE DIZ A LEI?
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
Despedida arbitrária é aquela fruto do humor, da
vontade exclusiva do patrão, sem nenhuma razão. Despedida sem justa causa está disciplinada nas leis trabalhistas.
Esse inciso defende a relação de emprego contra os dois tipos de demissão, afirmando que a lei complementar deverá regulamentar a matéria. Não se trata aqui de estabilidade ao trabalhador, pois que, mesmo após a edição de lei complementar pedida, ainda poderá ser despedido arbitrariamente ou sem justa causa.
O que tal lei deverá trazer serão elementos, multas e punições visando a impedir que o empregador adote essas formas de desligamento. A conclusão de que a lei não trará a estabilidade no emprego é obtida a partir da compreensão da ―indenização compensatória‖ de que fala o inciso.
Deixa-a claro que a verba terá um caráter compensatório da demissão arbitrária ou sem justa causa, visando a intimidar o patrão. No caso da estabilidade no emprego, a nossa Constituição preferiu afastar-se do modelo alemão, que dela desfruta de forma relativa após o fim do período de experiência. Também foi contornado o artigo 4° da Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho que aponta para uma relativa estabilidade no emprego.
Os trabalhadores avulsos estão equiparados
aos permanentes, pelo inciso XXXIV deste artigo.
Os trabalhadores domésticos têm alguns, mas
não todos os direitos deste artigo, pelos termos
do parágrafo único ao final deste artigo.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 29
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, em seu art. 10 afirma que até essa lei complementar venha a existir a proteção do trabalhador demitido arbitrariamente ou sem justa causa sertã limitada à imposição de uma multa no valor de 40% do saldo do FGTS. Isso em relação apenas ao fato da demissão, porque o trabalhador terá direto a todas as verbas legais. Com essa multa o que se quer é apenas punir financeiramente o empregador.
Essa demissibilidade arbitrária ou sem justa causa está excepcionada no caso de empregado membro de Comissão interna de Prevenção de acidentes – CIPA, da mulher gestante (ADCT, art. 10, II, a e b) e do empregado
eleito para cargo sindical (art. 8°, VIII).
É oportuno frisar que a atual Constituição aboliu a estabilidade aos dez anos de trabalho, colocando em seu lugar a indenização compensatória.
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
A proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário se completa com o que consta no art. 201, IV, e no art. 239.
O seguro-desemprego é benefício financeiro concedido em no máximo 05 (cinco) parcelas, no mínimo em 03 (três) de forma contínua ou alternada a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, obedecendo a uma tabela de cálculos para as faixas de salário e o valor da parcela. Todavia, o valor do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente.
Ainda exige-se que o desemprego seja involuntário, ou seja, que o empregado tenha sido demitido, e não pedido demissão.
O seguro-desemprego criado pelo Decreto-lei nº 2.284, de 10/03/86 está mantido naqueles termos, porque recepcionado pela constituição atual.
O QUE DIZ A LEI?
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
O fundo de garantia por tempo de serviço foi criado para substituir o antigo sistema de estabilidade, para garantir ao empregado a formação de uma espécie de poupança que deverá socorrê-la quando demitido no futuro. A vinculação ao FGTS não tem mais caráter de opção, sendo a partir da constituição uma obrigação criada ao trabalhador em seu próprio favor. Se não fosse assim não teria sentido se falar na multa de 40% do saldo da conta do FGTS em caso de demissão arbitrária ou sem justa causa, se o empregado demitido desta forma pudesse não ter tal conta.
A questão da fusão, ou não, do regime da CLT com o do FGTS foi resolvida pela Lei nº7.839, de 12/10/89 que aboliu a opção pelo fundo e colocou segundo Eduardo Saad, em pé de igualdade todos os
trabalhadores, no que tange à relação de emprego. A partir de 1° de outubro de 1989 todos os trabalhadores passaram a ser titulares de uma conta vinculada em estabelecimento bancário, na qual os empregadores são obrigados a depositar, mensalmente 8% do salário pago. Até essa data, os eventualmente demitidos são indenizáveis nos termos da CLT.
Salário Mínimo
O QUE DIZ A LEI?
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Salário mínimo é a menor remuneração que se pode pagar prestação de trabalho por alguém.
O que se tem de principal neste inciso, é primeiro a necessidade de a fixação do valor do salário mínimo ser feita por lei, mas pelas antigas comissões nem pelo Presidente da República sozinho. Agora, a lei que o aumenta deverá passar pelo Congresso Nacional. Segundo o salário mínimo está nacionalmente unificado no que difere fundamentalmente da disciplina constitucional anterior, eliminando a possibilidade de fixação de salários mínimos regionais, a não ser de que haja uma emenda constitucional, o que, aliás, seria de constitucionalidade duvidosa.
Terceiro a Constituição assegura reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo do salário mínimo. Preservar não é aumentar, mas sim apenas repor o poder de compra perdido pela depreciação causada pela inflação. E quarto o salário mínimo não poderá ser vinculado a nada, nem a correção da prestação de contrato, nem a qualquer índice.
Note que pelo dizer do inciso, o salário mínimo deveria comprar tudo o que está nele para o trabalhador e para a família desse.
Este inciso foi regulamentado pela lei nº7.789, de
3 de julho de 1989.
Piso Salarial
O QUE DIZ A LEI?
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
Proteção
Despedidas
arbitrárias
Sem justa
causa
Seguro
desemprego
Desemprego
Involuntário
30 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Piso salarial não é a mesma coisa que salário mínimo profissional. Este, o salário mínimo profissional é a menor remuneração com a qual deverão ser pagos os membros de determinada profissão, como os advogados quando contratados como empregados por alguma empresa. Já piso salarial profissional é a menor remuneração acertada para os membros de uma categoria profissional necessariamente sindicalizada, ou em uma ou em várias empresas, categoria essa que poderá reunir várias profissões.
A Constituição impõe que o valor desse piso seja fixado, tendo em conta a extensão e a complexidade do trabalho.
Para Eduardo Gabriel Saad, a Constituição neste inciso permite tanto a fixação de piso salarial quanto o salário mínimo profissional.
Irredutibilidade do salário
O QUE DIZ A LEI?
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
O salário como regra, não pode ser reduzido,
porque tem caráter alimentar e porque assegura a subsistência do trabalhador e de sua família. Este inciso admite, contudo a redução desde que assim decidido por convenção ou acordo coletivo. Essa redução deverá obedecer a certos critérios. Primeiro, não poderá levar o valor final para menos do que o salário mínimo. Segundo, terá que ser geral. Terceiro, não poderá ultrapassar a 25
% da remuneração habitual do empregado.
Veja-se, também, que se o trabalhador é remunerado por comissão, por tarefa, por peça ou por empreitada, as variações dos valores mensais não são inconstitucionais, embora possam significar reduções eventuais. Nesses casos, a remuneração é necessariamente variável e, assim, poderá variar para menos, nunca, porém, para menos do que o salário mínimo.
A redução de salário foi normalizada pela Lei nº4.923, de 23/12/65, principalmente para o caso de empresas em crise financeira ou econômica, o que poderia levar à redução de até 25% dos salários. Com a nova disciplina constitucional os motivos da redução poderão ser acordados ou convencionados livremente por empregados e empregadores, desde que fique o salário reduzido acima do mínimo.
Garantia de salário
O QUE DIZ A LEI?
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração
variável;
A Constituição garante aqui o que se falou acima. No caso de empregado que receba remuneração variável, nunca lhe poderá ser pago valor menor que o salário mínimo, mesmo que suas comissões, por exemplo, não levem a tanto. Neste caso a quantia deverá ser completada pelo empregador. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas, nesse sentido, o que vai ao encontro de conceito de salário mínimo e de sua fundamentação filosófica.
O QUE DIZ A LEI?
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
O benefício do 13° salário é direito do trabalhador na ativa e do trabalhador aposentado. O seu cálculo tomará em conta a remuneração integral do trabalhador, ou seja, o salário e as garantias permanentes.
Esse benefício é regulado pelas leis nº 4.090, de 13 de julho de 1962, e de 4.794 de 12 de agosto de 1965. Ambas foram regulamentadas pelo Decreto nº 57.155, de 3 de novembro de 1965.
O QUE DIZ A LEI?
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
A única imposição da Constituição é que o adicional de trabalho noturno tenha seu valor - hora maior do que o valor-hora do trabalho diurno. Não diz o quanto maior deverá ser essa remuneração, pelo que a regulamentação da matéria vai para a legislação ordinária.
O adicional noturno só é devido enquanto durar a jornada noturna, podendo ser retirado após sem que se possa alegar redução de salário.
Segundo o artigo 73, § 1°, da CLT, a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos, e será noturno o trabalho executado das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte.
O QUE DIZ A LEI?
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
Essa proteção do salário de que fala o dispositivo é ampla, e abrange desde os princípios (como irredutibilidade do salário, a garantia de reajustes do poder aquisitivo do mínimo e assim por diante) até outras formas de proteção que a lei venha a criar. Na segunda parte, é dito que a retenção dolosa (quando o empregador não paga porque não quer) é crime, e será punida na forma de lei criminal. Note que o não pagamento do salário porque o empregador está falido não configura retenção dolosa, mas culposa.
A propósito, dolo, juridicamente é artifício, engodo ou esperteza para induzir alguém a erro.
No Direito Penal, dolo é a vontade deliberada de praticar um delito ou de assumir o risco de produzir o resultado defeituoso. No Direito Civil, dolo é um vício de
Piso Salarial
Extensão do
Trabalho
Complexidade
do Trabalho
REGRA Irredutibilidad
e dos salários
Exceção Convenção
Acordo Coletivo
13° salário
Remuneração
integral
Valor da
Aposentadoria
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 31
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
consentimento correspondente à intenção de prejudicar. Do que resulta que a retenção dolosa do salário é a atitude do patrão com objetivo de prejudicar o empregado.
A Convenção nº 95, da OIT, editada a 1° de julho de 1947 aprovou as normas sobre a proteção do salário.
O QUE DIZ A LEI?
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A garantia constitucional de participação, pelos empregados, nos lucros das empresas, não é nova. Vem desde a Constituição de 1946, e por mais de 20 anos, ficou existindo como uma regra morta, pois nenhuma lei foi aprovada para regulamentar esse benefício. Sob a Constituição de 88, repetida a prescrição esse direito não teve tratamento melhor, e só recentemente foi enviado ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o assunto, onde ainda está tramitando.
A participação nos lucros ou resultados, diz o inciso está desvinculada da remuneração. Isso significa dizer que o 13° salário, por exemplo, não será calculado também sobre o valor das parcelas de lucros eventualmente distribuídas, e nem as verbas devidas pela demissão poderão considerá-las.
Ainda é de se ressaltar como faz o dispositivo, que a participação na gestão (na condução dos negócios da empresa, ao lado do empresário) será excepcional, isto é, não em todas as empresas todos os empregados não em todos os casos.
Segundo definição do Conselho Superior do Trabalho da França, proferida em sessão de novembro de 1923, participação nos lucros é um contrato em virtude do qual o empregador se compromete a distribuir, como acréscimo ao pagamento do salário normal, entre os assalariados de empresa, uma parte dos lucros Líquidos nos prejuízos. A lei de que fala o inciso deverá enfrentar temas básicos desse instituto, como o percentual da participação nos resultados, a fiscalização da exatidão contábil dos lucros divulgados pelo empregador e a identificação dos beneficiários e respectivas quotas.
O QUE DIZ A LEI?
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
O salário família é devido ao empregado por ter este filho menor de 14 anos. A quantia será calculada aplicando-se um percentual sobre o salário-mínimo. O trabalhador também receberá salário-família pela existência de filho inválido, de qualquer idade e de dependentes do trabalhador aposentado por invalidez ou velhice. A nova redação do dispositivo imposta pela EC nº 20, condiciona o pagamento do salário-família à dependência de trabalhador de baixa renda, restringindo expressivamente com isso, o universo dos beneficiários. Os direitos adquiridos, ou seja, quem já recebe deverá ter esse direito respeitado.
Há severas suspeitas de inconstitucionalidade das EC nº 20 por ter abolido direito individual fundamental do trabalhador que tenha renda superior à ―baixa renda‖ arbitrada pelo Congresso ao fazer a Emenda. Seria assim, lesiva a cláusula pétrea, ferindo limitação material expressa ao poder reformador.
O QUE DIZ A LEI?
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
Depois de certo tempo de trabalho diário, a produtividade do empregado começa a decrescer, tanto na quantidade quanto na qualidade. A vista disso, a jornada tida por produtiva é fixada em oito horas por dia e 44 horas semanais, no que atenderia às recomendações da fisiologia do trabalho. Acordo ou convenção coletiva de trabalho somente poderão diminuir a jornada do trabalhador, não aumentá-la. A CLT estabelece, de há muito, como pressuposto de legitimidade da compensação de jornada, o acordo ou convenção coletiva de trabalho no art. 59, § 2° caso em que o acréscimo de jornada não será considerado trabalho extraordinário.
O QUE DIZ A LEI?
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
Há empresas em que a produção não para, funcionando continuamente ao longo de 24 horas do dia. Nesses casos, os turnos não terão uma pausa, como no caso de jornada de 8 horas, que é dividida em duas de quatro horas. Os turnos ininterruptos terão, no máximo 6 horas, as quais também poderão ser reduzidas por negociação coletiva.
O QUE DIZ A LEI?
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
Todo trabalhador tem direito a um período de 24 horas de descanso a cada semana de trabalho. Esse repouso semanal será remunerado, o que significa dizer que não poderá resultar em qualquer tipo de prejuízo ao salário, porque o dia de repouso, enquanto direito do trabalhador, entende-se como dia trabalhado para fins de remuneração. Finalmente, se for possível, esse dia de repouso será dado no domingo. Se não for, em qualquer outro dia, a critério do empregador.
A primeira menção ao repouso hebdmadário vem da Constituição de 1946, art. 157, VI. A matéria acha-se ainda, disciplinada pela lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, regulamentada pelo Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949. A OIT também enfrenta esse assunto na Convenção nº 14, segundo a qual todo trabalhador no curso de cada período de sete dias, deve ter um descanso que compreenda, no mínimo vinte e quatro horas consecutivas que, sempre que possível deve coincidir com o Domingo. Logo percebe-se que também é
Máxima
Jornada
Diária
Jornada
semanal
Redução de horários
Redução da Jornada
Acordo ou
convenção
coletiva
32 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
conteúdo deste inciso a previsão do descanso de 24 horas por semana.
O QUE DIZ A LEI?
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
Como já visto a jornada diária é de 8 horas (em dois turnos de quatro horas) ou de 6 horas (se ininterrupta). Qualquer período diário de trabalho maior do que esses prazos significa horas extraordinárias de trabalho. O pagamento desse acréscimo será feito num valor de hora de trabalho maior do o da hora normal. A Constituição não diz maior em quanto, o que será, por isso, tarefa de lei ordinária. A única determinação constitucional é no sentido de que a hora extra seja mais bem paga que a hora normal de trabalho. Este inciso constitucional revoga artigo 59, § 1° da CLT, onde se lia que o adicional por hora suplementar é de, no mínimo, 20% da hora normal. As disposições da CLT que autorizam o aumento da jornada normal de trabalho em duas horas, no máximo (art. 59) e que excepcionalmente permitem trabalho extraordinário além daquele limite (art. 61) permanecem em vigor.
O QUE DIZ A LEI?
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
A figura das férias anuais guarda alguma simetria com o repouso semanal remunerado. Se, por este o trabalhador tem direito a um dia de descanso remunerado por semana, por aquela, tem direito a 30 dias de descanso remunerado por ano. Esses trinta dias serão contados, para fins de remuneração, como de trabalho. Agora com base neste inciso na Constituição, o pagamento referente a esse período terá que ter um acréscimo de um terço sobre o salário normal.
Os melhores mestres nacionais entendem que o trabalhador não pode abrir mão desse direito a 30 dias de descanso por ano, o que tomaria inconstitucional a conversão de uma parte do período em abono.
É estabelecido assim, o repouso anual também remunerado, mas com acréscimo sobre o salário normal do empregado, da ordem de um terço, pelo menos. A Convenção nº 112 da OIT determina que o repouso anual não poderá ser inferior a três semanas. O pagamento do adicional deve ser feito antes do gozo do benefício.
O QUE DIZ A LEI?
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
A trabalhadora gestante tem direito a um período de 120 dias de licença, em regra contados a partir do parto, para dar assistência pessoal e inicial ao bebê recém-nascido. Durante esses 120 dias não poderá ter nenhum prejuízo em sua remuneração, recebendo o salário integral normalmente como se estivesse trabalhando.
A licença-maternidade não se confunde com a estabilidade relativa dada à gestante, nos termos do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por essa estabilidade, a trabalhadora gestante não poderá ser demitida arbitrariamente ou sem justa causa desde o momento em que confirmada a sua gravidez até o quinto mês após o parto. Somente poderá ser despedida por justa causa. As duas proteções, a da licença e a da estabilidade relativa não se confundem porque no caso desta, da estabilidade; a mulher tem direito de continuar trabalhando normalmente e recebendo seu salário, ao passo em que, no caso da licença, tem direito de não trabalhar durante o período, e assim mesmo receber normalmente o salário.
Esse direito vem da Constituição anterior, cujo art. 165, XI, previa o: ―descanso remunerado da gestante e depois do parto sem prejuízo do emprego e do salário‖, sendo que a duração dessa proteção era remetida à lei ordinária.
O QUE DIZ A LEI?
XIX - licença-maternidade, nos termos fixados em lei;
O constituinte também decidiu proteger o pai por causa do nascimento do filho. Disse neste inciso que o pai terá direito a uma licença-paternidade, cuja regulamentação será dada em lei. Prevendo, contudo, a própria morosidade, o legislador instituiu um período para o benefício que a lei pedida não fosse feita. Esse período está no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e por ele, a licença será de 5 dias até que a lei que o regulamente venha a existir.
Não há disposição semelhante em Constituições de outros países, nem nas nações mais avançadas. A única notícia de legislação anterior á atual Constituição está no art. 473 da CLT, que prevendo hipótese semelhante, autoriza o empregado a não comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana.
O QUE DIZ A LEI?
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
Encontra-se aqui uma das formas de tratamento diferenciado entre homens e mulheres, admitidos pelo inciso I do art. 5°. Por este inciso a mulher terá seu
mercado de trabalho especialmente protegido por lei.
Hora Normal
100%
Hora Extra
150%
Férias
Anuais Remuneradas
+1/3 do
salário
Licença
gestant
e
Sem prejuízo
do emprego
ou do salário
120 dias
Licença
Paternidade
5 dias ADCT
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 33
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Essa proteção será feita mediante a previsão legal de incentivos específicos para a mulher trabalhadora. A aplicabilidade desta norma, evidentemente deverá aguardar a lei regulamentadora, onde serão criados os instrumentos que permitam essa especial proteção.
O QUE DIZ A LEI?
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
Consiste na obrigação que qualquer uma das partes do contrato de trabalho, patrão ou empregado tem de comunicar previamente à outra a sua intenção de romper essa relação em data futura e certa.
A Constituição assegura que o menor prazo possível para esse instituto é de 30 dias, mas evolui no sentido de afirmar que deverá ter ele, a partir desse prazo mínimo, proporcional idade com o termo de empresa do empregado. Assim, quanto mais tempo de trabalho na empresa, maior deverá ser o prazo de aviso prévio.
Quem determina o acréscimo do prazo do aviso prévio será lei ordinária obedecendo aos tramites legais das casas do Congresso (Ver regulamento Lei 12.506/2011 c/c CLT arts. 487 e seg.).
Trata-se de norma parcialmente aplicável, no que tange ao período mínimo de aviso prévio. Conforme tem decidido o TST, contudo por não haver ainda a lei que estabelece a proporcional idade, o prazo de 30 dias é, também o prazo total do aviso.
O QUE DIZ A LEI?
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
Traduzido, significa que o empregador deve garantir ao empregado um trabalho em boas condições de higiene, iluminação, ventilação, temperatura, proteção de segurança e itens assemelhados, de forma a garantir a integridade física e psíquica do trabalhador.
O QUE DIZ A LEI?
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
Atividade penosa é a que exige para a sua realização um esforço, sacrifício ou incômodo muito grande. Atividade insalubre é a que compromete a saúde do trabalhador. Atividade perigosa é a que ameaça a vida do trabalhador. Pelo trabalho em tais condições tem o
trabalhador direito a receber um valor adicional ao salário, de forma a compensá-lo pelo sacrifício e riscos que corre.
O QUE DIZ A LEI?
XXIV - aposentadoria
Aposentadoria é o direito que tem o trabalhador de passar para a inatividade, isto é, parar de trabalhar recebendo uma quantia chamada proventos e que, em tese, deve garantir-lhe um final de vida tranquilo depois de um período de trabalho.
A aposentadoria pode ser por tempo de serviço, por idade ou por invalidez, neste inciso, a Constituição parece ter admitido qualquer dessas formas. Não se afasta, preliminarmente, nem o direito de algumas categorias especiais de trabalhadores e aposentadorias especiais, como os aeronautas, os operadores de aparelho de raio X e os professores.
O QUE DIZ A LEI?
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
Sabendo da preocupação que tem o trabalhador com os cuidados com seus filhos menores durante a jornada de trabalho, institui a Constituição por este inciso, a obrigação do empregador de garantir assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador, situados na faixa etária de até 5 anos.
O QUE DIZ A LEI?
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
O principal efeito desde inciso é o de dar peso jurídico às disposições contidas em convenções de acordos coletivos de trabalho, vinculando os seus subscritores e obrigando reciprocamente, com peso de lei.
Convenções coletivas de trabalho são instrumentos destinados a regular as relações de trabalho de toda uma categoria profissional, é uma espécie de contrato coletivo. Com raríssimas exceções, as convenções coletivas são exclusivas de sindicatos de empregadores e de empregados.
Aviso
Prévio
Proporcional
ao tempo de
serviço
Mínimo
30 dias
Adicional de
remuneração
para atividades
Penosas
Insalubres
Perigosas
Assistência
Gratuita
Filhos
Dependentes
Nascimento
até 5 anos
Creches Pré-
escolas
Reduzir os
riscos no
Trabalho
Normas:
Saúde
Higiene
Segurança
34 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Acordo coletivo são instrumentos que não obrigam toda uma categoria, mas se destinam a ter vigência exclusivamente entre as empresas ou grupos de empresas que participaram da negociação.
O QUE DIZ A LEI?
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
A preocupação aqui é de diminuir os impactos da progressiva automação das empresas sobre o número de seus empregados, já que, não raro, a instalação de um robô ou processos informatizados de produção leva ao desemprego de quantos realizavam essas tarefas antes disso. Por esse dispositivo, o constituinte que determinar ao legislador ordinário que criasse maneiras de proteger os empregados de perderem seus postos de trabalho para a automação, e que poderá ser através de reciclagem profissional, aproveitamento em outras atividades ou um tipo de indenização.
O QUE DIZ A LEI?
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
O inciso garante, primeiramente, ao trabalhador, o direito de ter uma cobertura de seguro contra eventuais acidentes de trabalho, paga pelo empregador. Além disso, se vier a se acidentar sem culpa própria ou sem dolo, terá direito de pleitear indenização por acidente de trabalho contra patrão, independentemente de este já ter pago o seguro citado. A Previdência Social deverá atender aos casos de doença, invalidez ou morte decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 201, I. Por força da equiparação promovida pelo caput deste artigo, a cobertura será tanto de acidentes de trabalho urbano quanto de trabalho rural. A norma sob exame mostra que o ônus do seguro acidentário é do empregador, o que dispensa as contribuições da União e do empregado para mantê-lo.
Ação de créditos trabalhistas
O QUE DIZ A LEI?
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
A Emenda Constitucional nº 28 eliminou a distinção do prazo de prescrição da ação trabalhista, o qual era tratado no texto original da Constituição, diferentemente quando se refira a litígio, envolvendo trabalhador urbano ou rural.
Com a promulgação desta emenda, o prazo prescricional da ação trabalhista passa a ser o mesmo tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural: 5 anos de prescrição interna no contrato de trabalho, limitada a 2 anos após a sua cessação.
Prescrição para créditos
Valores rescisórios após terminar o contrato
Prescrição para tempo
02 anos após o contrato de trabalho
O QUE DIZ A LEI?
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
Tem-se aqui uma outra face do princípio da isonomia e da proibição de discriminação, já vistos. Salários, funções e critério de admissão não poderão ter fundamento discriminatório com base em sexo, idade, cor ou estado civil;
O QUE DIZ A LEI?
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
Regra que complementa o inciso anterior estendendo a isonomia para abranger também a proibição da diferenciação dos deficientes físicos, principalmente no tocante a salários. Essa regra tem raízes em emenda constitucional de 1978, onde o deficiente tinha a seu favor a proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público.
O QUE DIZ A LEI?
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
A redação deste inciso pode induzir a erro, se o intérprete pensar que se está equiparando todas as profissões, quer manuais, quer técnicas, quer intelectuais. O que quer dizer o inciso, e diz mal, é que nenhuma dessas formas de trabalho poderá ser vista de maneira diferente para fins de reconhecimento e aplicação de direitos trabalhistas. Em outras palavras, tanto tem direito a horas extras o trabalhador manual quanto o técnico e o intelectual, e assim por diante. Também, aqui, se tem reflexo do Princípio da isonomia.
Idades mínimas para o trabalho
O QUE DIZ A LEI?
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
Proteção Automação
Proibição de
distinção entre
trabalho
Manual
Técnico
Intelectua
l
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 35
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)
A nova redação deste inciso, dada pela EC nº 20/98, conduz a duas consequências imediatas: o aumento da idade mínima para exercer qualquer trabalho, que passou de quatorze para dezesseis anos, e a imposição de uma idade mínima para admissão como aprendiz, qual seja quatorze anos, inexistente no texto vencido. Em decorrência, até os quatorze anos é inconstitucional a admissão de aprendiz.
Até 14 anos Não pode trabalhar.
De 14 a 16 anos Só pode trabalhar como APRENDIZ.
De 16 a 18 anos Pode trabalhar como aprendiz ou
como empregado, mas, nesse caso, não
pode exercer trabalho noturno, perigoso
ou insalubre.
Maior de 18 anos Pode trabalhar como aprendiz ou
como empregado em qualquer
atividade.
Isonomia para o trabalhador avulso
O QUE DIZ A LEI?
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Inciso do qual já falou ao comentar o caput deste artigo. Aqui se encontra a equiparação do trabalhador com vínculo permanente (como contrato assinado com um único empregador), avulso que trabalha rotineiramente, mas faz o sujeito a diversos patrões, do que é exemplo típico o estivador de cais. O trabalhador avulso não se confunde com o temporário, o autônomo e o eventual. Para os conceitos, veja-se os comentários ao caput deste art. 7°.
São trabalhadores avulsos os estivadores, trabalhadores em estiva de carvão e minério e trabalhadores em alvarenga, conferentes de carga e descarga, consertadores de carga e descarga, vigias portuários, trabalhadores avulsos de capatazia, trabalhadores no comércio armazenador (arrumadores) ensacadores de café, cacau sal e similares, classificador de frutas práticos de barra e portos, catadeiras e costureiras no comércio de café, dentre outros.
O QUE DIZ A LEI?
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social." (Redação dada peal EC 72/2013)
Trabalhador doméstico é aquele que se ocupa de atividade da qual não resulta proveito econômico. Uma
empregada que faça a faxina de uma casa, por exemplo, não está na mesma posição da empregada que além de fazer a faxina, trabalha com a patroa na fabricação de doces e salgados para a venda. No primeiro caso, é ela empregada doméstica. No segundo, não.
O empregado doméstico não tem todos os direitos do art. 7°. Tem apenas alguns, a saber:
Salário mínimo;
Irredutibilidade de salário;
Décimo terceiro salário;
Repouso semanal remunerado;
Férias;
Licença maternidade;
Licença paternidade;
Aviso prévio e;
Aposentadoria.
Também é assegurada ao empregado doméstico a integração ao sistema previdenciário.
Liberdade Sindical
O QUE DIZ A LEI?
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
O caput deste artigo repete direito no já assegurado no art. 5°, XX. Apenas especifica que aqui se
trata de associação profissional ou associação sindical, ao passo que lá o direito é genérico.
Mas, se é genérico, compreende também este. Cabe a observação de que associação profissional e sindical não são sinônimos, sendo a primeira um núcleo embrionário, inicial da segunda.
O QUE DIZ A LEI?
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
O inciso trata da única providência legal para a Constituição de sindicato, que é o registro em órgão competente. Esse ―órgão competente‖, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é o Ministério do Trabalho, até que a lei crie outro. Ainda fica proibido o condicionamento da existência de sindicato à autorização de quem quer que seja, e vedadas todas as formas de interferência ou intervenção de Estado na estrutura sindical, através, por exemplo, da exigência de relatórios de atividades, de publicação de balanços, de suportar a presença de um preposto de autoridade pública nas reuniões e Assembleias. Esse registro, que é o lançamento em livro próprio, com as formalidades para que esse ato jurídico produza seus regulares efeitos, somente poderá ser recusado pelo órgão competente se os estatutos da entidade sindical contiverem previsões contrárias à lei ou à Constituição.
O QUE DIZ A LEI?
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
É livre
Associação Profissional
Associação
Sindical
Trabalhador
Permanent
e Trabalhador
Permanent
e
Equiparado
36 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
Este dispositivo consagra o princípio da unicidade sindical, pelo qual somente poderá haver uma
entidade sindical em cada base territorial.
Base territorial é a região, o limite territorial onde atua a entidade sindical. Seu tamanho mínimo será um Município, e o adequado será definido pela categoria.
Os graus de organizações sindicais são três: sindicato (que representa categoria), federação, (que representa sindicatos), e confederação (que representa federações). Em face da redação constitucional, deste inciso e do anterior, fica revogado que o art. 534, §2° da CLT, que previa a necessidade de consentimento do Ministério do Trabalho para que uma federação fosse interestadual ou nacional.
O QUE DIZ A LEI?
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
O sindicato é o representante dos empregados sindicalizados nas negociações e acordos coletivos, sendo que naquelas, sua presença é obrigatória, como se verá no inciso VI, abaixo. Se atuar em nome individual, será representante processual. Se em nome coletivo, será substituto processual.
Os sindicatos também exercem a função de representação processual do empregado, tanto judicial, quanto extrajudicialmente, tanto em defesa de interesse de toda a categoria quanto na defesa de interesses de um grupo de membros ou mesmo de um só deles.
Vale a pena confrontar esse dispositivo com o inciso XXI do art. 5°. Lá, exige-se que as entidades associativas podem representar seus associados judicial e extrajudicialmente, desde que expressamente autorizados. Dos sindicatos não se pode exigir autorização expressa, porque ela já se presume pelas suas próprias finalidades.
A Lei nº 7.788, de 1/7/89, em seu art. 8°, dispõe que ―nos termos do inciso III do art. 8° da Constituição, as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais da categoria, não tendo eficácia a desistência, a renúncia e transações individuais‖. Para Eduardo Gabriel Saad, somente a categoria, em Assembleia, poderia adotar esses atos.
O QUE DIZ A LEI?
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
Trata-se aqui de duas contribuições.
A primeira, a contribuição de custeio do sistema confederativo, será criada por Assembleia-geral da organização sindical interessada, e paga por todos os trabalhadores sindicalizados. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa contribuição não pode ser cobrada de trabalhador não vinculado à entidade sindical que a cria.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: A cobrança do
imposto sindical deixou de ser obrigatória com a reforma trabalhista, que mudou dezenas de artigos da CLT.
O QUE DIZ A LEI?
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
Novamente se prevê a liberdade associativa. Qualquer pessoa filia-se ao sindicato quando quiser, fica o tempo que quiser e desliga-se quando quiser.
O QUE DIZ A LEI?
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
Do conceito de negociação coletiva de trabalho já se falou, no comentar o inciso XXVI do art. 7°. Da necessidade de o sindicato participar deles também já se disse, lá e no comentário ao inciso I deste artigo. Essa redação faz do sindicato figura indispensável na celebração de um pacto coletivo (convenção ou acordo) na tentativa de resolução de um conflito coletivo de trabalho, por meio de arbitragem ou para ajuizamento de um dissídio coletivo.
O QUE DIZ A LEI?
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
Dispositivo que visa a evitar que um sindicalizado, só pela condição de estar inativo, possa ser alijado do direito de participar da definição dos destinos da entidade a que pertence.
O QUE DIZ A LEI?
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
A Constituição estabelece três hipótese de estabilidade relativa para o empregado. Duas delas estão no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e são a do trabalhador membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) durante o mandado e até um ano após o fim deste, e da trabalhadora gestante, desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto. Há neste inciso, o terceiro caso que é o do trabalhador eleito para ocupar cargo de direção ou representação sindical, durante o mandado a até um ano após o fim deste. Note também, que todos os membros de todas as chapas que disputam a eleição têm essa proteção até a eleição. Depois desta, os não eleitos a perdem.
O QUE DIZ A LEI?
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
Sindicato Direitos
Interesses
Individuais
Coletivos
Judiciais
Administrativa
Inclusive
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 37
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Colônias pescadoras e sindicatos rurais são entidades associativas de natureza sindical de pequeno porte. A elas, em razão de suas peculiaridades serão estendidos os princípios de organização e funcionamento sindical estabelecidos neste artigo, no que couber.
Direito de greve
O QUE DIZ A LEI?
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
Segundo Helene Sinay a greve é um ato de força e por isso a primeira vista, o direito não deveria dela se ocupar. Segundo Alexandre de Moraes, a palavra ―greve‖ deriva uma Place de Greve, praça de Paris onde os trabalhadores se reuniam para fazer reivindicações trabalhistas. Para Cássio Mesquita de Barros, o direito de greve se configura como um direito de imunidade do trabalhador face às consequências normais de não trabalhar. Vale perceber que este art. 9° trata da greve dos trabalhadores privados, incluídos os de sociedade de economia mista e de empresas públicas. O direito de greve do servidor está previsto no art. 37, VII. A permissão de escolha, pelos trabalhadores, dos interesses que podem ser defendidos por greve permite a realização de greve de solidariedade, de greve reivindicatória, de greve de protesto e de greve política.
O QUE DIZ A LEI?
§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.
Este inciso pede uma lei de greve para reger esse movimento dos trabalhadores. Neste art. 9° lei ordinária
regerá a greve de empregados públicos ou privados, lei que já existe desde 1989, sob o nº 7.783. Nesta Lei, são serviços essenciais os ligados à água, energia elétrica, gás e combustível, saúde, distribuição de medicamentos e alimentos, funerária, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, tráfego aéreo, compensação bancária e processamento de dados.
Sobre a greve de trabalhadores cabe ver que compete a eles decidir o que querem pleitear pelo movimento e quando querem que seja feito. As atividades e serviços essenciais já estão definidos pela lei de que se falou acima, e qualquer desrespeito a essa lei, como qualquer desrespeito a qualquer lei, será punido.
É muito criticada excessiva liberdade dada pelo caput deste artigo, já que permitia a realização da greve para qualquer finalidade e a qualquer momento, inclusive em defesa de interesses que nada ou muito pouco tenham a ver com os trabalhadores.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
Trabalhadores e empregadores terão assento nos órgãos colegiados (composto por diversas pessoas) em que interesses profissionais e previdenciários sejam
discutidos e decididos. Exemplo desses órgãos é o conselho curador da Previdência Social.
É assegurado o direito à participação orgânica aos empregados. E novidade da atual Constituição.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
Empresas compostas por número de empregados igual ou superior a 200 deverão admitir um representante deste junto à direção, para realizar a ponte entre os interesses dos empregados e dos patrões. Tem-se aqui um direito coletivo corporativo. Embora o Brasil não a tenha ratificado, a Convenção nº 135 da OIT prevê proteção aos trabalhadores que sejam ―representantes dos trabalhadores na empresa‖, proteção essa que se estende contra a despedida imotivada, ou motivada pela sua condição de representante.
Empresa com até 200 empregados
Não são obrigadas a ter um representante dos empregados para contato com a direção da empresa, embora não seja proibida.
Empresa com mais de 200 empregados
Estão obrigadas a ter e reconhecer um representante dos empregados nos contato com a direção da empresa.
Nacionalidade
O QUE DIZ A LEI?
Art. 12. São brasileiros
São dois os critérios determinadores da nacionalidade, a saber o jus sanguinis e o jus solis. O jus sanguinus informa a nacionalidade pela filiação, independentemente do lugar do nascimento. O que determina a nacionalidade é a nacionalidade dos pais. Se ambos forem da mesma nacionalidade, não há problema, mas se essa for diferente para ambos, a tendência que domina em muitos países é reconhecer-se a nacionalidade do filho se este tiver nascido no território nacional e qualquer dos pais for nacional do país.
O jus solis atribui a nacionalidade pelo local de nascimento, ou, pelo critério territorial, e desconsidera a nacionalidade dos pais. É de ver que a Declaração Universal dos Direitos do homem estabelece, em seu art. 15, que ―todo homem tem direito a uma nacionalidade‖ e que ―ninguém será arbitrariamente privado de sua
38 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade‖.
Nacionalidade originária
O QUE DIZ A LEI?
I - Natos:
Tem-se aqui a nacionalidade primária, involuntária pelo fato do nascimento. Todos os casos
possíveis de reconhecimento de condição de brasileiro não estão neste inciso. É de se perceber que as únicas hipóteses de nacionalidade primária (ou originária) são as previstas neste inciso da Constituição. O Ministro Francisco Rezek então no STF, identifica inconstitucional idade em qualquer lei que pretenda criar hipóteses novas de condição de brasileiro nato.
O QUE DIZ A LEI?
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
Tratando de brasileiros natos, a Constituição nesta alínea, estabelece a regra geral, a regra do jus solis, ou seja, de aquisição da nacionalidade pelo solo de nascimento. Assim, são brasileiros os nascidos na
República Federativa do Brasil, em qualquer ponto de seu território. Mais adiante, afirma que mesmo que os pais do nascido acidentalmente no Brasil sejam estrangeiros ele, o bebê, ainda será brasileiro nato, se feito registro civil competente. A única exceção ocorre quando tais pais estrangeiros estiverem no Brasil em serviço oficial de seu país, como no caso dos diplomatas, dos que estiverem em missão de serviço público a serviços de seus Estados de origem ou que aqui representem ligações internacionais, como a ONU. Neste caso, guardam a nacionalidade do país de origem dos pais, pelo critério do jus sanguinus (aquisição de nacionalidade pelo sangue dos pais), fazendo valer o princípio da extraterritorialidade diplomática. É interessante notar que a Constituição exige que ambos os pais sejam estrangeiros, e que pelo menos um deles esteja a serviço oficial diplomático oficial de seu próprio país, e não de outro.
O QUE DIZ A LEI?
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
A regra contida neste inciso, e no próximo, fala da aquisição da nacionalidade pelo jus sanguinus. Aqui é
dito que são brasileiros natos os nascidos no exterior, quer de pai, quer de mãe brasileiros (e por isso não é acolhido no Brasil o jus sanguinus puro, que exige que ambos os pais sejam natos) desde que qualquer dos dois esteja no estrangeiro a serviço oficial do Brasil. Novamente é o caso dos diplomatas. Nesta linha, tanto serão brasileiros natos os filhos de um diplomata brasileiro com uma ucraniana como de uma diplomata brasileira com um chinês. Basta que um dos pais seja brasileiro em missão oficial no exterior.
O QUE DIZ A LEI?
c) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (EC N°54, 20/12/2007) ;
Aqui está a última regra do jus sanguinus para
aquisição de condição de brasileiro, também chamada pela doutrina de nacionalidade potestativa. Não se fala,
neste inciso, nas hipóteses envolvendo diplomatas em missão oficial, mas qualquer brasileiro, no exterior por qualquer motivo. Neste ponto, a superação da redação original da Constituição de 1988 deixou algumas dúvidas no ar, mas a melhor interpretação do dispositivo atual é: nascida a criança no estrangeiro, filha de pai ou de mãe brasileira, poderá ela ser registrada em repartição consular competente (como um consulado brasileiro) e, nesse momento, adquirir a condição de brasileiro nato sob condição suspensiva de posterior residência no Brasil. Restará outra opção à criança: vir a residir no Brasil, em caráter definitivo e aqui, a qualquer tempo (após os 18 anos, que é maioridade civil antes da qual as manifestações de vontade não tem reconhecimento legal perante a lei brasileira) optar pela condição de brasileiro nato, provando essa mesma condição a respeito de um dos pais. Não está previsto de residência nem o prazo para a opção, pelo que pode se eternizar essa condição suspensiva. A opção deverá ser necessariamente exercida, pelo detentor de maioridade civil, perante um juiz federal, a quem incumbe, por força do art. 109, X, ―processar e julgar as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção...‖
Resumo Resumido!
3 Casos de Brasileiros Natos:
Nacionalidade derivada:
O QUE DIZ A LEI?
II - Naturalizados:
Aqui, a nacionalidade secundária, voluntária é
por opção ou por eleição. A concessão da nacionalidade brasileira está inteiramente submetida à discricionariedade do Poder Público brasileiro, dentro
dos critérios de conveniência e oportunidade, segundo límpida lição de Francisco Xavier da Silva Guimarães, e do Ministro Celso de Mello, para quem a concessão da naturalização é faculdade exclusiva do Poder Executivo. Há a exceção que veremos a seguir, da alínea b deste inciso. A satisfação das condições, exigências e requisitos legais não assegura ao estrangeiro direito à naturalização. ―A outorga da nacionalidade brasileira, secundária a um estrangeiro, constitui manifestação de soberania nacional‖. Essa concessão está prevista no art. 121 do
Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 6.815/80). Uma das condições impostas ao estrangeiro é a renuncia à nacionalidade ou nacionalidades anteriores.
a) Brasil + Pais (fora) sem compromisso
b) Fora + Pai/mãe (Brasileiro (a)) com
compromisso BR
C) Fora + Pai/mãe (Brasileiro (a))
1 – Repartição BR
2 – Morar (Brasil) +
opção após os 18 anos
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 39
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A aquisição da nacionalidade pode ser tácita (quando não depende do requerimento do interessado) ou expressa (quando depende dessa manifestação de vontade). A doutrina divide esta última em ordinária (quando esse requerimento é regido pela lei) e extraordinária (quando a hipótese de aquisição é oferecida pela própria Constituição).
O QUE DIZ A LEI?
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
Tem-se aqui hipótese de naturalização expressa ordinária, já que submetida aos termos da lei. Para a aquisição da condição de brasileiro, o estrangeiro poderá proceder de acordo com a lei (o estatuto do estrangeiro, citado), na qual são encontráveis os requisitos e procedimentos para a obtenção da nacionalidade brasileira. Há, no entanto, um grupo especial de estrangeiros, formado pelos egressos de pais de língua portuguesa (Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Açores, Cabo Verde, Ilhas Príncipe, Goa, Gamão, Dio, Macau e Timor) que tem a seu favor condições mais favoráveis, quais sejam residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aos demais
estrangeiros a lei se aplica na sua inteireza.
O QUE DIZ A LEI?
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 3, de 1994)
Aqui, a Constituição erige hipótese de aquisição de nacionalidade brasileira expressa extraordinária. Por
ela, todos e qualquer estrangeiro de nacionalidade, poderá beneficiar-se dessa forma excepcional de aquisição de nacionalidade. As exigências são apenas três: residência ininterrupta no Brasil há mais de quinze anos, ausência de condenação penal definitiva no Brasil e requerimento. É de se notar que não é impedimento a essa via de aquisição de nacionalidade a existência de condenação civil ou trabalhista. Como é lógico, a aquisição da nacionalidade depende de requerimento e, feito este por um dos cônjuges, não se estende automaticamente o outro, nem aos filhos.
Resumo Resumido!
2 Casos de Brasileiros Naturalizados:
O QUE DIZ A LEI?
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 3, de 1994)
Este parágrafo não se dirige ao português que pretenda nacionalizar-se brasileiro, mas àquele que não pretende a naturalização, e sim permanecer como português, como estrangeiro no Brasil. Esse português, em virtude dos laços históricos com Portugal, terá uma equiparação ao brasileiro naturalizado sem sê-lo. Note que apenas o português tem direito a essa equiparação. Um angolano, por exemplo, terá que se naturalizar para adquirir tais direitos.
OLHO NA DICA: O parágrafo também condiciona o gozo dessa equiparação à existência e observância da reciprocidade, que significa dar aos portugueses no Brasil tratamento semelhante ao conferido aos brasileiros em Portugal
A supressão da igualação ao ―brasileiro nato‖, na
reforma constitucional de 1994, recolocou a questão nos seus termos mantendo a paridade com o brasileiro naturalizado. A dimensão da reciprocidade, segundo o prof. Francisco Xavier da Silva Guimarães, está contida no Estatuto da igualdade ou Convenção de Reciprocidade de Tratamento entre brasileiros e portugueses, documento bilateral aprovado em 24 de novembro de 1971 pelo Decreto Legislativo n 82/72. Vale observar como informação, que a revisão constitucional realizada em Portugal em 1998 retirou da Constituição lusitana dispositivo que assegurava a equiparação do brasileiro ao português. As consequências disso para a ―reciprocidade‖ são óbvias.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera condição de egresso de Portugal não é suficiente para os benefícios da equiparação,
devendo o português ter requerido, e ter sido deferido esse benefício.
Isonomia entre natos e naturalizados
O QUE DIZ A LEI?
§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.
Países de
língua
portuguesa
Residência 1 ano
ininterrupto
Idoneidade moral
Estrangeiros
Residência + de 15
anos ininterruptos
Sem condenação
penal
Desde que requeiram a nacionalidade
brasileira
a) Portugal e/ou países de língua
portuguesa + Residência de 1 ano
ininterruptos + Idoneidade moral
b) Estrangeiro (outros) + 15 anos
ininterruptos + sem condenação penal
§1° Reciprocidade ou
equiparação: BR e Portugal
40 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
O parágrafo elimina quaisquer dívidas acerca do alcance das desigualdades entre brasileiros natos e naturalizados. São as previstas expressamente na Constituição, não podendo ser estendidas a outros casos. Este parágrafo veio recepcionar a Lei n° 6.182, de 19/12/74, que veda essas distinções. As únicas distinções permitidas pelo texto constitucional são para o caso de extradição (art. 5°, LI), para o exercício de determinados cargos públicos (art. 12, § 3°), para ocupar o cargo de membro do Conselho da República (art. 89, VII) e para administração e orientação intelectual de veículo de mídia no Brasil (art. 222).
Cargos privativos de brasileiros natos
O QUE DIZ A LEI?
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II – de Presidência da Câmara de Deputados;
III – de Presidente do Senado Federal;
IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V – da carreira diplomática;
VI – de oficial das Forças Armadas;
VII – de Ministro de Estado de Defesa.
ENTENDENDO MELHOR!!
Se observarmos bem, estabeleceu-se uma regra simples: para que o cargo seja privativo de brasileiro nato. Deverão ser natos os cargos de:
a) "Presidente da República, ou alguém que possa algum dia vir a exercer tal função";
b) "Oficiais das forças armadas e Ministro da Defesa"; e
c) "Carreira Diplomática".
Segundo os art.79 e 80, quem poderá assumir a função de Presidente da República serão as seguintes autoridades, respectivamente:
Como os Ministros do STF assumem a presidência do tribunal em forma de revezamento, seria mais lógico que este fosse formado apenas por brasileiros natos, o que não é necessário para os parlamentares, os quais em sua grande maioria nunca irão se tornar presidente da Casa.
Assim ocorre com o Ministro da Defesa: se os oficiais das forças armadas, líderes em operações de guerra, são natos, lógico também o ser o Ministro da Defesa.
Logo, o único que devemos realmente decorar, embora também exista lógica para tal, seria: carreira diplomática.
Observações:
1- O único membro do Judiciário que precisa ser nato é o Ministro do STF;
2- O único Ministro de Estado que precisa
ser nato é o Ministro da Defesa;
Perda da nacionalidade
O QUE DIZ A LEI?
§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
O brasileiro naturalizado que for processado e julgado culpado de algum crime no Brasil, poderá na sentença, receber uma pena acessória de cancelamento da naturalização, de acordo com a gravidade do crime. Nesse caso, a partir dessa sentença, por ato do Presidente da República, será declarada a perda de sua nacionalidade para viabilizar a expulsão do Brasil (já que expulsão de brasileiro, mesmo que naturalizado configura banimento, que é pena inconstitucional nos termos do art. 5°, XLVII, ―d‖).
O ato que cancela ou revoga a nacionalidade, segundo o prof. Francisco Xavier da Silva Guimarães, não é meramente declaratório, mas constitutivo da perda, já que esta não é automática, requerendo ato específico que a determine.
O QUE DIZ A LEI?
II - adquirir outra nacionalidade, salvo no casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;
A aquisição voluntária de outra nacionalidade por um brasileiro conduz, como regra, à perda da sua nacionalidade brasileira. Somente duas exceções são admitidas.
Primeira, no caso de a Lei estrangeira reconhecer ao brasileiro em determinadas condições determinada
Vice-Presidente;
Presidente da Câmara;
Presidente do Senado
Presidente do STF
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 41
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
nacionalidade estrangeira, como é o caso da Itália, que reconhece aos descendentes de italianos nascidos no Brasil a condição de italianos. É caso de acumulação de nacionalidade, ou dupla nacionalidade, constitucionalmente amparado.
Segunda e última, quando a lei estrangeira impuser ao brasileiro a obrigação de naturalizar-se para que naquele país possa permanecer ou mesmo exercer direitos civis, como trabalhar, alugar imóvel, ter conta em banco, etc.
Idioma e símbolos nacionais
O QUE DIZ A LEI?
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.
A língua portuguesa é a oficial no Brasil, o que não proíbe que outras aqui sejam faladas e reconhecidas, como no caso do art. 210, §2° que reconhece aos índios no Brasil o direito de usarem suas linguagens e dialetos no aprendizado.
Note também que os territórios não poderão ter símbolos próprios, até porque pertencem à União, como autarquias territoriais.
Resumo Resumido!
x
Nacionalidade
1. Vínculo: Indivíduo e o Estado;
2. Tipos: Nato (3) e Naturalizado (2); 3. Formas de aquisição:
a. Originárias ou Primárias b. Secundárias ou Adquiridas
4. Critérios: Jus sanguinis ou Jus solis 5. Denominação: Apátrida e Polopátrida
CAPÍTULO IV DOS DIREITOS POLÍTICOS
Segundo Pimenta Bueno, os direitos políticos são um conjunto de prerrogativas, atributos, faculdades ou poder de intervenção de cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou indireta, mais ou menos ampla. Seria assim a inserção da vontade do cidadão no universo da formação da vontade nacional.
As formas dessa participação são basicamente: o direito de votar e de ser votado, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de leis, a ação popular, a fiscalização
popular de contas públicas, o direito de informação em órgãos públicos e a filiação a partidos políticos.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
O sufrágio pode ser universal ou restrito, segundo a lição de Alexandre de Moraes. O sufrágio universal se apoia na coincidência entre a qualidade de eleitor e de nacional de um país, sujeito, contudo, aos condicionamentos como idade. O sufrágio restrito pode ser censitário (quando o votante precisa preencher requisitos de natureza econômica, como renda e bens) ou capacitário (quando o eleitor precisa apresentar algumas condições especiais de capacidade, como as de natureza intelectual). O voto por seu turno é o ato político que materializa na prática, o direito subjetivo de sufrágio.
Características do voto:
Personalidade: só pode ser exercido pessoalmente;
Obrigatoriedade formal de comparecimento: pela
regra o eleitor precisa comparecer, embora não precise efetivamente votar;
Liberdade: o eleitor escolhe livremente o nome de sua
preferência;
Sigilosidade: o voto é secreto;
Periodicidade: o eleitor é chamado a votar de tempos
em tempos;
Igualdade: cada voto tem o mesmo peso no processo
político, embora a Constituição admita casos em que isto é negado, como no art. 45.
Os direitos existentes neste artigo são desdobramentos da previsão do parágrafo único do art. 1° onde está que todo o poder emana do povo, sendo que aqui estão as formas de exercício direto de tal poder, acrescidas do poder de oferecer ação popular, do poder de fiscalização popular de contas, do poder de iniciativa de projeto de lei e da prerrogativa de organizar e integrar partido político.
O QUE DIZ A LEI?
I - plebiscito;
É forma oitiva popular em que o povo é chamado a se manifestar, diretamente sobre uma questão política definida, mas hipotética. A palavra é formada do latim (plebe) e scitum (decreto). É assim, uma consulta prévia
ao cidadão.
O QUE DIZ A LEI?
II - referendo;
Ao contrário do plebiscito, aqui o povo opina sobre questão concreta efetivada, geralmente legislativa, ou seja, sobre um fato realizado.
O QUE DIZ A LEI?
Símbolos
República
Federativa
do Brasil
a bandeira
o hino
as armas
o selo
nacionais
Povo
Território
Governo Soberano
Sufrágio é direito e função, configurando um
direito público subjetivo de eleger e ser eleito e
também o direito de participar da organização e
da atividade do poder estatal.
42 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
III - iniciativa popular.
É o poder de oferecer projeto de lei. Existe em
nível federal (art. 61, §2°). Estadual (27, §4°) e municipal (art. 29, XIII), sujeito a diferentes requisitos.
Alistamento eleitoral
O QUE DIZ A LEI?
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
Alistamento eleitoral é a inscrição como eleitor. Nas palavras de Celso Bastos, é um ato de natureza administrativa que se dá no âmbito da justiça eleitoral, com o objetivo de registrar todos aqueles que reúnam condições constitucionais e legais para serem eleitores. Só é feito por iniciativa do interessado, pelo que não é possível alistamento ex oficio.
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
Convém notar que o voto é obrigatório ao maior de dezoito anos, desde que menor de setenta anos, brasileiro alfabetizado, e não militar conscrito.
II - facultativos para:
É de se perceber que tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são facultativos aos citados neste inciso, a partir da interpretação de comando do: Dessa forma, uma pessoa de 17 anos, alistada como eleitor pode votar ou não.
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
Conscritos são os recrutados para servir às Forças Armadas. Não as integram na condição de profissionais, mas de cidadãos no cumprimento de um ônus constitucional, qual seja o de prestar serviço militar por certo tempo. Apenas durante esse tempo é que não podem alistar-se. Os demais integrantes das Forças Armadas têm o poder dever de alistamento. Dentre os estrangeiros, são excluídos os portugueses beneficiados com a equiparação, pois, apesar de não serem brasileiros naturalizados, são beneficiados com direitos desse grupo.
Condições de elegibilidade
O QUE DIZ A LEI?
§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
Ensina José Afonso da Silva que, assim como a alistabilidade diz respeito á capacidade eleitoral ativa (capacidade de ser eleitor), a elegibilidade refere-se à capacidade eleitoral passiva ou capacidade de ser eleito.
O QUE DIZ A LEI?
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
Inelegibilidade e Inalistabilidade Eleitoral
O QUE DIZ A LEI?
§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
Inelegibilidade é o impedimento à capacidade eleitoral passiva, isto é, ao direito de ser votado. Não se confunde com a inastabilidade, que é a impossibilidade de se alistar eleitor, nem com a incompatibilidade, impedimento ao exercício do mandato depois do eleito.
Este parágrafo enumera casos de inegibilidade absoluta.
O QUE DIZ A LEI?
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 16, de 1997)
Sucessão é a ocupação do mandato de forma definitiva. Substituição, em caráter temporário. Essa nova redação permite aos chefes do Poder Executivo uma única recandidatura para o mesmo cargo, no período imediatamente subsequente. Portanto, mesmo após a EC N° 16, a inelegibilidade descrita neste dispositivo continua relativa, dada a opção do Congresso Nacional, no uso do poder constituinte derivado reformador, por uma única reeleição, não podendo haver, portanto a disputa a um terceiro mandato consecutivo. A emenda 16 possibilitou uma única reeleição para o mesmo cargo, no Executivo, e o TSE decidiu que não é necessário que o Presidente da República, o Governador de Estado ou do Distrito Federal e o Prefeito afastem-se desses cargos ou renunciem para postular a reeleição.
Reeleição e candidatura a outro cargo para os Chefes do Executivo
O QUE DIZ A LEI?
§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
Mostra que os chefes do Poder Executivo podem pleitear outros cargos eletivos, além do que ocupam, desde que renunciem a esses até seis meses antes do pleito. Em face da redação da EC N° 16/97, a jurisprudência, especialmente do STF, deverá sinalizar a harmonia, ou não, dessa prescrição, principalmente da necessidade de renúncia, como o § 5°. Acirrada discussão foi travada, inclusive pelos jornais, entre constitucionais de peso, sobre a necessidade, ou não
Nos §§ 5º e 7º estão casos de inelegibilidade relativas.
Portanto, são absolutamente inelegíveis os militares
conscritos, os estrangeiros e os analfabetos.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 43
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
de renúncia para a disputa de um novo mandato executivo, ou seja, o Presidente da República, para tentar sua reeleição deveria ou não renunciar.
Embora não haja ainda um pronunciamento jurídico definitivo, a razão parece administrativa que é subjacente à própria ideia de reeleição. Contudo, a redação combinada deste § 6º com o § 5º acima, dão plausibilidade também, à tese dos que exigem a renúncia para a re-candidatura.
Inelegibilidade reflexa
O QUE DIZ A LEI?
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
Tem-se aqui a inelegibilidade reflexa. Para esses
fins o território de ―jurisdição‖ (a doutrina prefere circunscrição) do titular é a área física em que esse exerce o poder. Assim, o do Presidente da República é todo o País; o do Governador, o respectivo estado, e o Prefeito, o Município. Assim, o cônjuge e parentes do Prefeito não poderão disputar os cargos e mandatos de Prefeito, Vice – Prefeito e Vereador naquele Município; do Governador, esses cargos citados, nos municípios do Estado, mais os cargos de Governador e Vice-Governador e de Deputado Estadual, Federal e Senador, estes dois últimos para vagas do próprio Estado, do Presidente da República, por fim, são absolutamente inelegíveis, salvo a única hipótese do final da redação do dispositivo.
Cabe aqui, referência à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, onde foi decidido que em se tratando da eleição para deputado federal ou senador, cada Estado e o distrito federal constituem uma circunscrição eleitoral, o que amplia relação dos impedimentos.
PRESTE ATENÇÃO:
É facultado ao detentor de mandato eletivo
desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos trinta dias
seguintes à promulgação desta Emenda Constitucional,
sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação
considerada para fins de distribuição dos recursos do
Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e
televisão. (Art. 1ª da EC 91/2016)
Eleição do militar
O QUE DIZ A LEI?
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
O militar é só é alistável e não for conscrito. Se for alistável, e elegível, diz o parágrafo que também impõe condições: se contar menos de dez anos de serviço deverá afastar-se da atividade para ser candidato, não podendo mais continuar na carreira militar, mesmo que não seja eleito. Com mais de dez anos de serviço o militar será agregado (afasta-se do cargo, mas permanece com a remuneração até ser aproveitado em outro cargo) e, se eleito automaticamente será conduzido na diplomação para a inatividade. O STF já decidiu que do militar elegível não é exigível a filiação partidária, sendo que o partido de inscrição de candidatura é supridora dessa condição.
Resumo Resumido!
Inelegibilidade e proteção à legitimidade das eleições
O QUE DIZ A LEI?
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
Esta lei complementar, que será federal vai enumerar outros casos de inelegibilidade e impor prazos para os ocupantes de determinados cargos ou funções públicas destes, sob pena de não se poderem eleger. Para tanto, deverão se desincompatibilizar. As finalidades dessas inelegibilidades estão ditas no próprio parágrafo.
Resumo Resumido!
Ação de impugnação de mandato eletivo (AIME)
O QUE DIZ A LEI?
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado
O TSE decidiu a questão, reconhecendo a
desnecessidade de renúncia ou afastamento do cargo
para que os chefes do executivo concorram à
reeleição. Para tentarem eleição para qualquer outro
cargo, deverão renunciar. A renúncia, nesse caso é
irreversível.
– 10 anos
Deverá afastar-se da atividade
+ 10 anos
Será agregado pela
autoridade superior e, se
eleito, passará para a
inatividade
Objetivos da
legislação
sobre a
inelegibilidade
Probidade
administrativa
Moralidade para
exercício de mandato
Normalidade das
eleições
Legitimidade das eleições
44 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
O parágrafo trata do ajuizamento de mandato eletivo. Note que o prazo é para a entrada da ação no judiciário, não para o seu julgamento que ocorrerá bem mais tarde. O eleitor quer for réu nessa ação e vier a perdê-la, se membro do Legislativo, terá o seu mandato extinto na forma do art. 55, § 3° com fundamento no art. 55, V. A legitimação ativa para essa ação é do Ministério Público, dos partidos políticos, das coligações e dos candidatos, eleitos ou não.
MUITA ATENÇÃO!!
Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. (EC 91/2016)
Resumo Resumido!
O QUE DIZ A LEI?
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
Perda ou suspensão de direitos políticos
O QUE DIZ A LEI?
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de
Cassação é o ato unilateral, do Poder Executivo, configurando uma radical medida contra o regime democrático que suprime direitos e garantias individuais. Perda é a privação definitiva; suspensão é uma perda temporária. Note que os casos admitidos neste artigo tem fundamento constitucional, legal ou judicial.
O QUE DIZ A LEI?
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
Na forma do art. 12, § 4º, I. Com essa condição, a pessoa perde a condição de brasileiro, retorna ao status de estrangeiro e com isso perde também direitos políticos que são inerentes à cidadania.
O QUE DIZ A LEI?
II - incapacidade civil absoluta;
Segundo o Código Civil são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, os loucos de todo gênero, os surdos-mudos que não possam exprimir sua vontade e os ausentes assim declarados por ato de juiz (CC, Art. 5°, I e IV).
O QUE DIZ A LEI?
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
A duração da suspensão depende da pena, e com extinção da punibilidade o preso readquire direitos políticos. Preso sem sentença definitiva pode votar. Se for condenado por crime contra a economia popular, contra a fé pública, contra a Administração Pública, contra o patrimônio público, contra o mercado- financeiro de tráfico de drogas ou crimes eleitorais, a suspensão se estende por mais de três anos, depois de cumprida, a pena.
O QUE DIZ A LEI?
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
Se vier a cumpri-la, readquire os direitos perdidos ou suspensos. A Lei n 8.239/91 regulou as prestações alternativas, cujo descumprimento, ou cumprimento parcial deixa o brasileiro sem direitos políticos.
O QUE DIZ A LEI?
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Resumo Resumido!
Alteração do processo eleitoral (Anualidade)
O QUE DIZ A LEI?
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 4, de 1993)
Princípio da anterioridade eleitoral.
Esta disposição é muito cobrada em concursos e deve-se atentar à clara separação dos termos:
• entrada em vigor → Na data de sua publicação;
• aplicação → Somente nas eleições que ocorram
Impugnação
do mandato 15 dias
Diplomação
Abuso do Poder Econômico
Corrupção
Fraude Cassação de direitos políticos
Perda I - cancelamento da naturalização
por sentença transitada em julgado;
Suspensão
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em
julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos
imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos
termos do art. 37, § 4º.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 45
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
após 1 ano do início da sua vigência.
CAPÍTULO V DOS PARTIDOS POLÍTICOS
Observação: As disposições sobre partidos
políticos são literalmente cobradas em concursos e são simples.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos.
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006)
§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
RESUMO RESUMIDO!
QUESTÕES DE CONCURSOS FGV
Ver no final deste material
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO – ARTS. 18 A 36
TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
É matéria constitucional no que concerne à divisão política do território nacional. Estruturação dos poderes. Forma de Governo. Modo de Investidura dos Governantes. Direitos e Garantias dos Governados.
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
Segundo Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino, o art. 18 indica a opção do legislador constituinte pela forma federativa de Estado para a repartição territorial de poderes. Aponta, também, a adoção da forma republicana de governo, para a regulamentação dos
meios de aquisição e exercício do poder pelos governantes. Apresenta, ainda, a enumeração dos entes federativos que compõem a federação brasileira – União,
estados, Distrito Federal e municípios –, todos dotados de autonomia política, nos termos delineados pela própria
constituição.
Um mnemônico utilizado para lembrar os entres federativos é MEDU (M – Município, E – Estado, D – Distrito Federal e U – União).
§ 1º - Brasília é a Capital Federal.
Capital da República: não é o Distrito Federal a Capital Federal, e sim, Brasília. O Distrito Federal é um quadrilátero (chamado de Quadrilátero de Cruls) de segurança que envolve a Capital Federal. A Constituição, então evidencia a diferença entre a Capital da República e a sua circunscrição territorial, que é o Distrito Federal. Veja-se essa referência neste dispositivo e, também, no § 1º do art. 92.
§ 2º - Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
Condição política: os Territórios Federais não são
entidades federativas, dispondo da condição de meras
livre criação, fusão, incorporação e extinção;
autonomia para definir sua estrutura interna, organização
e para adotar critérios de escolha e o regime de suas
coligações eleitorais, não precisando vincular as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal;
receber recursos do fundo partidário;
acesso gratuito ao rádio e televisão, na forma da lei.
Direitos dos partidos políticos
Obrigações
resguardar a soberania nacional, o regime democrático,
o
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana;
possuir caráter nacional;
prestar contas à Justiça Eleitoral;
funcionamento parlamentar de acordo com a lei;
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
em seus estatutos;
registrar seus estatutos no TSE após adquirirem
personalidade jurídica conforme a lei civil;
Vedações:
Não podem receber recursos financeiros de entidades
ou governos estrangeiros ou subordinarem-se a estes;
Não podem utilizar organização paramilitar.
46 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
autarquias territoriais da União, simples descentralizações administrativas territoriais. Não são detentores de autonomia federativa. O governador dos territórios são nomeados pelo Presidente da República (art. 84, XV), cujo nome é sujeito à aprovação do Senado Federal (art. 47).
Não confunda Distrito Federal com território federal, não tem nada haver uma coisa com outra. O Distrito Federal é uma entidade autônoma da federação, O território federal não é autônomo, pois integra à União.
Reorganização do espaço territorial de Estados e Territórios Federais
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
Atenção a essas duas disposições:
• Aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito; e
• Elaboração de uma lei complementar pelo Congresso Nacional.
População diretamente interessada: é aquela residente na área que se pretende incorporar, subdividir ou desmembrar, e não toda a população do Estado ou Estados envolvidos, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Incorporação Um Estado absorve outro, que desaparece.
Subdivisão Um Estado gera outros dois, com novas denominações
Desmembramento Um Estado perde um pedaço de seu território, sendo que este vai se incorporar a outro Estado ou transformar-se em Estado Novo.
A doutrina costuma relacionar as hipóteses de reorganização do espaço territorial da seguinte forma:
• Cisão ou Subdivisão - Um ente subdivide o seu território dando origem a outros entes. O ente inicial deixa de existir.
• Desmembramento-formação - Uma parte de um ente se desmembra formando um novo ente. O ente inicial continua existindo e agora temos um ente completamente novo.
• Desmembramento-anexação - Uma parte de um ente se desmembra, porém, ao invés de formar um novo ente, ela é anexada por outro existente. O ente inicial continua existindo e não temos a formação de um ente novo, mas um aumento territorial de "outro.
• Fusão - Dois ou mais entes se agregam e assim formam um ente novo. Os entes iniciais deixam de existir.
Reorganização do espaço territorial de Municípios
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 15, de 1996)
Atenção a essas três disposições:
• far-se-á por lei estadual no período de lei complementar federal;
• Aprovação, por plebiscito, da população envolvida;
• Deve-se apresentar e publicar, na forma da lei, Estudos de Viabilidade Municipal.
LEMBREM-SE: estudo de viabilidade é só no caso
de Municípios!
Alterações por emenda: redação dada emenda
nº 15/ 1996 que endureceu sensivelmente o processo de criação de Municípios. Entre as alterações, o plebiscito foi ampliado, para não ser realizado apenas entre a população ―diretamente interessada‖, mas toda a população dos ―Municípios envolvidos‖.
Populações envolvidas: a nova redação do
dispositivo exige que tanto os cidadãos residentes na área diretamente atingida quanto os que residem fora dele, mas dentro da área afetada pela medida, devem votar no plebiscito. A identificação das populações envolvidas vai depender da medida a se adotar (criação, incorporação e desmembramento).
Processo
1. Realização de estudos de viabilidade municipal.
2. Se negativos, encerra o processo. Se positivo: (3)
3. Convocação do plebiscito por ato da Assembleia Legislativa.
4. Se o resultado for negativo, encerra o processo. Se for positivo: (4)
5. Início de tramitação do projeto de lei ordinária estadual necessário.
6. Votação do projeto de lei no prazo determinado em por lei complementar federal.
Vedações aos entes federativos
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
O art. 19 da Constituição estabelece três vedações aplicáveis a todos os entes federativos.
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
Razão da proibição: o Brasil é um Estado laico, inexistindo religião oficial. Alexandre de Moraes lembra bem que o fato de ser Estado laico não significa Estado ateu, já que existe a invocação a Deus no Preâmbulo constitucional.
Relação com o Vaticano: a relação com o Vaticano não está proibida porque não é, formalmente, uma relação com religião, mas com Estado.
II - recusar fé aos documentos públicos;
Presunção de legitimidade: documento público, passado por autoridade pública, tem a seu favor a presunção de legitimidade, que só pode ser vencida por
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 47
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
prova definitiva em contrário, após processo regular.
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
CAPÍTULO II DA UNIÃO
Art. 20. São bens da União:
O art.98 do Código Civil afirma que são bens públicos todos aqueles de domínio nacional pertencentes
às pessoas jurídicas de direito público interno. Por sua vez, o art.99 do Código Civil classifica os
bens públicos em: 1- bens de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praças; 2- bens de uso especial, como edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal,
inclusive os de suas autarquias; 3- bens dominicais, que constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma
dessas entidades. Salvo disposição legal em
contrário, os bens pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público com estrutura
de direito privado são considerados dominicais. A Constituição da República, por sua vez, arrola os
bens da União no art. 20. Contudo, tal rol não é exaustivo, mas
exemplificativo, pois o inciso I do citado dispositivo constitucional generaliza e ressalva a possibilidade
de novos bens serem atribuídos à União.
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
Terras devolutas: são aquelas que pertencem ao
domínio público e não se encontram afetas a nenhuma destinação pública, ou seja, estão sem utilização. Na definição de Diógenes Gasparini, terra devoluta é a que não está destinada a qualquer uso público nem legitimidade integrada ao patrimônio particular. Para José dos Santos Carvalho Filho, são as áreas que, integrando o patrimônio das pessoas federativas, não são utilizadas para quaisquer finalidades públicas específicas.
"As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores." (Súmula 477.)
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
Terrenos marginais: são áreas de terras às
margens dos cursos de água, até uma distância de 15 metros, medidos do ponto médio das enchentes normais dos rios.
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005)
Nova redação: a redação imposta por Emenda Constitucional determina que as áreas, em ilhas costeiras que, contenham a sede de Município são bens municipais, exceto se estiverem afetadas ao serviço público federal ou à unidade ambiental federal, quando permanecerão bens da União. A nova redação repete o que já se podia extrair da leitura do art. 26 , II.
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
Plataforma continental: é o leito e o subsolo marítimo que se estendam até uma profundidade de 200 metros de profundidade. A essa profundidade, aproximadamente, inicia-se o talude continental, e o relevo submarino descende para as regiões pelágicas e abissais.
Zona econômica exclusiva: é a faixa de águas marinhas que se encontra da 12ª até 200ª milha marítima ao longo do litoral continental e insular brasileiro.
VI - o mar territorial;
Mar territorial: é a porção de águas marítimas sobre as quais o Brasil exerce poderes de soberania, ou seja, tidas como extensão do território nacional.
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
Terrenos de marinha: são terrenos localizados em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar médio em 1831:
A) Situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés;
B) Os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés.
Esse ano é considerado por identificar a época da edição do Aviso Imperial de 12/7/1833, que definiu os terrenos da marinha.
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
Noção do dispositivo: são, principalmente, as quedas d‘ água, mesmo que localizadas em rios estaduais ou em terras particulares.
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
Participação na exploração: de sua exploração participam as entidades mencionadas no § 1º deste artigo e também o particular dono da terra em que seja descoberta a jazida, conforme consta no art. 176, § 2º.
“Os arts. 2º da Lei 8.176/1991 e 55 da Lei 9.605/1998 tutelam bens jurídicos distintos: o primeiro visa a resguardar o patrimônio da União; o segundo protege o meio ambiente. Daí a
48 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
improcedência da alegação de que o art. 55 da Lei 9.605/1998 revogou o art. 2º da Lei 8.176/1991.” (HC 89.878, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 20-4-2010, Segunda Turma, DJE de 14-5-2010.)
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
Objetivo: a doutrina aponta que essa previsão visa
a preservar as reminiscências históricas das civilizações que ocuparam as terras brasileiras.
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
Definição constitucional: as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios estão definidas no art. 231, § 1º, como por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
"Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto." (Súmula 650.)
“As regras definidoras do domínio dos incisos I e XI do art. 20 da CF de 1988 não albergam terras que, em passado remoto, foram ocupadas por indígenas.” (RE 219.983, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 9-12-1998, Plenário, DJ de 17-9-1999.) No mesmo sentido: ADI 255, Rel. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-3-2011, Plenário, DJE de 24-5-2011.
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
Noção do dispositivo: a União, como proprietária
dos recursos minerais e dos potenciais hidroenergéticos, não realiza a exploração, a qual é atribuída a empresas, estatais ou não, através de concessão de lavra. Na realização dessa exploração mineral, ou na transformação do potencial hídrico em energia elétrica, haverá obrigação de pagamento, pelo explorador ou pela empresa que realiza a atividade, de percentual sobre o resultado da exploração ou de compensação financeira pelo fato da exploração.
§ 2º - A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.
Identificação: é a área de terra, ao longo das
fronteiras terrestres do Brasil com os países sul-americanos, em extensão variável, sendo no máximo de 150 quilômetros.
Art. 21. Compete à União
Noção do dispositivo: este artigo enumera as competências administrativas, ou materiais, da União,
ou seja, ações a serem realizadas exclusivamente pela União, não havendo, sequer, autorização constitucional para a delegação a outros entes federativos. Sua principal característica é a indelegabilidade.
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
Ação da União: a atuação da União, neste caso, reveste-se do atributo da soberania, pois que age ela em nome da República Federativa do Brasil, no plano internacional.
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
Declaração de guerra: a locução é tecnicamente incorreta, já que a Carta da ONU suprimiu, desde 1945, a figura das guerras declaradas.
Competência: essa competência é privativa do Presidente da República (art. 84, XX), mas sujeita à autorização ou ao referendo do Congresso Nacional (art. 49, II), conforme o Presidente proceda após ou antes, respectivamente, da ação do Congresso.
III - assegurar a defesa nacional;
Forças Armadas: a previsão da utilização das Forças Armadas na segurança nacional está no art. 142.
Intervenção federal: a ameaça à integração nacional e a invasão estrangeira são hipóteses que autorizam intervenção federal, a teor do art. 34, I e II.
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
O ato de permissão é de competência do Presidente da República, a teor do art. 84, XXII, mas sujeita à autorização do Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, II.
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
Material bélico: tem-se entendido que ―material
bélico‖ inclui armas de fogo em geral, e não apenas aquelas de uso militar.
VII - emitir moeda;
Competência do Banco Central: essa
competência para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, na forma do art. 164, caput.
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;
Competência do Senado Federal: a Constituição
Federal atribui ao Senado Federal competência para fiscalizar operações financeiras específicas, no art. 52, V a IX.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 49
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
Planos de desenvolvimento: a elaboração de
planos municipais é de competência dos Municípios; a de planos estaduais, dos próprios Estados. A elaboração de planos nacionais e regionais de desenvolvimento está tratada, também, no art. 43, § 1º, II.
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
Extinção do monopólio estatal: dispositivo que,
de acordo com a EC nº 8, derrubou o monopólio estatal nas telecomunicações e viabilizou a criação da Anatel, o ―órgão regulador‖ de que trata o inciso.
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 8, de 15/08/95:)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012).
Judiciário do Distrito Federal: é organizado e
mantido pela União, sendo, portanto, Judiciário Federal.
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
Serviços estaduais: a redação não impede que os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizem seus próprios serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia.
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
XVII - conceder anistia;
Competência legislativa: a anistia é matéria de lei
federal, de acordo com o art. 48, VIII.
Competência Administrativa: é do Presidente da
República.
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
Competência municipal: a competência para a
implantação da política de viação é da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme a qualificação da via ou rodovia.
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
Alteração por emenda: a finalidade, louvável, da
Emenda Constitucional nº 19, foi à adequação técnica da redação original. Realmente, não compete à Polícia
Federal os serviços de polícia ―aérea‖, assunto da Aeronáutica. A competência da Polícia Federal é, efetivamente, o policiamento aeroportuário, em terra, portanto, de acordo com o art. 144, § 1º, III.
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de
2006)
d) A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Incluída
pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
Comercialização de radioisótopos: a Emenda nº
49, primeiramente, eliminou a possibilidade de concessão para as atividades referidas na alínea b. Também foi autorizada a comercialização de radioisótopos e eliminada a referência a ―atividades análogas‖. A alínea c é nova. A alínea d já existia, como alínea c, e foi apenas deslocada.
Matéria nuclear: é monopólio da União, não podendo a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e comércio serem
50 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
contratados com empresas estatais ou privadas, de acordo com o art. 177, V e § 1º.
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
Trata-se de COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS privativas da União, para a edição de normas sobre as
matérias abaixo enumeradas. Porém é possível que os Estados e Distrito Federal venham a legislar sobre questões específicas das matérias enumeradas no art.
22 da CF, DESDE QUE a União delegue a competência, por meio de lei complementar (art. 22, parágrafo único). O contrário da competência administrativa exclusiva, a marca da sua competência é a delegabilidade aos
Estados e ao Distrito Federal.
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Mnemônico: CAPACETE PM
II - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
Competências da União
Art. 21 Art. 22
Administrativa Legislativa
Exclusiva Privativa
Indelegável Delegável
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O art. 23 da CF enumera as matérias integrantes da denominada competência comum (paralela ou
cumulativa). Essa competência é administrativa, consubstanciada pela outorga à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios de poder para atuar paralelamente, sobre as matérias explicitadas nesse artigo. Todos os entes federativos exercem-na em condição de igualdade, sem nenhuma relação de subordinação; ademais, a atuação de um não exclui a dos outros.
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à
inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85,
de 2015)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 51
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
O parágrafo único foi inserido na CF como objetivo de evitar conflitos e superposição de esforços no âmbito da competência comum.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
II - orçamento;
Mnemônico: PETUFO (P – Penitenciário, E – Econômico, T – Tributário, U – Urbanístico, F – Financeiro e O - Orçamentário ).
III - juntas comerciais;
As juntas comerciais são órgãos administrativamente vinculados aos Estados e incumbidos do registro dos aspectos formais relativos à criação, funcionamento e extinção de pessoas jurídicas de direito privado.
IV - custas dos serviços forenses;
As custas de serviços forenses são valores pagos para o custeio de atos judiciais, como custas de atuação e de preparo para recursos judiciais.
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
85, de 2015);
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
Princípio da Predominância de Interesse
Ele é utilizado para identificar a competência.
Os assuntos de predominante interesse local devem ser regulados pelo Município;
Sendo de interesse regional o se abranger mais de um Município, ficam a cargo do Estado;
Caso haja predominante interesse nacional a competência será da União.
52 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
RESUMO ESQUEMATIZADO DAS COMPETÊNCIAS
PRIVATIVA DA UNIÃO CONCORRENTE UNIÃO / ESTADOS/ DF
COMUM A TODOS DOS MUNICÍPIOS
NORMAS GERAIS Diretrizes,
Política, Sistema INTERESSE REGIONAL
MATERIAL Zelar, proteger, cuidar, fiscalizar, estabelecer, fomentar, proporcionar
INTERESSE LOCAL No que couber, local, com cooperação
Direitos: Eleitoral, Civil,
Comercial, Aeronáutico, do Trabalho, Marítimo, Agrário, Espacial, Penal
Direitos: Penitenciário,
Urbanístico
Zelar: CF, leis, instituições
democráticas. Conservar: Patrimônio
Público
Legislar: Assuntos de
interesse local
Direito Processual Procedimentos em Matéria Processual
Fiscalizar: as concessões
de recursos hídricos e minerais
Criar e prestar:
serviços públicos de interesse local
Seguridade Social Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde
Cuidar: Saúde, Assistência
Pública e Proteção das Pessoas portadoras de Deficiência
Prestar: serviços de
atendimento à saúde da população (com a cooperação financeira da União e Estado)
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Educação, Cultura, Ensino e Desporto
Proporcionar: meios de
acesso à cultura, à educação e à ciência
Manter: programas de
educação pré-escolar e ensino fundamental (com cooperação da União e Estado)
Política: Financeira,
Sistemas: Monetário e de Medidas
Direito Tributário, Financeiro e Econômico
Sistema Cartográfico, jazidas, minas, informática, energia e telecomunicações, metalurgia.
Florestas, caça, pesca conservação: natureza e
recursos naturais proteção: do meio ambiente e poluição
Preservar: florestas, fauna
e flora.
Promover: no que
couber, adequado ordenamento territorial
Desapropriação Orçamento
Comércio Exterior, Interestadual e Propaganda Comercial
Produção e Consumo Fomentar: Produção
agropecuária
Registros Públicos Juntas Comerciais
Trânsito e Transporte Interestadual Diretrizes da Política de Transportes
Estabelecer: política de
educação para a segurança do trânsito
Transporte Urbano
Defesa: Territorial,
Aeroespacial, Marítima, Civil e Mobilização Nacional
Proteção: Patrimônio
Histórico, Cultural, Artístico, Turístico e Paisagístico
Proteger: meio ambiente Combater: poluição Impedir: evasão e
destruição de obras de arte e bens de valor histórico
Promover: proteção do
patrimônio histórico e cultural local, observada a lei e a ação fiscalizadora federal e estadual
Organização Judiciária: Ministério Público, Defensoria Pública do DF e dos Territórios
Criação e funcionamento dos Juizados especiais
Custas dos serviços forenses. Assistência Jurídica e Defensoria Pública
Resumo Didático elaborado por Dr. Eber Paulo Cruz.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 53
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Mnemônico arts. 22 e 24 da CF
Art. 22, I e II da CF: “Capacete de PM”
Art. 24, I da CF: “ursinho” “PUFET”
– competências privativa da União
– matéria concorrente da União e dos Estados
Civil Penitenciário
Agrário (terra) Urbanístico
Penal Financeiro
Aeronáutico (ar) Econômico
Comercial Tributário
Espacial
Trabalho
Eleitoral
Desapropriação
Processual
Marítimo (mar)
CAPÍTULO III DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
Como regra, a Constituição Federal não enumerou taxativamente as matérias de competência dos estados-membros, reservando a eles a denominada competência remanescente (art. 25, CF).
Embora os estados-membros detenham a genérica competência remanescente, residual ou reservada, estabelecida no § 1° do art. 25 da CF, encontramos no texto constitucional algumas poucas competências expressamente conferidas aos estados, como a competência de incorporação, fusão e desmembramento de municípios (CF, art. 18, §4°); para a exploração direta, ou mediante concessão, dos serviços de gás canalizado (art. 25, §3°); para a instituição de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões (CF, art. 25, §3) e para a organização de sua própria Justiça (CF, art. 125).
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
As competências residuais são todas as competências administrativas e legislativas que a Constituição Federal não atribua expressamente à União e aos municípios.
§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
§ 1º - Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
Sistema
eleitoral
Proporcional, segundo o art. 45
Inviolabilidade Por opiniões, palavras e votos, como garantida aos membros do Congresso Nacional pelo art. 53, caput.
Imunidade - Contra prisão, exceto em flagrante de crime inafiançável.
- Foro especial criminal
- Possibilidade de suspensão do processo criminal se o crime for posterior a diplomação
§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º - Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.
§ 4º - A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77. (Redação dada pela
54 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Emenda Constitucional nº 16, de1997)
§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. (Renumerado do parágrafo único, pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
CAPÍTULO IV DOS MUNICÍPIOS
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos.
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16,
de1997)
III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição;
Eleições do:
- Prefeito e Vice
- Vereadores
Pleito direto e simultâneo;
Mandato de 4 anos;
Eleição realizada no 1° domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato;
Possibilidade de segundo turno entre os dois candidatos mais em votados, se o Município tiver mais de 200 mil eleitores;
Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.
IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:
(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional
nº 58, de 2009) (Produção de efeito)
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até
15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação dada pela
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000
(trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda
Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda
Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda
Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até
160.000 (cento sessenta mil) habitantes; (Incluída
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de
2009)
g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e
de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Incluída
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de
2009)
h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional
nº 58, de 2009)
i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil)
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes;
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58,
de 2009)
k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil)
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes;
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58,
de 2009)
m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos
mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes;
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58,
de 2009)
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos
mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos
mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 55
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Constitucional nº 58, de 2009)
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois
milhões e quatrocentos mil) habitantes; (Incluída pela
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três
milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda
Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de
habitantes; e (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação
dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 25, de 2000)
c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 25, de 2000)
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 25, de 2000)
e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa;
(Renumerado do inciso VII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela Emenda
Constitucional nº 1, de 1992)
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; (Renumerado do inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
(Renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (Renumerado do inciso XII,
pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5
o do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional
nº 58, de 2009) (Produção de efeito)
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000
56 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(trezentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda
Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Redação dada
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de
habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição
Constitucional nº 58, de 2009)
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e
8.000.000 (oito milhões) de habitantes; (Incluído pela
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.
§ 1° A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.
§ 2° constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo;
II. Não enviar o repasse até o dia 20 (vinte de cada mês);
III. Enviá-lo a menor em relação a proporção fixada na Lei Orçamentária.
§ 3° constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito do § 1°deste art.
Art. 30. Compete aos Municípios
A Constituição Federal de 1988 conferiu aos municípios natureza de ente federativo autônomo, dotado de capacidade de autolegislação, auto-organização, auto-administração e autogoverno.
A competência dos municípios pode ser dividida em competência legislativa e competência administrativa.
A competência legislativa corresponde à competência exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) e á competência suplementar, para suplementar a legislação federal e
estadual, no que couber (CF, art. 30, II).
A competência administrativa autoriza o
município a atuar sobre os assuntos de interesse local, identificados a partir do princípio da predominância do interesse, especialmente sobre as matérias expressamente consignadas nos incisos III ao IX do art. 30 da CF.
No uso da competência suplementar, podem os
municípios suprir as lacunas da legislação federal e estadual, regulamentando as respectivas matérias para ajustar a sua execução às peculiaridades locais. Entretanto, no uso dessa competência suplementar, não poderão os municípios contraditar a legislação federal e estadual existente, tampouco ex
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação infantil e de ensino fundamental; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
O controle interno é exercido por cada Poder. Já o controle externo é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, com o auxílio de órgão técnico.
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
CAPÍTULO V DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Seção I DO DISTRITO FEDERAL
O Distrito Federal é entidade federativa dotada de autonomia, com competência que, em regra, combinam as estaduais e as municipais.
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 57
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
nesta Constituição.
É vedada a divisão do Distrito Federal em municípios, ele é dividido internamente em Regiões Administrativas.
§ 1º - Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.
§ 2º - A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.
§ 3º - Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.
§ 4º - Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.
Seção II
DOS TERRITÓRIOS
Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.
Os Territórios têm natureza de Autarquias Federais e são criados por lei federal. É possível a sua transformação em Estados (art. 18, § 3°). Ao contrário do Distrito Federal, é permitida a divisão a sua divisão em municípios, e esses conservam todas as duas competências constitucionais.
A administração dos Territórios é feita por um governador (art. 33, § 3°) nomeado em comissão pelo Presidente da República (art. 84, XIV) após aprovação do nome pelo Senado Federal (art. 52, III, c), sendo que poderá ser nomeado membro do Congresso Nacional (art. 58, I).
§ 1º - Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.
§ 2º - As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
§ 3º - Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.
CAPÍTULO VI DA INTERVENÇÃO
É a medida de caráter excepcional e temporário que afasta a autonomia dos estados, Distrito Federal ou municípios.
Intervenção é uma medida através da qual quebra-se excepcional e temporariamente a autonomia de determinado ente federativo, nas hipóteses taxativamente
previstas na Constituição Federal.
Trata-se de mecanismo utilizado para assegurar a permanência do pacto federativo, ou seja, para impedir a tentativa de secessão (princípio da indissociabilidade do pacto federativo).
A intervenção é uma exceção, pois em regra todos os entes federativos são dotados de autonomia.
“A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição” (art. 18 da CF).
Hipóteses:
A intervenção só pode ocorrer nos casos e limites estabelecidos pela Constituição Federal:
1- quando houver coação contra o Poder Judiciário, para garantir seu livre exercício (poderá ocorrer de ofício, ou seja, sem que haja necessidade de provocação ou pedido da parte interessada);
2- quando for desobedecida ordem ou decisão judiciária (poderá ocorrer de ofício, ou seja, sem que haja necessidade de provocação ou pedido da parte interessada);
3- quando houver representação do Procurador-Geral da República. (art. 34, VII, da Constituição)
No caso de desobediência de ordem judicial, o Supremo processará também os pedidos encaminhados pelo presidente do Tribunal de Justiça do estado ou de Tribunal Federal. Se a ordem ou decisão judicial desrespeitada for do próprio STF, a parte interessada também poderá requerer a medida.
Espécies:
- Intervenção espontânea: O Presidente da
República decreta a intervenção federal de ofício.
-> Defesa da unidade nacional (art. 34, I e II da CF).
-> Defesa da ordem pública (art. 34, III da CF). -> Defesa das finanças públicas (art. 34, V da CF).
- Intervenção provocada: O Presidente da
República depende da provocação de terceiros para decretar a intervenção federal. Intervenção provocada por solicitação: Defesa dos Poderes Executivo ou Legislativo locais. Se a coação recair sobre o Poder Legislativo ou Executivo, a decretação da intervenção federal pelo Presidente da República dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo coacto ou impedido (art. 34, IV e art 36, I, 1a parte da CF).
- Intervenção provocada por requisição:
* Requisição do STF: Se a coação recair sobre o Poder Judiciário, impedindo seu livre exercício nas unidades da federação (art. 34, IV e art. 36, II 2a parte da CF).
* Requisição do STF, STJ ou TSE: No caso de desobediência à ordem ou decisão judicial (art. 34, VI da CF).
* O STF pode requisitar não só nas hipóteses de descumprimento de suas próprias decisões como também nas hipóteses de descumprimento de decisões da Justiça Federal, Estadual, do Trabalho ou da Justiça Militar.
- Intervenção provocada por provimento de representação:
58 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
* Provimento do STF de representação do PGR:
No caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis e no caso de recusa à execução de lei federal (art. 36, III da CF). A iniciativa do Procurador-Geral da República nada mais é do que a legitimação para a propositura da Ação de executoriedade de lei federal e Ação de inconstitucionalidade interventiva.
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
Rol taxativo.
―O pedido de requisição de intervenção dirigida pelo Presidente do Tribunal de execução ao STF há de ter motivação quanto à procedência e também com a necessidade da intervenção.‖ (IF 230, Rel. Min. Presidente Sepúlveda Pertence, julgamento em 24-4-1996, Plenário, DJ de 1º-7-1996.)
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá
I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;
II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;
III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2º - Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas.
§ 3º - Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
§ 4º - Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes
voltarão, salvo impedimento legal.
As hipóteses de intervenção federal (e quando
dizemos intervenção federal significa intervenção realizada pela União) nos Estados e Distrito Federal
estão taxativamente previstas no art. 34, sendo cabíveis para: manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação, reorganizar as finanças da unidade da Federação, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis.
As hipóteses de intervenção federal nos Municípios em Territórios Federais serão estudadas quando tratarmos da intervenção estadual, prevista no art.
35.
As espécies de intervenção federal são:
Espontânea: neste caso, o Presidente da República
age de ofício, vide art. 34, I, II, III e V;
Provocada por solicitação: art. 34, IV, combinado
com o art. 36, I, primeira parte, quando coação ou impedimento recaírem sobre o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, impedindo o livre-exercício dos aludidos Poderes nas unidades da Federação, a decretação de intervenção federal, pelo Presidente da República, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do
Poder Executivo coacto ou impedido;
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 59
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Provocada por requisição: a) art. 34, IV,
combinado com o art. 36, I, segunda parte, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário, a decretação da intervenção federal dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal; b) art. 34, VI, segunda parte,
combinado com o art. 36, I, no caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, a decretação dependerá de requisição do STF, STJ ou do TSE, de acordo com a
matéria;
Provocada , dependendo de provimento de representação: a) art. 34, VII, combinado com o art. 36,
III, primeira parte, no caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, previstos no art. 34, VII, da CF/88, a intervenção federal dependerá de provimento, pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República (ADI Interventiva); b) art. 34, VI, primeira parte,
combinado com o art. 36, III, segunda parte, para prover a execução de lei federal (pressupondo ter havido recusa à execução de lei federal), a intervenção dependerá de provimento de representação do Procurador-Geral da República pelo STF.
Nesta última hipótese, Humberto Peña de Moraes observa: ―insista-se, por oportuno, que a actio vertente não busca a alcançar oportuna declaração de inconstitucionalidade – fim a que se propõe a ação direta de inconstitucionalidade interventiva – com vista a possível intervenção, mas sim a garantir, ocorrendo recusa por parte de execução de lei federal, sob pena, é óbvio, da prática interventiva. A intervenção para execução de lei federal só deve ser havida por lícita, insta observar, quando não existir outro tipo de ação aparelhada para a solução da quaestio juris‖.
Na hipótese de solicitação pelo Executivo ou
Legislativo, o Presidente da República não estará obrigado a intervir, possuindo discricionariedade para convencer-se da conveniência e oportunidade. Por outro lado, havendo requisição do Judiciário, não sendo
o caso de suspensão da execução do ato impugnado (art. 36, § 3º), o Presidente da República estará vinculado e
deverá decretar a intervenção federal.
Decretação e execução da intervenção federal
Como vimos, a decretação e execução da intervenção federal é de competência privativa do Presidente da República (art. 84, X), dando-se de forma espontânea ou provocada. Lembramos, ainda, a previsão da oitiva de dois órgãos superiores de consulta, quais seja, o Conselho da República (art. 90, I) e o Conselho de Defesa Nacional (art. 91, § 1º, II), sem haver qualquer vinculação do Chefe do Executivo aos aludidos pareceres.
A decretação materializar-se-á por decreto presidencial de intervenção, que especificará a
amplitude, o prazo e as condições de execução, e, quando couber, nomeará o interventor.
Controle exercido pelo Congresso Nacional
Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 36, o Congresso Nacional (Legislativo) realizará controle político sobre o decreto de intervenção expedido pelo Executivo no
prazo de 24 horas, devendo ser feita a convocação extraordinária, também no prazo de 24 horas, caso a Casa Legislativa esteja em recesso parlamentar. Assim, nos termos do art. 49, IV, o Congresso Nacional ou aprovará a intervenção federal ou a rejeitará, sempre por meio de decreto legislativo, suspendendo a execução do
decreto interventivo nesta última hipótese.
Em caso de rejeição pelo Congresso Nacional do decreto interventivo, o Presidente da República deverá cessá-lo imediatamente, sob pena de cometer crime de
responsabilidade (art. 85, II – atentado contra os Poderes constitucionais do estado), passando o ato a ser inconstitucional.
Hipóteses em que o controle exercido pelo Congresso Nacional é dispensado
Como regra geral, o decreto interventivo deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional (controle político). Excepcionalmente, a CF (art. 36, § 3º) dispensa a aludida apreciação, sendo que o decreto se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. As hipóteses em que o controle político é dispensado são as seguintes: i) art. 34, VI, para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; ii) art. 34, VII, quando houver afronta aos princípios sensíveis da CF.
No entanto, nesses casos, se o decreto que suspendeu a execução do ato impugnado não foi suficiente para o restabelecimento da normalidade, o Presidente da República decretará a intervenção federal, nomeado, se couber, interventor, devendo
submeter o seu ato ao exame do Congresso Nacional (controle político), no prazo de 24 horas, nos termos do
art. 36, § 1º, conforme visto.
Por meio do decreto interventivo, que especificará
a amplitude, prazo e condições de execução, o Presidente da República nomeará (quando necessário) interventor, afastando as autoridades envolvidas.
Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal (art. 36, § 4º).
QUESTÕES DE PROVAS FGV
Ver no final deste material
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISPOSIÇÕES GERAIS, SERVIDORES PÚBLICOS.
CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I DISPOSIÇÕES GERAIS
O QUE DIZ A LEI?
Art. 37. A administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também ao seguinte:
O Estado exerce a chamada ―função administrativa‖, que é submetida ao regime jurídico de Direito Público ou regime jurídico-administrativo.
O art. 37 da Constituição Federal tem por objetivo analisar, brevemente, a atuação de cada princípio constitucional da Administração Pública. Eles são a
base norteadora que auxilia na construção de leis e jurisprudências, sem os quais, na atuação da Administração Pública, o ato se torna nulo.
Os princípios mencionados no caput do art. 37 da Constituição Federal, num total de cinco, formam uma base dentro do Direito Administrativo e se aplicam à Administração Pública direta e indireta.
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EXPRESSOS:
são assim classificados por estarem expressamente indicados na Constituição Federal. São o da Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
60 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Princípio da legalidade: o princípio da legalidade
decorre do art. 5º, II, e significa que a lei deve ser o fundamento de toda a atuação administrativa. Esse princípio, na lição de Hely Lopes Meirelles, implica a subordinação completa do administrador à lei.
Princípio da impessoalidade: o Princípio da
impessoalidade significa que os atos administrativos são imputáveis não aos funcionários que funcionários que os praticam, mas ao órgão em nome do qual age o funcionário. Esse entendimento, de Celso Antônio Bandeira de Mello, diverge do de Hely Lopes Meirelles, para quem o princípio da impessoalidade significa que á administração não é lícito atuar em relação a uma ou algumas pessoas identificadamente, devendo sua ação ser dirigida para a coletividade José dos Santos Carvalho Filho ensina que o princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que estejam em situação de igualdade jurídica. Para que isso ocorra a administração pública deverá agir exclusivamente para o interesse público, e não para o privado.
Princípio da moralidade: o princípio da
moralidade tem, para Hauriou, o significado de ser um conjunto de regras de conduta tirado da disciplina interior da administração, sendo que a probidade administrativa é uma forma de moralidade. Impõe que o administrador público não dispensa os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios da conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto.
Princípio da publicidade: o princípio da
publicidade significa que o Poder Público deve agir com transparência. A publicidade não é elemento formador do ato, mas requisito de eficácia e moralidade, pelo que o ato é válido não dispensa a publicação, nem o ato inválido se convalida com ela. Possibilita aos administrados um controle mais efetivo da ação estatal. A Constituição oferece dois instrumentos básicos para controlar a publicidade administrativa, quais sejam o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a) e as certidões (art. 5º, XXXIV, b), além do habeas data (art. 5º, LXXII) e do mandado de segurança (art. 5º, LXIX).
Princípio da Eficiência: segundo anota Alexandre
de Moraes, o princípio da eficiência (ou eficácia) já existia expressamente nas Constituições da Espanha (art. 66, c. 103), das Filipinas (art. IX,b, Seção 3), do Suriname (art. 122) e de Cuba (art. 66,c). Seu conceito, pelo mesmo autor, o coloca como o princípio que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se os desperdícios e a garantir-se maior rentabilidade social. Maria Sylvia Zanella di Pietro salienta que o princípio da eficiência não se sobrepõe ao da legalidade, mas está nivelado a ele e aos demais que norteiam a administração pública.
RESUMO RESUMIDO!
CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS
O QUE DIZ A LEI?
I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
Cargo Público: é o lugar dentro da organização
funcional da Administração direta e de suas autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixada em lei ou diploma a ela equivalente, segundo José dos Santos Carvalho Filho.
Cargo vitalício: oferecem maior garantia de
permanência ao seu ocupante. A perda do cargo depende de decisão judicial, não sendo passível, portanto, dessa sanção a partir de processo administrativo. São vitalícios os cargos no Judiciário (no primeiro grau, após dois anos, segundo o art. 95,I),de membro do Ministério Público (art. 128, § 5º, I,a) e nos Tribunais de Contas (art. 73, § 3º).
Cargo efetivo: revestem-se de caráter de
permanência, e admitem sua perda a partir de processo administrativo ou judicial, constituindo a grande maioria dos cargos na Administração direta.
Cargo em comissão: são de ocupação transitória,
cujos ocupantes são nomeados e exonerados ad nutum, ou seja, a critério da autoridade competente.
Função Pública: é a atividade em si mesma, ou
seja, ainda na lição de Carvalho Filho, função é sinônimo de atribuição e correspondente às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores públicos.
Emprego público: é o lugar na organização
funcional ocupado por empregado público, ou seja, por agente sob regime trabalhista, na Administração indireta.
Acessibilidade: os cargos públicos são acessíveis
aos brasileiros, natos e naturalizados, e aos estrangeiros, segundo a redação dada pela Emenda nº19.
Concurso público: é procedimento administrativo
que tem por finalidade aferir as aptidões pessoais e selecionar candidatos ao provimento de cargo ou emprego público. Esse procedimento é informado pelos princípios da publicidade, isonomia, seletividade, competitividade e eficiência, a partir dos quais o Poder Público chega às pessoas intelectual, profissional e emocionalmente mais aptas para ocupar/exercer funções públicas. Pode ser realizado a partir de provas, apenas, ou de provas e títulos.
Formas inconstitucionais de concurso público:
os concursos públicos de títulos são inconstitucionais, por incompatíveis com as exigências dos princípios que regem esses certames.
Natureza e complexidade do cargo: o nível de
exigência do concurso público passou a ser, com a Emenda nº19, variável com a natureza e a complexidade do cargo ou função em disputa. Essa adaptação não
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 61
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
poderá, contudo, conduzir a tamanha significação do certame, para cargos menos complexos, a ponto de abolir a seletividade e a competitividade, já que o princípio do concurso público não pode ser abolido, mas apenas adaptado.
Prazo inicial: a Administração pode fixar qualquer
prazo inicial para o concurso público, até dois anos, contados da homologação do resultado final do concurso.
Omissão sobre o prazo: se o edital nada disser
sobre o prazo, presume-se que é fixado pelo teto.
Renovação do prazo: a renovação, única, deverá
ser no máximo pelo prazo inicialmente determinado (se um ano, por outro; se dois meses, por outros dois meses), segundo a lição dominante na doutrina, com a qual não concordamos, já que a renovação se assenta na discricionariedade do administrador público.
Investidura em cargo ou emprego público
O QUE DIZ A LEI?
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
Exclusividade: pela nova redação, imposta pela
Emenda nº19, o exercício das funções é exclusivo de ocupantes de cargos efetivos, de carreira ou isolados.
Exercício de cargo em comissão: a Emenda
nº19 eliminou a regra do livre provimento para os cargos em comissão, determinando que um percentual mínimo deles, a ser definido por lei, seja provido por servidores de carreira, concursados, portanto.
Lei: essa lei será ordinária, federal, estadual,
distrital ou municipal conforme a entidade política em cuja estrutura estejam os cargos referidos.
Associação Sindial
O QUE DIZ A LEI?
VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
Eficácia plena: o direito à associação sindical é
entendido como norma de eficácia plena, ou seja, não precisa de regulamentação por legislação para ser exercido.
Liberdade: a Constituição, no caput do art. 8º,
assegura a liberdade de associação sindical.
Militar: o Militar, que não é mais servidor público
desde a Emenda nº18, tem tanto a sindicalização quanto a greve proibidas, a teor do art.142, § 3º, IV.
Categoria profissional: a criação de sindicato
obedece a um de dois critérios: categoria econômica ou categoria profissional. Como o Estado não tem finalidade econômica, os sindicatos de servidores públicos são criados são criados sob o exclusivo critério da categoria profissional.
Direito de greve
O QUE DIZ A LEI?
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Lei: a lei de que trata o dispositivo é ordinária e
específica, ou seja, deverá cuidar exclusivamente de estabelecer termos e limites ao direito de greve do servidor público. A lei será federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o contingente de servidores a que se aplique.
Regulamentação por medida provisória: parece-nos não ter razão a corrente doutrinária que alega que, por conta dessa alteração de lei complementar para lei ordinária, operada pela Emenda nº19, a greve de servidores poderá ser tratada por medida provisória.
O QUE DIZ A LEI?
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
Igualdade material: a reserva de cargos para
deficientes físicas é expressão de ocorrência constitucional do princípio da igualdade material.
O QUE DIZ A LEI?
IX – a lei estabelecerá os cargos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
62 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Servidor temporário: a hipótese deste inciso é
baseada na necessidade temporária e no excepcional interesse público, pelo que o servidor contratado sob este fundamento deverá sê-lo por prazo determinado, necessariamente, sob pena de inconstitucionalidade por lesão ao princípio do concurso público.
Princípios da contratação temporária: são o da
determinabilidade do prazo de contratação, da temporariedade da carência e da excepcionalidade da situação de interesse público.
O QUE DIZ A LEI?
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
Subsídios: os subsídios do § 4º do art.39,
referidos, são os dos membros do Poder Judiciário, em todos os níveis, dos membros dos Poderes Legislativos, dos Ministros de Estado, Secretários de Estado, Secretários Distritais e Secretários Municipais, dos Chefes dos Poderes Executivos.
Lei específica: deverá ser lei ordinária, federal,
estatal, distrital ou municipal, conforme o caso, dispondo exclusivamente sobre a remuneração ou o valor dos subsídios.
O QUE DIZ A LEI?
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no Cambito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos;
Alterações pela Emenda nº 41: a nova redação,
imposta pela Emenda nº 41, que veiculou a reforma da Previdência Social, mantém os subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal como limite geral aos vencimentos, salários e proventos pagos pela União, pelos Estados e pelos Municípios, mas inclui limite específicos para essas entidades federativas. Dessa forma, nos Municípios, o limite para empregados, servidores, agentes políticos do Executivo e do Legislativo e aposentado será o subsídio mensal do Prefeito Municipal; nos Estados e no Distrito Federal os limites serão os subsídios do Governador (para o Poder Executivo) e dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça respectivos (para o Poder Judiciário), sendo que, no caso do Judiciário, os Desembargadores não poderão perceber, como subsídios, mais do que 90,25% dos subsídios de Ministro do STF. Na esfera da União, Executivo, Legislativo e Judiciário estão limitados aos subsídios de Ministro do STF. Finalmente, os limites remuneratórios determinados pela Emenda à Constituição, neste dispositivo, são extensivos aos Membros do Ministério Público, aos Procuradores e Defensores Públicos.
O QUE DIZ A LEI?
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
Noção do dispositivo: este dispositivo estabelece
um teto de vencimento interno às entidades federativas, que, para cargos equivalentes, não poderá ser superior aos valores pagos pelo Poder Executivo.
O QUE DIZ A LEI?
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;
Vinculação: diz o STF que no conceito de
vinculação de vencimentos está ínsita a ideia de automatismo nas modificações da retribuição dos cargos ou empregos públicos, de modo a acarretar o aumento ou redução de todos os que estão ligados ao cargo paradigma, toda vez que a remuneração deste é alterada.
Equiparação: equiparação é a comparação de
cargos com denominação e atribuições diferentes, mas que se quer considerar iguais para fins remuneratórios.
Alteração por Emenda: com a redação imposta pela Emenda Constitucional nº 19, a proibição passa a ser geral, sem exceções, eliminando-se assim a possibilidade de atingimento artificial do teto remuneratório e o a
Essa igualação NÃO cobre todas as verbas pagas, já
que a remuneração final poderá, nos Poderes
Legislativo e Judiciário, ser superior, pela
agregação de vantagem aos vencimentos.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 63
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
acréscimo por concessão de isonomia. A Emenda, ainda, adequou tecnicamente à redação, que passou de ―vencimentos‖, apenas, para ―espécies remuneratórias‖, em que se incluem vencimentos, subsídios e proventos, dentre outros.
O QUE DIZ A LEI?
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
Noção do dispositivo: evita-se, com isso, o
chamado ―efeito cascata‖ ou ―efeito-repição‖, pelo qual um reajuste incide sobre a remuneração já reajustada por outro reajuste.
Alteração por Emenda: a redação da Emenda
Constitucional nº19 eliminou a ressalva final da redação original, na qual se limitava a proibição à concessão de acréscimos pecuniários ―sob o mesmo título ou idêntico fundamento‖. Com a eliminação, a redação ficou mais ampla e mais técnica, para atingir quaisquer acréscimos pecuniários reincidentes, a qualquer título.
O QUE DIZ A LEI?
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, §4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
Alteração por Emenda: a redação nova dada pela
Emenda Constitucional 18 elimina a referência que se fazia aos vencimentos dos servidores públicos civis e militares, com a supressão destes últimos. Com isso, a regência imposta pelo inciso em comento passa a valer apenas para os servidores civis. A consequência, óbvia, é querida e buscada pela própria Emenda nº18: a instauração de regime constitucional especial para os servidores públicos militares, federais e estaduais, os quais, inclusive, em virtude das alterações abaixo, deixam de ser servidores públicos para serem, de ora em diante, classificados apenas como ―militares‖. A Emenda nº19 tornou os subsídios (de agentes políticos) e os vencimentos (de servidor e empregado públicos), em regra, irredutíveis, mas admitindo, excepcionalmente, redução, para se enquadrar no teto máximo fixado pelo inciso XI ou para a eliminação de acréscimos pecuniários reincidentes.
O QUE DIZ A LEI?
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Profissionais de saúde: a Emenda Constitucional
nº34/2001 permitiu a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, aumentando a permissão original da Constituição, que a restringia a cargos de médico.
Acumulação remunerada: a literalidade da
Constituição Federal e parte da doutrina, como José dos Santos Carvalho Filho, entendem que a Constituição não proíbe a acumulação de um cargo, emprego ou função remunerados com outro, não remunerado.
Horário: mesmo as hipóteses de acumulação
permitidas pela Constituição dependem, como condição preliminar, de compatibilidade de horário.
Sujeição ao teto: mesmo nos casos de
acumulação remunerada, o valor final recebido pelo servidor, somadas as duas quantias, não poderá exceder o teto constitucional. (art. 37,XI)
Cargo técnico ou científico: para Joaquim Castro
Aguiar, os cargos para cujo exercício se exija diploma de curso superior são considerados técnicos ou científicos para efeito de acumulação.
Cargo em comissão: aos ocupantes de cargo em
comissão, a acumulação só é permitida para aquele que o exerça interinamente.
Correlação de matérias: não se exige mais a
correlação de matérias para fins de análise da acumulabilidade.
Outras hipóteses de acumulação: além dos
casos deste inciso, a Constituição também permite a acumulação de cargo de juiz com professor (art.95, parágrafo único, I) de membro do Ministério Público com Professor (art. 128, §5º, II, d) e, excepcionalmente, de dois cargos de profissional de saúde, que à época da promulgação da atual CF já estivessem sendo acumulados, mesmo que irregularmente. (ADC, art. 17, §2º).
OLHO NA NOVIDADE: Aplica-se aos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (§
3º do art. 42 da CF. com redação dada pela EC 101, de 3.07.2019
O QUE DIZ A LEI?
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
Alteração por Emenda: a nova redação deste
dispositivo, imposta pela Emenda à Constituição 19, veio alargar ainda mais o âmbito da inacumulabilidade, para incluir nas regras, também, cargos nas subsidiárias de entidades da Administração indireta e as sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público. A Emenda Constitucional nº19 também estendeu a inacumulabilidade a subsidiárias e empresas controladas, mesmo que indiretamente, pelo Poder Público, eliminando uma brecha normativa que até então se verificava.
Opção: Tribunais Regionais do Trabalho vêm
decidindo que quando um servidor acumula emprego ou cargo públicos e opta por um deles a fim de atender às regras de inacumulabilidade previstas na Constituição, tacitamente pediu demissão do outro, apenas fazendo jus aos salários e às vendas decorrentes da rescisão.
O QUE DIZ A LEI?
XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
64 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Administração fazendária: é gestão de serviços
públicos financeiros do Estado, realizada pelos servidores fiscais, nas delegacias fiscais, coletorias, alfândegas, tesouros e secretarias de Fazenda.
Noção do dispositivo: esse inciso assegura
privilégio interno, administrativo aos servidores fiscais (em atividade-fim, portanto) dos órgãos da administração fazendária e aos demais que exerçam atividades a ela ligadas.
O QUE DIZ A LEI?
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
Alteração por Emenda: com a Emenda
Constitucional nº 19, recuperou-se a melhor técnica jurídica para a matéria, já que a lei não é, nem nunca foi, apta a criar sociedade de economia mista ou empresa pública, cuja instituição depende de procedimento de registro de pessoa jurídica em junta comercial. Com a nova redação, a lei, desde que específica, poderá criar apenas autarquia.
Quanto às empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, a lei apenas poderá autorizar o registro de pessoa jurídica no órgão competente. Na lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro, Emenda nº19 ―corrigiu uma falha do art. 37, XIX, da Constituição, que exigia lei específica para a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. O dispositivo era criticado porque, em se tratando de entidade de Direito Privado – como a sociedade de economia mista, a empresa pública e a fundação, a lei não cria entidade, tal como faz com a autarquia, mas apenas autoriza a criação, que se processa por atos constitutivos do Poder Executivo e transcrição em registro público‖.
RESUMO RESUMIDO!
CRIAÇÃO de Autarquia Exige lei específica..
AUTORIZAÇÃO de
criação de Empresa
Pública (E.P.)
Exige lei específica.
AUTORIZAÇÃO de
criação de Sociedade de
Economia Mista (S.E.M.)
Exige lei específica.
AUTORIZAÇÃO de
criação de Fundação
Exige lei específica + lei
complementar que definirá a
área de atuação.
XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;
Autorização: para criar subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, não se poderá usar lei. Se isso fosse possível, a redação seria tão clara quanto é a do inciso anterior, onde se fala de ―lei‖. Mas, não. Aqui, o que se exige, é uma autorização legislativa, que, por ser autorização, pressupõe um pedido, e que será uma manifestação do Legislativo diferente de lei, assumindo a forma de decreto legislativo. É importante ressaltar, contudo, que há opiniões divergentes na doutrina brasileira especializada, estabelecendo que, também para
a criação de subsidiárias, será necessária lei, do tipo autorizativo. Algumas importantes bancas de concursos públicos estão seguindo essa orientação na elaboração de suas provas.
O QUE DIZ A LEI?
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de LICITAÇÃO PÚBLICA que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Licitação: é o procedimento administrativo
vinculado por meio do qual os entes da administração pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos, quais sejam a celebração do contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico, na conceituação de José dos Santos Carvalho. Diógenes Gasparini define licitação como o procedimento administrativo através do qual a pessoa ou ente a isso obrigado seleciona, em razão de critérios previamente estabelecidos, dentre interessados que tenham atendido à sua convocação, a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse.
Natureza jurídica: a licitação é procedimento
administrativo com finalidade seletiva.
Finalidades: as finalidades da licitação, segundo
Gasparini, são duas.
A primeira é a obtenção, pelo órgão licitante, da proposta que melhor atenda às suas finalidades. A segunda é o oferecimento, aos interessados em contratar, de iguais oportunidades de fazê-lo.
Administrações tributárias
O QUE DIZ A LEI?
XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritário para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
Alteração pela Emenda nº 42: dispositivo novo,
introduzido pela Emenda nº 42, da reforma tributária. As mais expressivas novidades trazidas são a determinação constitucional de destinação de recursos prioritários para a ação fazendária, que se deve traduzir tanto como orçamentos quanto de pessoal e logística, e a previsão de compartilhamento de cadastros e informações fiscais, o que permitirá o cruzamento de informações, aumentando a possibilidade de identificação da sonegação fiscal.
O QUE DIZ A LEI?
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 65
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.///
Aplicação de princípios administrativos: este
dispositivo é expressão do princípio da impessoalidade administrativa.
Âmbito: a proibição é ampla, apanhando qualquer
sinal indicativo, frase, palavra ou o que seja leve à identificação pessoa que exerça atividade pública, cuja ação, por isso, é inconstitucional.
Objetivo: Sérgio Andréa Ferreira ensina que este
dispositivo tem por objetivo coibir a prática das mais comuns na administração pública brasileira, a dos governantes e administradores, especialmente o chefe do Poder Executivo, valerem-se de dinheiro público para o pretexto de divulgar obras e realizações governamentais, fazerem publicidade de seus nomes ou partidos, diretamente ou através de técnicas publicitárias sofisticadas.
O QUE DIZ A LEI?
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
Noção do dispositivo: o que se pune aqui é a
inobservância dos princípios referentes ao concurso público. A nulidade do ato não está condicionada a um determinado tempo, pelo que poderá ser reconhecida e declarada a qualquer momento.
Não-convalidação: o dispositivo deixa claro que
as nomeações para cargo efetivo não antecedidas de aprovação em concurso público, ou fora do prazo de validade desse, são nulas de pleno direito, não admitindo convalidação.
Responsabilidade objetiva: a autoridade
responsável pela nomeação contrária à Constituição será punida, civil, penal e administrativamente, independentemente de culpa ou dolo.
Aplicabilidade: a punição do agente público não é
auto-aplicável, dependendo de lei que regule os tipos de punição.
O QUE DIZ A LEI?
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente.
O QUE DIZ A LEI?
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)///
O QUE DIZ A LEI?
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art.5º, X e XXXIII;
O QUE DIZ A LEI?
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
Alteração por emenda: a Emenda Constitucional
nº 19 alterou completamente a redação do parágrafo. Ao
invés de se remeter à lei unicamente a preocupação de disciplinar o trato jurídico das reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, sujeita também a ação administrativa ao princípio da eficiência – a lei terá agora o conteúdo especificado, mais amplo e completo que o anterior, prevendo, inclusive no inciso III, a possibilidade de representação contra o exercício abusivo ou negligente do cargo, emprego ou função.
Improbidade administrativa
O QUE DIZ A LEI?
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo a ação penal cabível.
Improbidade: em sentido jurídico e genérico, está
associada com a conduta ilegal ou abusiva do servidor público, e com o enriquecimento ilícito, com prejuízo ao erário, com infringência aos princípios legais da administração.
A Lei nº 8.429/1992, que regulamenta o processo e julgamento dos atos de improbidade administrativa, a define como sendo o ato do qual decorra enriquecimento ilícito pela percepção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandado, função, emprego ou atividade, e, também, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade às instituições.
Ação do Ministério Público: o Superior Tribunal
de Justiça, em diversos acórdãos, decidiu que tem o Ministério Público legitimidade para propor ação civil pública visando ao ressarcimento de danos ao erário público, podendo também fazê-lo para proteger o patrimônio público.
O QUE DIZ A LEI?
§5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos: este dispositivo assenta a possibilidade
dos ilícitos administrativos. As prescrições correm a favor do agente causador do prejuízo. A administração não está a ela vinculada para declarar o ato nulo.
Responsabilidade civil: responsabilidade civil é a
imputação, ao servidor público, da obrigação de reparar o dano a que tenha dado causa à Administração ou a terceiro, em decorrência da conduta culposa ou dolosa, de caráter comissivo ou omissivo. Para imputar a responsabilidade civil ao servidor é necessária a comprovação do dano causado, seja lesando a Administração, seja terceiro.
Responsabilidade penal: é a que decorre do
cometimento de conduta que a lei penal define como infração penal. Somente o servidor público pode ser penalmente responsabilizado, não se podendo cogitar de fazê-lo em relação à Administração.
Responsabilidade administrativa: decorre da
prática de ilícito administrativo, por conduta ou omissiva. Deve ser apurada em processo administrativo. A punição deve obedecer ao princípio da adequação, já que a legislação administrativa não tipifica a conduta e a pena.
Efeitos da decisão penal da esfera administrativa e civil: a decisão penal condenatória só
66 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
causa reflexo na esfera civil da Administração se o fato ilícito penal também se caracterizar como fato ilícito civil, ocasionando prejuízo patrimonial ao Erário. A absolvição na esfera penal repercute, também, na administração, se houver absolvição por negativa de autoria ou por negativa do fato.
O QUE DIZ A LEI?
§6 º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Princípio da ampla responsabilidade: esse
dispositivo o consagra o princípio da ampla responsabilidade, veiculando a teoria do risco administrativo.
Requisitos da responsabilidade objetiva:
Alexandre de Moraes leciona que a responsabilidade objetiva do Estado exige a ocorrência dos seguintes requisitos:
a) ocorrência de dano;
b) ação ou omissão administrativa;
c) existência de nexo causal entre o dano e a omissão ou ação administrativa;
d) ausência de excludente de responsabilidade estatal.
Causas excludentes: são situações que
abrandam, ou eliminam, a responsabilidade estatal o caso fortuito, a força maior ou a evidência de que a culpa pelo dano é atribuído à própria vítima.
Extensão da previsão: além de agentes políticos
na administração pública, a responsabilização alcança permissionárias, concessionárias e autorizatárias, mas não se aplica no caso de o Estado ter transferido o serviço com ônus e vantagens ao particular.
Agente: a expressão ―agente‖ abrange todas as
pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório.
Atos excluídos: quanto à responsabilização não
são alcançados os atos predatórios de terceiros ou eventos naturais, como enchentes.
Direito de regresso: o direito de regresso é a
ação regressiva, através da qual o Poder Público cobrará do seu agente o valor que houver gasto para indenizar o particular.
Não indenização: como afirmado acima, a única
hipótese de a administração não indenizar, ou indenizar menos, ocorrerá no caso de ela provar a culpa ou dolo do particular, sendo que o ônus da prova é da própria administração, e não mais do particular.
O QUE DIZ A LEI?
§7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
Alteração por reforma: parágrafo novo em
relação à redação original da Constituição, que foi trazido pela Emenda à Constituição 19. Seu conteúdo, claro, determina que lei ordinária estabelecerá condições especiais para a ocupação de cargo de onde seu ocupante tenha acesso a informação privilegiada. Um dos objetivos foi, sem dúvida, os cargos de direção ou chefia
superior no Banco Central e no Ministério e secretarias de área econômica.
Restrições: uma das restrições que a lei imporá
será a quarentena, ou seja, o impedimento temporário de exercício de atividade privada ligada à ocupação pública anterior.
O QUE DIZ A LEI?
§8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal.
Alteração por emenda: a Emenda nº. 19
possibilita, aqui, a existência de contratos de gestão na Administração direta e indireta, condicionadores e vinculadores da atuação do órgão ou entidade. As metas de desempenho deverão ser atingidas, e com elas a maior eficiência na prestação dos serviços públicos típicos e atípicos.
Remuneração: note-se que a remuneração de
pessoal poderá, também, ter trato diferenciado em relação às regras gerais, o que parece francamente voltado às entidades da Administração indireta, como sociedades de economia mista e empresas públicas, que poderão pagar a seus empregados valores superiores aos fixados como parâmetro pela própria Constituição, sob a alegação de que precisam captar, no mercado, os melhores profissionais, aos quais empresas privadas pagam mais do que o teto do serviço público.
Contrato de gestão: segundo Alexandre de
Moraes, contrato de gestão é o avençado entre o Poder Público e determinada empresa estatal, fixando-se um plano de metas para essa, ao mesmo tempo em que aquele se compromete a assegurar maior autonomia e liberdade gerencial, orçamentária e financeira ao contratado na consecução de seus objetivos. Adalberto Fischmann, citado pelo mesmo autor, ensina que o contrato de gestão, ou acordo-programa, é um mecanismo por meio do qual a administração estabelece um plano de ações e de resultados a atingir, comprometendo-se a assegurar liberdade e autonomia ao contratado para o desempenho de suas funções.
Legalidade: o mesmo Alexandre de Moraes faz
importante advertência ao lembrar que a implantação e implementação do contrato de gestão está subordinado, principalmente, ao princípio da legalidade.
O QUE DIZ A LEI?
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral;
Extensão da limitação remuneratória: a
Emenda Constitucional n.º 19 expressamente determina que o teto geral imposto pelo inciso XI – remuneração de Ministro do STF – seja também aplicável às empresas
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 67
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos públicos para pagamentos de despesas de pessoal ou custeio. As verbas de investimento estão, portanto, fora da previsão. Essa disposição amplia o leque dos submetidos ao teto remuneratório, liberando a fixação dos valores de remuneração apenas nas empresas púbicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que mantenham suas folhas de pagamento com recursos próprios.
O QUE DIZ A LEI?
§ 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvado os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
Acumulabilidade: a acumulabilidade de
proventos com remuneração passa a ser exceção. A redação incorpora à Constituição orientação já expedida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência, segundo a qual somente são acumuláveis provento e remuneração se os cargos respectivos forem acumuláveis na ativa.
Exceções: detentor de mandato eletivo e
ocupante de cargos comissionados podem acumular os subsídios e a remuneração, respectivamente, com os proventos, mas estão sujeitos ao teto constitucional do inciso XI deste artigo, segundo o § 11 do art. 40 desta Constituição, também introduzido pela EC nº. 20/98.
§ 11 Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
Alteração pela Emenda nº47: o inciso XI do art.
37 estabelece os limites gerais de remuneração, subsídios, proventos, pensões e outras espécies remuneratórias para servidores e agentes políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por este novo dispositivo, no cômputo do valor final dessas citadas espécies remuneratórias não serão consideradas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, como ajudas de custo, adicionais, diárias e, quanto aos parlamentares, expressamente o valor pago por comparecimento a convocação extraordinária, cujo caráter indenizatório está previsto no art. 57, § 7º. Vantagens pessoais (incorporações por tempo de serviço e funções gratificadas, por exemplo) continuam sujeitas ao teto constitucional.
O QUE DIZ A LEI?
§ 12 Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
Alteração pela Emenda n.º 47: o inciso XI do art.
37 arbitra diferentes limites remuneratórios do âmbito dos Estados e do Distrito Federal: os subsídios do Governador
para o Executivo; os subsídios dos Deputados Estaduais para o Legislativo; e os subsídios dos desembargadores dos respectivos Tribunais de Justiça para o Judiciário. Com a nova redação dada pela Emenda n.º 47, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal, por emenda – e portanto não por legislação ordinária – ao respectivo documento constitucional, unificar no valor dos subsídios dos desembargadores como limite remuneratório público no Estado e no DF. Esse limite será obrigatório aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Governador e ao Vice-Governador, aos Secretários e aos Juízes, mas não será imposto aos Deputados Estaduais e Distritais, autorizados, portanto, a perceber subsídios em valor superior. A referência a vereadores os exclui do limite imposto aos Municípios, que é o valor dos subsídios do Prefeito, conforme o inciso citado.
O QUE DIZ A LEI?
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.
Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide
ADIN nº 2.135-4).
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
―Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.‖ (Súmula Vinculante 37.)
"A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva." (Súmula 679.)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
68 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
―O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.‖ (Súmula 683.)
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
―O STF fixou entendimento no sentido de que a estipulação de teto remuneratório, nos termos fixados pela EC 19/1998, exige a promulgação de lei em sentido formal e material.‖ (AI 740.028-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 24-3-2009, Segunda Turma, DJE de 24-4-2009.) No mesmo sentido: RE 461.626-AgR, rel. min. Ayres
Britto, julgamento em 14-12-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011.
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A remuneração dos servidores públicos
organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...) não viola a Constituição o diploma estadual que impede o transporte, para o regime de subsídios, das vantagens pessoais adquiridas no passado, na medida em que autoriza os servidores a se manterem no sistema anterior e a optarem, em qualquer tempo, pela incidência do novo regime. Cabendo a decisão aos próprios servidores, não há redução forçada da remuneração ou violação ao direito adquirido. Tampouco há violação à isonomia, já que a desequiparação entre regimes foi estabelecida em benefício dos próprios servidores, que podem optar, a qualquer tempo, pelo regime mais benéfico." (ADI 4.079, rel. min. Roberto Barroso, julgamento em 26-2-2015, Plenário, DJE de 5-5-2015.)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
"Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários." (Súmula 359.)
―O servidor titular de cargo efetivo vincula-se ao regime de previdência do órgão de origem quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação.‖ (MS
27.215-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 10-4-2014, Plenário, DJE de 5-5-2014.)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
EC 31/2013:
"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 69
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
A PEC da Bengala
O QUE DIZ A LEI?
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)
A nova redação do art. 40, §1º, II, é norma de eficácia limitada, ou seja, depende de ―lei
complementar‖ para efetivamente alterar a idade da aposentadoria compulsória. Assim, até a edição da ―lei complementar‖, a idade da aposentaria compulsória permanece, como regra, nos 70 anos.
Utilizamos acima o ―como regra―, pois após a EC 88/2015 os 70 anos de idade para aposentadoria compulsória não se aplicam mais para todos os cargos. Isso porque a emenda também acrescentou o artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com a seguinte redação:
Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.
Assim, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST, STM) e do Tribunal de Contas da União a alteração da idade compulsória dos 70 para os 75 anos ocorreu diretamente com a promulgação da EC 88/2015. Portanto, essa alteração não depende da ―lei complementar‖ mencionada no art. 40, §1º, II.
Assim, temos a seguinte situação:
1. como regra geral, a idade da aposentadoria compulsória permanece aos 70 anos, mas isso poderá ser alterado para 75 anos, na forma de uma lei complementar; e
2. para os ministros do STF, dos Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST e STM) e do TCU, a idade da aposentadoria compulsória já foi modificada para os 75 anos.
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que
serviu de referência para a concessão da pensão.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
I portadores de deficiência; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
REGRA Não haverá requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de
aposentadoria
EXCEÇÃO Haverá aposentadoria especial para:
- Portadores de deficiência;
- Servidores em atividade perigosa;
Servidores em atividade insalubre.
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
70 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer
forma de contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 71
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
QUESTÕES DE PROVAS FGV
Ver no final deste material
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO Seção I
DO CONGRESSO NACIONAL
DO PODER LEGISLATIVO
O Poder Legislativo, inicialmente denominado Parlamento, teve origem na Inglaterra. Formou-se durante a Idade Média, quando representantes da nobreza e do povo procuravam limitar a autoridade absoluta dos reis. Gradativamente, o poder do rei foi esvaziando-se, enquanto um novo poder ia fortalecendo-se. Era o Parlamento. Muito contribuiu para isso a teoria de Rousseau sobre a soberania, segundo a qual esta reside no povo, que a exprime através da lei. Não podendo votá-la diretamente, a comunidade elege representantes, os parlamentares, que atuam em seu nome.
Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar o princípio da separação dos poderes, atribuiu funções determinadas a cada um dos poderes (órgãos), mas não de forma exclusiva. Todos possuem, pois, funções próprias ou típicas e, também, funções atípicas, que ora são exercidas para a consecução de suas finalidades precípuas, ora o são para impor limites à atuação dos demais poderes, no âmbito do mecanismo de freios e contrapesos (checks and balances).
As funções típicas do Poder Legislativo são legislar (arts. 59 a 60 da CF) e fiscalizar (arts. 58 e 70 a
75 da CF). No desempenho da função legislativa, cabe a ele, obedecidas as regras constitucionais do processo legislativo, elaborar as normas jurídicas gerais e abstratas. Em cumprimento à função fiscalizadora, cabe ao Congresso Nacional realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo (CF, art. 70), bem como investigar fatos determinados, por meio da criação de comissões
parlamentares de inquérito – CPI (CF, art. 58, §3°).
A função atípica é administrar e julgar. Ele exerce função atípica administrativa quando, por exemplo, dispõe sobre a sua organização interna ou sobre a criação de cargos públicos de suas Casas, a nomeação, promoção e a exoneração de seus servidores. O desempenho da função atípica de julgamento ocorre, especialmente, quando o Senado Federal julga certas autoridades da República nos crimes de responsabilidade (CF, art. 52, I, II, e parágrafo único).
A função legislativa de competência da União é exercida pelo Congresso Nacional, composto por duas
―casas‖ (sistema bicameral): Câmara dos Deputados e Senado Federal. A primeira casa representa o povo; a segunda, os Estados-membros.
O sistema brasileiro é chamado de bicameral, por estar composto por duas câmaras, isto é, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
A legislatura tem a duração de quatro anos - Art. 44 e parágrafo único da Constituição Federal - e
entendem-se como a espaço temporal para o exercício do Poder Legislativo, ao fim do qual terminam seu curso todos os processes de elaboração das leis, arquivando-se aqueles que esteiam em andamento.
A Sessão Legislativa é composta por dois períodos, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, sendo denominados de recesso os intervalos de férias. Os períodos consignados são ditos tempo de atividade anual para as reuniões ordinárias do Congresso.
2. As Funções (Atribuições Legislativas)
Ao Poder Legislativo é atribuída como função primordial, típica, a de legislar. É o Poder encarregado da elaboração de normas genéricas e abstratas dotadas de força proeminente dentro do ordenamento jurídico, a que se denominam leis.
Lei é todo ato que, oriundo do Legislativo e produzido segundo procedimento descrito na Constituição, inova originariamente a ordem jurídica.
Secundariamente, o Legislativo administra e julga. São as chamadas funções atípicas.
Administra quando concede férias ou licença aos seus funcionários (arts. 51, IV, e 52, XIII); fiscaliza os atos do Poder Executivo (art. 49, X); fiscaliza as finanças e orçamentos (art. 70).
Julga, quando decide sobre os crimes de responsabilidade (art. 52, I e II) e quando processa e julga
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União (art. 52, II).
Por outro lado, o Legislativo não tem o monopólio para editar normas gerais e abstratas. O Executivo tem competência para baixar medidas provisórias (art. 62) e
O Poder Legislativo tem a função precípua de elaborar as leis do País, nos vários níveis de governo, de fiscalizar e de fazer o controle externo.
Contudo, é bom lembrar que nem todos os atos produzidos pelo Legislativo são leis.
72 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
regulamentos (art. 84, IV), que são também atos de
caráter genérico e abstrato. Mas, por não serem provenientes do Legislativo, não levam a denominação de lei.
Estrutura do Poder Legislativo
A estrutura do Poder Legislativo pode ser: unicameral ou bicameral.
Unicameral - o Parlamento se compõe de um
único órgão. Sistema adotado, principalmente, por pequenos países.
Bicameral - o Parlamento ou Congresso é
composto por dois órgãos diferentes: Câmara Baixa e Câmara Alta. O Poder Legislativo se manifesta pela conjunção das vontades das duas Casas do Congresso ou Parlamento, que deliberam, em regra, isoladamente.
Um dos argumentos favoráveis ao bicameralismo é que em virtude da duplicidade de órgãos há também uma duplicidade de discussão e votação dos projetos de lei, fazendo com que a lei produzida seja tecnicamente mais correta e aperfeiçoada.
Bicameralismo do tipo aristocrático - teve origem na Inglaterra, onde o Parlamento foi dividido em duas Casas Legislativas: Câmara dos Lordes (Câmara Alta) e Câmara dos Comuns (Câmara Baixa). A primeira representa a aristocracia e começou co a Câmara dos 25 Barões, formada em 1215; a segunda, representa o povo e é resultado das revoluções populares.
Bicameralismo do tipo federativo - surgiu em 1787, nos Estados Unidos da América do Norte. Ao organizarem a sua República Federativa, ajustaram o sistema bicameral às necessidades daquela forma de Estado. Congresso integrado por uma Câmara dos Representantes da Nação (Câmara Baixa), composta de deputados eleitos em número proporcional à população, e de um Senado (Câmara Alta) com representação igualitária de cada um dos Estados-Membros.
O PODER LEGISLATIVO NO BRASIL, SUA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O Brasil adota o sistema bicameral do tipo federativo. Conforme dispõe o artigo 44 da Constituição Federal, o Congresso Nacional se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Apenas no âmbito da União é que o Poder
Legislativo é bicameral. Nos demais entes federatios, o Poder
Legislativo é unicameral.
Câmara dos Deputados
A Câmara tem 513 membros, com mandato de
quatro anos, e é a representação dos cidadãos no Congresso. Cada estado elege um número de representantes proporcional ao número de eleitores que possui. São Paulo tem 70 representantes, enquanto Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins têm apenas oito, o número mínimo. Não há número para reeleição de deputados federais.
Senado federal
O Senado, composto de 81 membros com mandato de oito anos, representa os estados. Cada unidade da federação elege igualmente três senadores. Não há limite para reeleição de senadores
Assembleia Legislativa
Nos estados, o Poder Legislativo é exercido pelas assembleias legislativas, formadas pelos deputados estaduais, eleitos para mandato de quatro anos. Os deputados elaboram e votam leis de interesse do estado, inclusive a Constituição estadual. O número de deputados estaduais é definido pela população do estado e varia de 24 a 94.
Câmara dos vereadores
O Poder Legislativo municipal são as câmaras municipais, compostas de vereadores. Eles são responsáveis pelas matérias de alcance do município. Os vereadores discutem as questões locais e devem fiscalizar os atos do Executivo municipal. São eleitos por um período de quatro anos e podem ser eleitos indefinidamente. O número de vereadores de cada município é definido segundo sua população e pode variar de 9 a 55.
Congresso nacional
O Congresso Nacional é o órgão constitucional
que exerce, no âmbito federal, as funções legislativa e fiscalizatória do Estado Brasileiro, como funções típicas. Exerce, ainda, duas outras funções atípicas: administrar e julgar.
O Congresso Nacional é bicameral, sendo composto por duas casas: o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Isso ocorre em razão da forma de estado adotada pelo país: o federalismo. Assim, o Senado Federal representa os Estados-membros, e os seus integrantes são eleitos pelo sistema majoritário. A Câmara dos Deputados representa o povo, sendo os seus membros eleitos pelo sistema proporcional.
O Congresso reúne-se anualmente na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Antes da EC nº 50/2006, o periodo era de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro (Regimento interno da Câmara dos Deputados).
Cada um desses períodos é chamado de período legislativo, sendo o ano conhecido como sessão legislativa. A legislatura é o período de quatro anos no qual o Congresso se reúne. Quando o Congresso é reunido fora dos períodos legislativos é necessário ser feita uma convocação extraordinária. O Congresso Nacional é comandado pelo presidente do Senado Federal, já que o presidente da Câmara é o terceiro na sucessão presidencial.
PODER LEGISLATIVO
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Vide art. 49.
Note que, apesar de o Congresso Nacional ser composto de duas Casas, são três, na verdade, os órgãos deliberativos, já que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional são detentores de competências próprias, de regimentos internos próprios, de mesas próprias e de serviços próprios. Existem competências unicamerais, do Congresso Nacional (art. 49), da Câmara dos Deputados (art. 51) e do Senado Federal (art. 52). O bicameralismo brasileiro é, na lição de
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 73
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Kildare Gonçalves Carvalho, do tipo federal, pois decorre da forma de Estado (cabe ao Senado Federal a função de órgão representativo dos Estados federados na formação das leis nacionais, implementando-se, assim, o princípio da participação, essencial à configuração do federalismo), embora com resquícios do bicameralismo de moderação, já que prevista, como condição de elegibilidade para o Senado, idade mais avançada (35 anos) do que a exigida para a eleição de deputado federal (21 anos), conforme o art. 14, § 3º, VI, u e c. no bicameralismo brasileiro não há
primazia ou posição superior de uma Casa sobre a outra. O que ocorre é uma concentração maior, na Câmara dos Deputados (art. 61 § 2º, e art. 64) quanto ao início do
processo legislativo, o que só reforça a sensação de ser o Senado a Casa Moderadora, ou de decantação. É de se verificar, também, uma posição de dominância, no processo legislativo, da Casa iniciadora sobre a Casa revisora, pela aplicação do art. 66. Como a regra
constitucional é de que a Câmara dos Deputados funcione como Casa iniciadora (art. 64), haverá uma certa
prevalência dessa Casa sobre o Senado Federal, quanto à elaboração das leis.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Legislatura é termo que teve a sua significação muito discutida, ora sendo entendido como um período de tempo, ora como a composição do Parlamento em um certo período de tempo. A doutrina moderna parece querer o primeiro entendimento, e a Constituição abraça essa definição. Hoje, a legislatura tem duração de quatro anos. Não há legislatura no Senado Federal, que é contínuo, graças à renovação parcial e alternada, por um e dois terços, estabelecida no art. 46, § 2º.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
Na lição do prof. Kildare Gonçalves Carvalho o sistema proporcional, no Brasil, gravita em torno de dois quocientes: quociente eleitoral e quociente partidário. Para se verificar o critério de distribuição de cadeiras a preencher na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, apura-se em primeiro lugar o número de votos válidos, neles compreendidos os votos em branco (tramita no Congresso proposição que visa a retirar desse cômputo os votos em branco, com ganho mínimo para os partidos menores). Apurados os votos válidos, divide-se esse número pelo de cadeiras a preencher, encontrando-se o quociente eleitoral. O quociente eleitoral será assim o número mínimo de votos que um partido político deverá obter para eleger candidatos. O quociente partidário resulta da divisão do número de votos obtidos pelo partido político (legenda) pelo quociente eleitoral, encontrando-se o número de cadeiras conquistadas por esse partido. Havendo sobras (cadeiras no ar), soma-se uma unidade ao número de eleitos por partido, exclui-se o que não houver obtido o número de votos pelo menos igual ao quociente eleitoral e divide-se por esse número o total de votos do partido. Repete-se a operação para cada partido, apurando-se qual tem a maior média, e atribui-se a este o lugar. Esse critério é repetido até que todas as cadeiras sejam preenchidas.
O sistema de representação proporcional, que
dá representação a partidos pequenos pelo rateio dos maiores saldos e, aparentemente, faz maior justiça na representação final do Parlamento, merece ácida observação do professor Georges Vedel, para quem ―o objeto do sistema eleitoral não é fazer justiça, mas sim criar uma maioria capaz de governar‖.
§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.
Os Deputados são as representantes do povo,
escolhidos dentre cidadãos maiores de 21 anos e no gozo de seus direitos políticos. A Câmara é composta pelo sistema proporcional. A população dos Estados, Territórios e do Distrito Federal é a referencial definida em lei para a fixação do número de Deputados por legislatura, sendo que nenhuma unidade da federação poderá ter menos de oito ou mais de setenta deputados. Os Territórios, independentemente do número populacional, tem número fixo de deputados, quatro para cada um deles.
Note que todos os deputados federais são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, mas somente os que representam os Estados e o Distrito Federal o serão em número proporcional à população. A fixação do número final de Deputados entre oito e setenta permite a ocorrência de desvio matemático já comprovado, gerando situações em que o voto de um brasileiro vale tanto quanto o voto de dez outros.
§ 2º - Cada Território elegerá quatro Deputados.
O número fixo em 4 (quatro) deputados federais atribuído aos Territórios Federais está dissociado definitivamente da escolha de representantes à Câmara dos Deputados em número proporcional à população.
O mandato dos Deputados Federais coincide com a duração da legislatura e, a cada quatro anos, todas as vagas da Câmara de Deputados Federais têm que ser disputadas nas eleições.
RESUMO RESUMIDO!
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
O Senado é o representante da Federação brasileira.
Diz-se que o Senador Federal funciona como ―câmara de resfriamento‖, por se afigurar mais conservador e como órgão de equilíbrio, sendo ilustrativo disso a diferença das idades mínimas para se eleger deputado federal (21 anos) e senador (35 anos), existente no art.14, 3º, VI. O artigo firma entendimento antigo no
Direito brasileiro, segundo o qual os Senadores são as representantes dos Estados e do Distrito Federal, sendo
1 legislatura = 4 anos
Deputados
Federais
Estados e DF
8 a 70
Territórios
4
74 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
condição a idade mínima de 35 anos e estar no gozo dos direitos políticos, havendo três representantes de cada Unidade, com mandato de oito anos, ocorrendo a renovação quadrienal, na base alternada de um e de dois terços de seus componentes.
§ 1º - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
É traço de federalismo homogêneo que cada Estado e o DF elejam o mesmo número de Senadores.
O mandato dos Senadores é de oito anos, o que dá duas legislaturas, sendo que, a cada legislatura, apenas uma parte do Senado é renovada (1/3 das vagas numa eleição, e 2/3 das vagas na eleição seguinte 4 anos depois, alternadamente).
§ 2º - A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes.
A suplência de deputado federal é partidária, ou seja, o primeiro candidato a deputado federal após o último eleito é suplente de qualquer dos detentores de mandato daquele partido ou coligação. Já em relação a Senador, a suplência, como indica o parágrafo, é pessoal, sendo eleita uma chapa com o titulo do mandato e com primeiro e segundo suplentes.
RESUMO RESUMIDO!
*Geralmente
** Exceção: Território: 4 deputados
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
A regra geral das votações na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e nas respectivas comissões, bem como nas comissões do Congresso
Nacional, é a maioria simples, ou relativa, definida como o primeiro número inteiro acima da metade dos presentes, estando presente a maioria absoluta dos membros do colegiado. Por exceção, que deve ser constitucional e expressa, são admissíveis as maiorias absoluta (primeiro número inteiro acima da metade dos membros de um colegiado) e fracionária (calculadas sobre o número de membros de um colegiado). Regimentos internos e leis não podem, sob pena de inconstitucional idade, criar situações de votação em que a maioria seja absoluta ou fracionária. Tais maiorias só podem ser atribuídas pela Constituição.
RESUMO RESUMIDO! CAMARA DOS
DEPUTADOS SENADO FEDERAL
REPRESENTAÇÃO
Povo
Estados e O Distrito Federal
SISTEMA ELEITORAL
Proporcional
Majoritário
MANDATO
4 anos
8 anos
RENOVAÇÃO
De 4 em 4 anos
De 4 em 4 anos,
Alternadamente Por 1/3 e 2/3
IDADE MINIMA 21 anos
35 anos
SUPLETES
Os mais votados que não se elegeram
Eleito com dois.
Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional tem a atribuição de deliberar, com a sanção do Presidente da República, sabre todas as matérias de competência da União, principalmente as previstas no artigo 48 e seus incisos, que são veiculadas através de lei.
Existem, também, as competências exclusivas, previstas no art. 49 e seus incisos, veiculadas através de
Decretos Legislativos ou resoluções, que não necessitam de sanção presidencial.
O Congresso ou qualquer de suas Comissões tem o poder de convocar Ministros de Estado para pessoalmente prestar informações acerca de assunto previamente determinado.
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
Representa
os ESTADOS
Congresso Nacional
Câmara dos
Deputados
Senado
Federal
Representa o
POVO
Casa
Iniciadora*
Casa
Revisora*
Entre 8 e 70** 3 por Estado e DF
Proporcional Majoritário
4 anos de
mandato
=
1 legislatura
8 anos de
mandato
=
2 legislaturas
Observe que nesse artigo (48)
há a sanção do Presidente.
Congresso Nacional + Presidente (Sanção)
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 75
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Neste artigo são destacadas algumas matérias da competência legislativa do Congresso, em caráter não exaustivo, ou seja, sem esgotar suas atribuições. Os pro-jetos de lei que regulam as matérias enumeradas neste artigo deverão, após aprovação nas duas Casas do Congresso, ser enviados ao Presidente da República, para que os sancione. Se o Presidente, os considerar inconstitucionais ou contrários ao interesse público, poderá vetá-los total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis do recebimento. O veto do Presidente, entretanto, será apreciado em sessão conjunta de Senadores e Deputados e poderá ser derrubado pelos parlamentares, mediante maioria absoluta.
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
O projeto referente ao plano plurianual, à diretriz orçamentária e ao orçamento anual, bem como a créditos adicionais de interesse dos três poderes, serão apreciados pelas duas Casas, depois que comissão mista de Senadores e Deputados, de caráter permanente, emitir parecer específico (art. 166).
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
Caso ocorra dúvida quanto aos limites do Território Nacional, é o Congresso Nacional o órgão competente para dirimi-la e referendar acordo ou tratado internacional com os demais países.
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
A transferência temporária será decidida por maioria simples se o Presidente sancioná-la, ou por maioria absoluta, se ele vetá-la. Já a mudança definitiva, em face do exposto no art. 18, que diz que Brasília é a Capital Federal, só poderá ser realizada por emenda constitucional, que exige maioria qualificada de 3/5.
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XII - telecomunicações e radiodifusão;
A concessão e a renovação das mesmas é competência do Poder Executivo, mas o ato deve ser apreciado pelo Congresso Nacional (art. 223).
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Inciso introduzido pela Emenda Constitucional número 19º, que perpetrou a reforma administrativa. Por ele, a fixação dos subsídios dos Ministros do STF - parâmetro remuneratório único da Administração Pública direta e indireta - passa ser assunto de lei cujo projeto é de iniciativa partilhada e obrigatória dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal é do próprio SDF. Por se tratar de projeto de lei, poderá ser emendado regularmente nas duas Casas do Congresso, desde que as emendas não aumentem a despesa prevista, e pode, também, sofre veto presidencial, na forma dos arts. 63 e 66, § 1º,
respectivamente.
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional
O art. 49 da Constituição Federal alinha as matérias que são da exclusiva competência do Congresso Nacional, ou seja, sua iniciativa cabe aos membros ou Comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e sua tramitação se restringe ao âmbito do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional dispõe sobre essas matérias por meio de decretos legislativos.
É importante frisar que o Congresso Nacional pode funcionar em sessão conjunta (quando Câmara dos Deputados e Senado Federal votam sucessivamente, e os votos são tomados em cada umas das Casas) ou em sessão unicameral (quando Câmara dos Deputados e Senado Federal se reúnem num único universo, com a soma de todos os seus membros, e os votos são colhidos simultaneamente).
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
Competência EXCLUSIVA
do CN, não há sansão do
Presidente.
APENAS o Congresso Nacional
Reguladas por DECRETOS LEGISLATIVOS
Segundo De Plácido e Silva, decreto é toda decisão tomada por uma pessoa ou instituição, a que se conferem poderes especiais e próprios para decidir, julgar, resolver ou determinar.
76 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
nacional;
Os tratados e atos internacionais são firmados pelo Presidente da República, como chefe de Estado brasileiro, mas sua validade no Brasil depende de ratificação pelo Congresso Nacional, por decreto legislativo. Aprovado o tratado, é ele então colocado em vigor no país por decreto de execução. Se o tratado foi referente a direitos humanos a forma de aprovação é feita observando o art. 5°, §3°.
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
Essa autorização será exercida pelo Presidente da República, de acordo com art. 84, XII.
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
A saída do País sem essa autorização, por prazo maior do que 15 dias, permite ao Congresso Nacional declarar vago o cargo, nos termos do art. 83.
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
―Aprovar‖ significa que primeiro haverá o decreto do Presidente da Republica (art. 84, IX e X) e após a
apreciação pelo Congresso. ―Autorizar‖ significa exata mente o contrário: primeiro deverá haver a autorização do Congresso, e somente após, o estado de sítio, poderá ser decretada pelo Presidente da República.
RESUMO RESUMIDO!
Intervenção federal
Decretação pelo Presidente da República (art. 84, X)
Aprovação, ou não, pelo Congresso Nacional.
Estado de defesa
Decretação pelo
Presidente da República (art. 84, IX)
Aprovação, ou
não, pelo Congresso Nacional.
Estado de sítio
Autorização
pelo Congresso Nacional
Decretação pelo
Presidente da República (art. 84, IX)
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
Este importante poder do Legislativo é doutrinado chamado de veto legislativo e ocorre quando o Presidente da República, no usa de sua competência normativa (lei delegada, segundo o art. 68, no caso) ou regulamentar (decreto regulamentador, a partir do art. 84, IV, parte
final), excede os limites desse poder, ou pela superação dos limites delegados pelo Congresso Nacional, por resolução, para a elaboração de lei delegada (art. 68, §, 1º) ou por fazer com que o decreto regulamentador
ultrapasse os limites da lei que pretende regulamentar, configurando decreto autônomo e ferindo o principio da legalidade (art. 5º, II) com ofensa, também, ao art. 84, IV,
onde a Constituição determina que essa regulamentação
seja para a ―fiel execução‖ da lei, e não para sua inovação. Nesses casos, o Congresso Nacional, por decreto legislativo, pode realizar o ato político previsto no inciso e sustar (não revogar, nem anular) tais atos normativos.
VI - mudar temporariamente sua sede;
A mudança temporária de sede do Congresso Nacional, aqui prevista, é assunto de decreto legislativo. Já a da sede do governo federal, previsto no art. 48, VII,
deve ser tratado por lei.
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Essa fixação do subsídio deve ser feita por decreto legislativo, com respeito ao valor fixado para Ministro do STF pela lei de que fala o art.48, XV.
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).
Cabem, aqui, os comentários feitos ao inciso VII.
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
As contas gerais (como balanço) sofrerão análise formal. As contas de responsabilidades direta serão submetidas a crivo mais severo. A rejeição dessas contas leva à inelegibilidade por cinco anos, nos termos da Lei Complementar nº 64/90.
O prazo para a apresentação de contas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional é de 60 dias contados do início da sessão legislativa (2 de fevereiro). Se elas forem prestadas no prazo, serão remetidas pelo Congresso Nacional ao Tribunal de Contas, para parecer (art. 71, I) e depois voltarão ao Congresso, para o julgamento político (art. 49, IX). Caso não sejam prestadas, as contas serão tomadas pela Câmara dos Deputados, por resolução (art. 51, II). Ao serem prestadas irão ao TCU para parecer e depois voltarão ao Congresso para Julgamento.
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
Este inciso deixa claro que a titularidade do poder de fiscalização é do Congresso Nacional, no âmbito federal, e não do Tribunal de Contas da União. Esse poder é repetido nos arts. 70 e 71.
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;
Uma das consequências dessa competência é, justamente, a descrição no inciso V deste artigo.
Através do art. 49, inciso XI, a Constituição
Federal preceitua como sendo da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua
R$ Senador R$ Deputado =
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 77
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Este dispositivo de forma muito clara estabelece que é dever — não necessariamente poder — do Congresso controlar as eventuais ingerências de um poder em outro. Mesmo assim, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal têm, ao longo da vigência da nova Constituição Federal de 1988, aceitado com indiferença uma avalanche de medidas provisórias do Presidente da República e não as têm submetidas à deliberação, atitude que acaba por contribuir para a distorção das prerrogativas do Poder Legislativo. Vê-se, portanto, que o constituinte preocupou-se com o eventual abuso do poder de legislar do Executivo, não obstante seu cuidado, a prática política caminha em direção oposta àquela prevista na Carta.
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
A concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão é tratada na Constituição, no art. 223.
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
Mera decorrência da aplicação do art. 71 da CF. O TCU é integrado por 9 Ministros, tem sede no Distrito
Federal e jurisdição sobre todo o Território Nacional. Além de emitir parecer técnico sobre as contas apresentadas pelo Presidente da República, cabe ao TCU, entre outras coisas, julgar (do ponto de vista técnico, apenas) as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das Administrações Direta e Indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal.
Segundo consta também no art. 73, § 2º, 1/3 dos membros do Tribunal de Contas da União é escolhido
pelo Presidente da Republica, e 2/3, pelo Congresso Nacional. Os ministros do TCU indicados pelo Presidente da República, e só, aqueles, estão sujeitos, antes de posse, à arguição pelo Senado Federal (art. 52, III, b) e
somente assumirão o cargo se aprovados por maioria relativa dos Senadores. Os Ministros eleitos pelo Congresso não passam por esse processo.
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
A atividade nuclear é admitida somente para fins pacíficos e depende de aprovação do Congresso.
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
Referendo e plebiscito, vistos no art. 14, são
formas de participação dos cidadãos no processo democrático, competindo ao Congresso sua autorização.
RESUMO RESUMIDO!
Plebiscito É consulta popular direta anterior, Prévia à
decisão estatal. O eleito é chamado a opinar se autoriza ou não o poder público tomar uma determinada atitude.
Referendo É consulta popular direta posterior à decisão estatal. O eleitor é chamado para aprovar ou não um ato estatal.
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e
a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
Essa competência está repetida no art. 231, § 3º. Note-se que, além disso, é competência do Congresso Nacional (art. 231, § 5º) deliberar sobre a remoção temporária dos grupos indígenas das terras por eles tradicionalmente ocupadas, nos casos de epidemias, por exemplo.
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
É importante registrar que, nos casos de alienação ou concessão de terras públicas para fins de reforma agrária, mesmo em extensão maior do que dois mil e quinhentos hectares, não haverá necessidade dessa autorização do Congresso Nacional, segundo o art. 188, § 2º.
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
Por ―Câmara‖, ―Senado‖ e ―Comissões‖ entenda-se os respectivos plenários. O ato de convocação para prestação de depoimento pessoal não é pessoal do parlamentar, mas colegiado. Cuida-se, aqui, de um instrumento de realização de competência fiscalizatória.
O ordenamento Brasileiro prevê a possibilidade de autoridades do Poder Executivo prestarem informações, por sua livre e espontânea vontade ou mediante prévia convocação.
Na hipótese de convocação, se a autoridade for Ministro de Estado, há a obrigatoriedade de sua presença. O não-comparecimento sem justificativa adequada importa em crime de responsabilidade a ser apurado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Senado Federal, se conexo com crime de responsabilidade do Presidente da República.
§ 1º - Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 2º - As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas. (Redação
dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de
1994)
O pedido escrito de informações é apenas encaminhado, numa sequência processual que começa com a iniciativa do parlamentar ou parlamentares nas informações. Preenchidas as condições regimentais do requerimento de informações, à Mesa é dado dor continuidade a esse processo, encaminhando-o à autoridade requerida.
78 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Seção III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Atribuições
Câmara dos Deputados é o nome dado às câmaras baixas de congressos ou parlamentos bicamerais. Este nome também é empregado para designar algumas casas legislativas de países com sistema unicameral.
No Brasil, a Câmara dos Deputados é formada por representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Em Portugal, era a designação da câmara baixa eleita pelo povo e que reunia representantes de todas as regiões do país, durante a Monarquia constitucional e Primeira República.
Através deste órgão, o Poder Legislativo consegue cumprir papel imprescindível perante a sociedade do País, desempenhando três funções primordiais para a consolidação da democracia: representar o povo, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo.
À Câmara dos Deputados compete privativamente, isto é, somente a este órgão do Legislativo, deliberar entre outras coisas sobre a instauração de processo contra o Presidente, seu Vice e os Ministros de Estado; sobre sua organização e eleição do Conselho da República (art. 51 e incisos).
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados
Privativamente a Câmara dos Deputados compete deliberar, entre outras coisas, sobre a instauração do processo contra a Presidente, seu Vice-Presidente e os Ministros de Estado, sabre sua organização e eleição do Conselho da República, conforme determina Art. 51 e seus incisos.
Todas as competências de que trata este artigo são tratadas por resolução da Câmara dos Deputados e, logicamente, por estarem situadas na esfera privativa dessa Casa legislativa, encerra-se nela o processo, não se podendo falar em revisão pelo Senado e sanção ou veto presidenciais.
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
Quem autoriza o início do processo é a Câmara Baixa (Câmara dos Deputados) enquanto quem julga é a Câmara Alta (Senado Federal).
RESUMO RESUMIDO!
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
COMENTÁRIOS
O Presidente da República tem dever constitucional de prestar contas ao Congresso Nacional (art. 84, XXIV). Não prestadas no prazo fixado (sessenta
dias a contar do inicio da sessão legislativa, ou seja, de 02 de fevereiro), tais contas serão tomadas pela Câmara dos Deputados.
Dá-se o nome de sessão legislativa (também chamada de legislatura anual) ao período em que o Congresso Nacional funciona em cada ano. Por determinação constitucional, a sessão legislativa se divide em dois períodos: de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 01 de agosto a 22 de dezembro.
III - elaborar seu regimento interno;
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Importante novidade foi trazida para este disposto pela Emenda á Constituição nº 19. Por ela, a Câmara dos Deputados, aqui e o Senado Federal, por força do art. 52, XIII, não podem mais fixar a remuneração inicial dos cargos de seu quadro por resolução, como vinha acontecendo desde a promulgação da Constituição, em 1988. Agora, esse assunto depende de lei, e, por isso, pode ser inclusive vetada pelo Presidente da República nos termos do art. 66, § 1º. Note-se que a criação, transformação e extinção de cargos na Câmara serão, operadas por resolução dessa Casa; a fixação de remuneração, por lei de iniciativa privativa da Câmara, mas que terminará como total projeto de lei pelo Senado e pelo Presidente da República; e o aumento de remuneração depende a lei de iniciativa privativa do Presidente da República, de acordo com o art. 61, § 1º , II, a.
V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
Seção IV DO SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL
Atribuições
Ao Senado Federal, por sua decisão única, sem a
Competência EXCLUSIVA
da CD, não há sansão do
Presidente.
APENAS a Câmara dos Deputados
São tratadas por RESOLUÇÕES
Autorizar
2/3
Processo
Presidente da
república
Vice-Presidente
da república
Ministros de
Estado
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 79
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
interferência de outros órgãos, compete, privativamente, processar e julgar as altas autoridades federais; aprovar previamente, após arguição pública, por voto secreto, a escolha, dentre outros, de Magistrados, de Ministros do Tribunal de Contas, Governadores de Territórios, Diplomatas etc. (art. 52, incisos, alíneas e parágrafo).
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal
As competências deste artigo são tratadas por resoluções do Senado Federal, vale também aqui o que se disse nos Comentários ao caput do art. 51.
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
23, de 02/09/99)
A conexão de que se trata este inciso ocorre quando houver envolvimento, no mesmo crime de responsabilidade do Presidente da República e de Ministro do Estado. O Senador, que já julgava o primeiro, julgará também o segundo. A emenda 23/99, que criou os cargos Comandantes milhares, inseriu essas autoridades dentre as que podem perder o cargo nesse julgamento político do Senado, sendo, então, previsíveis de impeachment.
Tendo sido dada a autorização pela Câmara, competirá, agora, ao Senado, efetuar o processo e o julgamento das pessoas citadas, com emissão de sentença penal pela absolvição ou pela condenação. O Senado tem competência para julgar tanto o Presidente, como o Vice e os Ministros, se estes últimos cometerem crimes de responsabilidade relacionados com os do Presidente da República.
RESUMO RESUMIDO!
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Vide arts. 103/B e 130/A
COMENTÁRIOS
Pela nova redação dada pela EC nº 45/04 ao inciso II, do art. 51, da Constituição da República,
passam a ser julgados pelo Senado Federal, em crime de responsabilidade, os membros do CNJ e do CNMP. Estes conselhos também foram instituídos programaticamente pela própria EC nº 45/04, cujo art. 5º assim dispõe: ―O
Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público serão instalados no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação desta Emenda, devendo a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até trinta dias antes do termo final.‖
Observa-se aqui o ―mecanismo de freios e contrapesos‖, sistema de controle dos poderes proposto por Montesquieu, na elaboração da teoria da Tripartição dos Poderes. Ao Senado competirá o processo (instauração, apuração, coleta de provas, instrução) e o julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, mas apenas nos crimes de responsabilidade. O crime comum praticado por estas mesmas pessoas ou por parlamentares será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, b). Relevante ressaltar que o
Conselho Nacional de Justiça (composto de quinze membros) e o Conselho Nacional do Ministério Público (composto de quatorze membros) foram criados pela recente Emenda Constitucional nº 45/04, na forma dos arts. 103 - B e 130 -A, respectivamente.
RESUMO RESUMIDO!
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Competência EXCLUSIVA
do SF, não há sansão do
Presidente.
APENAS o Senado Federal
São tratadas por RESOLUÇÕES
Processar e Julgar
Crimes de Responsabilidade
1. Presidente da República; 2. Vice-Presidente da Rep.; 3. Ministros de Estado (somente os crimes conexos com o do Presidente da Rep.); 4. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica (somente os crimes conexos com o do Presidente da Rep.);
Processar e Julgar
Crimes de Responsabilidade
1. Ministros do Supremo Tribunal Federal;
2. Membros do Conselho Nacional de Justiça;
3. Membros do Conselho Nacional do
Ministério Público;
4. Procurador-Geral da República;
5. Advogado-Geral da União.
80 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
Encontramos aqui uma divisão de responsabilidades entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A indicação poderá ser do Presidente da República, mas a escolha final, a palavra final é do Senado Federal, órgão representante dos Estados.
Essas autoridades são escolhidas pelo Presidente da República, mas sua nomeação e posse depende da aprovação do Senado Federal. Os ―magistrados‖ de que fala a alínea a são os Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar. Embora o Presidente da República nomeie outros, como os juízes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais Regionais do Trabalho, estes não estão sujeitos à aprovação do Senado.
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
A atual Constituição manteve alteração redacional relativamente recente na história brasileira. Com a fundação de órgãos internacionais como a ONU, a OEA, o GATT e outros, foi criada a necessidade de o Brasil ser representado perante eles por delegados próprios. O Senado, que apenas realizava as arguições de embaixadores, teve sua competência estendida para abranger também os candidatos a aqueles postos no exterior.
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
COMENTÁRIOS
Ao se falar em dinheiro, limites globais, operações financeiras, geralmente é competência do Senado Federal.
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
COMENTÁRIOS
Dívida consolidada é aquela de realização maior do que o exercício financeiro.
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;
Operações de crédito exigem um avalista. Quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vão ao mercado bancário buscar dinheiro, geralmente essas operações são avalizadas e garantidas pela União. Incumbe ao Senado fixar limites e condições para essas operações.
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Dívida mobiliária é aquela representada e
garantida por títulos do Tesouro da entidade política emitente.
Vale observar que do inciso V até o IX o legislador
condicionou a eficácia das medidas econômico-financeiras adotadas à aprovação do Senado Federal, exatamente para limitar os empréstimos procurados externamente, e que aumentam nossa dívida externa.
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
Essa ação somente é possível na via de controle concreta ou incidental, jamais sendo admissível quando o Supremo Tribunal Federal julgar uma ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se, sinteticamente, de uma competência política (e não jurídica) do Senado, que a exerce quando quiser e se quiser, sendo, por isso, facultativa. Os efeitos, embora não haja um consenso doutrinário quanto a isso, são retroativos (ex tunc) para
uma parcela expressiva dos constitucionalistas. Podem ser suspensas com base nessa competência leis federais, distritais, estaduais e até municipais, já que, aqui, o Senado não atua como legislador federal, mas como guardião da Constituição e dos interesses federativos.
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
Como o Senado aprova a escolha do Procurador-Geral, também sua exoneração deverá ser aprovada,
Aprovação prévia do Senado
1. Magistrados; 2. Ministros do Tribunal de Contas da União; 3. Governador de Território; 4. Presidente do Banco Central; 5. Diretores do Banco Central; 6. Procurador-Geral da República; 7. Titulares de outros cargos que a lei determinar;
(...) LIMITES
GLOBAIS (...)
(...) LIMITES GLOBAIS
(...)
(...) LIMITES
GLOBAIS (...)
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 81
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
principalmente porque estará sendo feita ―de ofício‖, ou seja, a expressão de oficio quer dizer em razão da profissão, do oficio.
O ato de exoneração é de competência do Presidente da República, mas, por tratar-se de ato composto, a exoneração de ofício somente produzirá efeitos se aprovado.
XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
O Senado não pode mais fixar a remuneração inicial dos cargos de seu quadro por resolução. Agora, essa matéria depende de lei, e, por isso, depende também de sanção do Presidente da República, apesar de o assunto se referir a cargos no Legislativo. Perceba que não se cuida, aqui, de reajuste de remuneração, matéria de competência privativa do Presidente da República, na esfera federal, mas, sim, de fixação do padrão remuneratório inicial da carreira. Quanto aos cargos do Senado, valem aqui os Comentários feitos ao art. 51, IV.
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
A exemplo do sistema americano, o processo, o julgamento e o juízo, nos casos de atuação do Senado, são políticos, mas sob condução administrativa do Presidente do Supremo Tribunal Federal. A condenação exige quorum especial e tem seus efeitos limitados à esfera pública, sem prejuízo, como se vê, de processamento judicial pelo mesmo fato, já que são instâncias independentes.
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.
Se qualquer uma das pessoas enumeradas nos incisos I e II (Presidente da República, seu Vice, Ministros
do Estado, Ministros do STF, Procurador Geral da República ou Advogado Geral da União) for condenada pelo Senado por crime de responsabilidade, além de perder o cargo, receberá uma sanção adicional que será a proibição de candidatar-se, por oito anos, para qualquer função pública.
Tal punição não afasta outras sanções judiciais cabíveis, como multa, reparação ao erário público etc. Observa-se que o Julgamento é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Há a junção de dois poderes para o controle do executivo.
RESUMO RESUMIDO!
A Câmara dos Deputados tem cinco competências,
sendo que três também são atribuídas ao Senado Federal. As
outras duas são: Autorizar a instalação de processo e proceder a
tomada de contas do presidente quando não entregar no prazo
estabelecido.
As competências comuns das casas são:
Conteúdo dos incisos Câmara
dos
Deputados
Senado
Federal
Elaborar seu regimento
interno; III XII
Dispor sobre sua
organização, funcionamento,
polícia, criação,
transformação ou extinção
dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a
iniciativa de lei para fixação
da respectiva remuneração,
observados os parâmetros
estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;
IV XIII
Eleger membros do
Conselho da República, nos
termos do art. 89, VII.
V XIV
O Senado Federal tem quinze competências, sendo que
três nós já prendemos acima, e as outras estão abaixo:
Processar e julgar alguns cargos (I e II);
Duas são referentes à aprovação para determinados
cargos (III e IV);
Autorizar operações financeiras externas (V).
Quatro mencionam “limites globais” (VI, VII, VIII e
XIV);
Suspender, em todo ou em parte, lei (X);
Exonerar o Procurador-Geral da República antes do
término do mandato (XI) e;
Avaliar o Sistema Tributário Nacional (XV).
Seção V DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES
DOS DEPUTADOS E SENADORES
Esta Seção estabelece o Estatuto dos Congressistas, instituidor de prerrogativas, imunidades e impedimentos, de forma a assegurar o funcionamento da instituição da maneira mais plena e completa possível.
GARANTIA DE INDEPENDÊNCIA
Elemento preponderante para assegurar a independência do Poder Legislativo, estar representado pelas imunidades parlamentares, que visam assegurar um bom desempenho das suas funções dos membros do Congresso, para ter um bom desempenho os
Exonerar Procurador-Geral da
República
Antes do término
do mandato
82 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
parlamentares devem ter ampla liberdade de expressão. Palavras, discussão, pensamento, voto, dentre outros que lhes são assegurados pelas imunidades material e processual, respectivamente.
IMUNIDADES E VEDAÇÕES PARLAMENTARES
As imunidades parlamentares representam elemento preponderante para a independência do Poder Legislativo. São privilégios, em face do direito comum, outorgados pela Constituição aos membros do Congresso para que estes possam ter um bom desempenho das suas funções. Para um bom desempenho é preciso que os parlamentares tenham ampla liberdade de expressão (pensamento, palavras, discussão e voto) e estejam resguardados de certos procedimentos legais. São as imunidades material e processual respectivamente.
A matéria está disciplinada no art. 53 da
Constituição Federal e visa assegurar a irresponsabilidade pessoal do Deputado ou Senador quanto aos atos praticados no exercício das funções de parlamentar.
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
PRERROGATIVAS
Aos Deputados Federais e aos Senadores, a Constituição concedeu determinadas prerrogativas, com o objetivo de lhes permitir o livre desempenho de suas funções, de molde a assegurar a independência do Poder Legislativo.
INVIOLABILIDADE (IMUNIDADE MATERIAL)
Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício dos respectivos mandatos, (os parlamentares, por exemplo, nunca poderão cometer crime de injúria ou de calúnia, pois a Constituição veda, de plano, a incidência dos dispositivos da lei penal sobre suas opiniões, palavras e votos).
§ 1º - Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
Este parágrafo e os próximos tratam da imunidade formal, ou freedom froni arrest. A proteção contra prisão e
processo é limitada ao tempo do mandato, ou mandatos sucessivos. Note-se que a proteção contra processo judicial somente abrange os processos criminais, não tendo nenhum efeito contra processos civis ou trabalhistas, que correm normalmente. Quanto à prisão, a doutrina brasileira entende que tanto a prisão criminal quanto a civil (como devedor de pensão alimentícia ou depositário infiel) estão sujeitas à regra, com a exceção prevista expressamente.
Essa proteção não impede o parlamentar de ser preso após decisão final condenatória proferida pelo STF, mas tal prisão, prevista no art. 55, VI e § 2º, vai depender
de deliberação do plenário da Casa à qual ele pertença.
É importante notar que essa imunidade formal não impede, segundo já decidiu o STF, a instauração de inquérito policial contra o membro do Congresso Nacional, desde que essas medidas de investigação pré-processuais sejam adotadas em procedimento junto ao Supremo Tribunal Federal.
§ 2º - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
Desde a extinção do diploma, os parlamentares não poderão ser presos desde o ato da diplomação até encerrar definitivamente seu mandato.
A Constituição excepciona, apenas, os casos de flagrante de crime inafiançável.
Duas informações importantes emergem da redação desse parágrafo. A primeira é a suspensão da prescrição criminal durante o prazo em que o pedido de autorização de processamento estiver tramitando no Congresso. A segunda, que o Congresso não é obrigado a decidir, podendo manter o pedido tramitando indefinidamente, em razão da permissão ―ou a ausência de deliberação‖. Essa decisão legislativa para a concessão ou não da licença não está submetida a nenhuma condição material ou jurídica ou técnica específica, sendo fundamentalmente uma decisão política. A Constituição, também, não prevê o prazo para essa deliberação.
Questão importante versa sobre o caso de concurso de agentes, ou seja, quando no processo estão sendo acusados parlamentar e não-parlamentar. O STF tem permitido, nesses casos, a separação de processos, de forma a permitir a tramitação de um independentemente do outro, ficando somente o relativo ao parlamentar dependente de autorização do Legislativo.
§ 3º - Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 35, de 2001)
Trata-se, aqui, o tratamento da única hipótese de prisão em flagrante do parlamentar, para o caso de crime inafiançável.
§ 4º - O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
Desde a expedição
do Diploma STF
Desde a expedição
do Diploma
NÃO
poderão ser
PRESOS
Flagrante de crime
inafiançável
Salvo!!
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 83
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
O STF, recentemente revogou sua Súmula 394, que determinava que processo por crime comum contra ex-congressista fosse processado perante essa Corte. Agora, por esses crimes, o ex-Deputado Federal e o ex-Senador serão processados, após o fim do mandato ou mandatos, pelos órgãos judiciários normais, sem esse foro privilegiado.
§ 5º - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
Trata-se aqui, de uma escolha discricionária do parlamentar, e só pode ser exercida quanto a informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, não abrangendo o dever de testemunhar na condição de cidadão comum, por fatos não relacionados ao mandato.
Prescrição é a perda do direito de ação, em regra, os prazos no direito são prescritíveis.
Informações em razão do exercício do mandato
§ 6º - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
Tem-se também, uma imunidade, já que o
parlamentar está livre de uma obrigação imposta pela Constituição (art. 143).
Os congressistas têm o dever de testemunhar sobre fatos que se supõem ser de seu conhecimento e indispensáveis à instrução penal ou civil, devendo ser convidados a prestar seu depoimento em dia e local conveniente, no Fórum, uma vez que, neste caso, não têm privilégio de foro.
De outra parte, os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
Incorporação às FFAA
§ 7º - A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 35, de 2001)
Se o congressista quiser, por livre e espontânea vontade, incorporar-se às Forças Armadas, deverá renunciar ao seu mandato.
Imunidades durante o estado de sítio
§ 8º - As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso
Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
RESUMO RESUMIDO!
Regra As imunidades parlamentares persistirão durante o estado de sítio.
Exceção As imunidades poderão ser suspensas.
Requisitos para a suspensão:
Votação de 2/3 da casa;
Ato praticado fora do Parlamento;
Ato incompatível com a medida de sítio.
Impedimentos aos parlamentares (CF, art. 54 ao 56)
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão
COMENTÁRIOS
As proibições a que Deputados e Senadores estão incursos, enquanto investidos no mandato, estão enumeradas no art. 54, que tem a finalidade de preservar
a Ilicitude e a ética do comportamento dos parlamentares em relação à causa pública.
O congressista não pode exercer certas ocupações ou praticar determinados atos cumulativamente com seu mandato.
Tais impedimentos podem ser classificados em vários tipos: incompatibilidade funcional, incompatibilidade negocial, incompatibilidade política e incompatibilidade profissional.
Note que as proibições aos parlamentares são divididas em dois grupos. O primeiro vale desde a diplomação, a qual ocorre no ano da eleição, em aproximadamente trinta dias após a apuração dos votos. O segundo somente vale a partir da posse, que ocorre em sessão preparatória, a partir de 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição (art. 57, § 4º).
I - desde a expedição do diploma:
A diplomação ocorre após a homologação do resultado eleitoral e antes da posse do eleito.
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
Cláusulas uniformes nos contratos são previsões, principalmente quanto a preço, lucro e garantias, geralmente praticáveis pelo mercado em contratos do tipo do firmado.
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
Cargos demissíveis ad nutum são os cargos em comissão, de livre provimento e exoneração.
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
Sustação do
Processo PRESCRIÇÃO Suspende
Durante o MANDANTO
84 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
Não pode o congressista ser, ao mesmo tempo, Deputado e Senador ou Deputado e Vereador ou Senador e Vice-Presidente, ou Deputado e Vice-governador, apenas cargos eletivos etc. Essa é a regra geral. A Constituição, entretanto, prevê no art. 56 alguns casos
em que o parlamentar poderá se afastar de seu mandato, para exercer outras funções públicas.
A referência a mandato público eletivo visa a incluir na proibição a acumulação de cargo de deputado federal ou senador com vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, já que esses vices não detém cargo, mas apenas mandato.
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador
A perda do mandato se dará por cassação ou extinção.
Ocorrerá a cassação quando o parlamentar incorrer em falta funcional, prevista na Constituição, e punível com esta sanção. As situações às quais a cassação se aplica são as seguintes: infringir ao artigo 54, quebra do decoro parlamentar e condenação criminal. Somente a Mesa da Casa ou o partido político com representação no Congresso Nacional poderão propô-la e ela será decidida pela Casa do parlamentar acusado, por voto secreto e quorum privilegiado da maioria absoluta dos integrantes da Casa ou de sua composição plena.
Ocorrerá extinção do mandato quando houver fato ou ato que torne automaticamente inexistente a investidura eletiva, como, por exemplo, a morte, a renúncia, o não-comparecimento a certo número de sessões, a perda ou a suspensão dos direitos políticos, ou a determinação pela Justiça Eleitoral. A perda do mandato mediante extinção é praticamente automática, sendo simplesmente declarada pela Mesa da Casa respectiva. Esta pode agir de ofício ou mediante requerimento de qualquer de seus membros ou de partido político com representação no Congresso. A Constituição assegura, entretanto, ao parlamentar atingido, a ampla defesa.
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
As proibições que o art. 54 impõe desde a diplomação e deste a posse, se não cumpridas, podem levar à perda do mandato. Logicamente, o parlamentar diplomado só entra em exercício do mandato após a posse.
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
Decoro parlamentar é um conjunto de preceitos referentes à moralidade, conduta pública, honestidade e outros elementos cuja observância é imposta ao detentor de mandato parlamentar, em razão da sua condição de membro do Congresso Nacional. Segundo o § 1º deste artigo, a definição do que seja quebra do decoro parlamentar (a conduta indecorosa) é matéria do regimento interno de cada Casa, mas a própria Constituição cuida de fixar duas situações: o abuso das
prerrogativas garantidas ao membro do Congresso e o regimento de vantagens indevidas.
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
COMENTÁRIOS
Sessões ordinárias são aquelas realizadas de 2 de fevereiro a 17 de junho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro, nos horários regimentais e normais de sessão. Veja que a ausência às sessões extraordinárias não são contadas para fins de apurar essa hipótese de perda de mandato.
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
Sobre os casos de perda ou suspensão de direitos políticos, vide art. 15 dessa Constituição.
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
A perda de mandato por decisão da Justiça Eleitoral ocorre quando é provida (aceita) ação de impugnação de mandato, nos termos do art. 14, §§ 10 e 11. Essa ação é movida pelos interessados quando houver prova de que o parlamentar se elegeu com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
Condenação criminal transitada em julgado é a condenação definitiva, na qual não cabe mais recurso.
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
Decoro parlamentar é o conjunto de regras legais, morais e comportamentais que se impõe ao membro do legislativo, nessa condição, como orientadoras da sua conduta enquanto legislador.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela EC
76/2013)
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
Quando a Constituição, aqui, diz que a perda ―será declarada‖ pela Mesa, leva a duas importantes conclusões. A primeira é de que não se trata mais de um ato político de plenário, mas, sim, de ato administrativo-regimental da Mesa da Casa. A segunda, como a declaração somente pode ser positiva, a cassação é praticamente eminente nesses casos.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 85
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº
6, de 1994)
A renúncia do parlamentar não vai impedir, então, o prosseguimento, até a final decisão do Plenário ou da Mesa, do processo de cassação. Deputado ou senador poderão renunciar nesses casos, mas ficam no mandato, para todos os fins, até serem cassados ou absolvidos. A única forma de o parlamentar escapar do julgamento pelo Plenário ou Mesa é renunciar ao mandato antes que comece o processo de investigação ou de cassação.
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;
Note que não se trata, aqui, do cargo de Prefeito de capital, mas sim de secretário de prefeitura de capital. O cargo de Prefeito, por ser elegível, não pode ser ocupado simultaneamente por conta do art. 54, 11, d.
RESUMO RESUMIDO!
Cargos cujo exercício não gera a perda do mandato, mas exigem a licença parlamentar
1. Ministro de Estado;
2. Governador de Território;
3. Secretário de Estado;
4. Secretário do Distrito Federal;
5. Secretário de Território;
6. Secretário de Prefeitura de Capital;
7. Chefe de missão diplomática temporária.
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
COMENTÁRIOS
A licença por motivo de doença é remunerada e não tem prazo máximo. A licença para o tratamento de interesse particular não é remunerada e não pode superar cento e vinte (120) dias a cada sessão legislativa.
§ 1º - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.
§ 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.
Se faltarem menos de quinze meses para o fim do mandato, não havendo suplente, a vaga ficará aberta.
Imunidades Parlamentares
§ 3º - Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato.
Seção VI
DAS REUNIÕES
Há que se distinguir a legislatura da sessão legislativa. A primeira equivale ao período de mandato do
parlamentar, que é tomado por base a Câmara dos Deputados - de quatro anos (art. 44, parágrafo único). Já a sessão legislativa corresponde às reuniões semestrais
do Congresso Nacional que se realizam de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro na Capital Federal (art. 57, caput).
As sessões legislativas são ordinárias ou extraordinárias; são as sessões compreendidas no período estabelecido pelo art. 57.
Reuniões das Casas Legislativas
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (nova redação dada pela EC nº 50, de 14.02.2006)
COMENTÁRIOS
Há que se distinguir a legislatura da sessão legislativa. A primeira equivale ao período de mandato do
parlamentar, que é tomado por base a Câmara dos Deputados - de quatro anos (art. 44, parágrafo único). Já a sessão legislativa corresponde às reuniões semestrais
do Congresso Nacional que se realizam de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro na Capital Federal (art. 57, caput).
As sessões legislativas são ordinárias ou
extraordinárias; são as sessões compreendidas no período estabelecido pelo art. 57.
A sessão legislativa consiste no período de
atividade do Congresso, durante o qual se realizam suas reuniões de trabalho.
Período legislativo ordinário são dois ao longo
de um ano: o primeiro, de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo, de 1º de agosto a 22 de dezembro.
Sessão legislativa ordinária é a soma dos dois
períodos legislativos ordinários. Legislatura, di-lo o art. 44, parágrafo único, é o período de quatro anos. Conforme dispõe o § 6º, Art. 57, o Congresso Nacional pode reunir-se em sessão legislativa extraordinária.
Em regra as reuniões do Congresso são realizadas na Capital Federal, não se interrompendo a sessão legislativa sem que ocorra a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, documento imprescindível na condução dos negócios nacionais.
As reuniões poderão ser realizadas separadamente em cada Casa, ou conjuntamente.
86 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Reunião conjunta
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a presidência da Mesa do Senado, se reunirão em sessão conjunta para:
a) inaugurar a sessão legislativa;
b) elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns das duas Casas;
c) receber o compromisso do Presidente e Vice-Presidente da República;
d) conhecer do veto e sobre ele deliberar.
Na primeira situação (inauguração da sessão legislativa), dá-se início aos trabalhos legislativos e conhecimento da mensagem do Presidente da República.
Na segunda situação (elaboração do regimento comum), é necessário dizer que três são os regimentos que estabelecem as normas do Legislativo: o do Congresso Nacional, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. Qualquer emenda, qualquer alteração do regimento comum, no caso, o do Congresso Nacional, deverá ser feita em sessão conjunta.
Na terceira, deve-se receber o compromisso do Presidente e Vice-Presidente da República, que será: ―Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentara União, a integridade e a independência do Brasil‖.
E, por último, o conhecimento do veto e a deliberação sobre ele são procedimentos que finalizam o processo legislativo.
O veto, como vimos anteriormente, é a discordância do Presidente da República de um projeto de lei, seja por entendê-lo inconstitucional, seja por entendê-lo contrário aos interesses público. A exigência de apreciação, mediante veto ou sanção, do Presidente da República para a edição de uma lei é uma estratégia que divide a responsabilidade da elaboração de leis entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Para a derrubada do veto, o legislador constituinte exigiu a presença das duas Casas do Congresso.
Mesa diretora
Mesa é o conjunto de parlamentares eleitos por seus pares para dirigir os trabalhos legislativos durante dois anos.
A Constituição diz que há três mesas dirigentes:
a) Mesa da Câmara dos Deputados;
b) Mesa do Senado Federal;
c) Mesa do Congresso Nacional.
Segundo José Afonso da Silva, a composição de cada mesa é ―matéria regimental e cada Casa disciplina como melhor lhe parecer‖. A regra tem sido que tanto a Mesa da Câmara dos Deputados como a mesa do Senado Federal, compreendam: Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro suplentes de Secretários.
Diz o mesmo autor que ―as atribuições das Mesas são contempladas nos regimentos internos, mas a Constituição menciona algumas de maior destaque, que fogem a uma consideração puramente regimental, como as referentes à convocação ou comparecimento de Ministros, à perda de mandatos de congressistas, à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, e à liberação de pronunciamento de parlamentares durante o estado de sítio‖.
RESUMO RESUMIDO!
§ 1º - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
COMENTÁRIOS
A imposição constitucional de escolha do ―primeiro dia útil subsequente‖ impede que seja fixada outra data, aleatoriamente.
§ 2º - A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Sessão legislativa é a soma de dois períodos
legislativos ordinários, ou seja, de 2 de fevereiro (ou primeiro dia útil subsequente) a 17 de junho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
A Lei de Diretrizes Orçamentária é uma tarefa precípua do Congresso Nacional, daí o seu grau de importância.
Reunião em sessão conjunta
§ 3º - Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
Reunião em sessão conjunta significa que Câmara dos Deputados e Senado Federal reunir-se-ão em sessão do Congresso Nacional, e que as votações serão simultâneas em ambas as Casas.
I - inaugurar a sessão legislativa;
II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4º - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (nova redação dada pela EC nº 50, de
14.02.2006)
Sucessão preparatória é a sucessão destinada à
eleição da Mesa Diretora das duas casas do Congresso Nacional. Realiza-se no dia 1º de fevereiro do primeiro e do terceiro ano de cada legislatura. Os parlamentares que tomarem posse ao longo dos quatro anos (em caso de cassação de mandato, morte ou renúncia), toma posse perante o Plenário ou perante o Presidente da Casa. Há discussão na doutrina sobre se a proibição de reeleição dos membros da Mesa somente existe na mesma
Legislatura Sessão
Legislativa ≠
2/2 a 17/07
1°/8 a 22/12 8 sessões
legislativas
4 anos
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 87
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
legislatura ou se os membros da segunda Mesa de uma legislatura são inelegíveis, para os mesmos cargos, para a composição da primeira Mesa de legislatura subsequente. A prática legislativa mostra que foi aceita a primeira tese.
Esse dispositivo não é obrigatório aos Estados, segundo nota Alexandre de Moraes, que poderão estabelecer disciplina diversa.
Composição da Mesa do Congresso
§ 5º - A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
COMENTÁRIOS
Fica claro, então, que são três as Mesas que funcionam no Congresso Nacional, cada qual com composição e competência próprias: a da Câmara dos Deputados, a do Senado Federal e a do Congresso Nacional.
Sessão legislativa extraordinária
§ 6º - A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: (nova redação dada pela EC nº 50, de 14.02.2006)
I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;
II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (nova redação dada pela EC nº 50, de 14.02.2006)
A convocação extraordinária do Congresso Nacional por requerimento dos parlamentares depende de que assinem documento a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não de apenas umas das duas Casas.
Têm legitimidade para convocar extraordinariamente o Congresso Nacional durante o recesso, nas situações e assuntos previstos para cada um:
Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso só poderá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocado e nenhuma outra mais.
RESUMO RESUMIDO!
- o Presidente do Senado Federal;
- o Presidente da República;
- o Presidente da Câmara dos Deputados;
- a maioria dos membros de ambas as Casas.
§ 7º - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. (nova redação dada pela EC nº 50, de 14.02.2006)
Trata-se de uma importante modificação trazida EC n. 50-2006, cuja veda o pagamento de parcela
indenizatória aos parlamentares em razão da convocação extraordinária.
§ 8º - Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
DAS COMISSÕES
É normal os legislativos, além dos plenários, atuarem através de Comissões, isto é, de grupos menores de parlamentares. Elas são de três ordens: em primeiro lugar as Técnicas, que se especializam sobre determinados assuntos, com vistas a fornecer ao plenário uma opinião aprofundada sobre o tema, por exemplo, Comissão de Justiça, Orçamento etc. Em segundo lugar, há as Comissões Parlamentares de Inquérito, constituídas com vistas a apurar fatos de interesse público, visando a fornecer, se for o caso, subsídios para os parlamentares promoverem a reparação de irregularidades, ou então encaminhar às autoridades competentes elementos voltados à responsabilização penal, administrativa, ou civil. A terceira é a chamada Comissão Representativa que funcionará, na forma regimental, durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
Comissões parlamentares são grupos pequenos de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou de ambas as Casas, quando a Comissão for mista, reunidos em razão de certos temas (educação, saúde, finanças públicas, trabalhos, assuntos sociais, análise de constitucionalidade) ou com determinada finalidade (o estudo de um tema nacional importante, como o trabalho escravo, a prostituição infantil, o mau uso do dinheiro em obras públicas) ou para fins de investigação de fato certo (no caso das comissões parlamentares de inquérito).
As comissões podem ser de quatro tipos:
I) permanentes: são as que subsistem através
das legislaturas; organizam-se em função da matéria, coincidindo, geralmente, com o campo funcional dos Ministérios (art. 58); Um exemplo de Comissão permanente é a CCJ — Comissão de Constituição e Justiça.
II) temporárias: são criadas para assuntos
específicos, e extinguem-se quando tenham preenchido os fins a que se destinam ou com o fim da legislatura; o § 2º do art. 58 designa as competências dessas comissões.
III) mistas: são comissões formadas por
Deputados e Senadores com o objetivo de estudar assuntos expressamente fixados, em especial, aqueles que devam ser decididos pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta das duas Casas; a Constituição estatui no art. 166, § 1º, uma comissão mista permanente.
IV) comissões parlamentares de inquérito:
previstas no § 3º do artigo 58, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos das Casas; desempenham papel de fiscalização e controle da Administração; o Senado e a Câmara poderão criar, isolada ou conjuntamente, tantas CPI quantas julgarem necessárias.
88 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
CRIAÇÃO DE CPI
Para ser criada uma CPI, é necessário:
1. requerimento de 1/3 dos membros da Casa;
2. que seja constituída para a apuração de fato determinado;
3. que tenha prazo certo de funcionamento.
Suas conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. É o poder legislativo funcionando como órgão fiscalizador, defendendo a probidade administrativa. Segundo os doutrinadores, tem a CPI, natureza de inquérito policial.
Seção VI DAS COMISSÕES
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º - Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
A representação proporcional implica o dever de se buscar, tanto quanto possível, na composição das Mesas e Comissões, a reprodução do espectro partidário representado na Casa naquela legislatura. Assim se um partido dominar metade da composição da Casa, deverá dominar também metade da Mesa e da composição das comissões.
Competências
§ 2º - às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
Há, aqui, uma hipótese de delegação interna corporis, em que o plenário da Comissão atua substituindo o plenário da Casa a que pertença. Este importante poder das comissões, chamado na Câmara dos Deputados de poder conclusivo e no Senado Federal de pode terminativo, permite, nos casos previstos nos respectivos regimentos internos, que o projeto de lei seja votado pelos membros da Comissão e não do Plenário principal da Casa, e nessa votação decidido. Uma das hipóteses regimentais de isso acontecer, em ambas as Casas, ocorre o autor, ou autores, do projeto for um deputado ou senador.
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
Veja o aumento da lista dos que podem ser convocados, na nova redação do art. 50, caput, onde foram incluídos titulares de órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República.
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
Comissões parlamentares de inquérito (CPI)
§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
As comissões parlamentares de inquérito possuem os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem para instrução processual penal.
PODERES DA CPI-JURISPRUDÊNCIA STF
Colher depoimentos, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, notificando-as a comparecer perante elas e depor; requisitar documentos e buscar todos os meios de prova legalmente admitidos e, quanto aos dados, informações e documentos, mesmo que resguardados por sigilo legal, desde que observadas as cautelas legais, podem as CPIs requisitá-los. Isso significa que podem quebrar o sigilo fiscal, bancário, telefônico e ainda determinar buscas e apreensões.
LIMITES DA CPI, JURISPRUDÊNCIA STF
NÃO podem formular acusações e punir delitos; NÃO podem desrespeitar privilégios contra a auto-
incriminação que assiste a qualquer indiciado ou testemunha; NÃO podem decretar a prisão de qualquer pessoa, exceto em flagrante; NÃO podem realizar atos
exclusivos ao Poder Judiciário, como também transpor o limite da reserva jurisdicional constitucional (ações exclusivas dos juízes). As CPI‘s NÃO possuem o poder de (re)examinar o conteúdo das decisões judiciais. NÃO
podem, ainda, determinar aplicação de medidas cautelares, como indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, hipoteca judiciária, proibição de ausentar-se Comarca ou do País; proibir ou restringir assistência jurídica aos investigados.
Os excessos praticados pelas CPI‘s deverão ser contidos pelo Poder Judiciário, através do STF, em sede de MS e HC, conforme o art. 102, I, ―i‖, CF.
FUNCIONAMENTO: Arts. 57, §3º e 47 (regra: maioria absoluta) CF; art. 3º, ADCT.
Expressões utilizadas:
“Quorum de votação” – número mínimo de membros da Casa Legislativa, cuja presença é exigível para deliberações.
“Quorum de aprovação” – número necessário
para aprovar o projeto de lei.
“Maioria Simples” – número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes à reunião, comparecendo, no
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 89
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
mínimo, o quorum exigido para deliberação
(Ex. casa de 50 parlamentares, exige-se um quorum mínimo de 26 parlamentares para a abertura. A aprovação por maioria simples exigirá que, dos 26 presentes, haja um mínimo de 14 votos).
“Maioria absoluta” – número inteiro imediatamente superior à metade do total de membros de uma Casa Legislativa, independente do número presente àquela reunião. Exemplo acima: aprovação com 26 votos.
“Maioria qualificada” – determinada porção de
três quintos ou de dois terços. Aquela para aprovação de emenda constitucional (3/5). Esta para a decretação do impeachment (2/3).
ATENÇÃO!! 3/5 equivale a 60%.
Organizando os poderes da CPI:
CPI pode:
• Determinar quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico (telefônico = dados e registros, não a interceptação. A decisão sobre a quebra deve ser tomada pela maioria da CPI e ser fundamentada, não pode se apoiar em fatos genéricos)
• Convocar Ministro de Estado para depor (qualquer comissão pode).
• Determinar a condução coercitiva de testemunha que se recuse a comparecer.
CPI não pode
• Apreciar acerto ou desacerto de atos jurisdicionais ou intimar magistrado para depor.
• Determinar indisponibilidade de bens do investigado.
• Decretar a prisão preventiva (pode decretar prisão só em flagrante).
• Determinar interceptação/escuta telefônica.
• Decretar busca domiciliar de pessoas ou documentos (inviolabilidade domiciliar é reserva de jurisdição).
Comissão representativa durante o recesso
§ 4º - Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.
Seção VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO
Subseção I Disposição Geral
DO PROCESSO LEGISLATIVO
Processo Legislativo é o conjunto de atos predestinados à criação de normas de Direito.
Processo Legislativo pode ser definido como a sequência de atos, previstos na Constituição Federal, a serem realizados pelos órgãos com atribuição legislativa, visando à formação das espécies normativas previstas no art. 59 da própria CF, a saber: Emendas Constitucionais,
leis complementares e ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.
A lei ou ato normativo elaborado sem a observância das normas de Processo legislativo, previstas na Constituição, implicará em sua inconstitucionalidade formal, possibilitando o controle pelo Poder Judiciário.
O STF entende que as regras de processo legislativo, previstas na CF, são de observância obrigatória pelos Estados e devem ser reproduzidas nas Constituições Estaduais.
ESPECIES DE PROCESSOS
LEGISLATIVOS
Existem três formas diferentes para a elaboração de atos legislativos:
a) Ordinário ou comum: destinado à elaboração
de leis ordinárias.
b) Sumário: destinado à elaboração de leis
ordinárias em regime de urgência.
c) Especial: destinado à elaboração de outras
normas, tais como Emendas à Constituição, Leis Complementares, Leis Delegadas, Medidas Provisórias, Decretos Legislativos, Resoluções e Leis Financeiras.
FASES DO PROCESSO LEGISLATIVO
1 - INICIATIVA:
A iniciativa, dependendo da matéria a que se refira, pode ser:
a) Concorrente, geral ou comum: art. 61, caput.
b) Reservada, exclusiva ou privativa: a) art. 61, §
1º; b) art. 93; c) art. 96, II.
c) Popular: § 2º do art. 61. Vide arts. 14, III e 29, XIII.
d) Conjunta: art. 48, XV.
e) Vinculada: arts. 165, 84, XXIII CF c/c 35, §2º, III ADCT. Vide art. 8º, § 2º do ADCT.
f) Atribuída: arts. 52, XII e 51, IV.
2 – DISCUSSÃO / EMENDAS AO PROJETO DE LEI:
Casa Iniciadora - art. 58, §2º, I, CF.
Casa Revisora – art. 65 da CF.
As emendas ao projeto de lei podem ser:
a) modificativas: são aquelas que modificam sem
retirar ou acrescer conteúdo, ou seja, não há alteração substancial;
b) supressivas: são aquelas que suprimem
(excluem) alguma parte ou disposição do texto;
c) aditivas: são aquelas que acrescem ao texto
original, ou seja, são emendas ampliativas;
d) substitutivas: são aquelas apresentadas em
substituição de outra preposição. Receberão a expressão ―substitutivo‖ quando alterarem substancial ou formalmente o seu conjunto, sendo que a alteração formal pretende, exclusivamente, o aperfeiçoamento do legislativo;
e) emendas de redação: são aquelas
apresentadas para sanar vícios de linguagem, incorreções de técnica legislativas ou lapsas manifesto.
90 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
3 – DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO:
Em relação ao quórum de votação, é utilizado o simples ou relativo (art. 47, CF – maioria simples) e o absoluto (art. 69, CF – maioria absoluta).
4 – SANÇÃO OU VETO
5 – PROMULGAÇÃO
6 – PUBLICAÇÃO
Formalidades do processo legislativo
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de
O art. 59 da Constituição Federal enumerou as
diversas espécies legislativas colocando-as aproximadamente em ordem decrescente quanto à dificuldade de aprovação e não de hierarquia.
Para Celso Bastos, não existe hierarquia entre os diversos tipos que compõe este art. 59, já que cada uma das espécies citadas tem seu campo de aptidão nitidamente traçado, pelo que não se poderá falar em hierarquia, mas em aptidão constitucional.
I - emendas à Constituição;
Vide art. 60.
São modificações feitas na Constituição, conhecidas como Proposta de Emenda Constitucional (PEC). Incluem matérias amplas, de abrangência nacional. Sua tramitação é complexa. A proposta pode partir do presidente da República, de pelo menos um terço dos senadores ou deputados federais ou mais da metade das Assembleias legislativas estaduais. A proposta deve ser debatida em dois turnos de votação. A aprovação só é possível se, em cada turno, três quintos dos votos forem favoráveis.
II - leis complementares;
Vide art. 69.
É o dispositivo legal que complementa ou regulamenta o assunto tratado pela Constituição. Pode ser proposta pelo presidente, por parlamentares, pelas comissões do Legislativo, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelos tribunais superiores, pelo procurador-geral da República ou por 1% do eleitorado nacional, distribuído por cinco estados, com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Para ser aprovada, deve obter a maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado ou das Assembleias legislativas estaduais (mais da metade dos parlamentares que compõem a Casa).
Segundo o STF, só podem ser elaboradas quando expressamente exigidas pela Constituição. Sua aprovação está sujeita à maioria absoluta (art. 69), a tramitação é bicameral e estão sujeitas a sanção e veto do Presidente da República.
III - leis ordinárias;
Tecnicamente é chamada apenas de lei. É a norma jurídica cujo poder de ação está abaixo da Constituição e das leis complementares e acima dos decretos. Para ser aprovada, exige maioria simples (metade mais um dos parlamentares presentes à votação).
São usadas para os casos em que a Constituição exija ―lei‖ e para todas as situações, exceto aquelas em que a CF exija ―lei complementar‖, em que se precise criar uma obrigação de fazer ou não fazer (art. 5º, II). Sua elaboração é bicameral e sujeita à maioria relativa (art.
47). Pode haver sanção ou veto do Presidente da República.
IV - leis delegadas;
Vide art. 68.
São atos normativos do Presidente da República, cuja elaboração depende de autorização do Congresso Nacional (art. 68, § 2º). Podem ser
submetidas, ou não, ao Congresso Nacional (art. 68, § 3º), conforme a delegação congressual seja condicionada ou não. São aptas a tratar das matérias em que caiba lei ordinária, mas com as limitações do art. 68, § 1º.
V - medidas provisórias;
COMENTÁRIOS
São atos normativos do Presidente da República, no plano federal, têm condição de lei ordinária e vigência por sessenta dias, podendo ser reeditadas (art. 62).
Devem ser submetidas ao Congresso Nacional imediatamente após a publicação, para serem convertidas em lei. São aptas a tratar de matérias de lei ordinária, mas estão sujeitas a limitações expressas (art. 246) e jurisprudências, que apontamos nos Comentários ao art. 62.
VI - decretos legislativos;
Ato legislativo, de competência do Congresso Nacional, que tramita de forma bicameral, mas não está
sujeito a sanção ou veto presidencial. Sujeito à maioria relativa. Apto a tratar das matérias do art. 49 e dos
assuntos do Congresso.
VII - resoluções.
Ato de elaboração da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, apta a
tratar das matérias dos arts. 51, 52 e 68, § 2º, respectivamente. Sujeita à maioria relativa e tramitação única em cada uma dessas esferas.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Essa lei complementar foi feita em 1998, sob o nº 95, e introduziu várias determinações quanto ao processo legislativo. Trata-se de um instrumento que se pretende utilizar para reduzir o número de leis no Brasil e a superposição de outras tantas.
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Emenda é o processo formal de mudanças das
constituições rígidas, por meio de atuação de certos órgãos, mediante determinadas formalidades, estabelecidas nas próprias constituições para o exercício do poder reformador; é a modificação de certos pontos, cuja estabilidade o legislador constituinte não considerou tão grande como outros mais valiosos, se bem que submetida a obstáculos e formalidades mais difíceis que os exigidos para a alteração das leis ordinárias; é o único sistema de mudança formal da Constituição.
As emendas à Constituição são suscetíveis de controle de constitucionalidade, tanto pela via difusa quanto pela via concentrada. Tem, se constitucionais, a mesma hierarquia da Constituição, não havendo nenhuma distinção entre um texto e outro. As emendas constitucionais podem contradizer a Constituição, e
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 91
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
necessariamente o fazem, para alterá-la.
Com a nova legislação sobre controle de constitucionalidade, o efeito vinculante da ADC foi estendido à ADIN, cabendo reclamação ao Supremo Tribunal Federal caso o juiz não respeite a decisão proferida nesses processos. A Emenda Constitucional nº 45/2004 deu status constitucional ao efeito vinculante da Ação Direta de inconstitucionalidade e tomou mais técnica a redação do § 2º do art. 102 ao dispor que a decisão definitiva de mérito nesses processos vincula o Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (a redação antiga fazia referência ao Poder Executivo).
INICIATIVA DE EMENDA
Subseção II Da Emenda à Constituição
Iniciativa (fase introdutória)
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta
Tem-se, aqui, a primeira das quatro limitações ao poder de emenda à Constituição. Neste caput está uma das limitações formais, ou processuais, que se
caracteriza pela previsão de um processo rígido de alteração do texto da Constituição, caracterizado pela imposição de quatro votações, duas em cada Casa do Legislativo, e em todas sendo exigível o quórum de três quintos dos votos. As demais limitações processuais estão nos §§ 2º, 3º e 5º.
Têm poderes de iniciativa para propor emendas à Constituição:
1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
Presidente da República
mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação (com manifestação da maioria simples dos membros de cada uma).
A proposta é discutida e votada em cada Casa (Senado e Câmara) em dois turnos e é aprovada se obtiver, em ambos, o voto favorável de 3/5 dos seus membros.
A Emenda Constitucional é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Também não é permitido que o objeto da Emenda tente abolir:
a forma federativa de Estado;
o voto direto, secreto, universal e periódico;
direitos e garantias individuais
Outra restrição é emendas na vigência de: intervenção federal ou estado de defesa.
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
LIMITES DA EMENDA
Limitação circunstancial
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
Neste parágrafo está a limitação circunstancial
ao poder de emenda. Na vigência dessas situações, nenhuma emenda poderá ser votada ou promulgada. É uma limitação absoluta. Não estão impedidas, contudo, a apresentação de proposta de emenda à Constituição ou a sua discussão. Apenas a votação da proposta e a promulgação da Emenda já finalizada.
PROCEDIMENTO DE EMENDA
Limitação Procedimental
§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
Apresentada a proposta, será ela discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos (3/5) dos votos dos membros de cada uma delas (art. 60, § 2º); uma vez aprovada, a emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem; acrescenta-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5º).
§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não é sinônimo de Mesa do Congresso Nacional, a teor do art. 57, § 5º. Temos aqui outra limitação processual. É de se perceber que houve emendas à Constituição promulgadas, extraordinariamente, pela Mesa do Congresso Nacional as que forma elaboradas durante a revisão constitucional de 1993; mas isso ocorre porque, ao contrário do que acontece pela ordem contida no § 2º deste art. 60, em que a tramitação é bicameral (Câmara e Senado votando separadamente), o processo de revisão, nos termos do art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi realizado de maneira unicameral (Congresso Nacional).
CLÁUSULAS PÉTREAS
Limitação Material - Cláusulas Pétreas
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
COMENTÁRIOS
Aqui, nova limitação ao poder de emenda, sendo
E não é permitido que matéria rejeitada ou
prejudicada seja objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.
Limitação circunstancial:
Vigência:
de intervenção federal;
de estado de defesa ou;
de estado de sítio.
92 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
esta a limitação material, também conhecida como
cláusulas pétreas, núcleo pétreo ou núcleo imodificável. É uma limitação relativa, pois restrita a determinadas matérias, e, mesmo dentro delas, às iniciativas que levem à abolição de tais princípios, pelo que uma emenda constitucional que toque em alguma dessas matérias não para aboli-la, mas para dar-lhe novo tratamento, não será, a princípio, inconstitucional.
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
Limitação Temporal
§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Note que a impossibilidade da reapreciação na mesma sessão legislativa (a ordinária é de 15 de fevereiro a 15 de dezembro de cada ano, segundo o art. 57, caput) não recai sobre a proposta de emenda, que já terá sido rejeitada ou tida por prejudicada, mas, sim, sobre a matéria sobre a qual ela versa. É limitação processual ao poder de emenda à Constituição.
Emenda de Revisão
CF, ADCT, art. 3°: A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da data de promulgação da CF, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral.
Essas emendas têm o mesmo poder das vistas acima, mas, percebe-se que foi um procedimento mais simples (bastava maioria absoluta em sessão unicameral, enquanto as outras será 3/5, em 2 turnos, nas duas Casas), porém, após o uso deste poder de revisão, ele se extinguiu não podendo mais ser utilizado e nem se pode por EC criar outro similar.
SUBSEÇÃO III
DAS LEIS
CONCEITO
O Conceito de Lei só será verdadeiramente compreensível, se tivermos em conta a distinção entre Lei em sentido formal e Lei em sentido material.
Lei em sentido formal representa todo o acto normativo emanado de um orgão com competência legislativa, quer contenha ou não uma verdadeira regra
jurídica, exigindo-se que se revista das formalidades relativas a essa competência.
Lei em sentido material corresponde a todo o acto normativo, emanado por orgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa, desde que
contenha uma verdadeira regra jurídica, exigindo-se que se revista das formalidades relativas a essa competência.
Distinga-se ainda:
Lei no sentido amplo - Abrange qualquer
norma jurídica.
Lei no sentido restrito - Compreende apenas
os diplomas emanados pela Assembleia da República.
Em Portugal, a actividade legislativa cabe
principalmente à Assembleia da República e ao Governo da República.
FORMAS DE INTERPRETAÇÃO
Interpretar a lei é atribuir a ela um significado, determinar seu sentido a fim de se entender sua correta aplicação em um caso concreto. É importante entender e explicar a lei, pois nem sempre ela está escrita de forma clara, podendo implicar em consequências para os indivíduos.
As formas de interpretação das leis são as seguintes:
1. Literal - busca o sentido das palavras do
legislador
2. Histórica - busca reconstruir revelar o estado de espírito dos autores da lei, os motivos que ensejaram esta, a análise cuidadosa do projeto, com sua exposição de motivos, mensagens do Executivo, atas e informações, debates etc.
A interpretação histórica verifica a relação da lei com o momento da sua edição (occasio legis).
3. Sistemática - analisa as leis de acordo com o Direito em sua totalidade (sistema jurídico), confrontando-as com outras normas, com princípios e com valores prestigiados pelo Estado.
4. Teleológica (ou finalística) - busca o fim social da lei, e é a mais incentivada no Direito Brasileiro, conforme o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC): "na aplicação da lei, o juíz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".
5. Gramatical - utiliza as regras da linguística, é a
análise filológica do texto (a primeira interpretação que se faz).
6. Lógica - serve-se da reconstrução da mens legislatoris para saber a razão da lei (ratio legis).
7. Sociológica - verifica a finalidade social a que a lei deve satisfazer.
8. Declarativa - o texto legal corresponde à mens
legis (lei = mens legis).
9. Restritiva - o texto legal diz mais que a a mens legis, sendo preciso contê-lo (lei >mens legis =>conter ).
10. Extensiva - o texto legal diz menos que a mens legis, sendo preciso expandi-lo (lei<mens legis =>expandir).
PRINCIPIO DA PUBLICIDADE
"Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". Caso esse princípio não existisse, as leis seriam provavalmente inoperantes, pois bastaria que os réus alegassem ignorância para esquivarem-se de cumpri-las.
Esse princípio é, compreensivelmente, um preceito legal em todo o mundo civilizado (no Brasil, está expresso no artigo 3º da LICC).
VIGÊNCIA E REVOGAÇÃO
No Brasil, a obrigatoriedade da lei surge a partir de sua publicação no Diário Oficial, mas sua vigência não se inicia no dia da publicação, salvo se ela assim o determinar. O intervalo entre a data de sua publicação e
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 93
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
sua entrada em vigor chama-se vacatio legis.
Uma lei deve ser aplicada até que seja revogada ou modificada por outra (no Brasil, este princípio está positivado no art. 2º da LICC). A revogação pode ser total (ab-rogação: a lei anterior é totalmente revogada pela nova, que não substitui seu conteúdo; sub-rogação: a lei anterior é totalmente revogada pela nova, substituindo o seu conteúdo), ou parcial (derrogação: a lei anterior é parcialmente revogada por uma nova, sem substituição do conteúdo revogado; modificação: a lei anterior é parcialmente revogada por uma nova, substituindo seu conteúdo). A repristinação ocorre quando uma lei
revogada volta a ter vigência e é um assunto extremamente controverso. No Brasil, é proibida.
Em princípio, as leis começam a vigorar para legislar sobre casos futuros, e não passados. Assim, a aplicação das leis deve observar três limites:
a) ato jurídico perfeito;
b) direito adquirido;
c) coisa julgada.
Esses limites têm como objetivo aumentar a segurança jurídica da sociedade. Ou seja, se hoje você realiza um ato legal pelas normas vigentes atualmente, você tem a garantia de não ser punido mesmo se o seu ato passe a ser ilegal devido a uma lei que seja promulgada no futuro.
HIERARQUIA DAS LEIS. EXISTE?
Em todos os Estados, as leis apresentam uma ordem de importância, na qual as de menor grau devem obedecer às de maior grau. A hierarquia trata-se portanto de uma escala de valor, à semelhança de um triângulo.
Admite-se contudo a seguinte classificação, inobstante eventuais divergências doutrinárias:
constituição
emenda à constituição
Tratado internacional sobre Direitos Humanos aprovado pelo Congresso Nacional em rito semelhante ao de emenda à constituição
lei complementar
lei ordinária
Tratado internacional aprovado pelo Congresso Nacional
medida provisória
lei delegada
decreto legislativo
resolução
decreto
ATENÇÃO!!
Lei Federal é diferente de Lei Nacional:
LEI FEDERAL LEI NACIONAL
Interesse do Estado Interesse da União
Efeitos Externos e Internos Efeitos Internos
Poder Soberano Poder Autônomo
Subseção III Das Leis
Iniciativa
Art. 61. A iniciativa das leis
complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
A iniciativa não é propriamente fase do processo legislativo, mas, sim, ato que propõe a adoção de direito novo, ou o ato que permite o início do processo de elaboração de norma jurídica. É de se observar, também, que, rigorosamente falando, nenhum dos citados dispõe de competência plena para iniciativa de projeto de lei, já que todos têm áreas limitadas ou proibidas.
LEI ORDINÁRIA
São atos legislativos que a Constituição trata, simplesmente por "leis", sem qualquer qualificativo, diferentemente do que prevê para as leis complementares e para as leis delegadas.
A iniciativa para propor leis ordinárias cabe a:
- qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional;
- Presidente da República;
- Supremo Tribunal Federal;
- Procurador-Geral da República;
- Cidadãos (por projeto subscrito por 1% do eleitorado, distribuído por 5 Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um dos Estados).
Se a lei for emendada volta à casa iniciadora. O silêncio da casa implica sanção da lei.
Aprovado em uma cada é revisto na outra em um só turno de discussão e votação. O Presidente da República em 15 dias úteis para vetar o projeto e comunicar ao Presidente do Senado em 48 horas o motivo do veto. Se o veto não for mantido, o Presidente da República tem 48 horas para promulgar, senão o Presidente do Senado deve fazê-lo em 48 horas e caso não o faço o Vice-Presidente do Senado deverá promulgar a lei.
O veto à lei é apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta.
Iniciativa privativa do Presidente da República
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
Este parágrafo delimita a competência reservada ao Presidente da República. Sua inobservância leva à inconstitucionalidade formal. O aspecto fundamental dessa iniciativa reservada está em resguardar ao seu titular a decisão sobre o momento de propor direito novo sobre determinadas matérias.
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
A função das Forças Armadas é a defesa exclusiva do território nacional.
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
94 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
COMENTÁRIOS
Apesar de estar colocada aqui como uma hipótese de iniciativa privativa do Presidente da República, o oferecimento de projeto de lei complementar sobre o Ministério Público da União pode também ser feito, facultativamente, pelo Procurador-Geral da Republica (art. 128, § 5º), pelo que o STF decidiu que se trata, aqui, de competência concorrente.
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18,
de 1998)
§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
Uma das formas de democracia direta é a iniciativa popular de projeto da lei, segundo o art. 14 desta Constituição. Este parágrafo regula a matéria e estabelece requisitos numéricos mínimos de autoria.
MEDIDAS PROVISÓRIAS
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
Medida provisória é ato normativo reservado, pela Constituição, à iniciativa privativa do Presidente da República.
Eficácia. Ver § 3º, do art. 62.
A reedição, segundo a jurisprudência do STF, é
inconstitucional se houve votação e rejeição no Congresso. Se, entretanto, não foi votada, e persistirem os pressupostos de relevância e urgência pode haver reedição, sendo necessário, no entender do Supremo Tribunal Federal e também de outros Tribunais Federais, que a reedição ocorra no prazo de validade da medida provisória anterior.
Finalmente, o STF e a doutrina reconhecem diversas limitações ao uso de medida provisória. Assim, não podem ser usadas para disciplinar: matéria reservada, pela Constituição, a lei complementar; matérias indelegáveis, embora o STF admita o trato de algumas, como a constante no inciso II do § 1º do art. 68,
por medida penal, submetida que está ao principio da legalidade estrita, e, portanto, ao art. 5º, II; matéria geral financeira; orçamentos, embora a doutrina admita o uso de medida provisória para cuidar de matéria orçamentária; e matéria geral tributaria, uma vez que o art. 146 a reserva para lei complementar. O STF, neste último caso, tem admitido expressamente o uso de medida provisória para cuidar de matéria tributaria fora daqueles casos e até para instituir tributos.
ATENÇÃO!!
A Medida Provisória terá vigência imediata e não se submete ao prazo de vacátio legis.
Súmula nº 651 do STF:
“A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a EC 32/98, ser reeditada”.
Limitações
§ 1º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
I - relativa à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
III - reservada a lei complementar; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
Instituição de tributos por Medida Provisória
§ 2º - Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele
em que foi editada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
Vigência, votação e efeitos
§ 3º - As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 95
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 4º - O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001)
§ 5º - A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 6º - Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 7º - Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 8º - As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 9º - Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 10º - É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
§ 11º - Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 12º - Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja
sancionado ou vetado o projeto. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
Aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do
Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
Essa limitação ao poder de emenda a projeto de lei não impede que aqueles de origem no Presidente da República sejam alterados. A proibição é, apenas, de que os membros do Congresso por emenda, aumentem a despesa originariamente prevista no projeto.
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
Quando o projeto decorre de iniciativa do Presidente da República, dos Tribunais, ou de Deputados, ou da iniciativa popular, a discussão se inicia na Câmara
dos Deputados.
A iniciativa provindo do Senado Federal, a discussão tem início no próprio Senado.
Na Casa Iniciadora (Câmara ou Senado,
conforme a iniciativa) o projeto de lei sofre, previamente, o crivo das Comissões Permanentes e, posteriormente, é levado a discussão e votação em plenário. As Comissões Permanentes analisam o projeto no seu aspecto material (conteúdo e interesse público) e formal (observância da forma determinada na Constituição).
Concluído o tramite pelas Comissões Permanentes, o projeto de lei é discutido e votado em plenário, sendo aprovado se obtiver maioria de votos, estando presente a maioria dos membros da Casa.
A Casa Revisora, em respeito ao disposto no
artigo 65, poderá:
01. aprovar o projeto, que será enviado para sanção e promulgação do Presidente da República;
02. emendar o projeto; neste caso o projeto devera retornar A Casa Iniciadora para que aprecie a emenda, mantendo-a ou rejeitando-a para, após, encaminhar ao Presidente da República para sanção e promulgação;
03. rejeitar o projeto, determinando o arquivamento.
Regime de Urgência
(Processo Legislativo Sumário)
§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
A Constituição trata, aqui, do processo legislativo abreviado, ou desconcentrado. A doutrina aponta que o processo legislativo concentrado daria prazo de quarenta e cinco dias ao Congresso, e não a cada uma de suas Casas.
§ 2º - Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem
A primeira Casa que examina o projeto é chamada de Casa Iniciadora.
A segunda Casa, que reexamine o projeto é chamada de Casa Revisora.
96 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
O prazo de quarenta e cinco dias é para cada uma das duas Casas, e não comum às duas. O sobrestamento é a proibição constitucional de que outra matéria seja votada até que se decida, aprovando ou rejeitando, o projeto sob regime de urgência. Esse sobrestamento ocorrerá na pauta da Câmara ou do Senado, conforme seja neste ou naquela em que o prazo chegue ao fim sem decisão.
§ 3º - A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.
§ 4º - Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.
Os recursos do Congresso ocorrem em julho e de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Código é uma lei temática, ou seja, uma lei, geralmente com grande número de artigos, que trata de todo um tema, como trânsito, consumidor, criança e adolescente.
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Essa reversibilidade é um ato continuado. Para Mortati, ato continuado é aquele cujos efeitos são alcançados por meio de mais de uma declaração de vontade do mesmo órgão. Tem-se aqui a consagração do sistema bicameral.
INTERPRETAÇÃO DO STF
A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. (STF Súmula nº 5)
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
Na Casa iniciadora somente as emendas serão apreciadas. Se aprovadas, será o projeto remetido ao Presidente da República, para sanção ou veto, como manda o capto do próximo artigo. Se rejeitadas, as alterações impostas pela Casa revisora são arquivadas e a Casa iniciadora manda o projeto mantido à sanção do Presidente da República.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
A sanção é ato de concordância do Presidente da República com os termos do projeto de lei, e o transforma em lei, pronta para promulgação e publicação. O veto, reversamente, é ato de oposição ao projeto, total ou parcialmente.
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados
da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
O veto não impede o Congresso Nacional de acolher parte dele e rejeitar outras. Para Themístocles Brandão Cavalcanti, o veto total é um conjunto de vetos parciais, que pode ser desmembrado em suas partes componentes. O veto é ato privativo do chefe do Poder Executivo, que gera efeitos suspensivos sobre a vigência e eficácia do texto do projeto de lei em debate, os quais são superáveis pelo Congresso Nacional.
O veto pode ser total ou parcial e deve sempre ser motivado. O veto pode ser suprido pelo Legislativo, por maioria absoluta de cada uma das Casas reunidas em sessão conjunta, no prazo de trinta dias, contados de seu recebimento pelo Presidente do Senado.
§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
É inconstitucional, portanto, o veto de expressões ou de palavras.
§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
Trata-se, aqui, da figura da sanção tácita, e que
abre ao Presidente da República prazo de quarenta e oito horas para a promulgação, nos termos do § 7º.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Nova redação dada pela
Emenda Constitucional 76/2013)
As votações no Congresso Nacional são secretas ou abertas?
A regra é que as votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sejam ABERTAS. Isso
decorre do fato de o Brasil ser uma República e de adotarmos a publicidade dos atos estatais como um princípio constitucional.
Assim, a população tem o direito de saber como votam os seus representantes, considerando que eles estão exercendo o poder em nome do povo (art. 1º, parágrafo único, da CF/88).
Existem votações no Congresso Nacional que são secretas?
SIM. A regra é a publicidade, mas a própria Constituição Federal de 1988 previu hipóteses em que a votação será secreta.
O que fez a Emenda Constitucional n° 76/2013?
Acabou com o voto secreto em duas hipóteses:
1) Votação para decidir sobre a perda do mandato
do parlamentar - Art. 55;
2) Apreciação de veto do Presidente da República – art. 66, § 4º.
EM RESUMO, com a aprovação da EC n° 76/2013 passam a ter votação ABERTA:
• A decisão se o Deputado ou Senador deverá perder o mandato, nas hipóteses previstas no art. 55, I, II e VI, da CF/88.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 97
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
• A decisão se o veto do Presidente da República a um projeto de lei aprovado deverá ser mantido ou rejeitado.
FONTE: http://www.dizerodireito.com.br/2013/11/com
entarios-ec-762013-voto-aberto-no.html
§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.
Se o veto, em contrário, for mantida, a matéria vetada sai do texto da lei (caso o veto não tenha sido total) e a promulgação será do texto em mãos do Presidente da República. Nas partes vetadas será publicada a designação (vetado).
Para Pontes de Miranda, a promulgação constitui uma mera atestação da existência da lei e comunicação de sua executoriedade. Seus efeitos são tomar conhecidos os fatos e atos geradores da lei, atestar que a lei é válida, executável e obrigatória, até que a Justiça diga o contrário. A promulgação e a publicação não integram o processo legislativo, são atos externos a ele. O ato que se segue à promulgação é a publicação, que consiste numa comunicação dirigida a todos os que devem cumprir o ato normativo, informando de sua existência e conteúdo. Para José Afonso da Silva, é a promulgação que se publica, não propriamente o ato normativo.
§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
Sobrestamento é a suspensão da deliberação sobre todas as demais matérias, permanecendo o veto como ponto único na pauta congressual, em companhia, apenas, das medidas provisórias. Ao contrário do sobrestamento previsto no art. 64, do qual se falou, aqui se tem o sobrestamento por não-deliberação das razões do veto, e produzirá seus efeitos sobre a pauta de votações do Congresso Nacional, não operando nenhuma consequência sobre as votações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, individualmente. Ainda, percebe-se que as medidas provisórias, matéria de competência do Congresso, unicameralmente, não sofrerão os efeitos do sobrestamento, já que sua tramitação é presa a prazos muitos curtos.
§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
Os três prazos de 48 horas são sequenciais: o primeiro é aberto ao Presidente da República. Se ele dele não fizer uso, abre-se um segundo lapso, para o Presidente do Senado. Se, finalmente, ainda não ocorrer a promulgação, o Vice-Presidente do Senado federal será obrigado a fazê-lo, num terceiro prazo de 48 horas. Isso mostra que a promulgação, ao contrário do que consta no art. 84, IV, não é ato privativo do Presidente da República.
Princípio da irrepetibilidade para leis
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
Ao contrário do que acontece com a matéria de proposta de emenda à Constituição (art. 60, § 5º), a constante de projeto de lei rejeitado pode voltar à votação na mesma sessão legislativa, em que reapresentada, em novo projeto, por autores em número igual, pelo menos, à maioria absoluta de deputados federais ou senadores.
Leis delegadas
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitara delegação AO CONGRESSO NACIONAL.
§ 1º - NÃO SERÃO OBJETO DE DELEGAÇÃO os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Temos, aqui, as matérias indelegáveis. É de se lembrar que tais matérias não podem ser tratadas nem por lei delegada nem por medida provisória, embora a jurisprudência do STF venha aceitando expressamente o uso desse instrumento excepcional de legislação para os casos do inciso II.
§ 2º - A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
A delegação pode ser típica, ou própria, quando a possibilidade prevista no § 3º, abaixo, não for usada, isto é, quando a lei delegada não precisar voltar ao Congresso para votação. Pode, também, ser atípica, ou imprópria, quando o Congresso determina, na resolução delegatória, a necessidade de o projeto ser por ele votado. Se os limites impostos pela resolução delegatória não forem respeitados, o Congresso, valendo-se do veto legislativo (art. 49, V) poderá sustar a parte da lei delegada que
exorbitou.
§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.
Tem-se, aqui, a delegação imprópria ou condicionada que exige a devolução, pelo Presidente da República, do projeto de lei delegada ao Congresso Nacional, onde será votado. A vedação de emendas é entendida como dirigida às emendas de mérito, não impedindo aperfeiçoamentos redacionais ou de técnica legislativa.
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.
LEI COMPLEMENTAR
Diploma legal destinado a complementar a Constituição, conforme orientação desta.
98 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
É a própria Lei Magna que determina a complementação de seu texto mediante esta espécie de lei.
Aprovado por maioria absoluta (metade + 1) o que diferencia do quorum para aprovação de lei ordinária, maioria simples, ou seja, metade + 1 dos presentes. Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, no entanto, a lei ordinária não pode tratar ou alterar dispositivos da lei complementar, ou quando a CF assim define.
Leis Complementares são as chamadas Leis Orgânicas, só podem ser elaboradas nos casos em que a
CF mencionar. A Lei Complementar é por maioria absoluta e a Lei Ordinária é por maioria simples. Uma Lei Complementar que invade a esfera da Lei Orgânica, transforma-se nesta e pode ser alterada por outra Lei Ordinária. Não pode, no entanto, ocorrer o inverso, ou seja, uma Lei Ordinária vir a regular dispositivo de competência de Lei Complementar, pois, assim será lei ilegal (sujeita a mandado de segurança).
Não havendo algo a ser complementado, não há que falar em lei complementar. Ademais, a lei complementar não está, evidentemente, equiparada ao texto constitucional, sendo, hierarquicamente, inferior a este e à própria emenda (CF, Art. 59, I e II). Assim,
relativamente à Constituição, a lei complementar é norma secundária ou fundada, sendo a norma constitucional primária ou fundante. A expressão lei complementar surge, inicialmente, na EC 4, de 2.9.1961, que instituiu o sistema parlamentarista de governo (antes disso empregava-se a expressão lei orgânica).
Em seu Art. 22, referida emenda, conhecida como
Ato Adicional, previa a complementação de normas que editasse, por meio de leis aprovadas mediante procedimento específico.
ATENÇÃO!! Caso a lei complementar regule matéria
destinada à lei ordinária, poderá ser revogada por lei ordinária posterior, pois não estará atuando nas matérias privativas de lei complementar designadas pelo Texto Constitucional.
Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
FISCALIZAÇÃO E SISTEMAS DE CONTROLE
A função de fiscalização sempre constituiu tarefa básica dos parlamentos e Assembleias legislativas. No sistema de separação de Poderes, cabe ao órgão legislativo (ou Poder Legislativo) criar as leis, por isso é da lógica do sistema que a ele também se impute a atribuição de fiscalizar seu cumprimento pelo Poder Executivo, a quem incumbe à função de administração, bem como a todos que apliquem ou administrem dinheiro público (controle externo).
Assim, no que diz respeito ao Poder Legislativo, as funções típicas são legislar e fiscalizar, tendo ambas o
mesmo grau de importância. Destarte, se por um lado a CF prevê regras de processo legislativo, de outro, determina que ao Congresso Nacional compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta (art. 70). As funções atípicas são
administrar e julgar.
O exercício da função típica do Poder Legislativo consistente no controle parlamentar por meio de fiscalização, que pode ser classificado em político-administrativa e financeiro-orçamentária.
O exercício da fiscalização político-administrativa tem a finalidade de controlar a gestão da
coisa pública, inclusive através da criação das CPI‘s, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em regimento, para a apuração de fato determinado e por prazo certo (prorrogável dentro da legislatura, segundo o STF), sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (art. 58, § 3°).
Já a fiscalização financeiro-orçamentária está
prevista nos arts. 70 a 75 da CF, cujo exercício abrange não somente as contas públicas no âmbito dos Poderes de Estado e do MP, mas também todas as contas das pessoas físicas ou entidades públicas ou privadas que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária; e caracteriza-se pela sua natureza política, apesar de estar sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Ao lado desse controle externo exercido pelo Poder Legislativo, por meio do Congresso Nacional, o art. 70 da Constituição Federal prevê que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno.
Trata-se de controle de natureza administrativa, exercido sobre funcionários encarregados de executar os programas orçamentários e da aplicação de dinheiro público, por seus superiores hierárquicos: Ministros, diretores, chefes de departamento etc, dentro da estrutura administrativa de qualquer dos Poderes, como forma de auxílio ao controle externo exercido pelo Poder Legislativo, sendo esta a razão pela qual a CF exige dos responsáveis pelo controle interno que deem ciência, ao Tribunal de Contas, de toda e qualquer irregularidade ou ilegalidade de que vierem a ter conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, § 1°).
São finalidades do controle interno (art. 74, CF): a)
avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, mediante controle externo, tem
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 99
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
por objetivo, nos termos da Constituição, a apreciação
das contas do Chefe do Poder Executivo, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, a apreciação da legalidade dos atos de admissões de pessoal, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Em suma, verificar da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais da administração direta e indireta da União.
O controle externo é, como visto, função típica do Poder Legislativo, de competência do Congresso Nacional no âmbito federal, das Assembleias Legislativas nos Estados, da Câmara Legislativa no Distrito Federal e das Câmaras Municipais (Câmaras de Vereadores) nos Municípios, com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas. É controle de natureza política, no Brasil, mas sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas competente, que, assim, se apresenta como órgão técnico, e suas decisões são administrativas, não jurisdicionais (embora se utilize a expressão julgar as contas – cf. art. 71, I)
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
A Emenda à Constituição nº 19 contemplou este dispositivo com uma redação mais técnica e méis completa, superando uma nítida deficiência do texto original. Até essa Emenda, eram obrigadas a prestar contas ―qualquer pessoa física ou entidade pública‖ que usasse dinheiro público; agora ―qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada‖. A melhora merece aplausos, pois é sabido na doutrina especializada que não é a condição da pessoa que impõe a obrigação de prestar contas, mas sim, a natureza pública dos recursos financeiros gastos, guardados, gerenciados ou administrados.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete.
Este caput traz três informações: primeiro, o
controle externo é de natureza política, ou político-institucional; segundo, o titular do controle externo em
âmbito federal é o Congresso Nacional; terceiro, o TCU atua como órgão auxiliar desse controle.
Vide Lei nº 8.443/1992 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
O TCU apenas aprecia tais contas, uma vez que o julgamento é competência do Congresso Nacional, pelo art. 49, IX. O dever presidencial de prestar tais contas está previsto no art. 84, XXIV. Se não prestadas no prazo, incumbe à Câmara dos Deputados tomá-las, a teor do art. 51, II.
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
Esse ―julgamento‖ não é, absolutamente, um julgamento judiciário, mas puramente administrativo, pois que não se julga a pessoa, mas as contas por ela prestadas.
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
Nos processos perante o Tribunal de Contas Da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. (Súmula Vinculante 3/2007)
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
O TCU dispõe de poder constitucional de realizar auditorias e inspeções por iniciativa própria, não dependendo de provocação externa. Note-se que, pela redação, até as unidades administrativas do próprio Legislativo, de quem o TCU é órgão auxiliar, poderão ser auditadas e inspecionadas.
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
Aqui, uma vez mais, a demonstração de que a existência de envolvimento de dinheiro público federal torna as contas fiscalizáveis. Empresa supranacional é a que atua em vários países, podendo ter sede brasileira ou estrangeira.
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
Ao contrário do que consta na jurisprudência dos Tribunais Superiores, onde se lê que os recursos repassados pela União àqueles entes políticos deixam de ser federais e passam a ser estaduais, distritais ou municipais, este inciso permite, ainda assim e apesar disso, a fiscalização pelo TCU.
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
100 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
Essa eficácia permite o ajuizamento de ação de execução, diretamente, sem passar pelo processo de conhecimento, cujas finalidades já foram preenchidas pelo processo realizado pelo próprio Tribunal de Contas da União. Percebe-se, assim, que a atuação do TCU é limitada ao processo e julgamento das contas e à imposição de multa e reparação ao Erário, não podendo esse tribunal, que é órgão administrativo, não-judicial, executar as suas próprias decisões.
§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro a competência para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo, seja Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, é exclusiva do Poder Legislativo. Dessa forma, a função do TC é opinativa atuando como órgão auxiliar do Parlamento. Assim, apesar de caber ao TC a apreciação das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo (arts. 25, 31, 71, inciso I e 75), somente ao Poder Legislativo caberá o julgamento das mesmas (art. 49, inciso IX).
Deve-se ressaltar, que nos termos da súmula 347 do STF: ―O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.‖
Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
§ 1º - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.
§ 2º - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couberem, as atribuições previstas no art. 96.
O Tribunal de Contas é o órgão auxiliar, não subordinado, do Congresso Nacional para controle externo do Poder Executivo. É composto por 09 ministros vitalícios que preencham os requisitos do §1º do art. 73.
Tem sede no DF, possuindo quadro próprio de pessoal e jurisdição (sem conotação jurisdicional) em todo território nacional (art. 73 e Súmula 347 do STF). O TC não julga
(atribuição própria do Poder Judiciário), apenas aprecia as contas de determinado órgão, sempre seguindo as orientações do Legislativo, emitindo pareceres técnicos.
Como auxiliar do Poder Legislativo, o TC tem a função do controle externo da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, conforme o art. 71 da CF.
Os Ministros do TC não são magistrados, contudo, possuem as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos, impedimentos e vantagens dos Ministros do STJ (§3º, art. 73).
A composição do quadro de Ministros do TC obedece ao §2º do art. 73.
Existem Tribunais de Contas nos Estados (art. 75, par. ún.) e nos Municípios (ar. 31, §§ 1º, 2º e 4º).
―Registre-se ainda que ao Tribunal de Contas da União cabem, no que for possível, as mesmas competências deferidas pelo art. 96 da Constituição ao Poder Judiciário, como se vê no art. 73. Portanto, tem iniciativa para propor projetos de lei sobre matéria de seu interesse (art. 96, II).‖ (Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior – p. 318)
§ 1º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
INTERPRETAÇÃO DO STF
―No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 101
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.‖ Súmula nº 653
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;
Vide § 4º, deste artigo.
II - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
A nova redação imposta pela Emenda nº 20 eliminou o regime especial de aposentadoria de Ministros do Tribunal de Contas da União, que, agora, passam a integrar o regime dos servidores públicos.
§ 4º - O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
COMENTÁRIOS
Conforme previsão do § 2° do art. 74 da CF, cabe
ao cidadão, aos partidos políticos, às associações e aos sindicatos a oportunidade de participar do controle
externo da Administração Pública, denunciando ao TCU irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.
Desde a CF/88 é vedada a criação – via federal – de tribunais, conselhos e órgãos de contas municipais (§4º, art. 31, CF). Aqueles já existentes, forma mantidos (§1º), como por exemplo, o Tribunal de Contas do
Município de São Paulo.
O que é possível é a criação de um Tribunal de Contas para auxiliar na fiscalização das contas de todos os municípios de um Estado.
Não se veda a criação por um Estado-membro de Tribunal de Contas destinado à fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos Municípios que o integram, como já decidiu o STF (ADIN nº 154-0). Assim, há Estados que possuem um TCE e também um TC dos Municípios.
Nos Municípios em que não haja TC, o controle externo é feito pelas Câmaras Municipais de Vereadores com o auxílio do TCE.
ATENÇÃO!!
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Contas dos Estados podem, no exercício de suas atribuições, apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.
(Aud.TCE/AM/FCC/2007)
QUESTÕES DE PROVAS FGV
Ver no final deste material
DO PODER EXECUTIVO
Segundo Luciana Russo (2009) o Poder Executivo tem por função típica exercer as atribuições de chefia de Estado, de governo e da administração. Desempenha também funções atípicas: legislativas (medidas provisórias e leis delegadas) e judiciárias (contencioso administrativo). Estabelece o art. 76 da CF que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO
Seção I
1. Atribuições do Vice-Presidente da República
DO PRESIDENTE E DO
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
O Presidente e o Vice-Presidente com ele registrado, serão eleitos para um mandato de 4 anos e poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A eleição de ambos realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno e último domingo de outubro, em segundo turno no ano anterior ao término do mandato presidencial vigente.
102 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
A estrutura jurídico-administrativa da Presidência da República compreende os órgãos essenciais (Gabinete Civil e Gabinete Militar) e os órgãos de assessoramento imediato do Presidente da República (Conselho de Segurança Nacional, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Social. Conselho Nacional de Informática e Automação, Serviço Nacional de Informações, Estado-Maior das Forças Armadas, Consultoria-Geral da República, dentre outros).
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)
Há um vínculo direto entre a eleição do titular do cargo (o Presidente) e o titular do cargo de mera expectativa (o Vice-Presidente). Não há a possibilidade de eleição dissociada como em outros tempos de nossa ordem legal.
§ 1º - A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
§ 2º - Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.
O Presidente da República é eleito simultaneamente com um Vice-Presidente, por meio do sufrágio universal e pelo voto direito e secreto. A contagem, então, será apenas dos votos válidos.
Maioria absoluta é aquela em que o candidato,
para ser eleito, deverá ter mais votos que todos os seus concorrentes juntos (50% + 1), não computados os votos brancos e nulos, sendo frequentemente necessária a realização de um segundo turno de eleições, para que tal aconteça. Esse sistema é utilizado nas eleições para Presidente da República, Governador e Prefeito de Município com mais de 200.000 eleitores.
São requisitos para a candidatura do cargo Presidente e Vice-Presidente da República:
a) Ser brasileiro nato;
b) Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
c) Possuir alistamento eleitoral;
d) Possuir filiação partidária;
e) Possuir idade mínima de trinta e cinco anos;
f) Não ser inelegível (inalistável, analfabeto, mais de um reeleição para o período subsequente e inelegibilidade por parentesco, na forma do art. 14, § § 4°, 5° e 7°.)
§ 3º - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria
dos votos válidos.
A existência dos dois turnos não significa que o princípio é de dois turnos. Trata-se apenas de técnica para realizar o princípio da maioria absoluta. É de se notar evidente lapso do Congresso Nacional ao elaborar a Emenda nº 16, quando estabeleceu como data do primeiro e do segundo turno o primeiro e o último domingos de outubro. A disposição deste § 3º, acerca dos
vinte dias, ficou vencida.
§ 4º - Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
§ 5º - Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
RESUMO RESUMIDO!
Posse do
presidente e do
Vice-Presidente
da República
Será em 1° de janeiro do ano subsequente
ao da eleição
Local Perante o Congresso Nacional, em sessão
solene
Compromisso de
Posse
Manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo brasileiro, sustentar a
união, a integridade e a independência do
Brasil.
Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
O não-comparecimento equivale à renúncia, o que leva à extinção do mandato, por ato do Congresso Nacional. Esse ato é declaratório. A Constituição, por outro lado, não diz quem declarará vago, mas, pela natureza política do ato, deve tratar-se de decisão do Congresso Nacional. Não é ato eleitoral, por exemplo, para que se reconheça a competência do Tribunal Superior Eleitoral.
RESUMO RESUMIDO!
Não
comparecimento
para a posse em 10
dias
É declarada a vacância do cargo,
salvo Motivo de força maior.
Competência para
declarar a
vacância
É do Congresso Nacional
A eleição do Presidente da República e do Vice-
Presidente será SIMULTÂNEA
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 103
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
VACÂNCIA
Vacância é o ato expedido pelo Congresso Nacional declarando o cargo de Presidente ou Vice da República vago.
Além da situação acima prevista, a vacância do cargo presidencial também pode decorrer:
a) de morte;
b) de incapacidade absoluta;
c) de aceitação de título ou de condecoração estrangeira, que resultem em restrição ao seu direito ou dever perante o Estado brasileiro;
d) de renúncia;
e) de condenação pelo Senado Federal por crime de responsabilidade;
f) de perda dos direitos políticos;
g) de condenação judicial pelo Supremo Tribunal Fe-deral por crime comum, resultando em
impossibilidade de exercício da função pública;
h) de perda do cargo, ao ausentar-se do País por mais de 15 dias, sem licença do Congresso Nacional.
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.
Segundo Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino (2008) os impedimentos são os afastamentos temporários do Presidente, como a hipótese de ausência do País, situações em que caberá o Vice-Presidente substituí-lo
no exercício pleno da Presidência. Já a vacância é o afastamento definitivo do Presidente, decorrente de morte, de renúncia ou de perda do cargo em razão de pena imposta pela prática de crime comum ou de responsabilidade, situações em que o caberá ao Vice-Presidente sucedê-lo.
Se a vacância for somente do cargo de Presidente, o Vice assumirá e exercerá integralmente o mandato faltante, sem o Vice-Presidente. Da mesma forma, se a vacância for apenas do cargo de Vice, o Presidente exercerá normalmente o mandato faltante, sem Vice-Presidente.
O Vice-Presidente, então, não tem um cargo e funções constitucionalizadas, mas apenas mandato e a possibilidade de exercer funções que serão definidas em leis e funções delegadas pelo Presidente da República.
IMPORTANTE!
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.
O cargo de Vice-Presidente foi criado para a substituição do Presidente, nos seus afastamentos temporários, ou sucessão, na hipótese de vacância definitiva.
São atribuições do Vice-Presidente:
A substituição e a sucessão do Presidente da república, nos casos de impedimentos temporários e vacância, respectivamente (arts. 79 e 80);
A participação no Conselho da República (art. 89, I)
A participação no Conselho de Defesa Nacional (art. 91, I)
A Constituição estabelece, ainda, que outras atribuições poderão ser conferidas por lei complementar ao Vice-Presidente e que caberá a ele auxiliar o Presidente da República, sempre que convocado para missões especiais (Art. 79, parágrafo único).
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Tem-se, aqui, a ordem de vocação aos cargos de Presidente da República e de Vice-Presidente da República, quando ambos estiverem vagos ou seus titulares estiverem impedidos do seu exercício. A mesma ordem é observada quando da substituição do Presidente da República, apenas.
VACÂNCIA
A vacância se dá pela ausência continuada do Parlamentar, por motivo de licença, renúncia, perda de lugar, falecimento ou impedimento provocado por doença grave ou invalidez permanente.
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
Se apenas o cargo de Presidente vagar, quem o sucede é o Vice-Presidente, e o cargo deste ficará vago. Se vagar o cargo de Vice-Presidente da República, este simplesmente ficará vago. Se vagarem ambos, o mecanismo de preenchimento vai depender da data de ocorrência da segunda vaga: sendo aberta essa no primeiro biênio, a eleição é direta e nacional, em noventa dias; se for aberta na segunda metade do mandato, a eleição é indireta, no Congresso nacional, na forma da lei.
§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
Tem-se, aqui, uma hipótese constitucional de eleição indireta (por cargo eleitoral) do Presidente da República. O eleito, como informa o próximo parágrafo,
Substituição Temporária
Substitutos:
1° Vice-Presidente
2° Presidente da CD
3° Presidente da SF
4° Presidente do STF
Impedimento
Vacância
Sucessão Permanente
Substituto:
Vice-Presidente
Neste caso só há SUBSTITUIÇÃO, ou seja, eles só
exercerão o cargo temporariamente.
104 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
vai apenas completar o mandato de seus antecessores.
IMPORTANTE!
Primeiros 2 anos Eleições diretas – 90 dias
Últimos 2 anos Eleições indiretas – 30 dias – pelo Congresso Nacional
§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
Estabelece a Constituição que em qualquer das hipóteses, o Vice-Presidente ou os novos eleitos somente completarão o período de seus antecessores, cumprido o chamado ―mandato tampão‖. Portanto, se a vacância ocorrer no terceiro ano do período presidencial, os eleitos pelo Congresso Nacional cumprirão mandato de apenas um ano.
Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16,
de 1997)
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
Aqui, também, a perda do cargo será declarada pelo Congresso Nacional. Esse poder congressual está previsto no art. 49, III.
IMPORTANTE!
Ausência do País por ATÉ 15 dias
Não depende de autorização do Congresso Nacional.
Ausência do País por MAIS de 15 dias
Depende de autorização do Congresso Nacional.
Pena por ausência do País sem licença do Congresso
Perda do Mandato por declaração do Congresso Nacional
2. Atribuições do Presidente da República
Seção II Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
CHEFIA DE ESTADO E DE GOVERNO
As competências elencadas dos incisos VII, VIII, IX, X, XIII, XVII, XIX e XX, são relativas à função de chefia
de Estado. As demais são relativas à chefia de Governo.
IMPORTANTE!
Projetos de lei que somente o
Presidente da República pode
propor
Estão elencados no
art. 61, § 1 °, e no art.
166, § 6°.
Projetos de lei que o Presidente
da República não pode propor
Estão elencados nos
seguintes dispositivos:
Art. 51, IV; Art. 52, XII;
Art. 73, caput;
Art. 93, caput Art. 96,
II; Art. 127, § 2°; e Art.
128, § 5°.
Projetos de lei nos quais o
Presidente da República tem
competência concorrente com
os membros do Congresso
Nacional
Os demais.
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
Segundo Gabriel Dezen Júnior a sanção configura controle de constitucionalidade, pois o Presidente da República somente sancionará o projeto de lei que entender ser constitucional, além de compatível como interesse público. A Promulgação é a declaração de existência jurídica de lei válida. E a publicação é a divulgação da lei em veículo oficial para início da sua vigência.
A parte final deste inciso consigna o importante poder regulamentar do chefe do Executivo. É de se perceber, também, que a promulgação e publicação de leis não são atos privativos do Presidente da República, em virtude do que consta no art. 66, § 7º.
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
O veto é o ato de oposição aos termos do projeto de lei (art. 66, §1°) e pode ser oposto por inconstitucionalidade ou por contrariedade ao interesse público, a juízo do Presidente da República. Veto é ato privativo do chefe do Poder Executivo.
VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
Ambos os atos exigem a intervenção do Congresso Nacional. No caso de estado de defesa, o Congresso atua após, aprovando ou não a medida (arts. 49, IV, e 136, §§ 4º a 7º). No caso de estado de sítio, o
Congresso atua antes, autorizando ou não a medida (arts. 49, IV, e 137, parágrafo único).
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 105
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
IMPORTANTE!
Estado de
Defesa
1° Decreto executivo do PR
2° Aprovação por decreto legislativo do CN
Estado de
Sítio
1° Autorização por decreto legislativo CN
2° Decretação pelo PR, por decreto executivo
X - decretar e executar a intervenção federal;
A intervenção federal, ato executivo, depende de aprovação do Congresso Nacional, segundo os arts. 49, IV e 36, § 1º.
IMPORTANTE!
Estado de
Defesa
1° Decreto executivo do PR
2° Aprovação por decreto legislativo do CN
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
Essa competência pode ser delegada ao Ministro da Justiça (Art. 84, parágrafo único).
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23,
de 02/09/99)
A Emenda nº 23/99 criou os cargos de
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e os sujeitou à nomeação do Presidente da República.
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei;
Essa situação do Senado federal está prevista no art. 52, III.
É importante notar que a expressão ―Tribunais Superiores‖, neste caso, exclui o Tribunal Superior Eleitoral, cujos membros não estão sujeitos à aprovação do Senado Federal.
IMPORTANTE!
1- Ministros do Supremo Tribunal Federal;
2- Ministros dos Tribunais Superiores;
3- Governadores de Territórios;
4- Procurador-Geral da República;
5- Presidente do Banco Central;
6- Diretores do Banco Central;
7- Outros servidores, quando determinado em lei.
XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
COMENTÁRIO
Todos os Ministros do Tribunal de Contas da União são nomeados pelo Presidente da República, inclusive aqueles eleitos pelo Congresso Nacional (2/3 da composição do TCU).
1- Ministros do TCU
XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
Esses magistrados são os juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho e os advogados dos Tribunais Regionais Eleitorais, além dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (arts. 107, 115 e 120, III).
IMPORTANTE!
MAGISTRADOS:
2 ministros do TSE
1/5 de cada TRT
1/5 de cada TRF
2 juízes de cada TRE
1/5 do TJDFT
XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
A referência constitucional é aos seis brasileiros natos que integram o Conselho da República, dois escolhidos pelo Presidente da República, dois, pelo Senado Federal, e dois, pela Câmara dos Deputados.
XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
Ambos os Conselhos são órgãos superiores de consulta do Presidente da República (arts. 89, caput, e 91, caput).
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
A manifestação do Congresso Nacional, identificada no art. 49, II, será prévia à permissão presidencial, pelo que a autorização, sem esse requisito constitucional de validade, implica em lesão à Constituição e sujeição ao processo de impeachment, nos
termos do art. 85.
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
Os projetos de leis orçamentárias estão tratados nos arts. 165 e 166 desta Constituição, sendo a iniciativa reservada ao Presidente da República.
Nomear, após Aprovação do SF
106 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
IMPORTANTE!
Início da contagem do prazo
2 de fevereiro, conforme o art. 57, caput.
Ocorrendo a prestação das contas no prazo
O Congresso Nacional as receberá e encaminhará ao TCU para parecer prévio.
Não ocorrendo a prestação de contas no prazo
As contas serão tomadas pela Câmara dos Deputados, conforme o art. 51 II.
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
O Presidente pode prover e extinguir cargos públicos federais no âmbito do Executivo, exclusivamente.
A primeira parte do inciso pode ser delegável a Ministro de Estado, ou seja, a competência de prover cargos públicos, conforme o art. 84, parágrafo único.
XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Embora extensa, a enumeração das atribuições do Presidente da República pelo art. 84 da CF não é exaustiva, mas sim meramente exemplificativa, conforme esclarece o seu próprio inciso XXVII, acima transcrito, que diz que o chefe do Executivo exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Em regra, as atribuições privativas enumeradas no art. 84 da CF são indelegáveis, isto é, só poderão ser
exercidas pelo Presidente da República ou, durante os seus impedimentos, por aquele que o substituir na Predidência. Entretanto, o parágrafo único do mesmo art. 84 permite que o Presidente da República delegue aos Ministros de Estados, Procurador-Geral da República e ao Advogado Geral da União as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte. As matérias constantes nos demais incisos são indelegáveis, sob pena de invalidade do ato.
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
XXV - prove os cargos públicos federais, na forma da lei;
IMPORTANTE!
Seção III
3. Responsabilidade do Presidente da República
Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino (2008) mencionam que uma das características centrais da forma republicana de governo é a possibilidade de responsabilização daqueles que gerem a coisa pública, quer dizer, os governantes têm o dever de prestar contas sobre sua gestão frente aos administrados.
Assim, como corolário do princípio republicano, a Constituição Federal prevê a possibilidade de responsabilização do Presidente da República, tanto por infração político-administrativa, quanto por infrações penais comuns.
Crime é a violação de um bem juridicamente tutelado. O Presidente pode praticar crime de responsabilidade (previstos no art. 85 da CF) ou crimes comuns (previstos na Legislação Penal).
Crime de responsabilidade é aquele que está ligado com o cargo ocupado. Crime comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente ria função que ocupa.
Exemplos: matar alguém é crime de homicídio
previsto na legislação penal (art. 121 do Código Penal ou art.302 do Código de Trânsito Brasileiro), ou seja, crime comum. Entretanto, ao atentar contra a lei orçamentária estará praticando um crime de responsabilidade e não há uma infração penal.
Os crimes de responsabilidade estão enumerados no art. 85 da Constituição, e podem ser crimes políticos (incisos I a IV) ou crimes funcionais (incisos V a VII).
Segundo Luciana Russo (2009), foram atribuídas ao Presidente da República algumas imunidades e prerrogativas, seja em razão da relevância da sua função, seja, para, com isso, assegurar a independência e a preservação da harmonia dos poderes, permitindo o livre exercício das funções presidenciais, no exercício das chefias de Estado, de Governo e de Administração.
É importante destacar que o Presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções (art. 86, § 4°, CF)
Da Responsabilidade do Presidente da República
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra
O Vice-Presidente da República só comete tais crimes quando no exercício da Presidência. Pela redação da Constituição, todo e qualquer ato do Presidente da República contra a Constituição configura crime de responsabilidade, sendo que a relação dos incisos abaixo é meramente exemplificativa dos mais graves.
I - a existência da União;
Ministros de Estado;
Procurador-Geral da República;
Advogado-Geral da União
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 107
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
Nem ao Supremo Tribunal Federal nem ao Senado Federal é dado decidir se instauram ou não o processo, já que a admissibilidade é competência da Câmara dos Deputados, conforme determina este artigo, que, aliás, repete o art. 51, I.
§ 1º - O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.
§ 2º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
Vedação à prisão preventiva
§ 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
IMPORTANTE!
Prazo inicial de
suspensão
180 dias
Não decorridos o
processo contra o
Presidente da
República no prazo de
180 dias
O Presidente retornará as suas
funções, sem prejuízo do
prosseguimento do processo penal
(no STF) ou de impeachment (no
Senado)
Decidido o processo
dentro do prazo de 180
dias
Se houver absolvição, o Presidente
retomará as suas funções
normalmente.
Se houver condenação, ocorrerá a
perda do mandato.
Imunidade Penal Relativa
§ 4º - O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
Seção IV
4. Dos Ministros de Estados
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.
O cargo de Ministro de Estado, que aqui é dado como acessível aos brasileiros natos e naturalizados, encontra importante exceção no art. 12, § 3º, criada pela Emenda nº 23/99, como se vê lá, o cargo de Ministro de Estado da Defesa é privativo de brasileiro nato.
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;
As instruções de que fala o inciso são as instruções normativas. São atos administrativos para a execução das leis, decretos e regulamentos.
III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.
Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
A estruturação dos Ministérios poderá ser feita por decreto autônomo, nos temos do art. 84, VI, com redação que lhe deu a Emenda n° 32.
5. Do Conselho da República
São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado:
a) falta de comparecimento sem justificação adequada, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado para pres-tar, pessoalmente, quaisquer informações;
b) praticar, juntamente com o Presidente da República, atos definidos como crime de responsabilidade.
Juízo competente para processar e julgar os Ministros do Estado.
Assim como o Presidente da República, os Ministros serão julgados:
a) pelo Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade que cometerem sozinhos, e
b) pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade quando os cometerem com o Presidente da República (conexos).
108 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional
Conselhos, segundo José Afonso da Silva, "São organismos públicos destinados ao assessoramento de alto nível e de orientação e de até deliberação em determinado campo de atuação governamental”.
Existem vários Conselhos junto à Superior Administração Federal, como o Conselho da Educação, o Conselho da Cultura, o Conselho Interministerial de Preços etc., mas a Constituição previu apenas três:
a) Conselho da República (art. 89);
b) Conselho de Defesa Nacional (art. 91);
c) Conselho da Comunicação Social (art. 224).
Este conselho, apesar de previsto, ainda não criado.
Seção V DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE
DEFESA NACIONAL Subseção I
Do Conselho da República
Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam.
Trata-se de um órgão de consulta superior do Presidente, que terá a função de se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, além de tratar de quaisquer questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
Compõem-se de: Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e líderes da maioria e da minoria do Senado Federal; Ministro da Justiça; e seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado e dois pela Câmara, tendo um mandato de três anos, vedada a recondução.
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
O termo Maioria significa o maior partido político ou bloco partidário representado na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Já o termo Minoria é o maior partido ou bloco partidário que se oponha à maioria formada em cada um das casas.
VI - o Ministro da Justiça;
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
IMPORTANTE!
Cidadãos Brasileiros Natos
Presidente da República 2
Senado Federal 2
Câmara dos Deputados 2
Mandato 3 anos
Recondução Vedada
Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre
O Conselho da República é um instituto encarre-gado da consolidação democrática do país, mas não é um órgão deliberativo, uma vez que só emite opiniões.
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
§ 1º - O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
§ 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.
6. Do Conselho de Defesa Nacional
Da mesma forma que o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional também não é um Órgão deliberativo, mas apenas consultivo.
Subseção II Do Conselho de Defesa Nacional
Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos.
Esse conselho, assim como o Conselho da República, também será um órgão de consulta do Presidente, com a diferença de que tratará das questões relativas à soberania nacional e à defesa do Estado. Competirá a esse conselho: opinar sobre as declarações de guerra e de paz, opinar sobre a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio e, por fim, propor medidas que visem uma melhor defesa do território nacional, com o propósito de garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático.
Compõem-se de: Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro da Justiça; Ministro de Estado da Defesa; Ministro das Relações Exteriores; Ministro do Planejamento; e Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;
V - o Ministro de Estado da Defesa; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
VI - o Ministro das Relações Exteriores;
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 109
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
VII - o Ministro do Planejamento.
VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23,
de 1999)
Com a Emenda à Constituição nº 23/99, os cargos de Ministros Militares foram extintos, ficando no lugar deles o de Ministro da Defesa e sendo criados os cargos de Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A EC nº 23/99 deu assento a tais cargos no Conselho de Defesa nacional.
IMPORTANTE!
Participantes comuns ao Conselho da República e ao
Conselho de defesa Nacional
Conselho da República Conselho de defesa
Nacional
I – Vice-Presidente I – Vice-Presidente
II – Presidente da CD II – Presidente da CD
III – Presidente da SF III – Presidente da SF
VI – Ministro da Justiça VI – Ministro da Justiça
Participantes NÃO comuns ao Conselho da República e
ao Conselho de defesa Nacional
IV - os líderes da maioria e da
minoria na Câmara dos
Deputados;
V - o Ministro de Estado
da Defesa;
V - os líderes da maioria e da
minoria no Senado Federal;
VI - o Ministro das
Relações Exteriores;
VII - seis cidadãos brasileiros
natos, com mais de trinta e
cinco anos de idade, sendo dois
nomeados pelo Presidente da
República, dois eleitos pelo
Senado Federal e dois eleitos
pela Câmara dos Deputados,
todos com mandato de três
anos, vedada a recondução.
VII - o Ministro do
Planejamento.
VIII - os Comandantes
da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica.
§ 1º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
§ 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.
QUESTÕES DE CONCURSOS - FGV
Ver no final deste material
DO PODER JUDICIÁRIO Segundo Gabriel Dezen Júnior, o Judiciário é um
poder nacionalmente unificado e submetido a uma hierarquia estrutural. Organiza-se como um único poder, nacional, estruturalmente unificado e hierarquizado. Essa hierarquia não significa a possibilidade de um Tribunal de segundo grau determinar a um juiz monocrático de primeiro grau o conteúdo de sua sentença, mas, sim, a possibilidade de tal Tribunal, rever, alterando-a ou confirmando-a, essa decisão de primeiro grau. A instituição da Súmula Vinculante (art. 103,-A) e a confirmação, pelo Supremo Tribunal Federal, da sua constitucionalidade, acentuam essa estruturação e hierarquização nacionais.
CAPÍTULO III DO PODER JUDICIÁRIO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário
Vide art. 99.
Caberá ao Poder Judiciário, aplicar a lei e todas as fontes de direito, solucionar conflitos existentes na sociedade ou conflitos entre os próprios poderes.
O Judiciário é autônomo, não se subordina a nenhum outro poder (art. 2°, CF). Por conta disso, ele mesmo elabora seus orçamentos.
I - o Supremo Tribunal Federal;
Vide art. 101.
O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão máximo do Poder Judiciário, ocupando a digna posição de especial guardião da Constituição Federal.
Compete-lhe, dentre outras tarefas, julgar as causas em que esteja em jogo uma alegada violação da Constituição Federal, o que ele faz ao apreciar uma ação direta de inconstitucionalidade ou um recurso contra decisão que, alegadamente, violou dispositivo da Constituição.
O STF compõe-se de 11 Ministros, aprovados pelo Senado Federal e nomeados pelo presidente da República, dentre cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada.
IMPORTANTE!!
STF
Órgão de cúpula do Poder Judiciário
nacional, com funções de Corte
Constitucional.
Composição 11 Ministros vitalícios
Jurisdição Nacional
I-A - o Conselho Nacional de Justiça;
O leitor precisa observar com especial atenção o inciso 1-A, uma vez que a Emenda Constitucional nº 45/04, trouxe mais um órgão a integrar a estrutura do Poder Judiciário, que é justamente o Conselho Nacional de Justiça (v. art. 103-B).
O Conselho Nacional de Justiça inova a estrutura da organização do Poder Judiciário. Sua função é a de exercer o controle externo da atividade dos diversos órgãos que integram a malha judiciária do país. E o órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais
110 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
dos juízes, cabendo-lhe desempenhar as atribuições que lhe foram diretamente outorgadas pela Constituição Federal, as quais examinaremos adiante, além de outras que venham a ser estabelecidas pelo Estatuto da Magistratura.
O perfil estrutural do CNJ é desenhado pela própria Emenda nº 45/04, ou seja, o constituinte reformador não deixou a cargo do legislador infraconstitucional a função de delinear a composição (CF/88, Art. 103-B, caput e incisos), provimento (CF/88, Art. 103-B, §§ 2º e 3º), presidência (CF/88, Art. 103-B, § 1º), competência (CF/88, Art. 103-B, § 4º) e atividade fiscalizatória-correicional (CF/88, Art. 103-B, § 5º).
O cuidado em concurso, nesse aspecto, está no fato de que a banca tem a tendência de atribuir à lei (complementar ou ordinária) a competência para definir a forma de ingresso, composição (número de membros), atribuições e competências etc. Como se nota, a própria Constituição define estas questões. Nestes termos, é possível uma formulação do seguinte teor: Conforme disposição expressa na Constituição Federal, as competências do Conselho Nacional de Justiça serão definidas em lei complementar.‖ Proposição a ser julgada falsa, pois a própria Carta da República define as competências do CNJ.
Por último, saliente-se que com a Emenda Constitucional nº 45/04, os Tribunais de Alçada foram extintos, passando seus membros a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados (artigo 4º da referida emenda).
IMPORTANTE!!
CNJ
É órgão de controle interno do Poder
Judiciário, integrante da estrutura desse
poder, mas não dispondo de função
jurisdicional (art. 92, §1° e §2°).
Composição 15 membros, com mandato de 2 anos,
admitida uma recondução sucessiva.
Jurisdição Não tem jurisdição, mas apenas
competência administrativa.
Competências
Fundamentamente, o controle
administrativo e financeiro do Poder
Judiciário, de atribuições correicionais e de
poder normativo.
II - o Superior Tribunal de Justiça;
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o guardião da uniformidade da interpretação das leis federais. Desempenha esta tarefa ao julgar as causas, decididas pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, que contrariem lei federal ou deem a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal.
O STJ compõe-se de 33 Ministros, nomeados pelo Presidente da República dentre Juízes, Desembargadores, advogados e membros do Ministério Público, com base em sistema previsto na Constituição Federal.
IMPORTANTE
STJ
É órgão de cúpula da Justiça Federal e
da Justiça Estadual, dotada da
atribuição de uniformização do Direito
Federal.
Composição 33 ministros vitalícios
Jurisdição Nacional
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)
MUITA ATENÇÃO!!
A Emenda Constitucional 92/2016, promulgada em 12 de julho, traz apenas 3 singelas alterações ao texto constitucional:
1. inclui o Tribunal Superior do Trabalho no rol dos órgãos do Poder Judiciário, alterando o art. 92 da CF-88;
2. altera o art. 111-A para exigir que os Ministros do TST, escolhidos pelo Presidente e aprovados pelo Senado, tenham notável saber jurídico e reputação ilibada
(surpreendentemente, a redação anterior não previa estes requisitos, embora os previssem para escolha dos Ministros do STF e do STJ);
3. inclui o julgamento da Reclamação na competência originária do TST.
Esta última alteração é, sem dúvida, a que terá maior impacto prático no dia-adia do Tribunal Superior do Trabalho, assim como para aqueles que ainda aguardam o julgamento final de seus processos trabalhistas.
Cabimento da Reclamação
A Reclamação atualmente é disciplinada pelo novo Código de Processo Civil (CPC/15) nos arts. 988 e seguintes e é cabível em quatro hipóteses, sendo apenas as duas primeiras aplicáveis ao TST:
1. preservação da competência do Tribunal (inclui o TST!)
2. garantia da autoridade das decisões do Tribunal (inclui o TST!)
3. garantia de observância de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (ou seja, das decisões em ADI, ADC e ADPF)
4. garantia de observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.
O número de Reclamações
Apenas para ilustrar, ainda em 2014, o STF já reportava a explosão no número de Reclamações (3 mil naquele momento), atribuindo o aumento parcialmente à facilidade do ajuizamento por via eletrônica.
Só até julho de 2016, foram distribuídas 1.833 reclamações, contribuindo para o abarrotamento da Corte Suprema, que conta atualmente com um total de 62.657 processos a cargo de seus 11 Ministros (5.696 processos/ministro).
O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não se encontra em situação menos desconfortável. Em seu relatório de 2014, reportou nada menos que 9.058 casos NOVOS por Ministro. Sim, casos novos! Não se trata do volume do acervo, mas sim de casos distribuídos naquele ano entre seus 27 Ministros.
Impacto
Diante desses números e da nova Emenda, a perspectiva é de significativo aumento no acervo do TST e consequente incremento no tempo de tramitação nos processos da Justiça do Trabalho.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 111
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
Vide art. 106.
São órgãos da Justiça Federal. A Justiça Federal julga, dentre outras, as causas em que forem parte a União, autarquia ou empresa pública federal. Os TRFs decidem em grau de recurso as causas apreciadas em primeira instância pelos Juízes Federais.
IMPORTANTE!!!
TRF São órgãos judiciários de 2° grau da
Justiça Federal.
Composição Mínimo 7 juízes vitalícios
Jurisdição Regional (pluriestadual)
Juízes Federais São órgãos judiciários de 1° grau da
Justiça Federal.
Vitalicie
dade
Após dois anos de magistratura
e frequência a curso de formação.
NOTA!
Os incisos I a III correspondem à justiça comum
federal.
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
Vide art. 115.
Os órgãos da Justiça do Trabalho são o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e os Juízes do Trabalho. Compete-lhe julgar as causas oriundas das relações de trabalho. Os Juízes do Trabalho formam a primeira instância da Justiça do Trabalho e suas decisões são apreciadas em grau de recurso pelos TRTs. O TST, dentre outras atribuições, zela pela uniformidade das decisões da Justiça do Trabalho.
Em 31 de dezembro de 2004, sua competência foi ampliada, passando a processar e julgar toda e qualquer causa decorrente das relações de trabalho, o que inclui os litígios envolvendo os sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, análise das penalidades administrativas impostas pelos órgãos do governo incumbidos da fiscalização do trabalho e direito de greve. Recebe anualmente cerca de 2,4 milhões de processos trabalhistas.
IMPORTANTE!!!
TST Órgão de cúpula da Justiça do
Trabalho.
Composição 27 Ministros vitalícios
Jurisdição Nacional
Competência
Em termos constitucionais, julgar tanto
os aspectos constitucionais quanto
infraconstitucionais das decisões dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
TRT São órgãos judiciários de 2° grau da
Justiça Trabalho.
Composição Mínimo 7 juízes vitalícios
Jurisdição Regional (pluriestadual)
Competência
Nos termos constitucionais, julgar, em
grau de recurso, as decisões dos Juízes
de Trabalho de 1° grau, tanto os pedidos
das partes quanto as questões
constitucionais e infraconstitucionais
Juízes do
Trabalho
São órgãos judiciários de 1° grau da
Justiça Trabalho.
Vitaliciedade Após dois anos de magistratura e
frequência a curso de formação.
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
IMPORTANTE!!!
TSE Órgão de cúpula da Justiça Eleitoral.
Composição 7 Ministros com mandato de 2 anos,
admitida uma recondução sucessiva.
Jurisdição Nacional
Competência Detém poder regulamentar de questões
relativas às eleições e partidos políticos.
TRE Órgão de 2° grau da Justiça Estadual.
Composição Mínimo 7 juízes com mandato de 2 anos,
admitida uma recondução sucessiva.
Jurisdição Estadual
Competência Julgar, em grau de recurso, as decisões dos
Juízes Eleitorais e das Juntas Eleitorais.
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
Os órgãos dos incisos IV, V e VI são ditos Justiça Especializada.
IMPORTANTE!!!
STM Órgão de cúpula da Justiça Militar
Federal.
Composição 15 ministros vitalícios
Jurisdição Nacional
Competência
Processo e julgamento dos militares
das Forças Armadas nos crimes
militares próprios e nas ações relativas a
punições disciplinares militares
TJM Órgão de 2° grau da Justiça Militar
Federal.
Competência
Processar e julgar, em grau de
recurso, as decisões dos Juízes de
Direito e dos Conselhos de Justiça.
Juiz de Direito
com jurisdição
militar
São órgãos de 1° grau da Justiça
Militar Estadual.
Competência
Processar e julgar, singularmente, os
crimes militares próprios cometidos por
Policiais Militares e Bombeiros
Militares contra civis e as ações
relativas a punições disciplinares
militares.
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
A Constituição Federal determina que os estados organizem a sua Justiça Estadual, observando os princípios constitucionais federais. Como regra geral, a Justiça Estadual compõe-se de duas instâncias, o Tribunal de Justiça (TJ) e os Juízes Estaduais. Os Tribunais de Justiça dos estados possuem competências definidas na Constituição Federal, bem como na Lei de
112 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Organização Judiciária dos Estado. Basicamente, o TJ tem a competência de, em segundo grau, revisar as decisões dos juízes e, em primeiro grau, determinadas ações em face de determinadas pessoas.
A Constituição Federal determina que os estados instituam a representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais ou municipais frente à Constituição Estadual (art. 125, §2º), geralmente apreciada pelo TJ. É facultado aos estados criar a justiça militar estadual, com competência sobre a polícia militar estadual.
Os integrantes dos TJs são chamados Desembargadores. Os Juízes Estaduais são os chamados Juízes de Direito.
O inciso VII reitera o princípio da jurisdição nacional, por identificar, também, a Justiça Estadual como parte do Poder Judiciário.
A enumeração contida neste dispositivo é taxativa e nenhuma pessoa poderá ser penalmente julgada ou sentenciada a não ser pelos órgãos acima arrolados.
Neste sentido, vale a pena lembrar o art. 5º, XXXV, que proíbe terminantemente o juízo ou tribunal de exceção.
NOTA! O inciso VII corresponde à justiça estadual comum.
IMPORTANTE!!!
TJ
São órgãos de 2° grau da Justiça
Estadual e da Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Composição Desembargadores vitalícios, em número
definido por lei estadual.
Juízes de
Direito
São órgãos de 1° grau da Justiça
Estadual e da Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Vitaliciedade Após dois anos de magistratura e
frequência a curso de formação.
§ 1º - O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Na redação original, o art. 92 contava apenas com um único parágrafo, cuja redação enunciava: ―O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional.‖ Com a inclusão do CNJ entre os órgãos do Poder Judiciário e tendo em conta a sua envergadura ―nacional‖, houve por bem o desmembramento do referido parágrafo único em dois. No primeiro define-se a sede dos órgãos máximos do Poder Judiciário nacional e no parágrafo segundo explicita-se o fato de que o CJN, embora integrante do Poder Judiciário, não exerce jurisdição. Para uma melhor compreensão da natureza desse novo órgão (que é essencialmente administrativa), é indispensável à combinação do § 2º, do art. 92 com o novo art. 103-A, § 4º.
A incompetência do CNJ para o exercício jurisdicional decorre, essencialmente, do propósito almejado pelo constituinte reformador da Emenda nº 45/04, no sentido de se instituir um órgão controlador externo da atividade jurisdicional do Estado, uma vez que a meta é consolidar a cultura de que o Poder Judiciário é um órgão prestador de serviço público. Eis que a essência institucional do CNJ é de cunho administrativo, fato que não causa nenhuma espécie à corporação judiciária que, inclusive, encontra-se perfeitamente familiarizada com a
presença dos diversos órgãos de corregedoria, os quais são dirigidos por magistrados conscientes de que, no exercício das atribuições de corregedores, exercem função paralela e contributiva à prestação jurisdicional, sem com ela se confundir.
§ 2º - O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
A redação deste parágrafo, dentre outros, mostra que a expressão ―Tribunais Superiores‖ não inclui o Supremo Tribunal federal, que está acima deles, designando, apenas, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral.
Princípios do Estatuto da Magistratura
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
A inovação trazida pela EC nº 45/04 ao texto do inciso I do art. 93 da CF/88 limita-se à exigência do prazo mínimo de 3 (três) anos de atividade jurídica. Assunto controvertido, em face da juvenilização da magistratura nacional nos últimos anos. A despeito dos prós e dos contras, fato é que o constituinte reformador mostrou-se satisfeito com a atual fórmula ao promulgá-la tal como se encontra.
Requisito que também passou a ser exigido para ingresso na carreira do Ministério Público, conforme faz ver o artigo 129, § 3º da CF.
Quanto ao ingresso na magistratura brasileira, uma reflexão deve ser feita: para ingressar no Poder Judiciário brasileiro é necessário prestar concurso público?
A leitura precipitada dessa indagação e o seu imediato cotejo com o inciso ora comentado nos leva a dizer ―sim‖. Todavia, não podemos nos esquecer de que existe a figura do quinto constitucional (CF/88, Art. 94), expediente que faz recair em advogado a oportunidade de passar a integrar o Poder Judiciário sem o crivo do concurso Público. Outro exemplo: temos também nos advogados que integram os colegiados dos tribunais eleitorais (T.S.E e T.R.E, arts. 119, II e 120, III, respectivamente).
Assim, não podemos nos confundir com a proposição ―ingresso na magistratura‖ e ―ingresso na magistratura de carreira‖. Somente, neste último caso, é que se exige a aprovação prévia em concurso público de prova e títulos, conforme preceitua o inciso I do art. 93 da Lei Maior.
IMPORTANTE!!!
Cargo inicial das
carreiras de
magistratura
Juiz de Direito Substituto
Juiz Federal Substituto
Juiz do Trabalho Substituto
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 113
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Se o Tribunal de segundo grau for o Tribunal de Justiça e o estado tiver tribunais de Alçada, é deste que se contará antiguidade e merecimento. Caso contrário, será da última entrância da carreira de juiz de primeiro grau.
IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Para adquirir a vitaliciedade exige-se:
Dois anos de magistratura (art. 95, I);
Frequência a curso de formação de magistrados.
Objetivo dos cursos oficiais ou reconhecidos
são:
Preparação de magistrados;
Aperfeiçoamento de magistrados;
Promoção de magistrados.
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores,
obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
A Emenda à Constituição nº 19 reformou inteiramente a redação deste dispositivo. Pela nova, é estabelecido um teto geral para todos os membros do Judiciário, tanto federal quanto estadual, qual seja o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal federal. A partir desse parâmetro, os membros dos Tribunais Superiores (STJ, STM, TST e TSE) receberão quantia igual a, no máximo, 95% do valor pago a ministro do STF. Os demais membros do Judiciário terão seus subsídios fixados por lei - como, aliás, também os membros do STF e Superiores, escalonados e graduados dentro de uma diferença máxima de 10% e mínima de 5% entre uma e outra categoria. Para fins de avaliação da conformidade com os percentuais estabelecidos neste dispositivo, incluem-se as vantagens pessoais (art. 37, XI) e o pagamento é feito em parcela única, vedados quaisquer acréscimos, a qualquer título, como a verba de representação (art. 39, § 4º).
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
A nova redação dada ao inciso pela Emenda nº 20, da reforma previdenciária, extingue o regime especial de aposentadoria dos magistrados, os quais passam a integrar o regime previdenciário comum dos servidores públicos.
VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
A regra é o juiz residir na respectiva comarca. Mas, excepcionalmente, poderá residir fora dela, se for autorizado. Sem essa autorização, cometerá infração funcional.
VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VIII/A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Tem-se aqui o princípio da motivação das decisões judiciais. A manifestação dessas decisões é manifestação do Estado de Direito. A motivação da sentença pode ser analisada por vários aspectos, desde o exercício de lógica e atividade intelectual do juiz até sua submissão, como ato processual, ao estado de direito, às garantias processuais e às garantias constitucionais, atendendo-se
114 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
às exigências de publicidade, legalidade e imparcialidade das decisões.
X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
Em consequência, as decisões administrativas não disciplinares serão tomadas por quorum de maioria relativa.
XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Órgão especial substitui o tribunal pleno (órgão deliberativo integrado por todos os membros de um tribunal) em tribunais cujas composições sejam numericamente elevadas. A criação desses organismos é uma faculdade dos tribunais por lei local.
XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
O fim do recesso forense torna ininterrupta a tutela jurisdicional. Agora apenas o Poder Legislativo não trabalha ininterruptamente. A interpretação do artigo 93, XII não deixa margens para dúvidas. Trata-se de dispositivo constitucional de eficácia absoluta e imediata, devendo ser cumprido sem delongas ou sofismas inaceitáveis. Fica, portanto, extinto o recesso forense.
XIII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
XV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
QUINTO CONSTITUCIONAL
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes,
escolherá um de seus integrantes para nomeação.
Tem-se, aqui, a regra do quinto constitucional. Duas observações são imediatamente importantes. Primeiro, em relação a não-identificação completa do ramo do Ministério Público envolvido, a qual vai depender do Tribunal onde esteja a vaga a ser ocupada; se for Tribunal Regional Federal, as vagas do Ministério Público no quinto constitucional são do Ministério Público Federal; se for Tribunal de Justiça dos Estados, do Ministério Público do Estado; se for o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segundo, o Poder Executivo de que trata o parágrafo único será o Presidente da Republico, nos casos de Tribunal Regional Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e o Governador do estado, nos casos de Tribunal de Justiça de Estado.
Quinto Constitucional nada mais é do que a renovação da segunda instância do Poder Judiciário, de modo que esta não se torne um Tribunal viciado. A renovação, feita através da entrada de advogados e promotores de justiça, permite a dinamização de novas teses e, consequentemente, maior probabilidade de aprimoramento da justiça.
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias
Para que o Poder Judiciário desempenhe corretamente a função jurisdicional, é necessário que haja garantias para os órgãos de primeira instância desse Poder, que são os magistrados.
Os juízes possuem determinadas garantias que visam dar-lhes a segurança necessária para que exerçam sua atividade de forma justa, sem se preocupar com pressões. São garantias:
I. Vitaliciedade adquirida pelos juízes concursados, após dois anos de atividade. Com essa garantia, só por sentença judicial transitada em julgado será declarada a perda do cargo. Constitui requisito para o vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido pela escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;
II. Inamovibilidade, que significa que o
magistrado não pode ser lotado em outra localidade sem que haja o seu consentimento, salvo se o tribunal assim decidir por voto de dois terços, em razão do interesse público;
III. Irredutibilidade de subsídio (remuneração), que garante a impossibilidade de se diminuir a quantia recebida pelos juízes em virtude do seu trabalho.
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;
O cargo do juiz é permanente e ele só o perderá nas situações delineadas acima.
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
Os magistrados poderiam ser pressionados a não fazer justiça mediante ameaça de redução de seus
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 115
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
salários. Dai a determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos. Por outro lado, de sua remuneração será descontado o imposto de renda tal qual ocorre com um contribuinte normal, sendo-lhes vedada a concessão de qualquer privilégio tributário em razão dos cargos que ocupam.
Os subsídios dos juízes continuam irredutíveis, como regra. Poderão, contudo, sofrer redução para se adequarem ao novo teto geral, ou pela perda de vantagens pessoais que gerem pagamentos superiores ao teto, ou pela perda de gratificações ou quaisquer outras verbas acessórias. Os juízes, a exemplo dos agentes políticos, também serão remunerados com parcela única, e os percentuais e diferenças que deverão ser observados estão no art. 93, V.
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
III - dedicar-se à atividade político-partidária.
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Referidas vedações também se aplicam aos membros do Ministério Público (art. 128, II).
V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Para se garantir a prestação jurisdicional e a imparcialidade do Poder Judiciário não pode o magistrado acumular cargo ou função, salvo uma de magistério, receber custas ou participação no processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, exceto se a lei permitir e, por último, exercera advocacia antes de se passarem três anos contados da aposentadoria ou exoneração, no juízo ou tribunal que judicava.
O novo inciso V, adicionado ao corpo do art. 95,
caput, por meio da EC nº 45/04, estabelece a ―quarentena‖ de 3 (três) anos para que o magistrado possa exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual tenha se afastado por aposentadoria ou exoneração. O propósito da regra é evidente, dispensando maiores.
Entretanto, é importante ressaltar que tal medida não se limitar a preservar a imagem do Judiciário no que tange aos aspectos da moralidade. Raciocinar a partir desta premissa é estabelecer uma presunção de imoralidade que não se coaduna com a ordem jurídica vigente em nosso país.
Antes, a ―quarentena‖ tem o propósito de preservar a imparcialidade do Poder Judiciário, não se deixando influenciar (ativa ou passivamente) pela presença de um seu ex-integrante, agora causídico. Aliás, o exercício da advocacia exige do profissional a parcialidade técnica necessária à defesa da causa que patrocina. O que reforça a necessidade da quarentena.
Observe-se que o texto impõe a ―quarentena‖ para aqueles magistrados que tenham se aposentado ou tenham sido exonerados.
Competências Privativas
Art. 96. Compete privativamente
I - aos tribunais:
O art. 96 da Constituição enumera algumas competências privativas dos órgãos do Judiciário. A maior parte delas são administrativas, mas são citadas, também, competências legislativas e judiciárias.
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
INTERPRETAÇÃO DO STF
Não se tratando da criação de novos cargos públicos, possuem os Tribunais de Justiça estaduais competência para delegar, acumular e desmembrar serviços auxiliares dos juízos, ainda que prestado por particulares, como os desempenhados pelas serventias extrajudiciais. Medida cautelar indeferida, por maioria, pela ausência de conveniência na suspensão dos Provimentos impugnados e de plausibilidade dos fundamentos da inicial." (ADI 2.415-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 20/02/04)
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Esta alínea b, com a nova redação imposta pela Emenda Constitucional nº 19, tirou dos Tribunais Superiores a competência para fixação, pela sua vontade, por projeto de lei de iniciativa própria, dos subsídios dos seus próprios membros. Como a lei que vai fixar os subsídios dos Ministros do STF é projeto de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados do Senado federal, e do STF (art. 48, XV), e como os membros dos Tribunais Superiores receberão
116 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
subsídios na ordem de 95% daquele fixado para os Ministros do STF (art. 93, V) desaparece a possibilidade de inovação na matéria. A lei, agora, vai apenas formalizar o valor, a partir do percentual fixado pelo art. 93, V. Os subsídios dos membros dos tribunais inferiores serão fixados por lei cuja iniciativa compete, ainda, a estes, e, também, nos limites percentuais determinados pelo art. 93, V.
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
Princípio da reserva de plenário
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
Este artigo trata do Princípio da Reserva de Plenário, fundamental no sistema brasileiro de controle
de constitucionalidade, e, por ele, são absolutamente nulas as decisões pela inconstitucional idade de lei proferida por órgãos fracionários, como Turmas, Câmaras ou Seções, dadas na via difusa de controle. Trata-se, como nota Alexandre de Moraes, de verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucional idade, e é obrigatória para todos os tribunais, na via difusa, e para o próprio Supremo Tribunal Federal, tanto na via difusa quanto na concentrada.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contudo, ensina que não é aplicável esse principio em dois casos: a) quando a lei debatida no caso concreto já houver sido declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal; b) quando a lei debatida no caso concreto já houver sido dada por inconstitucional pelo Plenário do Tribunal Superior ou de segundo grau, em processo anterior.
Duas últimas observações também se fazem importantes: primeiro, este princípio não impede a declaração de inconstitucionalidade de lei no caso concreto por juízes monocráticos, sendo aplicável, obviamente, apenas aos juízos colegiados, como tributo à presunção de constitucionalidade da lei. Segundo o quorum de maioria absoluta não é necessário para que o tribunal pleno ou o órgão especial decidam pela constitucional idade da lei.
SÚMULA VINCULANTE 10:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
Juizados Especiais e Justiça de Paz
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
A Constituição Federal de 1988 prevê a existência de juizados especiais cíveis e criminais, competentes para conciliações e para julgar causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Os recursos nos juizados especiais não serão julgados pelo Tribunal de Justiça, mas sim por Turmas Recursais formadas por juízes de primeiro grau. O recurso cabível contra as decisões dessas Turmas é o Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.
A justiça de paz não é uma justiça de caráter jurisdicional (por mais contraditório que isso possa aparecer), cabendo-lhe celebrar casamentos e sua habilitação, bem como atribuições conciliatórias. Será uma atividade remunerada e composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 (quatro) anos.
Além de celebrar casamentos, o Juiz de Paz exercerá atribuições conciliatórias, isto é, buscará auxiliar os litigantes a entrarem previamente em acordo, de sorte a evitar os processos judiciais, que sempre são mais onerosos e desgastantes, tanto para o Estado como para as partes, mas ‗sem caráter jurisdicional, pelo que as soluções assim encontradas não têm a força de uma sentença judicial, podendo sempre ser revistas pelo Judiciário, caso não agradem uma das partes.
§ 1º - Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º - As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços
afetos às atividades específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
Elaborar proposta orçamentária não significa elaborar o orçamento. As propostas serão, no âmbito federal, remetidas ao Presidente da República que as consolidará no projeto de lei orçamentária anual, o qual será posteriormente remetido ao Congresso Nacional.
§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 117
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
com a aprovação dos respectivos tribunais;
II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.
§ 3º - Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º - Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º - Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
A Emenda Constitucional nº 45/04 acrescentou os parágrafos §§ 3º, 4º e 5º ao artigo 99, buscando esclarecer lacunas relativas à autonomia orçamentária do Poder Judiciário. Assim, por exemplo, se os órgãos responsáveis não procederem ao encaminhamento da proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido pela lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estará autorizado constitucionalmente a manter os valores aprovados na lei orçamentária vigente, evitando-se, assim, atrasos na aprovação no orçamento.
O Poder Executivo também está autorizado a proceder os ajustes necessários quando a proposta orçamentária anual encaminhada pelo Judiciário estiver em desacordo com os limites estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias.
E, finalmente, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais.
PRECATÓRIO
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Segundo De Plácido e Silva, precatório é ―a carta expedida pelos juízes da execução de sentenças, em que a Fazenda Pública foi condenada a certo pagamento, ao presidente do Tribunal, a fim de que, por seu intermédio,
se autorizem e se expeçam as necessárias ordens de pagamento às respectivas repartições pagadoras. No precatório devem ser indicadas a quantia a ser paga e a pessoa a quem a mesma se destina. Além disso, deve ser acompanhado de várias peças do processo, inclusive cópia autêntica da sentença e do acórdão que a tenha confirmado, e da certidão da conta de liquidação.‖
Todo indivíduo que ganha uma ação contra a Fazenda Pública deverá receber seu dinheiro não imediatamente, mas através de precatório. Só excepciona a Constituição Federal em relação aos créditos de alimentos, que são fundamentais para a sobrevivência da família.
A exceção de que fala a primeira parte deste artigo não significa que os créditos de natureza alimentícia não se submetem ao sistema de precatório, mas, apenas, segundo de decisão do Supremo Tribunal Federal, que tais créditos estão livres da obrigação em ordem cronológica de apresentação dos precatórios, tendo preferência de pagamento.
INTERPRETAÇÃO DO STF
SÚMULA 655: ―A exceção prevista no art. 100,
caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza‖.
Ver EC 99, de14.12.2017.
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Terão preferência no pagamento os precatórios relacionados aos débitos mencionados, os quais serão pagos antes dos não-alimentícios, como os relativos a pagamento de obras, serviços e materiais.
Os débitos de idosos ou de portadores de doenças graves, como consta no § 2°, a seguir, terá preferência sobre os precatórios alimentícios.
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 62, de 2009).
Obrigações de ―pequeno valor‖, como definidas em
118 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
lei, terão pagamento imediato, no momento do trânsito em julgado da condenação judicial, sem expedição de precatórios.
§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009).
Leis poderão fixar valores diferenciados para definir ―obrigação de pequeno valor‖, nos âmbitos federal, de cada Estado, no Distrito Federal e em cada Município, tomando como consideração a capacidade econômica de cada uma dessas entidades.
§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
O Estado, como qualquer ente jurídico, tem suas dívidas. Quando o Estado deve a alguém, essa pessoa não pode ir aos cofres públicos retirar o valor, pois isso representaria uma dificuldade de gerenciamento da máquina estatal. Por conta disso, o governo tem o chamado sistema de precatórios, uma lista cronológica de pagamentos. Teoricamente, o governo teria um prazo para esses pagamentos que se não fossem cumpridos possibilitariam até uma Intervenção Federal nos Estados-membros. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível decretar a Intervenção quando o Estado deixa de pagar por não ter receita para tanto, o que significa, no dizer do Ministro Marco Aurélio, um ―devo não nego, pago quando puder‖.
Os precatórios alimentares terão prioridade, ou seja, poderão furar a fila (exemplos: débitos de aposentadorias, pensões, proventos...).
Será devida a atualização monetária dos valores até o momento da quitação da dívida. O Presidente do Tribunal é quem determina o pagamento de acordo com o dinheiro reservado para tanto. Se houver preterimento na fila de pagamento, poderá ser determinado o sequestro da quantia. As obrigações de pequeno valor não estão sujeitas à pagamento via precatório, sendo vedada a divisão de um débito em vários outros menores para se enquadrar na classificação de pequeno valor, no melhor estilo ―jeitinho brasileiro ―.
O Supremo Tribunal Federal, em voto do Ministro Marco Aurélio, decidiu que a correção deverá ser feita na data o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, notadamente em épocas atormentadas por altos índices de inflação.
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu
débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Verbas orçamentárias relativas a precatórios serão consignadas, no Orçamento, ao Poder Judiciário.
Hipóteses constitucionais de sequestro de quantia nas contas da entidade federativa devedora: Preterimento do direito de precedência; não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Crime de responsabilidade do presidente do Tribunal responsável pelo pagamento do precatório:
Retardar o pagamento, por ato omissivo ou comissivo;
Tentar frustar a liquidação regular do precatório, por ato omissivo ou comissivo.
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
Do valor constante do título do precatório da Fazenda devedora poderá abater débitos tributários líquidos e certos contra o credor do precatório, realizando o pagamento pelo saldo apurado após a compensação.
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009).
A prescrição deste parágrafo tem como objetivo apurar débitos do credor dos precatórios, de forma a realizar a compensação autorizada pelo parágrafo anterior.
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
O valor de precatórios não recebidos poderá ser utilizado, conforme regulamento pela entidade federativa devedora, para a aquisição de imóveis públicos.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 119
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 62, de 2009).
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
62, de 2009).
O dispositivo permite a negociação, pelo credor, dos títulos de precatórios ou de parcelas do valor deste. O adquirente não poderá habilitar o título nas hipóteses de preferência indicadas nos parágrafos citados (débitos alimentícios, idosos e doentes graves).
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 62, de 2009).
A previsão deste parágrafo visa a permitir ao tribunal pagador e à entidade federativa devedora o controle sobre as mudanças de titularidade dos precatórios negociados.
§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009)
Seção II
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, poderá, exercendo seu poder de iniciativa, propor o Estatuto da Magistratura (LOMAN - Lei Orgânica da Magistratura), prevendo especialmente que:
• Os juízes serão escolhidos por concurso público, do qual participará a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que a nomeação seguirá a ordem de classificação dos candidatos;
• O ingresso na carreira de juiz requer do candidato um tempo mínimo de 03 (três) anos de atividade jurídica;
• A promoção dos juízes (de entrância para entrância) nas carreiras judiciárias será determinada por critérios de Antiguidade e merecimento. O merecimento pressupõe dois anos de exercício na entrância e estar na primeira quinta parte da lista de Antiguidade, salvo se não houver ninguém com essas qualidades. O juiz que apareça três vezes consecutivas ou cinco alternadas na lista de merecimento é obrigatoriamente promovido. Somente por dois terços de votos fundamentados, os membros de um tribunal podem impedir a promoção do juiz mais antigo, desde que assegurada a ampla defesa. A análise do merecimento envolve o desempenho e produtividade do magistrado, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento;
• Não pode ser promovido o juiz que, sem justificativa, deixar de cumprir os prazos de devolução dos processos com os devidos despachos;
• A promoção para os Tribunais de Justiça será também com base na Antiguidade e no merecimento apurados dentre os magistrados que ocupem a última ou única entrância (entrância é semelhante às referências que um servidor público alcança ao longo de sua carreira, com a diferença de dependerem da existência de vaga);
• Serão previstos cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção dos magistrados.
• O subsídio (remuneração) dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio dos Ministros do Supremo (esse subsídio soro determinado por lei conjunta dos três poderes, constituindo o teto salarial do funcionalismo público). O subsídio dos demais magistrados será fixado de forma escalonada, de acordo com as promoções alcançadas, com diferenças de cinco a dez por cento, desde que não exceda a noventa e cinco por cento do subsídio dos Ministros de Tribunais Superiores;
• A aposentadoria dos juízes seguirá as regras gerais da aposentadoria dos servidores públicos federais. Com a reforma da previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 foram implementadas uma série de modificações nas regras da aposentadoria, as quais, porém, não se aplicarão aos juízes, aos membros do ministério público e do tribunal de contas, por força do seu art. 2º;
• O juiz titular deverá residir na comarca em que atua, salvo se houver autorização do Tribunal,
• O magistrado somente pode ser removido, posto em disponibilidade ou aposentado compulsoriamente por decisão da maioria absoluta dos membros do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. As demais decisões administrativas disciplinares também devem ser tomadas por maioria absoluta de votos,
120 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
• A remoção a pedido ou a permuta (troca) de magistrados de uma comarca para outra deve atender; no que possível, os requisitos para promoção,
• Todos os julgamentos serão públicos e fundamentados. A publicidade pode ser limitada nos casos previstos em lei, nos quais a preservação da intimidade daqueles que estejam envolvidos no caso não seja prejudicial ao interesse público à informação. Trata-se, nesse caso, de uma opção feita pelo Constituinte em privilegiar, no caso de conflito, o direito fundamental à informação, em detrimento ao direito à intimidade. As decisões administrativas também de vem ser fundamentadas e tomadas em sessão pública, sob pena de nulidade;
• Nos tribunais com mais de 25 membros pode ser criado um órgão especial composto com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, com as atribuições administrativas e jurisdicionais que delegadas do plenário do tribunal. Na formação desse órgão, metade das vagas serão preenchidas seguindo-se o critério de Antiguidade e a outra metade será eleita livremente pelo plenário do Tribunal.
• Dada a sua importância, a atividade jurisdicional não pode ser interrompida, sendo inclusive proibidas, salvo nos Tribunais Superiores, férias coletivas. Nos dias em que não houver expediente forense, deve haver sempre um juiz de plantão, para resolver questões urgentes, como comunicações de prisões, hábeas corpus ou cautelares.
• O número de juizes nas unidades jurisdicionais ser proporcional ao número de demandas, processos ali existentes, bem como à população do local.
• Os atos processuais de administração ou de mero expediente, ou seja, aqueles que não possuem conteúdo decisório, serão delegados aos servidores do Tribunal ou do juízo. Tal previsão já possuía paralelo na legislação infraconstitucional e foi erigido ao status constitucional pela EC nº 45/2004.
• A distribuição dos processos, ato pelo qual se repartem os feitos entre os juízes que atuam em cada foro, é imediata em todos os graus de jurisdição.
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
Todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser brasileiros natos, segundo o art. 12, § 3º. Não há, na Constituição, nenhuma exigência de que seja formado em Direito.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe
Rol de Competências do STF:
Antes de estudarmos cada uma das competências do STF, é importante que saibamos que segundo o STF (Pet 3087 AgR/DF) a competência originária do STF submete-se a regime de direito restrito, consistindo em
um complexo de competências dispostos em relação "numerus clausus" - ou sejam, um rol taxativo, fechado, que não pode ser ampliado a não ser que se faça uma emenda à Constituição.
O STF, a maior cúpula judiciária do país, tem como função primordial ser o guardião da Constituição.
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993)
Lei nº 9.868, de 10.11.1999, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Na opinião do Ministro Carlos Velloso, essa é a competência maior do Supremo Tribunal Federal, que o coloca definitivamente como Corte Constitucional, por exercitar o controle concentrado de constitucional idade de leis em face da Constituição Federal da maneira exclusiva. Essa atribuição coloca o STF em pé de igualdade com o Tribunal Constitucional alemão, com o Tribunal Constitucional espanhol, com a Corte Constitucional italiana e com o Tribunal Constitucional português, segundo informa aquele Ministro.
INTERPRETAÇÃO DO STF
"Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal." (SÚM. 360)
"Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal." (SÚM. 642)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
Nesta e na próxima alínea, o STF exerce contencioso penal.
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 23, de 1999)
COMENTÁRIOS
A competência para julgamento dos Ministros de Estado, percebe-se, não se exerce no caso do cometimento de crime de responsabilidade praticado em conexão com o Presidente da República, hipótese em que ambos, Ministro e Presidente, serão julgados pelo Senado Federal.
d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 121
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
Nesta alínea, e na próxima, tem-se o denominado contencioso entre órgãos constitucionais.
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
Carta rogatória é pedido, formulado por órgão do Poder Judiciário de outro país, para que determinada providencia judicial seja realizada no Brasil. O exequatur, ou ordem de execução, é competência do STF, mas não é esta Corte que vai realizar a providencia, pois isto é atribuição de juiz federal de primeiro grau, segundo o art. 109, X. Assim, o STF ordena e autoriza o cumprimento do pedido estrangeiro no Brasil, e o juiz federal competente vai determinar a realização da diligencia ou providencia.
i) o “habeas corpus”, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 22, de 1999)
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
Revisão criminal e ação rescisória são figuras processuais que permitem a reapreciação de matéria já decidida em processo ou civil, respectivamente, já transitado em julgado.
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Como bem se lê, a reclamação é medida adequada a garantir do STF e a autoridade das decisões por ele tomadas, pressupõe a existência de outro processo, onde haja sido tomada decisão que afronte essa competência ou autoridade, e pode ser impetrada pelo Procurador Geral da República ou pela parte interessada, quando então a medida exorbitante será cassada ou determinará media adequada à preservação de sua competência. A reclamação está regulamentada na Lei nº 8.038/90 e no Regimento Interno do STF.
INTERPRETAÇÃO DO STF
"Descabe formalizar a reclamação quando se almeja a observância de acórdão proferido por força de idêntica medida." (Rcl 2.398, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 24/02/06).
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
A jurisprudência do STF mostra que essa competência somente será exercida quando
absolutamente necessária. Assim, não cabe quando a medida for do interesse de todos os servidores públicos, e não apenas dos servidores do Judiciário, por exemplo.
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
As três situações podem ser resumidas a uma única regra: sempre que houver Tribunal Superior (STJ, STM, TST ou TSE) envolvido em conflito de competência, é do STF o poder para solucioná-lo.
ATENÇÃO!!
O conflito positivo de competência entre o Tribunal
Regional Federal da 2.ª Região e o TRT com sede no Rio de
Janeiro deverá ser decidido pelo STJ.
(Anal.Jud.Exec.Mand.TRT 1ª R/2008)
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Vide art. 130/A.
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
INTERPRETAÇÃO DO STF
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." (SÚM. 691)
b) O crime político;
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
Segundo reiterada jurisprudência do STF, só é admitido e julgado o recurso extraordinário se a afronta à Constituição for direta e frontal e se houver o pré-questionamento, isto é, se o recorrente alegou e viu discutida a tese constitucional nas instancias anteriores.
INTERPRETAÇÃO DO STF
São incabíveis embargos de divergência de decisão de turma, em agravo regimental. STF Súmula nº 599
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local
122 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 1º - A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado em § 1º pela Emenda
Constitucional nº 3, de 17/03/93)
Lei nº 9.882, de 03.12.1999, dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Dispositivo que traz para o Direito brasileiro a figura do recurso constitucional, do Direito alemão, mas que, no Brasil, ainda não foi regulamentada, sendo, inclusive, difícil a colocação desse instrumento processual dentro do complexo sistema brasileiro de controle de constitucional idade.
§ 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Vide art. 103/A.
Vide art. 8º da EC nº 45/2004.
O tão discutido e controverso efeito vinculante foi, finalmente, absorvido pelo ordenamento jurídico pátrio. Talvez nenhum tema tenha sido tão debatido no âmbito da reforma do Poder Judiciário quanto o denominado efeito vinculante.
Entretanto, a discussão em torno do tema deu-se por conta do disposto no novo art. 103-A da CF/88 e do art. 8º da EC nº 45/04, e não em razão da sua efetiva adoção no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Em outras palavras, o fato da redação do § 2º, do art 102 passar a admitir o efeito vinculante nas ADINs não constituiu o foco dos acalorados debates.
Em relação ao efeito vinculante afirmou-se que a sua maior chaga seria a limitação ao juízo de convencimento dos magistrados de instâncias inferiores ante os casos concretos que lhes são propostos, violando assim o princípio do livre convencimento do juiz. Por outro lado, sua maior virtude seria a uniformização e homogeneidade da prestação jurisdicional, favorecendo a imagem de um Judiciário coeso, uno e harmônico. A despeito do crivo criado pelos elevados debates, saiu vitoriosa a proposta de Emenda que assimilou esse instituto jurídico processual.
O efeito vinculante representa um dispositivo utilizado pela ordem jurídica para dar harmonia à aplicação do direito. Eis que não se limita aos órgãos da estrutura do Poder Judiciário (exceto o Supremo), alcançando também a administração pública (direta e indireta).
§ 3º - No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
A EC 45/04 acrescentou o §3º a esse artigo,
passando a exigir que o recorrente demonstre no recurso extraordinário a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
Esse novo requisito da demonstração da repercussão geral dos recursos extraordinários visa selecionar os recursos que realmente tenham uma importância para toda a sociedade e, não apenas, ao caso individual.
Não podemos nos esquecer que o STF é um órgão composto por um número limitado de Ministros e que tem jurisdição nacional, ou seja, tem competência para receber recursos de todas as partes do Brasil.
Sendo assim, o número de decisões a serem tomadas pelos Ministros é enorme, de forma, que eles têm que otimizar as causas a serem analisadas. Por isso, a demonstração da repercussão geral da questão constitucional é vista com bons olhos pelo STF.
Outro requisito a ser preenchido pelo impetrante é o do prequestionamento da matéria constitucional. Por esse requisito, o recorrente deve arguir a controvérsia constitucional em todas as instâncias, de forma que a matéria já tenha sido discutida pelos demais órgãos jurisdicionais antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal.
O requisito da repercussão geral precisava ser regulamentado por lei para que pudesse ser exigido. Assim, foi editada a Lei 11.418/06, que trouxe as regras processuais acerca do assunto.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E A AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Com a Emenda Constitucional nº 45/04, corrigiu-se uma falha do legislador constituinte. Antes, apenas mencionava-se como legitimada a Mesa de Assembleia Legislativa, esquecendo-se da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ora incluída. No entanto, na prática, já o era admitida como tal.
A partir de decisões do STF, vê-se que está legitimada, também, a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Novamente, através da Emenda Constitucional nº 45/04, corrigiu-se uma falha do legislador constituinte. Antes, apenas constava como legitimado o Governador de Estado, esquecendo-se do Governador do Distrito Federal, ora incluído. No entanto, na prática, já o era admitido como tal.
O STF, julgando questão de ordem em ação direta
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 123
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
de inconstitucionalidade, decidiu que o Governador do Distrito Federal também tem legitimação ativa para a propositura da ADIN. Mas, decidiu, em outro processo, que o governador de Estado não precisa estar representado por advogado e não pode estar representado pelo Procurador-Geral do Estado, tendo legitimação ativa e capacidade postulatória decorrentes da própria Constituição.
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
A ADIN (Ação direta de inconstitucionalidade)
só pode ser proposta pelo Diretório Nacional de partido com representantes eleitos e no exercício do mandato na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não tem legitimação ativa para essa ação os diretórios estaduais.
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
Confederação, para STF, precisa ser pura para poder propor ADIN, isto é, integrada exclusivamente por federações ―Âmbito Nacional‖, segundo a doutrina, é demonstrado pela organização e funcionamento em pelo menos nove Estado, conceito que é tomado da lei de organização dos partidos políticos. ―Classe‖, segundo o STF, é categoria econômica, e o STF exige, ainda, que os associados estejam ligados entre si pelo exercício da mesma atividade econômica ou profissional.
NOTA!
Inicialmente, o Tribunal considerou a ADEPOL como parte legítima (Adis 146, 1.037, 1.138, 1.159, 1.336, 1.386, 1.414 e 1.488). Mais tarde, declarou a ilegitimidade ativa da Associação (Adi 23). Por fim, desde a Adi 1.869-MC, voltou a declarar a sua ilegitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, em razão das alterações introduzidas pela EC 19/98.
§ 1º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
Mesmo na ADINs em que seja autor, o Procurador-Geral da República se manifestará no processo, sobre as informações trazidas aos autos pelas autoridades neles chamadas a intervir.
§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
Vê-se claramente, a diferença de efeitos para os atos políticos (como legislar ou regulamentar lei), em que a decisão do STF vai se limitar a cientificar o Poder omisso (Executivo ou Legislativo), da omissão inconstitucional, e os atos administrativos, em que vai ser expedida ordem de normatizar em trinta dias.
§ 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o
Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
Certamente o mais impróprio de todos os artigos da Constituição. O Advogado-Geral da União é lançado a uma tarefa absolutamente dissociada de sua função institucional, constante no art. 131. Como está posta hoje,
e de acordo com a jurisprudência do STF, o AGU é obrigado a defender a lei atacada em ADIN, mesmo que seja uma lei estadual ou distrital, mesmo que o autor seja o Presidente da República, autoridade que o nomeou em comissão para essa função.
SÚMULA VINCULANTE
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
O dispositivo traz à baila a súmula vinculante, matéria que certamente será bastante questionada em concursos públicos. A súmula aprovada pelo Supremo Tribunal Federal vinculará todos os magistrados do Poder Judiciário, bem como a Administração pública Direta e Indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), em todas as esferas (federal, estadual e municipal, esquecendo-se de mencionar a distrital, mas que, por óbvio, deverá ser abarcada). Polêmicas à parte sobre o acerto de se introduzir a súmula vinculante em nosso ordenamento jurídico, o importante é que a súmula aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma como consta deste artigo, terá de ser obedecida, não podendo haver decisão (administrativa ou judicial) em contrário, nem sua aplicação de forma indevida (caso isto ocorra, de se reportar ao §3º deste artigo). Desta forma, fortalece-se, sobremaneira, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro (STF).
ATENÇÃO!!
A súmula vinculante é de observância obrigatória quanto aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Direta e Indireta, mas não vincula o STF e nem o legislativo em sua função típica (legislar). Porém, vincula o legislativo em suas funções atípicas, exemplo disso é a súmula vinculante n. 13 do STF (nepotismo) – tendo em conta que ela se aplica aos três
poderes, inclusive ao legislativo.
Objetivo do enunciado da súmula vinculante
§ 1º - A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
O parágrafo norteia os fins a serem perseguidos pelas súmulas do STF, devendo ser levado em consideração questões controversas atuais geradoras de insegurança jurídica grave e multiplicidade de processo no tocante a um mesmo tema.
124 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Legitimação ativa
§ 2º - Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.
Os legitimados para proporem a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula do Supremo Tribunal Federal (sem prejuízo do que lei vier a dispor) são os mesmos que podem ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade (art. 103), a saber: Presidente da
República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou do Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
§ 3º - Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Se a súmula for desobedecida ou aplicada de modo indevido, mediante reclamação ao Supremo Tribunal Federal ocorrerá, caso haja procedência, uma das seguintes hipóteses (sendo interessante observar o termo jurídico correto para cada situação): ato administrativo (caso de anulação) / decisão judicial (caso de cassação). Após, incidirá mandamento para se proferir outro ato ou decisão, aplicando-se ou não a súmula, dependendo do caso concreto.
ATENÇÃO!!
As Súmulas de Jurisprudências do STF não passaram a ter efeito vinculante automático com o ingresso do art. 103-A no texto Constitucional. Contudo,
podem vir a ter, desde que aprovado por dois terço dos
Ministros do STF.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
O CNJ tem a natureza jurídica de um órgão administrativo integrante da estrutura do Poder Judiciário. Ele é um órgão que, embora pertença ao Judiciário, não possui funções jurisdicionais (poder de fazer jurisdição, julgar causas...), competindo-lhe, basicamente, controlar a atuação administrativa, financeira e funcional de tal Poder.
Podemos dizer que o CNJ seria órgão de controle externo do Poder Judiciário, pois é um órgão administrativo do Poder Judiciário, que não exerce funções jurisdicionais, mas é responsável por controlar a atividade administrativa e os deveres funcionais dos juízes.
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
O artigo trata de uma das matérias mais importantes introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/04 e que fatalmente será abordada em concursos públicos: o controle externo do Poder Judiciário. Para tal intento, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário (v. artigo 92, inciso I-A, da Carta Magna vigente), compondo-se de
quinze membros, consoante os incisos abaixo, sendo presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal § 1º), tendo como corregedor o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (§ 5º), e fixação de atribuições
anotadas no § 4º Vale consignar que o mandato é de dois anos, permitindo-se apenas uma recondução („caput‟).
Trata-se do órgão de fiscalização e controle das atividades da magistratura responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, também.
O CNJ tem como função primordial o planejamento e a padronização das atividades do Poder Judiciário. Sua atuação terá caráter dúplice, ora funcionando preventivamente como, por exemplo, quando zelar pela autonomia do Poder Judiciário; ora repressivamente quando, por exemplo, conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.
Quer nos parecer desnecessária a criação, em nível estadual, de qualquer órgão de controle externo do Poder Judiciário. Até porque a interpretação do artigo 103 – B, § 7º da CF, parece deixar clara a competência da União para, inclusive (e não só), criar ouvidorias de justiça no Distrito Federal e nos Territórios Federais (se um dia forem criados). Portanto, parece improvável a aplicação do Princípio da Simetria Constitucional na espécie. Outro argumento que favorece essa tese é o fato de que integram o CNJ um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz estadual, ambos indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal;
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
X - um membro do Ministério Público da União,
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 125
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
indicado pelo Procurador-Geral da República;
XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
§ 1º - O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal.
§ 2º - Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
§ 3º - Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.
§ 4º - Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
VII - elaborar relatório anual, propondo as
providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.
É importante ressaltar que o rol de atribuições aqui previsto não é taxativo (não se exaure em si mesmo). O § 4º assim registra: ―cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura‖ (também incidindo, desta forma, atribuições advindas de legislação infraconstitucional).
§ 5º - O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:
I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;
III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
§ 6º - Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 7º - A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.
Seção III
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.
No que respeita ao STJ a previsão constitucional
está estabelecida neste art. 104, devendo, no entanto serem observadas certas regras de composição nele previstas (o chamado 1/3 constitucional).
Assim, deve ser respeitada a proporção de composição, sendo 1/3 de juízes dos TRF‘s (Tribunais Regionais Federais); 1/3 de desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais; e 1/3 dividido igualmente entre advogados e membros dos Ministérios Públicos Federal, Estaduais e Distrital (1/6 para advogados e 1/6 para membros dos MP‘s)
No caso dos Juízes dos TRF‘s e TJ‘s, será elaborada lista tríplice pelo próprio STJ, livremente, que será enviada ao Presidente para nomeação. Já no caso dos advogados e membros dos MP‘s, serão preparadas listas sêxtuplas por cada instituição, que as encaminhará ao STJ, que por sua vez elaborará lista tríplice para enviar ao Presidente da República.
126 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
A modificação produzida pela EC nº 45/04 altera o quorum de aprovação no Senado Federal para o nome indicado ao preenchimento de vaga existente no Superior Tribunal de Justiça.
Pela redação original, o nome indicado para compor o STJ seria aprovado pelo SF por maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes à sessão de votação.
O antigo quorum decorria da regra contida no art. 47 da CF/88, dispositivo que estabelece a maioria simples, salvo disposição constitucional em contrário, para aprovação de matérias submetidas à apreciação e votação das Casas do Congresso Nacional.
Assim, se determinado dispositivo da Constituição estabelece que certa matéria seja submetida à aprovação por qualquer das Casas do Congresso Nacional, caso o mesmo dispositivo constitucional não mencione a maioria a ser observada no processo de votação, adota-se como padrão a maioria simples. Era o caso, por exemplo, deste parágrafo único do art. 104, que nada mencionava a respeito do quorum de aprovação dos nomes indicados para o STJ. Agora, com a modificação produzida pela Emenda nº 45/04, que determina a maioria absoluta, afasta-se a regra do 47 (maioria simples), já que passou a existir disposição expressa no corpo do parágrafo único, do art. 104, da Lei Maior.
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 23, de 1999)
INTERPRETAÇÃO DO STF
Súmula nº 41, do STJ: ―O STJ não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos‖.
Súmula nº 177, do STJ: ―O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado‖.
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
Em termo da habeas corpus, o STJ tem a seguinte competência:
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;
SUMÚLAS: Súmula nº 22 do STJ
―Não há conflito de competência entre o Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada do mesmo Estado-membro‖.
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias; (Incluída
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
A homologação de sentença estrangeira visa
dar executo-riedade interna a sentenças proferidas em outro país. Deve sempre ser requerida pela parte interessada.
ATENÇÃO!!
São os juizes federais que executam essas cartas e sen-
tença.
II - julgar, em recurso ordinário:
Os juizes federais são a primeira instância julgadora desse conflito. Exercem sobre ele o primeiro grau de jurisidição.
a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;
c) as causas em que forem partes Estado
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 127
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
INTERPRETAÇÃO DO STF
Súmula nº 123 do STJ:
―A decisão que admite, ou não, o recurso especial, dever ser fundamentada, com exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais‖.
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Seção IV
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS
Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:
I - os Tribunais Regionais Federais;
II - os Juízes Federais.
A Justiça Federal julga, dentre outras, as causas em que forem parte a União, autarquia ou empresa pública federal. Dentre outros assuntos de sua competência, os TRFs decidem em grau de recurso as causas apreciadas em primeira instância pelos Juízes Federais.
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:
Os Tribunais Regionais Federais (TRF) são
órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Representam a segunda instância da Justiça Federal, sendo responsáveis pelo processo e julgamentos dos recursos contra as decisões da primeira instância.
A competência dos Tribunais Regionais Federais
está definida no artigo 108 da Constituição Federal brasileira.
Os Tribunais Regionais Federais têm composição variável, com o número de juízes definido em lei, sendo um quinto escolhido entre os advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira. Os demais são escolhidos mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira;
A regra do ―quinto constitucional‖ só se aplica aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça e determina que 1/5 (um quinto) das vagas nesses tribunais serão ocupadas por membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados com notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de frua atividade.
O procedimento de escolha é o seguinte:
• Os órgãos de representação indicam listas sêxtuplas (com seis nomes);
• O tribunal reduz essa lista para uma lista tríplice (com três nomes) e remete ao Poder Executivo;
• O Chefe do Poder Executivo tem vinte dias, após a remessa, para escolher um integrante da lista tríplice para ser nomeado.
No caso do Distrito Federal, como seu poder judiciário é organizado e mantido pela União, a escolha é feita pelo Presidente da República, não pelo Governador.
Os membros dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são chamados ―desembargadores‖. Os membros dos Tribunais Regionais Federais são denominados ―juízes―. Apesar de os membros dos TRF‗s utilizarem a nomenclatura ―desembargadores federais‖, é aconselhável preferir o termo ―juízes‖, o utilizado pelo texto constitucional.
II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.
§ 1º - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. (Renumerado pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º - Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 3º - Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
128 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;
Vide alínea e, inciso 1º, do art. 105.
c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
Lei nº 1.533/51 (Mandato de Segurança).
Lei nº 9.507/97 (Hábeas Data).
d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;
e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.
Somente quando não existirem juízes federais atuando na região.
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
Juiz federal é o juiz que processa e julga os feitos que tramitam na Justiça Federal.
Os juízes federais são agentes políticos que têm como competência, as atribuições elencadas nesta art. 109.
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
NOTA!!
Até o julgamento do CC 7.204, o entendimento do Tribunal era no sentido de ser da justiça comum estadual a competência para o julgamento da ação de reparação de danos por acidente do trabalho. Após a referida decisão, a competência passou a ser da Justiça do Trabalho. Vide art. 114, VI.
RELAÇOES INTERNACIONAIS
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
Nestas causas, o STF é a 2ª instância julgadora, exercendo sobre os conflitos, o 2º grau de jurisdição.
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
Pela importância do crime, a 2ª instância julgadora desse conflito é o STF.
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Este inciso consigna que é da competência da Justiça Federal, “as causas relativas a direitos humanos”, observando-se o aventado no parágrafo 5º
deste mesmo artigo. Importante seu conteúdo, haja vista a relevância que a Emenda Constitucional nº 45/04 deu ao tema direitos humanos (v., por ex.: artigo 5º, § 3).
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;
VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.
§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.
§ 5º - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República,
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 129
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
Neste caso, o governo brasileiro consolida a preocupação na prestação jurisdicional inerente aos direitos humanos, reafirmando a obrigatoriedade dos tratados internacionais.
Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.
Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.
Seção V (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E DOS
JUÍZES DO TRABALHO
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:
De acordo com o artigo 111 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho está estruturada em três graus de jurisdição:
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Varas do Trabalho (designação dada pela
Emenda Constitucional nº 24/99 às antigas Juntas de Conciliação e Julgamento)
Julgam apenas dissídios individuais, que são controvérsias surgidas nas relações de trabalho entre o empregador (pessoa física ou jurídica) e o empregado (este sempre como indivíduo, pessoa física). Esse conflito chega à Vara na forma de reclamação trabalhista. A jurisdição da Vara é local, abrangendo geralmente um ou alguns municípios. Sua competência é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. A Vara compõe-se de um juiz do trabalho titular e um juiz do trabalho substituto. Em comarcas onde não exista Vara do Trabalho, a lei pode atribuir a jurisdição trabalhista ao juiz de direito.
SEGUNDA INSTÂNCIA:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRTs)
Julgam recursos ordinários contra decisões de Varas do Trabalho, ações originárias (dissídios coletivos de categorias de sua área de jurisdição - sindicatos patronais ou de trabalhadores organizados em nível regional), ações rescisórias de decisões suas ou das Varas e os mandados de segurança contra atos de seus juízes.
INSTANCIA EXTRAORDINARIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST)
Julga recursos de revista, recursos ordinários e agravos de instrumento contra decisões de TRTs e dissídios coletivos de categorias organizadas em nível
nacional, além de mandados de segurança, embargos opostos a suas decisões e ações rescisórias.
I - o Tribunal Superior do Trabalho;
II - os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - Juízes do Trabalho. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 24, de 1999)
A Emenda Constitucional nº 24/99 alterou a redação deste inciso para trocar a expressão ―Juntas de Conciliação e Julgamento‖ por ―Juízes do Trabalho‖. A Justiça do Trabalho de primeira instância passa a ser um juizado monocrático, isto é, com a atuação de um único julgador. Essa alteração emerge da eliminação da figura dos juízes classistas, principal objetivo da Emenda Constitucional nº 24.
Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho
compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da
República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 92, de 2016)
O Tribunal Superior do Trabalho, é composto de vinte e sete ministros escolhidos dentre brasileiros (antes
da EC 45, essa composição era de 17) - natos ou naturalizados com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal (§ 1º do Art. 111 da CF).
Desse número, dezessete são togados e vitalícios, dos quais onze escolhidos dentre juízes de carreira da magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do Ministério Público do Trabalho. O número restante é distribuído entre os dez Ministros Classistas com representação partidária, sendo cinco dos trabalhadores e cinco dos empregadores. (inciso I e II, do mesmo parágrafo).
Com a EC 92/2016, a Constituição da República
passou a prever, ainda, que para a nomeação de
ministros do TST deve haver notável saber jurídico e
reputação ilibada, o que, entretanto, já se podia entender
subtendido, tendo em vista a notória relevância do cargo e
a evidente responsabilidade de quem o exerce, tal como
ocorre quanto aos ministros do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça (artigos 101 e 104).
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.
§ 1º - A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.
Com a eliminação da figura dos Ministros Classistas, operada pela Emenda Constitucional nº 24/99, desapareceram dez vagas no Tribunal Superior do Trabalho, que passa a ser composto, assim, exclusivamente por Ministros togados e vitalícios. O processo de escolha foi mantido.
130 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 2º - Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.
§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)
Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)
A Emenda Constitucional nº 24 eliminou a previsão de paridade entre as representações classistas, decorrência da eliminação das próprias representações.
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Até antes da reforma, era a Justiça Federal quem detinha competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por autoridade fiscalizadora das relações de trabalho.
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VII - as ações relativas às penalidades
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
§ 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º - Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Essa competência para execução deverá agilizar a cobrança e recuperação dos valores devidos à Previdência Social quando matéria discutida principal ou subsidiariamente nos processos sob competência da Justiça do Trabalho.
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.
§ 1º - Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
§ 2º - Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 131
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 24, de 1999)
As Varas do Trabalho, nova denominação das antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, imposta pela Emenda Constitucional nº 24, passam a ter atuação como juízo monocrático, ocupadas por um único juiz. Desaparecem as figuras dos vogais de empregadas e empregadores.
Art. 117. Revogado
Seção VI
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS
JUSTIÇA ELEITORAL
Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:
I - o Tribunal Superior Eleitoral;
II - os Tribunais Regionais Eleitorais;
III - os Juízes Eleitorais;
IV - as Juntas Eleitorais.
DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ELEITORAL
São órgãos da Justiça Eleitoral, a teor do art. 118 da Constituição Federal, e também art. 12 do Código Eleitoral (CE):
I - o Tribunal Superior Eleitoral (TSE);
Compõe-se de, no mínimo, 7 membros e jurisdição em todo o território nacional.
II - os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs);
Compõe-se de 7 juízes e jurisdição nos Estados e Distrito Federal
III - os Juízes Eleitorais;
Jurisdição nas zonas eleitorais
IV - as Juntas Eleitorais.
Compõe-se de 3 a 5 membros.
A Justiça Eleitoral desempenha, ademais, um papel administrativo, de organização e normatização das eleições no Brasil.
A composição da Justiça Eleitoral é sui generis, pois seus integrantes são escolhidos dentre juízes de outros órgãos judiciais brasileiros (inclusive estaduais) e servem por tempo determinado.
ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL
Determina o Art. 121 da CF que: Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
Observa-se que referida organização e competência estão disciplinadas no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).
Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior
Tribunal de Justiça;
II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
O TSE não tem quadro próprio sendo composto por no mínimo sete membros sendo eles três juízes escolhidos dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dois juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Serão também eleitos substitutos em número igual por categoria. Não poderá haver parentes de candidatos de até quarto grau dentre os juízes escolhidos.
Cada um dos juízes deverá servir por um biênio (dois anos) e no máximo por dois biênios exceto por motivo justificado. No entanto esse tempo pode ser interrompido em determinados casos, tais como quando algum parente até o segundo grau (incluindo por afinidade tal como sogro, cunhado, etc) concorrer em eleições dentro da área de jurisdição do juiz. Nesse caso o afastamento deverá ocorrer desde a data de homologação do nome do candidato pela convenção do partido até a apuração final.
O seu presidente deve ser eleito dentre os três juízes do STF cabendo a vice-presidência a algum dos outros dois. Para corregedor eleitoral deve ser eleito um dos dois juízes do STJ.
Para a escolha dos dois advogados deverá ser formada uma lista de seis nomes indicados pelo STF da qual serão escolhidos três nomes que serão apresentados ao presidente da República para apreciação e nomeação após a publicação e o prazo de impugnação. Desta lista não poderão constar nomes de magistrados aposentados, de membros do Ministério Público, de pessoa que possa ser demitida a qualquer instante dos quadros públicos, que seja diretor, proprietário ou sócio de emrpesa beneficiada com algum tipo de privilégio em virtude de contrato com a administração pública ou que esteja exercendo mandato de caráter político federal, estadual ou municipal.
Importante ressaltar que a CF somente exige requisitos especiais para os dois juízes pertencentes à
advocacia, uma vez que os outros são membros do STF e do STJ, que são eleitos por votação secreta, nos próprios Tribunais de origem. Obrigato-riamente, o Presidente e o Vice-Presidente do TSE serão Minis-tros do STF, eleitos pelos sete juízes eleitorais e o Corregedor Eleitoral será Ministro do STJ, igualmente eleito (art. 119, parágrafo único).
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.
§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;
132 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;
III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.
Os TREs decidem em grau de recurso as causas apreciadas em primeira instância pelos Juízes Eleitorais. O TSE, dentre outras atribuições, zela pela uniformidade das decisões da Justiça Eleitoral.
A Justiça Eleitoral desempenha, ademais, um papel administrativo, de organização e normatização das eleições no Brasil.
A composição da Justiça Eleitoral é sui generis, pois seus integrantes são escolhidos dentre juízes de outros órgãos judiciais brasileiros (inclusive estaduais) e servem por tempo determinado.
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.
§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.
§ 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de "habeas-corpus" ou mandado de segurança.
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
V - denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou mandado de injunção.
Seção VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
A Justiça Militar compõe-se do Superior Tribunal Militar (STM) e dos Tribunais e Juízes Militares, com competência para julgar os crimes militares definidos em lei.
No Brasil, a Constituição Federal organizou a Justiça Militar tanto nos Estados como na União. A Justiça Militar Estadual existe nos 26 Estados-membros da Federação e no Distrito Federal, sendo constituída em
primeira instância pelo Juiz de Direito e pelos Conselhos de Justiça, Especial e Permanente, presididos pelo Juiz de Direito. Em Segunda Instância, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul pelos Tribunais de Justiça Militar e nos demais Estados pelos Tribunais de Justiça.
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.
Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo:
I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;
II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Seção VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
A Constituição Federal determina que os estados organizem a sua Justiça Estadual, observando os princípios constitucionais federais. Como regra geral, a Justiça Estadual compõe-se de duas instâncias, o Tribunal de Justiça (TJ) e os Juízes Estaduais. Os Tribunais de Justiça dos estados possuem competências definidas na Constituição Federal, bem como na Lei de Organização Judiciária dos Estado. Basicamente, o TJ tem a competência de, em segundo grau, revisar as decisões dos juízes e, em primeiro grau, determinadas ações em face de determinadas pessoas.
A Constituição Federal determina que os estados instituam a representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais ou municipais frente à Constituição Estadual (art. 125, §2º), geralmente apreciada pelo TJ. É facultado aos estados criar a justiça militar estadual, com competência sobre a polícia militar estadual.
Os integrantes dos TJs são chamados
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 133
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
Desembargadores. Os Juízes Estaduais são os chamados Juízes de Direito.
INTERPRETAÇÃO DO STF
Compete a justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, S.A. (Súmulas 508, STF)
É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. (STF Súmula nº 556).
§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.
§ 3º - A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Qualquer Estado poderá criar os Conselhos de Justiça, mas somente Estados em que o efetivo policial militar seja superior a vinte mil integrantes poderão criar o Tribunal de Justiça Militar.
Antes da Emenda Constitucional nº45/04, a Justiça Militar estadual, em primeiro grau, era constituída apenas pelos Conselhos de Justiça (órgãos colegiados). Com a publicação da emenda constitucional acima citada, a Justiça Militar estadual, em primeiro grau, passou a ser constituída por juízes de direito e Conselhos de Justiça, ambos com competência definida no § 5º deste
artigo.
§ 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
A competência da Justiça Militar estadual foi aumentada, dando-se uma nova redação a este parágrafo através da Emenda Constitucional nº45/04. Porém, deve-se atentar que prevalece a competência do júri-crimes dolosos contra a vida – quando a vítima for civil. A contrário senso, se o crime for doloso contra a vida e a vítima militar, a competência não será do Tribunal do Júri e, sim, da Justiça Militar.
§ 5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
A competência da Justiça Militar estadual foi aumentada, dando-se uma nova redação a este parágrafo através da Emenda Constitucional nº45/04. Porém, deve-se atentar que prevalece a competência do júri-crimes dolosos contra a vida – quando a vítima for civil. A
contrário senso, se o crime for doloso contra a vida e a vítima militar, a competência não será do Tribunal do Júri e, sim, da Justiça Militar.
§ 6º - O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 7º - O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de
equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.
QUESTÕES DE PROVAS PASSADAS
Ver no final deste material.
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
Seção I DO MINISTÉRIO PÚBLICO
São as profissões públicas e privadas que ajudam no funcionamento do Judiciário: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria Pública.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Na constituição de 88 o constituinte tratou de separa o Ministério Público dos outros poderes, criando um capítulo próprio, junto com a Advocacia-Geral da União. Por conta disso, alguns chegam a conceituá-lo como um quarto poder.
Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Com base na Constituição da República foi editada a Lei nº 8.625, de 12.2.1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispondo sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados. A Lei Complementar Federal nº 75, de 20-5-1993, dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União.
134 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Princípio da unidade: Os membros do Ministério
Público (MP) fazer parte de um único órgão, sob a direção
do procurador-geral da República, no âmbito federal, e do
procurador-geral da Justiça, no âmbito estadual.
Princípio da indivisibilidade: Os membros do
Ministério Público atuam em nome da instituição como um
todo, podendo ser substituídos entre si, de acordo com
critérios legais.
Princípio da independência funcional: a atuação dos
membros do Ministério Público deve obediência às normas
constitucionais e legais, sem sofrer ingerências
administrativas.
Segundo Marcelo Galante, a Constituição Federal consagra, além do princípio do juiz natural, em seu artigo 5°, LIII, o princípio do promotor natural. Portanto, as
atribuições para atuação de um promotor de justiça em certo feito deverão ser previamente fixadas e previstas, sendo proibido ao promotor-geral a escolha aleatória de um promotor para atuar em determinado processo, salvo exceções previstas na lei orgânica do MP.
Fonte: Resumo retirado do livro Coleção Estudos Direcionados.
§ 2º - Ao Ministério Público assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no Art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. (Alterado pela
EC-000.019-1998)
§ 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Garantias do MP
Autonomia funcional
Ao cumprir seus deveres funcionais, o membro do MP não se submeterá a nenhum outro ―Poder‖, órgão ou autoridade (art. 127, § 2°);
Autonomia administrativa
Capacidade de direção autogestão, autoadministração (art. 127, § 2°);
Autonomia financeira
Capacidade de elaborar sua proposta orçamentária, podendo, também, administrar os recursos que lhes forem destinados (art. 127, § 3°)
Resumo retirado do livro Coleção Estudos Direcionados.
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. (Acrescentado pela EC-000.045-2004)
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.
Art. 128 - O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
Princípios
Institucionais
do MP
Unidade; Indivisibilidade; Independência
funcional.
MP Instituição Permanente
Essencial à função
jurisdicional do Estado
Defesa
da ordem jurídica;
do regime democrático e;
dos interesses sociais e individuais indisponíveis
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 135
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 2º - A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.
§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Alterado pela EC 45-2004)
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do Art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Alterado pela EC
19-1998)
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária. (Alterado
pela EC 45-2004)
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Acrescentado pela EC 45-2004)
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V. (Acrescentado pela EC 45-2004)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
A Constituição Federal elenca as funções institucionais do MP nos incisos I a VIII do artigo 129, deixando claro, no inciso IX, que o rol é exemplificativo, pois prevê o exercício de outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedadas a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.
Vitaliciedade Inamovibilidade irredutibilidade de
subsídio
Garantias
CHEFE Procurador-Geral da
República
Presidente da
República
Aprovação
do nome Nomeado
Senado
Federal
136 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 2º - As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. (Alterado
pela EC 45-2004)
§ 3º - O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. (Alterado pela EC 45-2004)
§ 4º - Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Alterado pela EC- 45-
2004)
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. (Acrescentado pela EC 45-2004)
Art. 130.Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Acrescentado pela EC 45-2004)
Assim como o Conselho Nacional de Justiça exerce função de controle da administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o Conselho Nacional do Ministério Público controla a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Além da fiscalização administrativa, deve formular políticas institucionais, elaborar um relatório anual sobre a atuação do MP em todo o país e propor as providências que considerar necessárias ao Congresso Nacional.
I - o Procurador-Geral da República, que o preside;
II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;
III - três membros do Ministério Público dos Estados;
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
O Conselho Nacional do Ministério Público é composto
de 14 membros, quais sejam:
Qtde Composição
1 Procurador-Geral da República
4 Membros do Ministério Público da União
3 Membros do Ministério Público dos Estados;
2 dois juízes, um indicado pelo STF e outro pelo
STJ;
2 advogados, indicados pelo Conse-lho Federal da
OAB;
2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados
e outro pelo Sena-do Federal.
TOTAL 14 MEMBROS
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:
I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.
§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:
I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;
III - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 137
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Seção II DA ADVOCACIA PÚBLICA
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.
§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
Art. 132 - Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. (Alterado pela EC-
000.019-1998)
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
(Acrescentado pela EC-000.019-1998)
Seção III DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
Seção IV DA DEFENSORIA PÚBLICA
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
A Emenda Constitucional nº 80 alterou o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da Organização dos Poderes, e acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Ademais, o seu § 4º. estabelece serem "princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."
Por fim, modificou-se o art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis: "O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. § 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. § 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional."
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
Resumo retirado do livro “Coleção Estudos Direcionados”.
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias
Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 74, de 2013)
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a
Defensoria
Pública
Instituição de
DEFESA DOS
NECESSITADOS
138 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 80, de 2014)
QUESTÕES DE PROVAS FGV ORGANIZADAS POR ASSUNTO
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO
1. (FGV/TRE-PA/Analista Judiciário – área judiciária/2011) As constituições imutáveis são aquelas que não comportam modificação de nenhuma espécie, enquanto as rígidas exigem um processo de alteração mais rigoroso do que aquele previsto para a legislação infraconstitucional. A Constituição de 1988 é considerada super-rígida, isto é, ela possui uma parte imutável e uma parte rígida.
Para que se altere a CRFB de 1988 na sua parte rígida, é necessário que
(A) haja proposta de emenda por, no mínimo, metade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
(B) a proposta de emenda seja discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos.
(C) a proposta de emenda seja aprovada se obtiver, em pelo menos uma das casas, três quintos dos votos.
(D) a emenda seja promulgada pelo Senado Federal, que detém competência privativa para tanto.
(E) a proposta de emenda tenha iniciativa do Presidente da República ou dos Governadores dos Estados ou do Distrito Federal.
2. (FGV/BADESC/Advogado/2010) Considerando os
critérios de classificação das constituições quanto à sua origem, estabilidade e extensão, é correto afirmar que a Constituição Federal de 1988 é:
(A) promulgada, rígida e sintética. (B) outorgada, semi-rígida e analítica. (C) promulgada, rígida e analítica. (D) outorgada, semi-rígida e sintética. (E) promulgada, flexível e analítica. 3. (FGV/TJ-MS/JUIZ/2008) Assinale a afirmativa incorreta: (A) As normas constitucionais definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicação imediata. (B) As normas constitucionais podem ter eficácia plena,
contida e limitada. (C) As normas constitucionais de eficácia plena são
aquelas que desde a entrada em vigor da Constituição produzem, ou podem produzir, todos os efeitos essenciais, relativos aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador constitucional, direta e normativamente, quis regular.
(D) As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que apresentam aplicação indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem totalmente sobre os interesses, após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade.
(E) As normas constitucionais programáticas são de aplicação diferida e não de aplicação ou execução imediata.
4. (FGV/TRE-PA/TÉCNICO/2011) Com base no critério da
estabilidade, a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como
(A) histórica, pois resulta da gradual evolução das tradições, consolidadas como normas fundamentais de organização do Estado.
(B) cesarista, pois foi formada com base em um plebiscito a respeito de um projeto elaborado pela autoridade máxima da República.
(C) flexível, por admitir modificações em seu texto por iniciativa de membros do Congresso Nacional e pelo Presidente da República.
(D) semirrígida, por comportar modificações de seu conteúdo, exceto com relação às cláusulas pétreas.
(E) rígida, pois só é alterável mediante a observância de processos mais rigorosos e complexos do que os vistos na elaboração de leis comuns.
GABARITO: 1: 1.B. 2.C. 3.D. 4.E.
PODER CONSTITUINTE
1. (FGV/FISCAL DE TRIBUTOS/AMAPÁ/2010) Com relação ao tema ―Poder Constituinte e Emenda à Constituição‖, analise as afirmativas a seguir.
I. A proposta de emenda constitucional exige um quorum qualificado para sua aprovação. A emenda constitucional será considerada aprovada após discussão e votação em dois turnos pelo Senado Federal, devendo obter três quintos dos votos dos seus membros em cada turno de votação.
II. São temas que não podem ser objeto de proposta de emenda constitucional que os pretenda abolir: (i) a forma federativa de Estado; (ii) os direitos e garantias individuais; (iii) a separação dos Poderes; (iv) o voto direto, secreto, universal e periódico; e (v) as regras constitucionais relativas ao controle de constitucionalidade.
III. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Assinale: (A) se somente a afirmativa I estiver correta. (B) se somente a afirmativa II estiver correta. (C) se somente a afirmativa III estiver correta. (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 2. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2005) Com base na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas atualizações, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Não é possível a edição de medidas provisórias pelos governadores dos Estados-membros, mesmo que haja previsão expressa na Constituição Estadual.
(B) A Constituição Federal, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, impõe a observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo.
(C) A jurisprudência dos tribunais superiores considera as regras básicas de processo legislativo previstas na Constituição Federal como modelos obrigatórios às leis orgânicas dos Municípios.
(D) O Poder Constituinte Estadual é denominado de ―derivado decorrente‖, pois consiste na possibilidade que os Estados-membros têm de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras limitativas estabelecidas pela Constituição Federal.
(E) A autonomia dos Estados da Federação se caracteriza pela tríplice capacidade de auto-organização e normatização própria, autogoverno e auto-administração.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 139
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
3. (FGV/TCM-RJ/PROCURADOR/2008) Mutação
constitucional é: (A) o mesmo que reforma da constituição. (B) o mesmo que emenda da constituição. (C) o processo não-formal de mudança de constituição
flexível. (D) o processo não-formal de mudança de constituição
rígida. (E) o processo formal de alteração do texto
constitucional. GABARITO 2: 1.C. 2.A. 3.D.
APLICABILIDADE E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS
1 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Execução de Mandados) O inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal brasileira estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e o inciso LXVIII afirma que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Estes casos, são, respectivamente, exemplos de norma constitucional de eficácia
a) plena e limitada. b) plena e contida. c) limitada e contida. d) contida e plena. e) contida e limitada. 2 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista
Judiciário) O inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal brasileira estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e o inciso LXVIII afirma que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Estes casos, são, respectivamente, exemplos de norma constitucional de eficácia
a) contida e limitada. b) plena e limitada. c) plena e contida. d) limitada e contida. e) contida e plena. 3 - (FCC - 2012 - MPE-AL - Promotor de Justiça) Certo
governo estadual, tendo em vista o aumento do número de crianças nas ruas, decide intensificar programas de institucionalização, sob o argumento de que esta ação protegerá crianças em situação de risco com mais eficácia do que o investimento em programas de atendimento social a famílias carentes. O Ministério Público do Estado respectivo pretende acionar o Judiciário para que se pronuncie sobre a compatibilidade da decisão governamental com a disciplina dos direitos fundamentais da criança e do adolescente e fundamenta sua petição em princípio de hermenêutica constitucional, denominado princípio ......, tecendo o seguinte raciocínio:
I. Sob o prisma da ......, conclui-se que a opção do governo não é idônea para os fins que busca, já que a principal causa do abandono reside no desajuste social das famílias. Assim, a institucionalização não atingiria a raiz do problema e não seria capaz de
diminuir o número de crianças nas ruas. II. No entanto, ainda que o Judiciário entenda que a medida é idônea, sob o prisma da ......, conclui-se que a opção do governo não é a melhor escolha possível, pois existem outras políticas públicas menos gravosas para a garantia da proteção integral da criança, capazes, inclusive, de gerar melhores resultados do que a política de institucionalização.
III. Todavia, ainda que o Judiciário entenda que a medida é idônea e se materializa na melhor escolha possível, sob o prisma da ......, conclui-se que a opção do governo não é equilibrada e não gera mais vantagens para a sociedade, na medida em que a institucionalização transforma-se em uma espécie de punição à criança que se encontra em situação de pobreza, imputando-lhe uma carga demasiadamente onerosa para suportar.
Os termos jurídicos que completam corretamente as lacunas do texto são, respectivamente,
a) do efeito integrador; idoneidade; proporcionalidade em sentido estrito; efetividade.
b) da conformidade funcional; adequação; integração; proporcionalidade.
c) da unidade da Constituição; proporcionalidade; adequação; justeza.
d) da proporcionalidade; adequação; necessidade; proporcionalidade em sentido estrito.
e) da máxima efetividade; necessidade; razoabilidade; efetividade.
4 - (FCC - 2012 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do
Trabalho) Conhecida classificação das normas constitucionais, inspirada no jurista italiano Vezio Crisafulli (normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia plena; normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia restringível; normas constitucionais de eficácia limitada), implica classificar como norma constitucional de aplicabilidade imediata e eficácia restringível a norma constitucional:
a) lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
b) o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
c) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
d) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
e) a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
5 - (FCC - 2012 - TST - Analista Judiciário - Área
Administrativa) Considere a seguinte norma constitucional prevista no artigo 5º, XV, da Constituição Federal de 1988:
É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Trata-se de norma de eficácia a) plena. b) limitada. c) contida. d) exaurida. e) absoluta. 6 - (FCC - 2012 - TRF - 5ª REGIÃO - Analista Judiciário -
Área Judiciária) A Lei federal no 9.985/2000, que regulamenta dispositivos constitucionais atinentes ao
140 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
meio ambiente ecologicamente equilibrado e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dispunha, originalmente, em seu art. 36, § 1º : “Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador,de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.” Referido dispositivo legal foi objeto de ação direta de
inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, que, ao final, decidiu, por maioria de votos, pela ―inconstitucionalidade da expressão ‗não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento‘, no § 1o do art. 36‖. Em voto vencido, um Ministro divergiu, para consignar que se deveria ―manter a norma em vigor e o dispositivo com essa expressão, (...) entendendo-se que a administração ambiental não poderá fixar percentual superior a meio por cento. Se o legislador não fixou patamar superior, penso que o administrador não poderá fazê-lo‖ (ADI 3.378, j. 9/4/2008).
No caso em tela, o Supremo Tribunal Federal procedeu à a) interpretação conforme a Constituição, ao passo que o
voto divergente procedia à declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto.
b) declaração de inconstitucionalidade, com redução do alcance normativo, ao passo que o voto divergente procedia à declaração de constitucionalidade, com redução do alcance normativo.
c) declaração parcial de inconstitucionalidade, com redução de texto, ao passo que o voto divergente procedia à interpretação conforme a Constituição.
d) interpretação conforme a Constituição, ao passo que o voto divergente procedia à declaração parcial de inconstitucionalidade, com redução de texto.
e) declaração parcial de inconstitucionalidade, com redução de texto, ao passo que o voto divergente procedia à declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto.
7 - (FCC - 2012 - DPE-PR - Defensor Público) Alguns autores têm criticado o que consideram um uso abusivo dos princípios e da ponderação como forma de aplicação dos direitos fundamentais. Com frequência os intérpretes dos direitos fundamentais acabam por transformá-los em princípios, utilizando-se em demasia do sopesamento na interpretação de suas inter-relações, o que ocasiona, muitas vezes, perda de objetividade e racionalidade na interpretação, dificultando seu controle. Sobre esse tema, é correto afirmar:
a) Há elementos na interpretação com base em princípios que podem aflorar com mais facilidade, como a intuição e a sensibilidade, por exemplo, que permitirão ao bom juiz decidir de forma mais consentânea com a constituição e suas concepções pessoais de justiça.
b) Não há como se eliminar totalmente toda subjetividade na interpretação e aplicação do direito, mas as relações de preferência simples e sem qualificativos devem ser eliminadas para que hajam relações de
preferências fundamentadas, escalonadas e condicionadas sendo possível comparar grau de restrição de um direito fundamental com grau de realização de direito que com ele colide.
c) Na interpretação de direitos fundamentais não há que se buscar racionalidade ou objetividade já que o próprio constituinte delegou ao intérprete a possibilidade de lhes atribuir significado conforme o momento histórico e as expectativas sociais.
d) É justamente na criação do Direito, a partir da aplicação dos princípios, que o juiz-intérprete supre a inexistência de legitimidade democrática na sua investidura e exerce plenamente suas prerrogativas constitucionais.
e) Essa crítica é improcedente já que as normas jurídicas não são fórmulas e nem interpretadas por máquinas. A subjetividade, irracionalidade, impossibilidade de controle e ausência de previsibilidade das decisões são ônus a serem suportados pela sociedade ao escolher um modelo de constituição tão abrangente e irrealizável.
8 - (FCC - 2012 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário -
Área Administrativa / Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Aplicabilidade e Interpretação das Normas Constitucionais)
A norma constitucional que determina que ―é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato‖, tem, segundo o paragrafo primeiro do artigo 5º da Constituição Federal brasileira, aplicação
a) restritiva. b) imediata. c) subjetiva. d) minimizada. e) atípica. 9 - (FCC - 2012 - TRE-PR - Analista Judiciário - Área
Judiciária) Em outubro de 2011, ao apreciar Recurso Extraordinário em que se discutia a constitucionalidade da exigência formulada em lei federal de aprovação em exame da Ordem dos Advogados do Brasil para exercício da profissão de advogado, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que referido exame tem por fim assegurar que atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, para evitar danos à coletividade. No julgamento, salientou-se que, quanto mais arriscada a atividade, maior o espaço de conformação deferido ao Poder Público; sob essa ótica, o exercício da advocacia sem a capacidade técnica necessária afeta tanto o cliente, indivíduo, como a coletividade, pois denega Justiça, a qual é pressuposto da paz social.
Nesse caso, o STF a) reconheceu a eficácia limitada da norma constitucional
que assegura a liberdade profissional, sujeitando seu exercício à autorização prévia do Poder Público.
b) exerceu interpretação criativa e extrapolou o papel de guardião da Constituição, uma vez que se substituiu ao legislador, ao analisar o mérito da exigência legal.
c) deu à exigência legal interpretação conforme à Constituição, para o fim de excluir do alcance da norma a possibilidade de exercício profissional sem a prévia aprovação em avaliação promovida pelo Poder Público
d) procedeu à interpretação teleológica da norma constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 141
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
e) restringiu o alcance da norma constitucional segundo a qual o advogado é indispensável à administração da Justiça, ao condicionar o exercício profissional à aprovação prévia em avaliação promovida pelo Poder Público.
10 - (FCC - 2011 - TCE-PR - Analista de Controle -
Jurídica) Quando a interpretação de uma Constituição escrita se altera em decorrência da mudança dos valores e do modo de compreensão de uma sociedade, mesmo sem qualquer alteração formalmente realizada, no texto constitucional, pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, está-se diante de uma
a) interpretação histórica. b) integração normativa. c) desconstitucionalização. d) mutação constitucional. e) hermenêutica geracional. GABARITOS: 1 - D 2 - E 3 - D 4 - D 5 - C 6 -
C 7 - B 8 - B 9 - D 10 - D PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
1. (FGV/SEFAZ-RJ/AGENTE TRIBUTÁRIO/2008) O Brasil é uma república, a indicar o governo como: (A) sistema. (B) forma. (C) regime. (D) paradigma. (E) modelo.
2. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Relações
Públicas/2008) A respeito dos princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, sob os quais se organiza o Estado Brasileiro, analise as afirmativas a seguir:
I. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
II. Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão o de construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, e socializar a propriedade dos meios de produção.
III. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
IV. São alguns dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais: a prevalência dos direitos humanos, o exercício da hegemonia política na América Latina e o repúdio ao terrorismo e ao racismo.
Assinale: a) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas. b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. c) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas. d) se apenas a afirmativa I estiver correta. e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 3. (FGV/Potigás/Economista/2008) Sobre os princípios
fundamentais da Constituição de 1988, assinale a opção correta.
a) A Constituição adotou um modelo de democracia representativa em que toda a participação possível do povo na vida política do Estado se realiza por meio do voto direto, secreto, universal e periódico.
b) Ao aceitar expressamente o princípio da autodeterminação dos povos, o constituinte admite que um Estado da Federação brasileira possa dela se
separar, desde que a população local assim o decida democraticamente.
c) A criação de uma Federação dos Estados sul-americanos constitui objetivo fundamental a ser necessariamente buscado pelos poderes constituídos no Brasil.
d) O princípio da soberania não é obstáculo a que norma de direito internacional obrigue o Brasil a respeitar direitos humanos, em seu território e em relação a seus nacionais.
e) O princípio da defesa da paz, que rege as relações internacionais do Brasil, torna inconstitucional a participação oficial do país em missões de natureza militar promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).
GABARITO: 1.B. 2.B. 3.D. TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
1. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2007) Pela relevância dos direitos fundamentais de primeira geração, como o direito à vida, é correto afirmar que eles são absolutos, pois são o escudo protetivo do cidadão contra as possíveis arbitrariedades do Estado.
2. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2007) Os direitos
fundamentais de primeira geração são os direitos e garantias individuais e políticos clássicos (liberdades públicas). Os direitos fundamentais de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Os direitos fundamentais de terceira geração são os chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o meio ambiente equilibrado, o direito de paz e ao progresso, entre outros.
3. (FGV/OAB/2011.2) Com relação aos chamados
―direitos econômicos, sociais e culturais‖, é correto afirmar que
(A) são direitos humanos de segunda geração, o que significa que não são juridicamente exigíveis, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos.
(B) são previstos, no âmbito do sistema interamericano, no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).
(C) formam, juntamente com os direitos civis e políticos, um conjunto indivisível de direitos fundamentais, entre os quais não há qualquer relação hierárquica.
(D) incluem o direito à participação no processo eleitoral, à educação, à alimentação e à previdência social.
4. (FGV/FISCAL DE RENDA/RIO DE JANEIRO/2010) Em
relação aos direitos e garantias fundamentais expressos da
Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir: I. os direitos e garantias expressos na Constituição
Federal constituem um rol taxativo. II. todos os tratados e convenções internacionais de
direitos humanos internalizados após a EC-45/2004 serão equivalentes às emendas constitucionais.
III. as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Assinale: (A) se somente a afirmativa II estiver correta. (B) se somente a afirmativa III estiver correta. (C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
142 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
5. (FGV/TJ-PA/JUIZ SUBSTITUTO/2009) A Constituição da República Federativa do Brasil apresenta um extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, tanto individuais como coletivos, sendo que tais normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, por expressa previsão constitucional. O texto constitucional também é claro ao prever que direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional de nº 45, em 2004, a Constituição passou a contar com um § 3º, em seu artigo 5º, que apresenta a seguinte redação: ―Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais‖. Logo após a promulgação da Constituição, em 1988, o Brasil ratificou diversos tratados internacionais de direitos humanos, dentre os quais se destaca a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica (tratado que foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992), sendo certo que sua aprovação não observou o quorum qualificado atualmente previsto pelo art. 5º, § 3º, da Constituição (mesmo porque tal previsão legal sequer existia). Tendo como objeto a Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo a recente orientação do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta sobre o Status Jurídico de suas disposições.
(A) Status de Lei Ordinária. (B) Status de Lei Complementar. (C) Status de Lei Delegada. (D) Status de Norma Supralegal. (E) Status de Norma Constitucional. 6. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2007) Os tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
7. (FGV/OAB/2011.2) Em 2010, o Congresso Nacional
aprovou por Decreto Legislativo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção já foi aprovada na forma do artigo 5º, § 3º, da Constituição, sendo sua hierarquia normativa de
(A) lei federal ordinária. (B) emenda constitucional. (C) lei complementar. (D) status supralegal. GABARITO: 1.E. 2.C. 3.C. 4.B. 5.D. 6.C. 7.B. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS Vida
1. (FGV/SENADO/TÉCNICO LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO/2008) A Constituição Federal proíbe a pena de morte no Brasil, exceto na hipótese de:
(A) condenação por crime de terrorismo. (B) em caso de decretação de estado de sítio. (C) condenação por crimes hediondos, na forma da lei. (D) condenação por crime de tortura.
(E) em caso de guerra declarada. 2. (FGV/FISCAL DE RENDAS-RJ/2010) A Constituição
Federal admite a pena de morte em circunstâncias excepcionais.
Propriedade
3. (FGV/PC-AP/DELEGADO/2010) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
4. (FGV/FISCAL DE RENDA/RIO DE JANEIRO/2010) Os
direitos e garantias fundamentais visam, entre outros, a proteger o direito à vida, o direito à segurança, os direitos sociais, mas não o direito à propriedade.
5. (CONTADOR/TCE-PI/2002) Segundo a Constituição
brasileira, a pequena propriedade rural, assim definida por lei, desde trabalhada pela família,
(A) é insuscetível de penhora, em qualquer caso. (B) poderá ser objeto de penhora em todas as hipóteses
em que pode ocorrer a aplicação do instituto. (C) não será objeto de penhora, no caso de pagamento
de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. (D) só é suscetível de penhora nas hipóteses em que se
resguarda o bem de família. (E) só é suscetível de penhora para pagamento
de pensão alimentícia. Liberdade
6. (FGV/PC-AP/DELEGADO/2010) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
7. (FGV/PC-AP/DELEGADO/2010) Relativamente
aos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a afirmativa incorreta.
(A) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
(B) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
(C) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
(D) É livre a criação de associações e a de cooperativas, na forma da lei, sujeitas à prévia autorização estatal, sendo porém vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
(E) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
8. (FGV/OAB NACIONAL/2010.3) A Constituição garante
a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (art. 5°, XVII). A respeito desse direito fundamental, é correto afirmar que a criação de uma associação
(A) depende de autorização do poder público e pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa.
(B) não depende de autorização do poder público, mas pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 143
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(C) depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado.
(D) não depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial.
9. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2005) Assinale a
alternativa correta. (A) Na vigência da Constituição de 1988, toda lei que fixe
limite de idade para ingresso em carreira de serviço público é inconstitucional.
(B) O Ministério Público tem o poder de, em procedimento de ordem administrativa, determinar a dissolução compulsória de associação que esteja sendo usada para a prática de atos nocivos ao interesse público.
(C) Pessoas jurídicas, inclusive de direito público, podem ser titulares de direitos fundamentais.
(D) A Constituição Federal não tolera nenhum tratamento legislativo diferenciado entre homem e mulher, a não ser os que prevê taxativamente no seu texto.
(E) Os direitos fundamentais, na ordem constitucional brasileira, não podem ter por sujeitos passivos pessoas físicas.
10. (CONTADOR/TCE-PI/2002) A Constituição brasileira
assegura a todos o acesso àinformação, mas resguarda o sigilo da fonte
(A) exclusivamente aos parlamentares. (B) a todos, em qualquer caso ou processo, como
proteção ao princípio da intimidade. (C) aos parlamentares e aos servidores públicos em
geral. (D) exclusivamente nos processos de natureza penal. (E) quando necessário ao exercício profissional. 11. (FGV/Senado/Advogado/2008) A todos é assegurado
o direito de reunião, para fins pacíficos, em locais abertos ao público, independentemente de autorização e de aviso prévio à autoridade competente.
12. (FGV/Senado/Advogado/2008) Todos têm direito a
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Intimidade e privacidade
13. (FGV/TCM-RJ/PROCURADOR/2008) O direito ao sigilo de comunicação é:
(A) restrito às comunicações telefônicas. (B) fundamental, podendo, entretanto, ser quebrado no
caso das comunicações telefônicas, quando houver ordem judicial.
(C) abrangente de todo o tipo de comunicação. (D) relativo, podendo ser quebrado no caso de instrução
processual. (E) relativo, podendo ser quebrado no caso do preso. 14. (FGV/Senado/Advogado/2008) A casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nelapodendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação de autoridade judicial ou de Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Garantias Processuais Gerais
15. (FGV/FISCAL DE RENDAS/RIO DE JANEIRO/2009) São assegurados o contraditório e a ampla defesa:
(A) apenas aos litigantes em processos judiciais. (B) aos acusados em geral e aos litigantes, tanto em
processos judiciais como em administrativos. (C) apenas aos acusados em processos criminais. (D) aos litigantes e acusados apenas em processos
judiciais. (E) aos acusados em processos judiciais e
administrativos, quando demonstrarem necessidade financeira.
16. (FGV/FISCAL DE RENDA/RIO DE JANEIRO/2009)
Com relação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual ―aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa‖,
assinale a alternativa correta. (A) O administrado tem o direito de mentir no processo
administrativo. (B) A aplicação de sanção ―por verdade sabida‖ é
legítima. (C) A falta de participação de advogado na apresentação
de defesa do acusado é fator de invalidação de processo administrativo.
(D) É inválida a exigência legal de depósito prévio do valor da multa como condição de admissibilidade de recurso administrativo.
(E) O interessado tem sempre o direito à participação em processo meramente preparatório de processo administrativo.
17. (FGV/OAB/2011.2) O Poder Judiciário admitirá ações
relativas à disciplina e às competições desportivas paralelamente às ações movidas nas instâncias da justiça desportiva.
18. (FGV/OAB/2011.2) A todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
19. (FGV/Senado/Advogado/2008) A apreciação pelo
Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito será assegurada na forma e observados os limites previstos em lei complementar.
Garantias Penais
20. (FGV/Senado/Advogado/2008) A respeito do catálogo de direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.
(A) A Constituição assegura o direito de permanecer calado apenas ao preso, quando interrogado por autoridade policial.
(B) As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis apenas nos processos criminais, podendo ser utilizadas sem restrições nos processos judiciais cíveis e administrativos.
(C) Por força do princípio da presunção da inocência, a prisão do réu decretada por juiz anteriormente à condenação transitada em julgado terá sempre natureza cautelar.
(D) É possível a criação de tribunal de exceção para julgar crimes de terrorismo, na forma da lei.
(E) O contraditório e a ampla defesa não são assegurados em procedimentos administrativos disciplinares se o servidor permanecer revel.
21. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo
Legislativo/2008) Relativamente aos direitos e
144 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir:
I. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
II. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
III. São imprescritíveis os crimes de racismo, ação de grupos armados contra o Estado, tortura e terrorismo.
IV. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime hediondo praticado após a naturalização.
Assinale: (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. (B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. (C) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. (D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 22. (FGV/SENADO/TÉCNICO LEGISLATIVO –
PROCESSO LEGISLATIVO/2008) A respeito do catálogo de direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir:
I. O princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
II. É inviolável a liberdade de crença. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei.
III. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
IV. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
V. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
Assinale: (A) se apenas as afirmativas I, IV e V estiverem corretas. (B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. (C) se apenas as afirmativas I, III e V estiverem corretas. (D) se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 23. (FGV/FISCAL DE RENDA/RIO DE JANEIRO/2010) O
Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI).
24. (FGV/OAB/2011.2) Determinado congressista é
flagrado afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que, no seu prédio residencial, onde atua como síndico, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desses atos, a ONG TudoAfro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a
representação para fins criminais com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que
(A) o crime de racismo é afiançável, sendo o valor fixado por decisão judicial.
(B) o prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é de vinte anos.
(C) nos casos de crime de racismo, a pena cominada é de detenção.
(D) o crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição.
Remédios Constitucionais 25. (FGV/OAB/2011.3) O habeas data não pode ser
impetrado em favor de terceiro
PORQUE visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do
impetrante. A respeito do enunciado acima é correto afirmar que (A) ambas as afirmativas são verdadeiras, e a primeira
justifica a segunda. (B) a primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é
falsa. (C) a primeira afirmativa é falsa, e a segunda é
verdadeira. (D) ambas as afirmativas são falsas. 26. (FGV/SENADO/CONSULTOR DE
ORÇAMENTO/2008) A respeito do catálogo de direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir:
I. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
II. É garantido o direito de propriedade. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos na própria Constituição.
III. É vedada a cominação de pena de caráter perpétuo, salvo no caso de condenação por crimes considerados hediondos, na forma da lei.
IV. Nenhum brasileiro será extraditado, exceto no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e em crime de terrorismo, na forma da lei.
V. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência.
Assinale: (A) se apenas as afirmativas I, III e V estiverem corretas. (B) se apenas as afirmativas I e IV e V estiverem
corretas. (C) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas. (D) se apenas as afirmativas I, II e V estiverem corretas. (E) se apenas as afirmativas I, II, IV e V estiverem
corretas. 27. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2007) Não há a
necessidade da negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento do hábeas-data, pois o interesse de agir está sempre presente, por tratar-se de uma ação constitucional, de caráter civil, que tem por objeto a proteção do direito líquido e certo do impetrante em conhecer todas as informações e
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 145
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
registros à sua pessoa e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para eventual retificação de seus dados pessoais.
28. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2007) Cabe habeas
corpus contra qualquer decisão condenatória, seja condenação a pena de multa ou a pena privativa de liberdade. Cabe, ainda, contra decisão relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, dada a relevância desse instituto.
29. (FGV/SEFAZ-RJ/AGENTE TRIBUTÁRIO/2008)
Conceder-se-á hábeas-data: (A) para assegurar a integridade moral do cidadão. (B) quando o responsável pela ilegalidade for autoridade
pública. (C) para proteger o direito líquido e certo não amparado
por habeas corpus. (D) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. (E) quando o responsável pela ilegalidade for agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público.
30. (FGV/BESC/ADVOGADO/2004) Podem impetrar
mandado de segurança coletivo: (A) partido político com representação no Congresso
Nacional, organização sindical, entidade de classe de âmbito nacional ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses dos seus associados.
(B) partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
(C) partido político legalmente constituído, organização sindical de primeiro grau, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros.
(D) partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
(E) partido político com representação em ¾ das câmaras estaduais, organização sindical, entidade de classe de âmbito nacional ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses dos seus associados.
31. (FGV/FISCAL DA RECEITA – Mato Grosso do
Sul/2006) Direito líquido e certo, em tema de mandado de segurança, é aquele:
(A) fundado em fatos que não demandam exame jurídico de grande complexidade.
(B) fundado em fatos passíveis de prova na etapa processual dilatória.
(C) fundado em fatos comprovados de plano. (D) fundado em fatos que independem de prova
testemunhal. (E) fundado em fatos economicamente apreciáveis. 32. (FGV/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-PA/2007) A impetração
de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor de associados depende da autorização destes.
33. (FGV/OAB/2011.2) É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
GABARITO: 1.E. 2.C. 3.C. 4.E. 5.C. 6.C. 7.D. 8.D. 9.C.
10.E. 11.E. 12.C. 13.B. 14.E. 15.B. 16.D. 17.E. 18.C. 19.E. 20.C. 21.A. 22.E. 23.C. 24.D. 25.A. 26.D. 27.E. 28.E. 29.D. 30.B. 31.C. 32E. 33.E.
DIREITOS POLÍTICOS
1. (FGV/Senado/Advogado/2008) A respeito dos direitos políticos regidos na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.
(A) Lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade além dos previstos na Constituição.
(B) Apenas os brasileiros natos são elegíveis, não podendo se candidatar a cargos eletivos os estrangeiros residentes no Brasil e os brasileiros naturalizados.
(C) Os analfabetos podem se alistar como eleitores e se candidatar apenas a cargos eletivos no âmbito do Poder Legislativo.
(D) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, apenas mediante plebiscito e referendo popular.
(E) Serão admitidas candidaturas de brasileiros que não sejam filiados a partidos políticos, excepcionalmente, na forma de lei complementar.
2. (FGV/OAB NACIONAL/2010.3) De acordo com a
Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis
(A) somente os analfabetos e os conscritos. (B) os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos. (C) somente os estrangeiros e os analfabetos. (D) somente os estrangeiros e os conscritos. 3. (FGV/OAB/2011.2) Os direitos políticos não podem ser
cassados. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento:
(A) condenação cível sem trânsito em julgado. (B) incapacidade civil relativa, declarada judicialmente. (C) cancelamento de naturalização por decisão
administrativa. (D) improbidade administrativa. GABARITO: 1.A. 2.D. 3.D. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
1. (FGV/SENADO/TÉCNICO LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO/2008) Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
(B) Os Estados e o Distrito Federal possuem autonomia política, e os municípios detêm apenas autonomia administrativa e financeira.
(C) Os Territórios Federais não possuem autonomia política e integram a União.
(D) Brasília é a Capital Federal. (E) A federação brasileira é indissolúvel e a forma
federativa do Estado Brasileiro constitui cláusula pétrea da Constituição.
2. (FGV/SEFAZ-RJ/AGENTE TRIBUTÁRIO/2008) Os
territórios federais integram a União, e sua
146 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
reintegração ao Estado de origem será regulada em lei:
(A) complementar. (B) ordinária. (C) delegada. (D) complexa. (E) mista. 3. (FGV/OAB/2011.3) Os Estados são autônomos e
compõem a Federação com a União, os Municípios e o Distrito Federal. À luz das normas constitucionais, quanto aos Estados, é correto afirmar que
(A) podem incorporar-se entre si mediante aprovação em referendo.
(B) a subdivisão não pode gerar a formação de novos territórios.
(C) o desmembramento deve ser precedido de autorização por lei ordinária.
(D) se requer lei complementar federal aprovando a criação de novos entes estaduais.
4. (FGV/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2007) No que tange à
competência constitucional dos entes da Federação, é incorreto afirmar que:
(A) é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
(B) é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
(C) compete aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente com a União, sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, limitando-se à competência da União, nesses casos, estabelecer normas gerais.
(D) a lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual, somente não prevalecendo se houver norma constitucional estadual no mesmo sentido. Igualmente, a lei estadual é hierarquicamente superior à lei municipal, e só não prevalece se houver norma na Lei Orgânica municipal no mesmo sentido.
(E) mediante lei complementar, pode a União Federal autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência privativa.
5. (FGV/OAB/2011.3) Lei estadual que regulamenta o
serviço de mototáxi é (A) constitucional porque se trata de competência
legislativa reservada aos Estados. (B) constitucional porque se trata de competência
legislativa remanescente dos Estados. (C) inconstitucional porque se trata de competência
legislativa dos Municípios. (D) inconstitucional porque se trata de competência
legislativa privativa da União. 6. (FGV/OAB/2011.2) A respeito da distribuição de
competências adotada pela Constituição brasileira, assinale a alternativa correta.
(A) A competência material da União pode ser delegada aos Estados, por lei complementar.
(B) À União compete legislar sobre direito processual e normas gerais de procedimentos.
(C) A competência para legislar sobre direito urbanístico é privativa dos Municípios, pois é matéria de interesse local.
(D) A competência para legislar sobre defesa dos recursos naturais é privativa da União, pois é matéria de interesse nacional.
7. (FGV/TRE-PA/Analista Judiciário – área judiciária/2011) A competência dos entes federativos para legislar está disposta na Constituição de 1988. A esse respeito, analise os itens a seguir:
I. seguridade social; II. custas dos serviços forenses; III. proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência; IV. trânsito e transporte; V. registros públicos. Para legislar, é correto afirmar que os itens (A) I, IV e V são de competência privativa da União. (B) I, II e IV são de competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal. (C) I, III e IV são de competência privativa da União. (D) III, IV e V são de competência privativa da União. (E) I, II e V são de competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal. 8. (FGV/Senado/Advogado/2008) Sobre a repartição
constitucional de competências dos entes federativos, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei.
(B) Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
(C) Compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário, eleitoral, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
(D) Compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.
(E) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
GABARITO: 1.B. 2.A. 3.D. 4.D. 5.D. 6.B. 7.A. 8.C. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico Judiciário) Daniela é servidora pública titular de cargo efetivo da União e está pensando em se aposentar quando preencher os requisitos constitucionais. Considerou hipoteticamente ter completado 57 anos de idade e, nos últimos 11 anos, ter ocupando o cargo de técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. Estando abrangida pelo regime de previdência previsto na Constituição Federal para o servidor público, Daniela
a) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 30 anos de contribuição.
b) não poderá se aposentar voluntariamente porque não possui 60 anos.
c) não poderá se aposentar voluntariamente porque não possui 65 anos.
d) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 35 anos de contribuição.
e) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 25 anos de contribuição.
2 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa Pública – Disposições Gerais e Servidores Públicos) Joaquim, servidor público federal, é médico, ocupa cargo privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada, tendo ingressado no serviço público por concurso há dez anos. Joaquim pretende prestar novo concurso
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 147
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
público com o objetivo de cumular, de forma remunerada, dois cargos públicos. A Constituição Federal admite, em situações excepcionais, a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. No caso narrado, Joaquim somente poderá cumular se o segundo cargo público for
a) científico. b) privativo de profissional de saúde, com profissão
regulamentada. c) artístico. d) professor. e) técnico. 3 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
a) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, sendo vedado seu aproveitamento em outro cargo público.
b) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo público.
c) será exonerado ad nutum, sem direito a remuneração. d) será obrigatoriamente exonerado, sendo-lhe garantido
os direitos inerentes ao cargo. e) será obrigatoriamente demitido, sendo-lhe garantido os
direitos inerentes ao cargo. 4 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa) Clara é servidora pública da Administração direta, tendo sido investida no mandato de Vereadora. Havendo compatibilidade de horários, Clara perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. No entanto, NÃO havendo compatibilidade de horários, Clara
a) não poderá exercer o mandato eletivo. b) será afastada do cargo que detém na Administração
direta, ficando obrigatoriamente com a remuneração deste cargo.
c) será afastada do cargo que detém na Administração direta, ficando obrigatoriamente com a remuneração do cargo eletivo.
d) será afastada do cargo que detém na Administração direta, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
e) será exonerada do cargo que detém na Administração direta.
5 - (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista
Judiciário - Área Administrativa) Suponha que em 2012 foi editada lei federal aumentando o valor da remuneração de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo e criando gratificação de função para a mesma categoria. A lei ainda determinou que a gratificação não seria considerada para fins do limite máximo de remuneração estabelecido na Constituição Federal. Prescreveu também que a remuneração dos servidores seria corrigida monetariamente pelo mesmo índice e na mesma data em que fosse corrigida a remuneração dos servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário. Considerando esse quadro, analise as afirmações abaixo.
I. A lei somente produzirá validamente seus efeitos, quanto ao aumento do valor da remuneração dos servidores, após ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União.
II. A lei não poderia ter instituído gratificação de função, uma vez que a Constituição determina que todos os
servidores públicos serão remunerados, exclusivamente, por subsídios em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, ressalvadas as vantagens pessoais já adquiridas.
III. A lei é inconstitucional ao determinar que a gratificação não será considerada para fins do limite máximo de remuneração, uma vez que a Constituição não exclui da incidência do teto salarial os valores percebidos a título de vantagens pessoais.
IV. A lei é inconstitucional ao vincular a correção monetária da remuneração dos servidores do Poder Executivo à correção monetária da remuneração dos servidores vinculados ao Poder Judiciário.
Está correto o que se afirma APENAS em a) I e III. b) I e IV. c) II e III. d) II e IV. e) III e IV. 6 - (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista
Judiciário - Execução de Mandados) Em sua redação original, previa o artigo 39, caput, da Constituição da República:
―A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.‖
A Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, alterou a redação do referido dispositivo, que assim passou a dispor:
―A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.‖
Em virtude de medida cautelar concedida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme decisão publicada em março de 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional no 19, produzindo a decisão, no caso em tela, os efeitos regulares previstos em lei.
Diante disso, é correto afirmar que referida decisão do STF é dotada de eficácia
a) contra todos, foi concedida com efeito ex nunc e tornou insubsistentes os atos praticados com base na legislação aprovada sob a vigência da emenda declarada suspensa.
b) inter partes, foi concedida com efeito ex nunc e tornou aplicável a legislação existente anteriormente à emenda constitucional declarada suspensa.
c) contra todos, foi concedida com efeito ex tunc e tornou insubsistentes os atos praticados com base na legislação aprovada sob a vigência da emenda declarada suspensa.
d) inter partes, foi concedida com efeito ex tunc e tornou aplicável a legislação existente anteriormente à emenda constitucional declarada suspensa.
e) contra todos, foi concedida com efeito ex nunc e tornou aplicável a legislação existente anteriormente à emenda constitucional declarada suspensa.
7 - (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista
Judiciário - Execução de Mandados) Considere as seguintes afirmações em relação ao regime jurídico dos servidores públicos, à luz da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
148 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
I. Dentro do prazo de validade de concurso público, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, estando obrigada a nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
II. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, nem ser substituído por decisão judicial.
III. Até que sobrevenha lei específica para regulamentar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis, aplica-se-lhes, no que couber, a lei que disciplina o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral.
Está correto o que se afirma em a) I e II, apenas. b) I e III, apenas. c) II e III, apenas. d) I, II e III. e) I, apenas. 8 - (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa) Os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser obedecidos pela Administração pública
a) direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, mas não dos Estados e dos Municípios, que poderão dispor sobre a matéria diferentemente.
b) direta e indireta do Poder Executivo da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, não se aplicando, todavia, aos Poderes Legislativo e Judiciário.
c) direta, mas não pela indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
d) direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
e) indireta, mas não pela direta, de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios.
9 - (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa / Administração Pública) Suponha que lei federal tenha criado diversos cargos em comissão, para o exercício de atribuições de chefe de unidade e de assessor, a serem preenchidos necessariamente por servidores de carreira. Essa lei é
a) inconstitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, cargos em comissão apenas podem ser preenchidos por servidores que não sejam de carreira.
b) constitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, os cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
c) constitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, os cargos em comissão somente podem ser preenchidos por servidores de carreira e devem destinar-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
d) constitucional, uma vez que a Constituição Federal estabelece os mesmos requisitos para o preenchimento dos cargos em comissão e para o exercício das funções de confiança.
e) inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal veda a criação de cargos em comissão, permitindo apenas as funções de confiança exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos.
10 - (FCC - 2008 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário -
Área Administrativa) Considere as assertivas abaixo, relacionadas à Administração Pública.
I. É permitida, desde que estabelecida em lei, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
II. O direito à livre associação sindical é irrestritamente garantido ao servidor público civil e ao militar.
III. A administração fazendária goza, dentro de sua área de competência e jurisdição, de precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
IV. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público civil ou militar serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
V. Os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
Estão corretas APENAS as que se encontram em a) II e IV. b) I, II e IV. c) III, IV e V. d) I, III e V. e) III e IV. GABARITOS: 1 - A 2 - B 3 - B 4 - D 5 - E 6 -
E 7 - D 8 - D 9 - B 10 - D PODERES: LEGISLATIVO
1. (FGV/Senado/Advogado/2008) A respeito da composição e competência legislativa do Senado Federal, analise as afirmativas a seguir:
I. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Presidirá a sessão de julgamento o Presidente do Supremo Tribunal Federal e a condenação à perda do cargo com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, somente será proferida por dois terços dos votos dessa casa legislativa.
II. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Estado e Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
III. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição, Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, Governador de Território, Presidente e diretores do Banco Central, Procurador Geral da República e titulares de outros cargos que a lei determinar.
IV. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Assinale: (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 149
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. (C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. (E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 2. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo
Legislativo/2008) Em relação às Comissões Parlamentares de Inquérito, é correto afirmar que:
(A) o impedimento, mediante violência ou ameaça, do seu regular funcionamento não constitui ilícito penal, mas configura ilícito administrativo.
(B) são dispensadas de apresentar relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, desde que concluam pela elaboração de projeto de resolução.
(C) se lhes assegura o poder de decretar medidas assecuratórias de busca e apreensão domiciliar e de indisponibilidade de bens, atuando como órgão dotado de função jurisdicional.
(D) são dotadas de competência para decretar a prisão provisória de indivíduos que tenham cometido ato de improbidade administrativa.
(E) têm competência para quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, desde seja fundamentada a decisão e comprovada a necessidade objetiva dessa providência.
3. (FGV/PC-AP/DELEGADO/2010) Relativamente ao
Poder Legislativo, assinale a afirmativa incorreta. (A) A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal e o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
(B) As deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões, salvo disposição constitucional em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente qualquer quantidade de seus membros.
(C) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas são, dentre outras coisas, da competência exclusiva do Congresso Nacional.
(D) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
(E) As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
4. (FGV/OAB NACIONAL/2010.2) O Congresso Nacional
e suas respectivas Casas se reúnem anualmente para a atividade legislativa. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.
(A) Legislatura: o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro.
(B) Sessão legislativa: os quatro anos equivalentes ao mandato dos parlamentares.
(C) Sessão conjunta: a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal destinada, por
exemplo, a conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar.
(D) Sessão extraordinária: a que ocorre por convocação ou do Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos Deputados ou do Presidente da República e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas para, excepcionalmente, inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras.
5. (FGV/SENADO/TÉCNICO LEGISLATIVO –
PROCESSO LEGISLATIVO/2008) A respeito da estrutura e atribuições do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.
(A) Os Senadores são eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
(B) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
(C) Compete exclusivamente ao Senado Federal autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a celebrar a paz.
(D) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações no Senado Federal serão tomadas pelo voto de dois terços de seus membros.
(E) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados fixar os subsídios dos membros das casas legislativas, do Presidente e do Vice-Presidente da República, e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
6. (FGV/SENADO/ADVOGADO/2008) A respeito das
comissões parlamentares de inquérito, assinale a afirmativa correta.
(A) As comissões parlamentares de inquérito dispõem de competência constitucional para ordenar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas sob investigação do Poder Legislativo, mas devem fundamentar adequadamente a decisão de quebra.
(B) As comissões parlamentares de inquérito podem decretar monitoramento telefônico, desde que presentes os requisitos da lei 9296/96. A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.
(C) As comissões parlamentares de inquérito podem decretar a indisponibilidade de ativos financeiros das pessoas investigadas, por voto da maioria absoluta de seus membros.
(D) O direito de não se auto-incriminar não se aplica às comissões parlamentares de inquérito. Todas as pessoas convocadas devem prestar compromisso de dizer a verdade aos membros da comissão, antes do início do depoimento.
(E) As decisões tomadas por maioria absoluta dos membros das comissões parlamentares de inquérito não estão sujeitas a controle judicial, em razão do princípio constitucional da independência dos poderes.
7. (FGV/SENADO/CONSULTOR DE ORÇAMENTO/2008)
A respeito do Tribunal de Contas da União, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público
150 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
(B) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
(C) O Tribunal de Contas da União, órgão integrante do Poder Judiciário, é composto de nove ministros, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal, dentre brasileiros de mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade, de idoneidade moral e reputação ilibada.
(D) Compete ao Tribunal de Contas da União prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.
(E) Compete ao Tribunal de Contas da União aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, dentre elas, multa proporcional ao dano causado ao erário.
8. (FGV/OAB NACIONAL/2010.3) O controle externo
financeiro da União e das entidades da administração federal direta e indireta é atribuição do Congresso Nacional, que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas da União. É competência do Tribunal de Contas da União
(A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante a emissão de parecer prévio, que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Congresso Nacional.
(B) sustar contratos administrativos em que seja identificado superfaturamento ou ilegalidade e promover a respectiva ação visando ao ressarcimento do dano causado ao erário.
(C) aplicar aos responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas multa sancionatória, em decisão dotada de eficácia de título executivo judicial.
(D) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
9. (FGV/OAB/2011.2) Considere a hipótese de Deputado
Federal que cometeu crime (comum) após a diplomação. Nesse caso, é correto afirmar que
(A) a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação penal.
(B) o STF só pode receber a denúncia após a licença da Câmara dos Deputados.
(C) o STF só pode receber a denúncia após a licença do Congresso Nacional.
(D) o Congresso Nacional pode sustar o andamento da ação penal.
GABARITO: 1.E. 2.E. 3.B. 4.C. 5.B. 6.A. 7.C. 8.D. 9.A. PODER EXECUTIVO
1. (FGV/TRE-PA/Analista Judiciário – área judiciária/2011) É atribuição constitucional do Presidente da República
(A) dispor, mediante portaria, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
(B) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
(C) no mear, em caráter privativo e sem a aprovação dos demais Poderes da República, os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
(D) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
(E) decretar e executar a intervenção federal 2. (FGV/OAB/2011.3) No processo de impedimento do
Presidente da República, ocorre a necessidade de preenchimento de alguns requisitos. Com base nas normas constitucionais, é correto afirmar que
(A) a Câmara autoriza a instauração do processo pelo voto da maioria absoluta dos seus membros.
(B) o julgamento ocorre pelo Senado Federal, cuja decisão deverá ocorrer pela maioria simples.
(C) condenado o Presidente, cumprirá sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
(D) no julgamento ocorrido no Senado, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal.
3. (FGV/OAB/2011.2) A respeito do regime de
responsabilidade do Presidente da República, assinale a alternativa correta.
(A) O ato do Presidente da República que atenta contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação é considerado crime de responsabilidade.
(B) O Presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade somente após a condenação pelo órgão competente.
(C) Compete ao Congresso Nacional processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
(D) Só se admite acusação contra o Presidente da República por três quintos da Câmara dos Deputados.
GABARITO: 1.E. 2.D. 3.A. JUDICIÁRIO
1 (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo Legislativo/2008) Assinale a afirmativa incorreta.
(A) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros, sendo um Ministro do Supremo Tribunal Federal, um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, dois desembargadores de Tribunal de Justiça, um juiz estadual, dois desembargadores de Tribunal Regional Federal, um juiz federal, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público estadual, dois advogados e três cidadãos.
(B) Os membros do Conselho Nacional de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
(C) Junto ao Conselho Nacional de Justiça oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
(D) O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal e o Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor.
(E) Compete ao Conselho elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário.
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 151
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
2. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo
Legislativo/2008) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, o habeas corpus em que for paciente um Ministro de Estado.
3. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo
Legislativo/2008) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
4. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo
Legislativo/2008) O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, bastando possuir notável saber jurídico e reputação ilibada.
5. (FGV/Senado/Analista Legislativo – área Processo
Legislativo/2008) Relativamente ao Poder Judiciário, assinale a alternativa incorreta.
(A) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
(B) Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Supremo Tribunal Federal, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para o Superior Tribunal de Justiça.
(C) Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
(D) Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira e o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.
(E) O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos mediante eleição, pelo voto secreto, três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e ainda, por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
6. (FGV/OAB NACIONAL/2010.2) A respeito do Conselho
Nacional de Justiça é correto afirmar que: (A) é órgão integrante do Poder Judiciário com
competência administrativa e jurisdicional. (B) pode rever, de ofício ou mediante provocação, os
processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano.
(C) seus atos sujeitam-se ao controle do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
(D) a presidência é exercida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal que o integra e que exerce o direito de voto em todas as deliberações submeti das àquele órgão.
7. (FGV/OAB NACIONAL/2010.3) Leia com atenção a
afirmação a seguir, que apresenta uma INCORREÇÃO.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem competência, entre outras, para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais (se tiverem sido julgados há menos de um ano), zelar pela observância dos princípios que regem a administração pública e julgar os magistrados em caso de crime de abuso de autoridade. Assinale a alternativa em que se indique o ERRO na afirmação acima.
(A) O CNJ, sendo órgão do Poder Judiciário, atua apenas mediante provocação, não podendo atuar de ofício.
(B) Não cabe ao CNJ, órgão que integra o Poder Judiciário, zelar por princípios relativos à Administração Pública.
(C) O CNJ não pode julgar magistrados por crime de abuso de autoridade.
(D) O CNJ pode rever processos disciplinares de juízes julgados a qualquer tempo.
8. (FGV/PC-AP/DELEGADO/2010) Compete ao Supremo
Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, não lhe cabendo processar e julgar,
originariamente: (A) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal. (B) o Presidente da República, nas infrações penais
comuns. (C) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
(D) a extradição solicitada por Estado estrangeiro. (E) a homologação de sentenças estrangeiras e a
concessão de exequatur às cartas rogatórias. 9. (FGV/OAB/2011.3) Para assegurar o cumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República pode suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, nas hipóteses de graves violações aos direitos humanos.
GABARITO: 1.A. 2.C. 3.C. 4.C. 5.B. 6.D. 7.C. 8.E. 9.C. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
1 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico Judiciário / Funções Essenciais à justiça – Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública) Lígia é membro do Ministério Público do Trabalho. De acordo
152 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
com a Constituição Federal, NÃO é vedado, em regra, à Lígia
a) receber auxílios ou contribuições de entidades públicas ou privadas.
b) participar de sociedade comercial como sócio administrador.
c) exercer atividade político-partidária. d) recebe custas processuais. e) exercer, ainda que em disponibilidade, uma função de
magistério. 2 - (FCC - 2013 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa) Considere as assertivas concernentes ao Ministério Público:
I. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
II. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
III. Constitui vedação ao membro do Ministério Público, dentre outras, exercer a advocacia.
IV. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe- se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República.
Nos termos da Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em
a) III e IV. b) I, II e IV. c) II e III. d) I, III e IV. e) I e II. 3 - (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista
Judiciário - Área Judiciária) Considerada a disciplina constitucional do Ministério Público, dentre as funções essenciais à Justiça, é correto afirmar:
a) Aos membros do Ministério Público é garantida inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa.
b) O Ministério Público do Trabalho integra o Ministério Público da União, tendo por chefe o Procurador- Geral da República, o qual é nomeado pelo Presidente da República, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
c) O controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, que se compõe de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, dentre os quais seis oriundos de carreiras jurídicas alheias à do Ministério Público.
d) Leis complementares, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral da República, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados.
e) As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do Tribunal perante o qual oficiem.
4 - (FCC - 2011 - TCE-SE - Analista de Controle Externo -
Coordenadoria Jurídica) O Conselho Nacional do Ministério Público é composto de
a) quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
b) quinze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional, para um mandato de dois anos, vedada a recondução.
c) quinze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, vedada a recondução.
d) quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, vedada a recondução.
e) quinze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
5 - (FCC - 2012 - PGM-Joao Pessoa-PB - Procurador
Municipal) Suponha que membro do Ministério Público Estadual tenha ajuizado perante o Poder Judiciário Estadual ação civil pública contra determinado Município, pleiteando sua condenação na obrigação de matricular, em estabelecimento de ensino público municipal, todas as crianças com idade para cursar o ensino infantil. Considerando as atribuições constitucionais do Ministério Público, é correto dizer que a pretensão
a) não poderia ser formulada judicialmente pelo Ministério Público, mas apenas pelas próprias crianças interessadas, representadas por seus genitores.
b) não poderia ser formulada judicialmente pelo Ministério Público, ainda que pudesse ser formulada pela Defensoria Pública em benefício das crianças cujos pais não tivessem recursos para arcar com as despesas do processo.
c) somente poderia ser formulada judicialmente pelo Ministério Público em favor das crianças cujos pais expressamente requisitassem a propositura da demanda.
d) somente poderia ser formulada judicialmente pelo Ministério Público em prol de crianças indígenas, que residam em reservas indígenas regularmente reconhecidas.
e) poderia ser formulada pelo Ministério Público, uma vez que lhe cabe a propositura de demanda judicial visando exigir o cumprimento de direitos assegurados na Constituição Federal a essas crianças.
6 - (FCC - 2012 - TRF - 5ª REGIÃO - Analista Judiciário -
Execução de Mandados / Funções Essenciais à justiça) A respeito da disciplina constitucional do Ministério Público da União, como órgão que exerce função essencial à Justiça, considere:
I. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
II. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
III. Lei complementar da União, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral da República, estabelecerá a
Prof. Valdeci Cunha DIREITO CONSTITUCIONAL 153
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, observadas, relativamente a seus membros, as garantias e vedações estabelecidas na Constituição da República.
Está correto o que consta APENAS em a) I. b) II. c) I e II. d) I e III. e) II e III. 7 - (FCC - 2012 - TST - Técnico Judiciário - Área
Administrativa) Ao discorrer sobre os princípios constitucionais que devem informar a atuação do Ministério Público, Pedro Lenza afirma que o acusado ―tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por consequência, a designação arbitrária, inclusive, de promotores ad hoc ou por encomenda‖ (Direito Constitucional Esquematizado - Saraiva - 2011 - p. 766).
Trata-se do princípio a) da inamovibilidade do membro do Ministério Público. b) da independência funcional do membro do Ministério
Público. c) da indivisibilidade do Ministério Público. d) da unidade do Ministério Público. e) do promotor natural. 8 - (FCC - 2012 - MPE-AP - Técnico Ministerial - Auxiliar
Administrativo) O Ministério Público a) possui, dentre seus princípios institucionais, a unidade,
a indivisibilidade e a dependência funcional. b) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. c) é uma instituição permanente, sendo garantida aos
seus membros a vitaliciedade somente após três anos de exercício, não podendo perder o cargo se não por sentença judicial transitada em julgado.
d) é uma instituição permanente, sendo garantida aos seus membros a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Colégio de Procuradores, pelo voto de um terço de seus membros, assegurada ampla defesa.
e) é essencial à função jurisdicional do Estado, sendo que o ingresso em sua carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, cinco anos de atividade jurídica.
10. (FCC - 2012 - MPE-AP - Promotor de Justiça) Um
eleitor, inscrito em Santa Catarina, peticionou ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), para requerer que fossem adotadas as providências cabíveis em relação a membros do Ministério Público daquele Estado que ocupavam cargos de Secretário de Estado no âmbito do Poder Executivo estadual. Em um primeiro momento, o CNMP houve por bem acolher a representação, tendo editado Resolução que determinava o desligamento imediato dos membros do Ministério Público de suas funções no Executivo estadual. Poucos dias depois, contudo, sem que houvesse provocação, o CNMP, por maioria de votos, editou uma segunda Resolução, conferindo prazo de 90 dias para o referido desligamento.
Diante disso, o eleitor em questão ajuizou ação popular, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo a anulação da segunda Resolução do CNMP. No mérito, a pretensão do autor da ação
a) não encontra respaldo constitucional, uma vez que se trata de questão interna corporis do Ministério Público,
não cabendo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da decisão tomada pelo CNMP.
b) encontra suporte na previsão constitucional segundo a qual ao membro do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, mas não possui o STF competência originária para a ação popular, nesse caso.
c) somente encontraria respaldo constitucional se houvesse prejuízo ao erário, na hipótese de comprovado recebimento de subsídios pelos membros do Ministério Público, sem o exercício de suas atribuições.
d) encontra suporte na previsão constitucional segundo a qual compete ao STF processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o CNMP.
e) não possui respaldo constitucional, uma vez que o CNMP tem competência para fixar prazo para adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, ao analisar atos e contratos celebrados por órgãos ou membros dos Ministérios Públicos estaduais.
GABARITOS: 1 - E 2 - D 3 - B 4 - A 5 - E 6 -
D 7 - E 8 - B 9 - X 10 - B
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas
constitucionais. 6ª ed., 2002, Editora Malheiros Silva, José Afonso. Curso de direito constitucional
positivo. 21ª ed., 2002, Editora Malheiros MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23. ed.
São Paulo: Atlas S/A, 2008. WIKIPEDIA, Brasília, 2008. Disponível em: <http://www.
pt.wikipedia.org/wiki/Página_principal; Acesso em: 20 Outubro 2008.
154 DIREITO CONSTITUCIONAL
www.editoradince.com.br. Acesse e veja se há novidades a respeito deste material.
ANOTAÇÕES:
____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
DIREITO ADMINISTRATIVO 1
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
DIREITO ADMINISTRATIVO Teoria, dicas, macetes e exercícios FGV
organizados por assunto.
Prof. Walber Siqueira Vieira
E-mail: [email protected]
FACEBOOK: WALBER SIQUEIRA VIEIRA
2019.7
Breviário profissional
Bacharel em Direito pela UNIFOR - Universidade de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz; Especialista em Direito e Processo Administrativos pela UNIFOR; Advogado Administrativista no Ceará, OAB/Ce 10.648; Pós Graduado latu sensu (aperfeiçoamento) em Direito Processual pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC em parceria com a Universidade Federal do Ceará – UFC, através do V Curso de Aperfeiçoamento de Magistrados; Professor de Direito Administrativo de vários cursos preparatório para Concursos, em Fortaleza; ex-Instrutor da Academia de Polícia Civil do Estado do Ceará – APOC; ex-assessor Técnico da Comissão Técnica de Auditoria de Gestão e Controle de Preços, órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal de Fortaleza;ex-Coordenador do Departamento Jurídico da Fundação da Criança e da Família Cidadã – FUNCI, Entidade da Administração Pública Indireta do Município de Fortaleza;ex-assessor do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA; ex-estagiário da Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM;ex-cadete da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN e ex-aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército – EsPCEx e do Colégio Militar de Fortaleza – CMF; autor de oito livros voltados ao universo dos concursos públicos vendidos pela livraria Public; autor de vários artigos publicados em revistas especializadas em Direito e em vários sites jurídicos na INTERNET, entre eles o BIZU CONCURSOS.
―O direito é a ciência do dever ser. Ou seja, o direito diz como as coisas devem ser, não como eles são.‖
(Kelsen.)
―Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre.‖
(Paulo Freire.)
―Conhecimento vem de teu instrutor, sabedoria vem de teu interior.‖
(Bruce Lee.)
―Tudo o que é necessário para o triunfo do mal, é que os homens de bem… nada façam‖. (Edmund Burke)
―Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha.‖
(Confúcio)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 Noções de organização administrativa. 1.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta.1.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. ............................ 13
2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. ........................................... 58
3 Agentes públicos. ........................................................ 19
4 Poderes administrativos. 4.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4.2 Uso e abuso do poder 54
5 Licitação. 5.1 Princípios. 5.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade.5.3 Modalidades. 5.4 Tipos. 5.5 Procedimento. .................................................... 74
6 Contratos administrativos: conceito e características. 87
7 Controle da administração pública. 7.1 Controle exercido pela administração pública. 7.2 Controle judicial. 7.3 Controle legislativo. ............................... 67
8 Responsabilidade civil do Estado. 8.1 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 8.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 8.1.2 Responsabilidade por omissão do Estado. 8.2 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 8.3 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. .................................... 71
9 Regime jurídico-administrativo. 9.1 Conceito. 9.2 Princípios expressos e implícitos da administração pública. ....................................................................... 4
10 Processo administrativo (Lei 9.784/99): das disposições gerais; dos direitos e deveres dos administrados. ........................................................ 131
11 Serviços Públicos: conceito e princípios. ................ 123
12 Improbidade Administrativa - Lei no 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa: das disposições gerais; dos atos de improbidade, das penas. ..................... 136
Questões provas FGV ................................................ 141
DIREITO ADMINISTRATIVO: CONCEITO, OBJETO, FONTES E SISTEMAS
1. CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Sobre este primeiro assunto selecionamos estas importantes informações da lavra do Prof. Leandro Cadenas, senão vejamos:
O Direito Administrativo, como ramo autônomo da maneira como é visto atualmente, teve seu nascimento nos fins do século XVIII, com forte influência do direito francês, tido por inovador no trato das matérias correlatas à Administração Pública.
São muitos os conceitos do que vem a ser o
Direito Administrativo. Em resumo, pode-se dizer que é o conjunto dos princípios jurídicos que tratam da Administração Pública, suas entidades, órgãos, agentes públicos, enfim, tudo o que diz respeito à
maneira como se atingir as finalidades do Estado. Ou seja, tudo que se refere à Administração Pública e à relação entre ela e os administrados e seus servidores é regrado e estudado pelo Direito Administrativo.
O Direito Administrativo integra o ramo do Direito Público, cuja principal característica encontramos no fato de haver uma desigualdade jurídica entre cada uma
das partes envolvidas. Assim, de um lado, encontramos a Administração Pública, que defende os interesses coletivos; de outro, o particular. Havendo conflito entre
2 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
tais interesses, haverá de prevalecer o da coletividade, representado pela Administração. Isto posto, veja que esta se encontra num patamar superior ao particular,
de forma diferente da vista no Direito Privado, onde as partes estão em igualdade de condições.
Sabemos que a República Federativa do Brasil, nos termos da CF/88, é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (art. 1º). Em seu art. 2º, determina a divisão dos Poderes da União em três, seguindo a tradicional teoria de Montesquieu. Assim, são eles: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
Cada um desses Poderes tem sua atividade principal e outras secundárias. A título de ilustração, veja que ao Legislativo cabe, precipuamente, a função legiferante, ou seja, de produção de leis, em sentido amplo. Ao Judiciário, cabe a função de dizer o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade, em face da resolução dos conflitos. Por último, cabe ao Executivo a atividade administrativa do Estado, é dizer, a implementação do que determina a lei, atendendo às necessidades da população, com infra-estrutura, saúde, educação, cultura, enfim, servir ao público.
Mas e o Direito Administrativo, então, como cuida da Administração Pública, regula apenas as atividades do Poder Executivo?
Não. Esse ramo do Direito regra todas as atividades administrativas do Estado, qualquer que
seja o Poder que a exerce, ou o ente estatal a que pertença: se a atividade é administrativa, sujeita-se aos comandos do Direito Administrativo.
Então, o Judiciário, quando realiza um concurso público para preenchimento de suas vagas, segue as normas da Lei nº 8.112/90, se da esfera federal. O Senado Federal, quando promove uma licitação para aquisição de resmas de papel, por exemplo, seguirá a Lei nº 8.666/93, e assim por diante.
Vemos, assim, que não só o Executivo se submete ao Direito Administrativo.
Repita-se: cada Poder, cada ente, cada órgão, no desempenho de suas atribuições administrativas, está submetido às previsões desse ramo do Direito.
O estudo do Direito Administrativo, no Brasil, torna-se um pouco penoso pela falta de um código, uma legislação consolidada que reúna todas as leis esparsas que tratam dessas matérias. Então, temos que lançar mão da doutrina e do estudo de cada uma das leis, bem assim da Constituição Federal, que são suas principais fontes.”
(CADENAS, Leandro, Fonte: http://www.algosobre.com.br/direito-
administrativo/conceito-de-direito-administrativo.html. Acesso Em
06.12.2012.
Como caiu!
O Poder Executivo não só exerce sua função típica, que é administrar, mas também desempenha função atípica normativa. (V/F) (CESPE/2013 - Administrador) Verdadeiro
2. OBJETO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
O objeto do Direito Administrativo engloba todas
as funções exercidas pelas autoridades administrativas: a regulamentação da estrutura, do pessoal (órgãos e agentes), dos atos e atividades da Administração Pública, praticados ou desempenhados na qualidade de poder público.
Toda e qualquer atividade de administração, seja ela exercida pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo
ou pelo Poder Judiciário, é tutelada pelo Direito Administrativo.
A divisão em poderes - clássica tripartição concebida pelo filósofo francês Montesquieu: Poder
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário - encontra-se determinada na CRFB/1988 (art. 2º, que é cláusula pétrea, segundo o art. 60, § 4º, III), e representa, na realidade, uma divisão funcional. A CRFB atribui a cada poder exerce uma função típica:
Poder Executivo - Função administrativa
(execução da lei)
Poder Legislativo - Função normativa ou
legislativa (elaboração da lei)
Poder Judiciário - Função jurisdicional
(aplicação da lei)
Diz a CRFB/1988:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) III - a separação dos Poderes;
No entanto, cada um dos poderes também desempenha as demais funções não atribuídas a ele como função típica. Porem, ele a exerce de forma atípica. São as chamadas ressalvas (ou exceções) ao Princípio da Separação dos Poderes.
Portanto, o Poder Executivo exerce tipicamente a função administrativa, mas os Poderes Legislativo e Judiciário também a exercem, de forma atípica.
A atividade administrativa, portanto, seja ela exercida por qualquer um dos poderes, está sujeita à tutela do Direito Administrativo.
3. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
a) LEI
Como FONTE PRIMÁRIA, ou seja, principal, tem-se a lei, (“latu sensu”). Inclui, além da Constituição da
República Federativa do Brasil, as leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias etc.
NOTE BEM! O princípio da legalidade ressalta que
o administrador público só poderá fazer alguma algo que esteja previsto em lei.
b) JURISPRUDÊNCIA
Denomina-se JURISPRUDÊNCIA o conjunto de
decisões do Poder Judiciário no mesmo sentido. Então, pode-se servir como orientação, embora essas decisões não obriguem a Administração Pública.
EXCEÇÃO! AS súmulas vinculantes (ver art. 103-a
da CF/88) obrigam a administração pública ao seu cumprimento. é por isso que muitos autores consideram a súmula vinculante como fonte primária. Ex: Súmula
Vinculante N° 11 do STF – Uso de algemas – dever de motivar.
NOTE BEM!
Segundo a Profa. Marinela a “jurisprudência tem poderosa influência na construção do Direito, especialmente na do Direito Administrativo, que se ressente de sistematização doutrinária e de codificação legal.”. (Marinela, Fernanda. Direito
Administrativo, Editora Impetus, pág. 9)
DIREITO ADMINISTRATIVO 3
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
c) DOUTRINA
A doutrina é o estudo dos pesquisadores do
Direito, concretizada através de livros, artigos, pareceres, monografias etc.
NOTE BEM!
Assim, como a jurisprudência, a doutrina também é fonte secundária do Direito Administrativo. É ferramenta poderosa na interpretação dos atos normativos constantes do ordenamento jurídico.
d) COSTUMES
De aplicação cada vez mais rara e restrita, face o Princípio da Legalidade, os costumes nas práticas administrativas exercem ainda alguma influência em razão da deficiência da nossa legislação.
NOTE BEM!
Podemos concluir que a Lei é a fonte básica do Direito Administrativo e que o costume, como fonte do direito administrativo, não
poderá contrariar a lei. Já no que diz respeito à doutrina pode-se conceituá-la como fonte secundária, utilizando-se para explicar o sentido das fontes formais. Por fim, tendo em vista a possibilidade da edição pelo Supremo Tribunal Federal - STF das súmulas vinculantes, podemos afirmar que a Jurisprudência pode ser considerada como fonte formal.
e) Estatutos e Regimentos
Estatuto é o conjunto de regras, que determina ou estabelece a norma jurídica aplicada a um determinado grupo. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, por exemplo, estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos federais. Já os regimentos são atos administrativos internos que visam a reger o funcionamento de órgão denominados de colegiados ou de corporações legislativas, como é o caso do Senado Federal. Estes atos administrativos decorrem do Poder Hierárquico da Administração Pública.
f) Instruções
As instruções são classificadas pela boa doutrina como sendo atos ordinatórios cujo objetivo é disciplinar o funcionamento interno da Administração Pública. Também decorrem do Poder Hierárquico. Dentre o rol dos principais atos ordinatórios encontramos as instruções: Tais atos constituem em ordens gerais (escritas) a respeito do modo de execução de determinado serviço a ser executado pelo subordinado dentro da repartição pública, uniformizando os procedimentos.
g) Tratados Internacionais
Tratados Internacionais são fontes diretas ou imediatas que podem tanto modificar como complementar a Lei Maior (Constituição Federal) e as leis administrativas.
NOTE BEM!
Tratado é conceituado pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) como “um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação particular”.
h) PRINCÍPIOS GERAIS (fonte secundária)
L.I.M.P.E (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência)
+
Supremacia do interesse público sobre o
particular, continuidade, autotutela, especialidade, motivação, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, hierarquia, devido processo legal e segurança jurídica.
4. CONSOLIDAÇÃO
Seria a catalogação legislativa, voltando-se os estudos para o direito legislativo vigente e facilitando seu cumprimento. O processo de consolidação não implicaria criação de direito.
5. CODIFICAÇÃO
Seria a unificação em um único texto legislativo com criação de direito. Isto forneceria mais unidade, sentido e homogeneidade ao conteúdo legal, e facilitaria o controle da própria administração, bem como a prática democrática do cumprimento das leis. Entre os defensores da codificação está o HELY LOPES e DIOGENES GASPARINI.
6. SISTEMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO 6.1 Conceito
É o regime adotado pelo estado para o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.
6.2 Tipos de sistemas
No âmbito do Direito Administrativo, existem dois tipos de sistemas básicos de controle da Administração Pública: o inglês e o francês. José dos Santos Carvalho Filho ensina que sistema de controle é um conjunto de instrumentos contemplados pelo ordenamento jurídico que tem por fim fiscalizar a legalidade dos atos da Administração. No Brasil, além do controle jurisdicional, a Administração Pública controla os próprios atos, podendo revogá-los ou modificá-los.
6.2.1 Sistema Francês
O sistema francês, também denominado sistema do contencioso administrativo e sistema da dualidade de jurisdição, possui como principal característica a existência de uma Justiça Administrativa, cujo
funcionamento independe da atividade da Justiça do Poder Judiciário. Além disso, a competência da Justiça Administrativa incide sobre litígios onde em um dos polos figura necessariamente a Administração Pública. Na França, em caso de conflito de competência, o impasse é resolvido pelo Tribunal de Conflitos, criado justamente com este escopo.
Destarte, as causas julgadas pela Justiça Administrativa NÃO podem ser revistas pela Justiça Judiciária, exatamente porque as competências são
distintas e porque as decisões proferidas por ambas as Justiças constituem coisa julgada. Por fim, vale dizer que este é o sistema adotado na França, na Itália e em alguns outros países europeus.
6.2.2 Sistema Inglês
Em contrapartida, o sistema inglês, também chamado de sistema do monopólio de jurisdição e sistema da UNIDADE DE JURISDIÇÃO, tem como principal característica o fato de que todos os litígios
4 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
são sujeitos à apreciação e à decisão do Poder Judiciário, titular da função jurisdicional. Portanto, decisões tomadas no âmbito administrativo PODEM ser levadas às vistas do Poder Judiciário.
Com efeito, este é o sistema adotado por Estados Unidos, Inglaterra, México, Brasil e alguns outros países. Inclusive, nosso ordenamento pátrio expressamente optou por este sistema, pois prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV). Além disso, em consonância com a jurisprudência
do STF e do STJ, em regra, não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário.
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO: CONCEITO E PRINCÍPIOS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. CONCEITO:
Conforme o que nos ensina Ari Timóteo dos Reis Júnior, o chamado Regime jurídico-administrativo “é o conjunto de princípios e regras que compõe o Direito Administrativo, outorgando prerrogativas e impondo restrições à Administração Pública que não encontram correspondentes no direito privado, a colocando em uma posição de supremacia em relação aos administrados”.
De fato, tal regime pode ser reconduzido ao conjunto de prerrogativas e sujeições que não encontram equivalentes nas relações privadas, sendo exatamente isto que diferencia as normas de Direito Administrativo das de direito privado. Devemos ter em mente que o Direito Administrativo desenvolveu-se baseado em duas ideias opostas: a) proteção aos direitos individuais frente ao Estado e; b) necessidade de satisfação dos interesses coletivos.
IMPORTANTE!
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, as pedras de toque do REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO, referem-se a dois princípios basilares do Direito Administrativo, quais sejam:
a) Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
b) Princípio da indisponibilidade do interesse público.
Vejamos a seguinte jurisprudência:
Apelação Cível n.º 1.0411.02.005230-3/001 - Comarca de Matozinhos/MG / Data do julgamento: 30/04/2009
O proprietário pode usar e gozar da propriedade, como bem lhe aprouver, estando, contudo, impedido de construir, tendo-se em conta a preservação de superiores interesses da coletividade, cabendo, ainda aos órgãos de fiscalização, no exercício de seu poder de polícia, impedir tais construções. Consoante a festejada lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, as pedras de toque do regime jurídico-administrativo são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos interesses públicos. (grifo nosso).
2) PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Do latim principium, a palavra princípio significa começo, origem de qualquer coisa.
Segundo De Plácido e Silva, notadamente no plural, os princípios significam “as normas elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como alicerce de qualquer coisa”.
É por isso que ferir um princípio é mais grave do que ferir a própria lei, pois, os
princípios são à base de qualquer ramo do Direito.
Pois Bem!
Estabelece o “caput” do art. 37 da Constituição
Federal de 1988:
“A Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.
(Observe que a nova redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98 ao art. 37 da CF, trouxe ao universo jurídico o PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.)
Estes sãos os chamados Princípios Explícitos (ou Expressos) da Administração Pública.
L egalidade
I mpessoalidade
M oralidade
P ublicidade
E ficiência.
NOTE BEM!
Não existe hierarquia entre estes princípios. Todos estão no mesmo nível.
1) LEGALIDADE (JURISDICIDADE).
O princípio da legalidade é a base de todo ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, ou seja, em todo o Estado onde vigora o chamado império da lei (Fonte primária do Direito Administrativo). O princípio da
legalidade traduz a ideia de que o Administrador Público, ao contrário do particular, só poderá fazer aquilo que a lei o autorizar ou permitir. No direito Privado, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. (teoria da autonomia da vontade), consoante o que dispõe a Constituição Federal de 1988 - CF/88: Art. 5°, II (Direitos
e Garantias Individuais.).
II – “Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Por sua vez, o controle do princípio da legalidade é feito tanto pela Administração Pública (de ofício, ou seja, de iniciativa própria), quanto pelo Poder Judiciário (uma vez provocado, ou seja, quando alguém ingressa com uma ação, por exemplo.). Qualquer ato administrativo executado sem o amparo da lei é injurídico e expõe-se à anulação.
NOTE BEM1!
O servidor público não poderá atuar praeter legem (fora da lei) ou contra legem (contra a lei).
NOTE BEM2!
A vontade da Administração Pública é a que decorre da lei.
NOTE BEM3!
DIREITO ADMINISTRATIVO 5
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações (proibições) aos administrados (particulares).
NOTE BEM4!
Exceções a aplicação do princípio da
legalidade:
a) Medidas Provisórias: são atos com
força de lei, mas o administrado só se submeterá ao previsto nas medidas provisórias se elas forem editadas dentro dos parâmetros constitucionais, ou seja, se nelas constarem os requisitos da relevância e da urgência.
b) Estado de Defesa e Estado de Sítio:
são situações de anormalidade institucional. Representam restrições ao princípio da legalidade porque são instituídos por um DECRETO PRESIDENCIAL, que pode ampliar
os poderes da Administração, autorizando ou determinando a prática de atos sem respaldo legal.
ATENÇÃO!
Você sabia que o administrador pode extinguir cargos públicos (quando vagos) sem a necessidade de uma lei? Veremos este aspecto quando estudarmos decretos autônomos!
Por fim ressalte-se que, no âmbito do Direito Administrativo, o conceito de legalidade abrange, além da lei, o interesse público e a moralidade.
2) IMPESSOALIDADE OU FINALIDADE.
O princípio da impessoal idade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade.
1
Como caiu! O princípio da impessoalidade nada
mais é do que o clássico princípio da finalidade, que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. (CESPE/UnB – TJ/RR/2012/Administrador) Certo
O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE visa
impedir que um determinado agente público aja com simpatia ou antipatia, vingança, ou favorecimento, além do tão famigerado NEPOTISMO (contratação de parentes
até o 3º grau) para cargos em comissão).
Por esse Princípio da Impessoalidade, não pode o agente público ter por finalidade (INTERESSE PÚBLICO PRIMARIO), na realização de um determinado ato
administrativo, motivos ou razões pessoais, portanto, contrários ao interesse público. Quando não existe a impessoalidade o agente público acaba praticando o chamado DESVIO DE FINALIDADE, que é uma espécie de ABUSO DE PODER OU DE AUTORIDADE.
Exemplos de DESVIOS DE FINALIDADE (DESVIO DE PODER):
a) Nepotismo;
NOTE BEM!
Sobre esta prática nefasta do nepotismo a mais alta corte de nosso país, editou a Súmula Vinculante Nº 13 que trata
especificamente sobre o tema da seguinte forma:
1 Concurso de Promotor de Justiça, MPE-RS/2009.
―A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a CF.‖
NOTE BEM!
O STF admite exceção a esta regra: AgRg MCRCL 6.650-7 Relatora Ellen Gracie - EXCLUSAO DOS AGENTES POLITICOS.
=> NÃO É NEPOTISMO a nomeacão do irmão
de um prefeito para o cargo de secretario.
b) Remoção de servidor público com caráter punitivo (REMOÇÃO É O DESLOCAMNETO DO SERVIDOR TENDO EM VISTA O INTERESSE PÚBLICO);
c) Desapropriação de imóvel de inimigo político (A DESAPROPRIAÇÃO É UMA FORMA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE) ; e
d) Utilização da identidade funcional com o objetivo de adentrar gratuitamente a um determinado show, sem estar em OBJETO DE SERVIÇO (“carteirada”).
Como caiu!
Configura excesso de poder o ato do administrador público que remove um servidor de ofício com o fim de puni-lo. (CESPE - TRE/MS - ANALISTA/2013) Falso
PERGUNTA-SE: A TREDESTINAÇÃO É DESVIO DE FINALIDADE?
A tredestinação ocorre quando o administrador altera a finalidade especificada no ato de desapropriação. só será considerada desvio se a nova finalidade não for voltada ao interesse público. portanto, configurando uma tredestinação ilícita.
Outra situação em que vislumbramos a aplicação do princípio da impessoalidade está especificada no §1° do art. 37 da CF/88:
―A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos‖.
Conclui-se, portanto, que nunca uma obra realizada, por exemplo, em um determinado Estado-membro, poderá ser anunciada como realização pessoal do Presidente da República, do Governador de Estado ou do Prefeito Municipal, pois o dinheiro que financia o serviço ou a obra vem dos cofres públicos.
CUIDADO!
=>Este parágrafo que estudamos diz respeito a
publicidade oficial. Esta situação não fere a PUBLICIDADE. Colocar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
6 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
de autoridades em publicidade oficial fere a
IMPESSOALIDADE!
Agir com impessoalidade é agir tendo como base as regras da boa moral, honestidade e boa fé! Duas consequências lógicas deste princípio é justamente a LICITAÇÃO PÚBLICA e o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS.
Portanto este princípio decorre do próprio PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA, que
estabelece a ideia de que a Administração Pública tem que tratar a todos os administrados sem discriminações nem favoritismos.
NOTE BEM!
A ISOTIMIA nada mais é do que a igualdade na disputa pelo acesso a cargos públicos. A Constituição Federal prevê, por exemplo, percentual de vagas para deficientes em concursos públicos.
Por fim, merece destaque os ensinamentos do Prof. José Afonso da Silva, que, segundo ele, ressalta que ―o princípio ou regra da impessoalidade significa que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário‖.
=> É por isso que a vítima, que sofreu um dano
por parte de um agente público, não processa o agente, mas o Estado.
3) MORALIDADE.
O princípio da moralidade exige dos agentes públicos uma conduta ética (a moralidade administrativa está ligada ao conceito do bom administrador.).
Hely Lopes Meirelles ensina em sua doutrina:
“A moralidade administrativa constitui hoje em dia, pressuposto da validade de todo ato da Administração Pública.”
Não se trata da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração Pública. A moral comum é imposta ao homem para sua conduta externa; a moral administrativa é imposta ao
agente público para a sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem comum.
O próprio Código de Ética do Servidor Público
Federal (Decreto n° 1.171/94) impõem, entre outros aspectos, que o servidor deve decidir não somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas, e principalmente, entre o HONESTO e o DESONESTO.
Senão vejamos:
Dos Principais Deveres do Servidor Público
XIV– São deveres fundamentais do servidor público:
(...)
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;‖
=> PROBO = HONESTO
A própria Constituição Federal de 1988 (art. 5°, LXXIII) estabelece instrumentos jurídicos para sancionar esta conduta imoral. A AÇÃO POPULAR poderá ser
proposta por qualquer cidadão (detentor de seus direitos políticos) visando anular o ato lesivo à
moralidade administrativa.
Como caiu!
A ação popular pode ser acionada por cidadãos que pretendam questionar violações ao princípio da moralidade administrativa perante o Poder Judiciário. (UnB/CESPE – SEPLAG - SEAPA/DF/2009) Verdadeiro
Estes chamados atos de IMPROBIDADE
(desonestidade, falta de honradez etc.) importarão na SUSPENSÃO dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao Erário Público, consoante o que preceitua o §4° do art. 37 da CF/88.
Nos termos do art. 85, V, da CF/88, atentar contra
a probidade da administração é hipótese prevista como crime de responsabilidade do Presidente da República.
Por fim, ressalte-se que a moral administrativa
está diretamente ligada a princípios éticos de conduta.
Lembrem-se: nem tudo que é legal é honesto. Ex: “Diretor-geral de um Tribunal Regional administrativa,
é suficiente que o agente cumpra.
4) PUBLICIDADE.
Sendo o Administrador Público um gestor de bens e valores pertencentes ao povo, ou seja, ao Erário Público, devem por via de consequência, prestar contas sobre a utilização destes recursos públicos. É através desta TRANSPARÊNCIA que o cidadão poderá exercer o
seu poder de controle previsto na CF/88.
A regra geral é que todos os atos administrativos sejam publicados, excetuando os atos imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado.
O art. 5º, XXXIII da CF/88 assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Em alguns casos, também, não serão publicados os atos que disserem respeito à defesa da intimidade das pessoas. (Art. 5°, LX CF/88).
ATENÇÃO!
ATOS INTERNOS não se publicam na imprensa oficial. EX.: Circulares, Comunicações Internas – CIs etc.
Para Diogenes Gasparini:
“a publicação para surtir os efeitos desejados é a do órgão oficial. De sorte que não se considera como tendo atendido ao princípio da publicidade a mera notícia, veiculada pela imprensa falada, escrita ou televisiva, do ato praticado pela Administração Pública, mesmo que a divulgação ocorra em programas dedicados a assuntos relativos ao seu dia-a-dia, como é o caso da Voz do Brasil. Conforme já decidiu o STF ao julgar o RE 71.652 (RDA. 111:145).
A Lei federal nº 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública), no art. 6, XIII, com a redação que lhe atribuiu à legislação posterior, define imprensa oficial como:
DIREITO ADMINISTRATIVO 7
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
“veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União, o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis”.
NOTE BEM!
Existem locais que não possuem Diário Oficial (IMPRENSA OFICIAL).
Nestes casos a publicação será feita ou em jornais de grande circulação ou até mesmo sendo, em flanelógrafos colocados no átrio dos fóruns e Prefeituras.
Portanto, a regra é de que os atos são públicos devendo ser divulgados permitido o acesso aos que desejam conhecê-los e obter certidões (CF/88 - art. 5° - XXXIV – “c”).
5) EFICIÊNCIA.
Este princípio foi inserido no rol dos princípios contidos no Art. 37 da CF/88 pela Emenda Constitucional N° 19/98. Ressalte-se, entretanto, que o aludido princípio já constava da nossa legislação infraconstitucional.
Não basta que o agente público haja dentro da lei, com impessoalidade e ética, dando inclusive, transparência aos seus atos. É necessário que haja com PRESTEZA, PERFEIÇÃO E RENDIMENTO FUNCIONAL.
NOTE BEM!
O Art. 37, 3° da CF/88 introduziu o direito de reclamação prevendo a chamada avaliação periódica interna e externa da qualidade deste
serviço visando o controle deste aspecto.
Há punição para o servidor público desidioso?
Existe a possibilidade de o servidor estável ser DEMITIDO por INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO (Art.
41, III da CF/88). Entretanto este aspecto ainda será regulamentado por lei complementar.
NOTE BEM!
Palavras e expressões que, normalmente, estão associadas ao Princípio da Eficiência: otimização de recursos, qualidade na prestação do serviço, avaliação de desempenho, equilíbrio das contas públicas, administração pública gerencial, custo versus benefício, contrato de gestão, obtenção dos melhores resultados, uso racional dos meios etc.
Dicas de concurso:
O núcleo do princípio da publicidade é a procura da economicidade e da produtividade, o que exige a redução dos desperdícios do dinheiro público, bem como impõe a execução dos serviços com presteza e rendimento funcional. (CESPE – PC/RN/2009) (V/F) Falso.
O princípio da eficiência administrativa não foi expressamente previsto no texto da promulgação da CF. ((UnB/CESPE – SEPLAG - SEAPA/DF/2009) V/F) Verdadeiro
DOS PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS (TÁCITOS) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
São aqueles extraídos da doutrina, da jurisprudência e da interpretação dos textos legais. Trata-se de rol meramente exemplificativo ou “numerus apetus”:
1) PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO.
O interesse público prevalece sobre o particular.
→ ←
→ REPRESENTA UM VETOR = FORÇA.
CHOQUE DESPROPORCIONAL DE FORÇAS.
Dois aspectos derivam deste importante princípio:
1) O PODER DE POLÍCIA da Administração
Pública manifestado, por exemplo, nas desapropriações, embargos, interdições, aplicação de multas pecuniárias, destruição de coisas etc;
2) Presença das chamadas CLÁUSULAS EXORBITANTES constantes nos CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, regidos pela Lei nº. 8.666/93, pelos
quais estabelecem vantagens à administração em relação ao particular, como, por exemplo, as hipóteses de rescisão unilateral do instrumento firmado com o Poder Público. É por esse motivo que os contratos administrativos possuem natureza de CONTRATO DE ADESÃO (uma das partes fixa as regras restando à outra aceitar ou não).
Como caiu!
Do princípio da supremacia do interesse público decorre a posição jurídica de preponderância do interesse da administração pública. (CESPE/UnB – TJ/RR/2012 - Administrador) (V/F) Verdadeiro
2) PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
É o dever que a Administração tem de justificar seus atos sob pena de nulidade.
Lembre-se:
MOTIVAÇÃO = JUSTIFICATIVA POR ESCRITOE EM VERNÁCULO (LINGUA PÁTRIA).
ATENÇÃO!
MOTIVAÇÃO é diferente de MOTIVO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF já decidiu que a MOTIVAÇÃO é necessária em TODO e qualquer ato administrativo (embora exista uma EXCEÇÃO: EXONERAÇÃO de servidor ocupante de cargo comissionado).
ATENÇÃO!
Entretanto, se o servidor for exonerado e for dada, por escrito, a motivação aplica-se a chamada “TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.”.
Através da motivação é que verificamos a
veracidade dos motivos, ou seja, se os motivos são verdadeiros e, portanto, se o ato administrativo atende aos fins de interesse público. Em nível federal este tema está especificado pela Lei n° 9.784, de 29/01/1999
(Processo Administrativo Federal), senão vejamos:
CAPÍTULO XII DA MOTIVAÇÃO
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
8 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Exs.: prorrogação de um contrato administrativo
dispensa de procedimento licitatório, recurso administrativo, anulação de concurso público etc.
NOTE BEM!
Sumula Vinculante N° 11 – USO DE ALGEMAS –
DEVER DE MOTIVAR.
NOTE BEM!
VOCÊ SABE O QUE É A MOTIVAÇÃO ALIUNDE?
Ocorre quando a autoridade profere a decisão na qual a motivação consta de ato anterior no processo administrativo, como um parecer de órgão consultivo, com o qual concorda.( Hely Lopes Meirelles)
3) PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Ao Poder Judiciário é da à tarefa de realizar a Justiça. Estabelece o art. 5°, inc. XXXV de nossa Constituição Federal de 1988 - CF/88, que nenhuma lesão ou ameaça a direito individual ou coletivo poderá ser subtraída ao seu exame (Art. 5°, XXXV – “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.). É o denominado direito a jurisdição,
cabendo somente ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição, em caráter definitivo.
NOTE BEM1!
A coisa julgada administrativa não
impede que o administrado (particular) ingresse com uma ação no poder judiciário. Nada impede, também, que você ingresse diretamente no poder judiciário sem ter passado pelas esferas administrativas. (EXCEÇÃO: JUSTIÇA DESPORTIVA).
NOTE BEM2!
SÚMULA N° 21 do STF: "E inconstitucional
a exigência de deposito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo.”.
Por fim, é bom lembrar que aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA. Inclusive a SUMULA VINCULANTE N°5 do STF ressalta que a "falta
de defesa técnica por advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição.”.
4) PRINCÍPIO DO CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
A súmula 346 do STF proclama que: "A administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos‖.
Já a súmula 473 do STF estabelece o seguinte:"A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial‖.
Esta anulação terá efeito “EX TUNC”, quer dizer
que retroage até a origem tornando tudo nulo. Na verdade, se há alguma ilicitude, seja o ato vinculado ou discricionário, à Administração ou ao Judiciário é dado anulá-lo. A Administração não depende de provocação do interessado para anular um ato. Já o Poder Judiciário depende de provocação do interessado para anular um ato.
LEMBRE-SE:
O Poder Judiciário poderá anular atos
administrativos oriundos do Poder Executivo, NUNCA REVOGÁ-LOS. O Poder Judiciário somente poderá revogar os seus próprios atos administrativos.
Portanto, devemos entender que a revogação é privativa da própria Administração, que somente
poderá revogar atos discricionários, por motivo de conveniência ou oportunidade (o efeito da revogação é o “EX NUNC”).
5) INDISPONIBILIDADE.
A Administração Pública não poderá transigir ou até mesmo, renunciar os seus direitos, nem dispor de seus bens se não for autorizada por lei. Isto acontece porque bens, valores e direitos não pertencem ao Administrador Público, mas a coletividade. EX: Se o Administrador Público quiser doar um bem imóvel ele necessitará de uma lei autorizando esta doação.
6) HIERARQUIA.
Os órgãos e agentes de escalões inferiores devem cumprir as ordens emanadas dos escalões superiores, salvo se estas ordens forem manifestamente ilegais. É dever do servidor público REPRESENTAR contra a ilegalidade.
NOTE BEM!
O não cumprimento de ordens legais (insubordinação) gera demissão do serviço público.
Inclusive os escalões superiores podem, efetivamente, fiscalizar e controlar os seus subordinados podendo, alterar, anular, revogar ou ratificar seus atos.
ATENÇÃO!
Exemplos onde há uma relação de hierarquia:
A) Presidente da República e um ministro de estado;
B) Delegado de polícia e um escrivão de polícia;
C) Juiz de direito e um diretor de secretaria.
Exemplos onde não há uma relação de hierarquia:
DIREITO ADMINISTRATIVO 9
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A) Presidente da república e um ministro do supremo tribunal federal - STF;
B) Presidente da república e um prefeito municipal;
C) Presidente da república e um senador da república;
D) Presidente da República e um presidente de uma autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista (o controle é meramente finalístico).
Ainda como consequência lógica do PRINCÍPIO DA HIERARQUIA os escalões superiores DELEGAM ou AVOCAM competências (atribuições).
DELEGAÇÃO → “Atribuição temporária e
revogável a qualquer tempo, do exercício de algumas atribuições originariamente pertencentes ao cargo do superior hierárquico a um subordinado.”.
NOTE BEM!
A delegação é sempre parcial (não podendo abranger todas as atribuições do cargo), por tempo determinado (REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO)
e deverá ser publicada na imprensa oficial.
ATENÇÃO!
São INDELEGÁVEIS:
a) A edição de atos de caráter normativo;
b) A decisão de recursos administrativos;
c) As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
AVOCAÇÃO → É o poder que possui o superior
hierárquico de chamar para si a execução de atribuições cometidas originariamente a seus subordinados.
NOTE BEM!
A Lei n° 9.784, de 29/01/1999 (Processo Administrativo Federal) estabelece o seguinte:
―Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior‖.
Lembra-nos Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (pág. 157) que a avocação deve ser evitada por representar um incontestável desprestígio para o servidor subordinado.
7) PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
Os atos da Administração Pública presumem-se legítimos (de acordo com o Direito) até que se prove o contrário. Presume-se, também, que os fatos são verdadeiros (VERACIDADE). Portanto, são conceitos
diferentes.
O ônus da prova (a obrigação de provar) é do administrado (particular).
Esta é a chamada PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" (presunção relativa). É deste aspecto que
surge a chamada auto-executoriedade dos atos administrativos.
Ex.: uma determinada multa de trânsito inscrita
goza de legitimidade. Esta presunção é relativa e pode ser elidida (eliminada) por prova, a cargo do administrado.
8) AUTOTUTELA.
É o poder da Administração pública de revogar ou anular seus próprios atos administrativos. Está
diretamente atrelada ao CONTROLE INTERNO (Ex: CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, Corregedorias, Ouvidorias etc). Encontra-se consagrado na Súmula do STF n° 473.
Lembre-se da súmula 473 do STF: "A
administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial‖.
IMPORTANTÍSSIMO:
A ANULAÇÃO terá efeito “EX TUNC” (RETROATIVO). A Administração Pública não depende de provocação do interessado para anular um ato. Já o Poder Judiciário depende de
provocação do interessado para anular um ato. Já a REVOGAÇÃO terá efeito “EX NUNC” (NÃO
RETROATIVO).
EMBRE-SE:
O Poder Judiciário poderá anular atos administrativos oriundos do Poder Executivo, NUNCA REVOGÁ - LOS. O Poder Judiciário
somente poderá revogar os seus próprios atos administrativos.
ATENÇÃO!
O direito da administração pública de anular os seus atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários DECAI em CINCO ANOS, contados da data em que foram praticados, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ!
Dicas de concurso:
De acordo com o princípio da autotutela, a Administração Pública pode exercer o controle sobre seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. (CESPE – MPE/RR/2008) Verdadeiro.
A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos. (CESPE –MC/Administração/2008) Verdadeiro.
9) CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
Os serviços públicos não podem sofre solução de continuidade (paralisação). Isto acontece para que o atendimento ao interesse da coletividade não seja prejudicado.
Outros institutos derivam deste princípio entre eles a delegação de competência, a suplência etc.
NOTE BEM!
Durante muitos anos este princípio serviu de pretexto para a proibição de greve no serviço público. O Supremo Tribunal Federal – STF estabeleceu que as mesmas regras aplicadas no campo privado (Lei nº 8.987/1995), no que diz respeito à greve, poderão ser aplicadas no campo público.
Cabe deixar registrado que a Lei n 8.987/1995 não
caracteriza a descontinuidade na prestação de serviço público a interrupção em situação de emergência, ou quando houver aviso prévio nas seguintes situações: a) razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; b) inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
10 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Por fim, existe, ainda, a chamada EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, ou seja: mesmo que a
Administração Pública descumpra a sua principal obrigação em um contrato administrativo, deixando de remunerar o particular contratado este não poderá interromper a prestação do serviço, mas postular perante o Poder Judiciário as reparações cabíveis ou a rescisão contratual. Ressalte-se que, a Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores prevê a paralisação da execução do contrato não pago por período acima de 90 (noventa) dias.
Dica de concurso:
A nomeação de suplentes em comissões é feita em observância ao princípio da continuidade. (Sec.Dileg.MPE-RS/FCC/2010).
10) RAZOABILIDADE OU PROIBIÇÃO DE EXCESSO.
O princípio da razoabilidade, segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo(pág. 112), ―conduz às ideias de adequação e de necessidade. Assim, não basta que o ato da Administração tenha uma finalidade legítima. É necessário que os meios empregados pela Administração sejam adequados à consecução do fim almejado e que sua utilização, especialmente quando se trata de medidas restritivas ou punitivas, seja realmente necessária‖.
Ser razoável implica ser coerente, utilizando-se de
meios adequados e necessários para atingir o fim almejado, no próprio interesse público.
ATENÇÃO:
Razoabilidade ou, para alguns autores, o Princípio da Proibição dos Excessos, está implícito na nossa Constituição Federal de 1988 e é um instituto a ser utilizado em toda a ciência jurídica.
Ex: é razoável que um determinado edital de um
concurso público para o provimento de cargos em uma penitenciária feminina disponibilize vagas apenas para mulheres.
NOTE BEM!
O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE está contido no PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE na medida em que a razoabilidade exige proporcionalidade entre os meios de que se utilize a Administração Pública e os fins que ela pretende alcançar ("Não se mata pardais com canhões!”). Entretanto, ressalte-se que a jurisprudência considera que a razoabilidade e a proporcionalidade são expressões sinônimas!
Dicas de concursos:
O princípio da razoabilidade visa a impedir que administradores públicos se conduzam com abuso de poder, sobretudo nas atividades discricionárias. (Tec.Leg. SF/FGV/2008)
11) PRINCIPIO DO CONCURSO PUBLICO.
Vejamos o que a CF88 estabelece sobre o tema:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
Os incisos supramencionados ressaltam, com clareza, que o acesso a cargos e empregos públicos efetivos necessitam de um procedimento prévio denominado de concurso público de provas ou provas e títulos. NÃO EXISTE CONCURSO PÚBLICO SOMENTE DE TÍTULOS.
ATENÇÃO!
Todo cargo público necessita de concurso público para o seu provimento?
Falso, tendo em vista os cargos comissionados e os cargos políticos.
12) PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
Pelo princípio da especialidade, os órgãos públicos e as entidades da Administração Pública só podem exercer poderes funcionais e atividades para alcançar os seus fins determinados e limitados no seu ato de criação ou de regência.(Prom.Just.MPE-MG/2002)
Ex: As Autarquias, que são fruto desta
descentralização, não podem receber doações que contrariem suas finalidades. Ex: Se a AMC (autarquia)
recebesse doação para que nela se instalasse um hospital.
13) PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Também chamado por alguns de PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS, revela a
importância de se ter certa imutabilidade ou certeza de permanência dessas relações jurídicas, visando impedir ou reduzir as possibilidades de alterações dos atos administrativos, sem a devida fundamentação.
NOTE BEM! A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA ESTABILIZAM RELAÇÕES JURÍDICAS VICIADAS!
Vejamos o art. 54 da Lei Federal 9.784/1999:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Ex: uma vez reunidos os requisitos para a
aposentadoria voluntária do servidor público a segurança jurídica impede que uma mudança nas regras atinja o seu direito.
DIREITO ADMINISTRATIVO 11
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO FUNÇÃO DO ESTADO
Estado, Governo e Administração são termos que andam juntos e muitas vezes confundidos, embora expressem conceitos diversos nos vários aspectos em que se apresentam.
1. NOÇÕES DE ESTADO
1.1 Conceito de Estado
Ente personalidade como pessoa jurídica de direito público – é a nação politicamente organizada -, que é detentora de SOBERANIA. O Estado NÃO tem
DUPLA PERSONALIDADE, mesmo que esteja praticando atos externos ou privados, trata-se de pessoa jurídica de direito público, não perde a personalidade PÚBLICA. O ESTADO DE DIREITO é o estado politicamente organizado, que obedece às suas próprias leis.
O conceito de Estado, segundo Hely Lopes
Meirelles2
―Varia segundo o ângulo em que é considerado. Do ponto de vista sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de mando originário; sob o aspecto político, é comunidade de homens, fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção; sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana; na conceituação do nosso Código Civil, é pessoa jurídica de Direito Público Interno (art. 14, I). Como ente personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do Direito Público como no do Direito Privado, mantendo sempre sua única personalidade de Direito Público, pois a teoria da dupla personalidade do Estado acha-se definitivamente superada.‖ (grifamos)
Mais adiante, ressalta o seguinte aspecto:
―O Estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis: Povo, Território e Governo soberano.
Povo é o componente humano (elemento subjetivo) do Estado;
Território (elemento objetivo), a sua base física;
Governo soberano, o elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do Povo. Não há nem pode haver Estado independente sem Soberania, isto é, sem esse poder absoluto, indivisível e incontrastável de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre de seu Povo e de fazer cumprir as suas decisões inclusive pela força, se necessário. A vontade estatal apresenta-se e se manifesta através dos denominados Poderes de Estado.‖ (grifamos)
O Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno ou externo.
2 DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 18ª
edição por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho.
a) interno: quando possui direitos e obrigações no
ordenamento jurídico, capaz de fazer imperar o ordenamento jurídico internamente.
b) Externo: fazendo parte das relações jurídicas
internacionais. O Estado é o produtor da vontade social, seu papel é de buscar o bem comum. Por ser personalizado é detentor de uma série de direitos e obrigações, inclusive o de implantar apolítica governamental em todo o seu território.
1.2 Formas de Estado
Forma de Estado designa o como o poder é dividido em um determinado território. Se houver apenas um centro de poder, a forma de Estado é unitária – que é marcada pela “centralização política” -, o que
geralmente ocorrer em países de pequena extensão, como o Uruguai.
Todavia, havendo mais de um centro de poder, a forma é composta, que se divide em: uniões, confederações e federações. A última espécie é a mais
relevante de todas, caracterizando-se por um conjunto de Estados autônomos (poder limitado nos termos da Constituição) que abdicam de sua soberania (poder ilimitado no âmbito interno) em favor de uma União.
Como forma de Estado, o Brasil adotou o federalismo.
1.3 Funções e Poderes do Estado
Montesquieu, decorrentes das principais atividades do Estado: PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO e JUDICIÁRIO, são os elementos orgânicos ou estruturais do Estado. A tripartição de Montesquieu é adotada no texto constitucional, tendo por finalidade o equilíbrio entre os Poderes, de modo a evitar a supremacia de qualquer deles sobre o outro (Carvalho F., Cap. 1).
A nossa Constituição estabelece expressamente que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (CF, art. 2º), bem assim veda que haja deliberação sobre Emenda à Constituição tendente a abolir a separação dos Poderes (CF, art. 60, §4º, III).
Funções do Estado (típica e atípica) – são
decorrentes dos poderes. FUNÇÃO é o exercício de uma atividade em nome e interesse de outrem. FUNÇÃO PÚBLICA é o exercício de atividade em nome e interesse do POVO. Entretanto, no Brasil, não há
exclusividade no exercício dessas funções, não há um rígida, absoluta, divisão dos Poderes, mas sim preponderância na realização desta ou daquela função. Assim, embora os Poderes tenham funções precípuas (funções típicas), a própria Constituição autoriza que também desempenhem funções que normalmente pertenceriam a Poder diverso (funções atípicas). São as chamadas ressalvas (ou exceções) ao princípio da separação dos Poderes.
Função típica – é a função principal
(preponderante) do poder, o motivo pelo qual o poder foi criado. EX.: legislativo fazer lei; PR administrar; judiciário julgar.
Função atípica – é a função secundária do poder.
EX.: legislativo fazendo licitação; PR edita medida provisória; judiciário fazer licitação.
12 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Características das funções típicas:
Função Legislativa – consiste na elaboração de
leis. É a função legiferante. É uma função abstrata. É uma função geral com repercussão erga omnis. É a única função que inova o ordenamento jurídico.
Função Judiciária
Consiste na solução de conflitos, aplicando coativamente as leis. É uma função concreta (exceto o controle direto de constitucionalidade). É uma função indireta, porque depende de provocação. Não inova o ordenamento jurídico. Produz imutabilidade jurídica, ou seja, a intangibilidade jurídica ou coisa julgada, isto é, somente a decisão judiciária é definitiva.
Função Executiva ou Administrativa
O Poder executivo realiza a função administrativa – “aquela exercida pelo Estado ou por seus delegados, subjacente à ordem constitucional e legal, sob regime de direito público, com vistas a alcançar os fins colimados pela ordem jurídica” (Carvalho F.). É uma função concreta. É uma função direta. Não inova o ordenamento jurídico, pois, não revoga o atual estabelecendo um novo (MEDIDA PROVISÓRIA é uma função atípica). É uma função capaz de ser revista, não produz coisa julgada. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA não é uma verdadeira coisa julgada, é a imutabilidade dentro da administração, ou seja, dentro de um processo administrativo não há possibilidade de revisão dentro da própria administração, mas nada impede que seja revista pelo Poder Judiciário. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhes faça as vezes, exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, submissos todos a controle da legalidade pelo Poder Judiciário.
2. NOÇÕES DE GOVERNO
2.1 Conceito de governo
É o comando, é a direção do Estado. Exemplo: atos de soberania e autonomia.
No âmbito do Direito Administrativo, a expressão Governo tem sido utilizada para designar o conjunto de Poderes e órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado. O Governo tem a incumbência de zelar pela direção suprema e geral do Estado, determinar seus objetivos, estabelecer suas diretrizes, visando à unidade da soberania estatal.
2.2 Função de Governo
Existem algumas funções que não podem ser enquadradas em nenhuma das acima. Ex.: quando o Estado declara guerra. É a função que regula a atuação superior do Estado.
No sistema presidencialista, o Chefe do poder Executivo realiza internamente duas funções típicas: função política(ou de governo)
3 e função
3 A função de governo fica além das atividades meramente
rotineiras. Ex.: declaração de estado de defesa ou de estado de
sítio, iniciativa de lei, sanção e veto do presidente, declaração de
guerra, celebração de paz. Note-se que há divergência sobre essa
classificação.
administrativa4. Embora realizada por um só Agente
Político, essas atividades não se confundem.
Pode-se definir governo como a condução
política de negócios públicos, estando constante a expressão de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado. Envolve-se com a ideia de direção dos interesses públicos. Já a função administrativa está
relacionada com a ideia de implementação e resolução de tarefas comuns, simples e estão voltadas ao cumprimento do que foi estabelecido por certas diretrizes governamentais.
Para facilitar a distinção, segue o quadro:
GOVERNO ou FUNÇÃO POLÍTICA
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
Relacionada com a ideia de tomada de decisões fundamentais à vida da coletividade, com vistas até ao seu futuro;
Relacionada com tarefas cotidianas e simples;
É dotado de função primordialmente política e fixa as diretrizes da vida associada;
Cumpre o dever de executar tais diretrizes;
Ex.: Opção por determinada política econômica ou social.
Ex.: Indicação de dirigente para ocupar a chefia de determinado órgão.
VEJAMOS ESTE EXCELENTE QUADRO COMPARATIVO DO BLOG: DIREITO EM QUADRINHOS
5
Atividade de governo Atividade de administração pública
Dir. Constitucional Dir. Administrativo
Atos praticados com fundamento na Constituição Federal
Atos praticados com fundamento na legislação infraconstitucionais
Atos que visam metas
(planejamento para chegar a uma nova posição – implementação de políticas públicas)
Atos de execução
(executam um planejamento realizado pela atividade de governo)
Controle exercido sobre o ato de governo é o chamado controle político (não há controle
jurisdicional a não ser que lese direitos fundamentais). Não existe hierarquia entre o controlador e o controlado, por isso o controle não pode ser hierárquico.
Controle exercido sobre os atos de administração pública é o chamado controle hierárquico
(sofre controle jurisdicional e controle administrativo). Entre o órgão controlador e o controlado existe hierarquia.
4 A função administrativa se preocupa com as questões
rotineiras ou costumeiras. 5 FONTE:
http://direitoemquadrinhos.blogspot.com.br/2011/01/diferenca-entre-atividade-de-governo-e.html
Acesso Em 23.09.2013. BLOG: DIREITO EM QUADRINHOS AUTORES: Danielly Medeiros, Advogada e Professora & André Uchôa, Professor.
DIREITO ADMINISTRATIVO 13
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
2.3 Sistema de governo
Sistema de Governo é o modo como se relacionam os poderes Executivo e Legislativo. Existem os seguintes sistemas de governo:
a) presidencialista: o chefe de estado também é o
chefe de Governo e, portanto, da Administração Pública. É o sistema adotado no Brasil pela Constituição de 1988 e confirmado pelo plebiscito de 1993;
b) parlamentarista: a chefia de Estado é exercida
por um presidente ou um rei, sendo que a chefia de Governo fica a cargo de um gabinete de ministros, nomeados pelo Parlamento e liderados pelo primeiro-ministro;
c) semipresidencialista: também chamado de
sistema híbrido, é aquele em que o chefe de Governo e o chefe de Estado compartilham o Poder Executivo e exercem a Administração Pública;
d) diretorial: o Poder executivo é exercido por um
órgão colegiado escolhido pelo Parlamento. Ao contrário do parlamentarismo, não há possibilidade de destituição do diretório pelo Parlamento.
2.4 Formas de governo
As formas de Governo (ou sistemas políticos) dizem respeito ao conjunto das instituições pelas quais o Estado exerce sue poder sobre a sociedade e, principalmente, o modo como o chefe de Estado é escolhido. Existem três formas:
a) presidencialismo: escolhido pelo voto (direto
ou indireto) para um mandato pré-determinado;
b) monarquia: escolhido geralmente pelo critério
hereditário, sua permanência no cargo é vitalícia - o afastamento só pode ocorrer por morte ou abdicação. A monarquia pode ser absoluta, em que a chefia de Governo também está nas mãos do monarca; ou parlamentarista, em que a chefia de Governo está nas mãos do primeiro-ministro;
c) anarquia: ausência total de Governo.
3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
3.1 CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello apresenta duas versões para a origem do vocábulo administração. A primeira é que esta vem de ad
(preposição) + ministro, as, are (verbo), que significa servir, executar. A segunda indica que, vem de ad manus trahere, que envolve ideia de direção ou gestão. Nas duas hipóteses, há o sentido de relação de subordinação, de hierarquia. O autor demonstra que a palavra administrar significa não só prestar serviço, executá-lo como, outrossim, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil; e que até, em sentido vulgar, administrar quer dizer traçar programa de ação e executá-lo.
Para o renomado jurista, a administração pública, pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.
A expressão “Administração Pública” abarca diversas concepções.
Assim, temos Administração Pública em:
► Sentido AMPLO (LATO SENSU)
É conjunto de órgãos de governo (com função política de planejar, comandar e traçar metas) e de órgãos administrativos (com função administrativa, executando os planos governamentais).
Órgãos governamentais (políticos) + órgãos administrativos.
►Sentido ESTRITO (STRICTO SENSU)
Conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos que desempenham a função administrativa do Estado. Ou seja, num sentido estrito, a Administração Pública é representada, apenas, pelos órgãos administrativos.
Exclusivamente, órgãos administrativos.
►Sentido FORMAL, SUBJETIVO ou ORGÂNICO
É o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal, ou seja, a função administrativa.
►Sentido MATERIAL, OBJETIVO ou FUNCIONAL
É o termo de designa a natureza da atividade exercida pelos entes administrativos, vale dizer, “administração pública”(com iniciais minúsculas) é a
própria função administrativa, a cargo, predominantemente dos órgãos inseridos na estrutura do Poder Executivo.
A doutrina ressalta as seguintes atividades: polícia
administrativa, serviço público, intervenção no domínio público, etc.
ATENÇÃO!
Existe Administração Pública, também nos poderes Legislativo e Judiciário, quando do exercício de sua função atípica (administrativa).
VEJA BEM!
Normalmente quando nos referimos a Administração Pública lembramos do Poder Executivo. Entretanto os demais poderes, atipicamente, também desenvolvem a chamada função administrativa.
3.2 DISTINÇÕES ENTRE: ESTADO – GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
a) Estado: caráter instrumental = promotor e garantidor do interesse público - do bem comum. Exercita as três funções estatais: legislar, administrar e julgar;
tem personalidade jurídica; Estado como é Federativo é personificado por entes: União, estados-membros, Municípios e DF.
b) Governo: primacialmente desenvolve atividade
discricionária. Exerce as três funções: legislar, administrar e julgar),embora operacionalmente concentra função exclusivamente administrativa) (caráter transitório) (sem personalidade jurídica) (personifica o interesse público secundário).
c) Administração Pública: caráter residual e
instrumental; primacialmente desenvolve atividade vinculada; somente exerce função estatal administrativa; sem personalidade jurídica; e caráter permanente.
d) Função Administrativa:
14 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
I) Caráter residual, ou seja, tudo que for acometido ao Estado pela CF/leis, que não seja legislar e julgar é funçãoa dministrativa,
II) Exercida tipicamente pelo Poder Executivo, embora possa também ser manifestada, exercida atipicamente pelos outros dois Poderes.
4. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 CONCEITO
Segundo Hely Lopes Meirelles, "É todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas."
Pode ser definida objetivamente como atividade
concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos; e subjetivamente
com o conjunto de órgãos e de pessoas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.
4.2 ENTIDADES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS:
Hely Lopes MEIRELLES explica que entidade é
pessoa jurídica, pública ou privada; órgão é elemento despersonalizado ao qual cabe realizar as atividades da entidade de que faz parte, por meio de seus agentes, pessoas físicas investidas em cargos e funções.
No entendimento de Alexandrino(2011), “entidades políticas são aquelas que recebem suas
atribuições da própria Constituição, excercendo-as com plena autonomia”.
As entidades políticas possuem a característica principal de gozarem de autonomia política (traduzida pela capacidade de auto-organização).
São pessoas jurídicas de direito público interno da administração direta: União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Entidades administrativas, por sua vez, são as
pessoas jurídicas que integram a administração pública sem dispor de autonomia política. Elas compõem a administração indireta: as autarquias, as fundações, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.
4.2 CLASSIFICAÇÃO
Dentro da organização política e administrativa brasileira as entidades são classificadas em estatais, autárquicas, fundacionais, empresariais e paraestatais.
Entidades Estatais: são pessoas jurídicas de
Direito Público que integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos a administrativos, tais como a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal;
Entidades Autárquicas: são pessoa jurídicas de
Direito Público, de natureza meramente administrativa, criadas por lei específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizado da estatal que as criou; funcionam e operam na forma estabelecida na lei instituidora e nos termos de seu regulamento;
Entidades Fundacionais: pela CF/88, são
pessoas jurídicas de Direito Público, assemelhadas às autarquias (STF); são criadas por lei específica com as atribuições que lhes forem conferidas no ato de sua instituição;
Entidades empresariais: são as pessoas jurídicas
de Direito Privado criadas sob a forma de sociedade de economia mista ou empresa pública. Sua finalidade é a de
prestar serviço público que permita exploração no mundo empresarial ou de exercer atividade econômica de interesse coletivo. São criadas a partir de autorização por lei específica, tendo o Poder Executivo a responsabilidade de tomar as providências complementares para sua instituição.
Entidades Paraestatais: são pessoas jurídicas de
Direito Privado cuja criação é autorizada por lei específica para a realização de obras, serviços ou atividades de interesse coletivo (SESI, SESC, SENAI, etc.); são autônomas, administrativa e financeiramente, tem patrimônio próprio e operam em regime da iniciativa particular, na forma de seus estatutos, ficando vinculadas (não subordinadas) a determinado órgão da entidade estatal a que pertencem, que não interfere diretamente na sua administração.
5. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
No aspecto horizontal, em função do grau de complexidade, a Administração Pública reparte-se em ADMINISTRAÇÃO DIRETA e INDIRETA.
Tal divisão está prevista no Decreto-Lei 200/67 que dispõe:
A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas.
5.1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU CENTRALIZADA.
Segundo ALEXANDRINO, administração direta “é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas
(União, Estados-Membros, Município e Distrito Federal), aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, de atividade administrativa.” (grifamos)
São características das entidades federativas;
possuem autonomia político-administrativa (art. 18 da CF/88)
são pessoas jurídicas de direito público interno.
não possuem personalidade jurídica própria
As competências administrativas de cada uma das entidades federativas são estabelecidas primeiramente pela Constituição, depois se utiliza o critério de interesses: nacionais, regionais e locais.
As entidades federativas podem:
a) desconcentrar as suas atividades criando órgãos públicos para si próprias;
b) estabelecer uma estrutura de descentralização administrativa, criando outras pessoas jurídicas para executar atividades que lhe serão repassadas com titularidade, ou ainda;
c) delegar a terceiros não integrantes da Administração Pública o exercício da atividade administrativa.
DIREITO ADMINISTRATIVO 15
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
ATENÇÃO!!
A União é dotada de soberania, os
Estados, DF e Municípios são dotados de autonomia política, administrativa e financeira.
A teoria que melhor explica essa relação interna na Administração Pública é: a teoria do órgão: a pessoa
jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos, de tal modo que, quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. Imagine a Administração Pública como sendo um corpo humano que necessita de seus órgãos para sobreviver (Ex. Ser humano: coração bombeia o sangue,
pulmão exerce a função respiratória, etc.), onde cada órgão é um centro de atribuições.
NOTE BEM!
Na Administração Direta observamos o fenômeno interno de distribuição de competências denominado de DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Na desconcentração há HIERARQUIA. O órgão criado através deste fenômeno fica inteiramente subordinado ao órgão que o criou.
EX: Se o Departamento de Polícia Federal – DPF,
localizado em Brasília cria nos Estados-Membros as chamadas Superintendências Regionais pratica a chamada DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Existe nesta relação um CONTROLE HIERÁRQUICO.
5.2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU DESCENTRALIZADA.
É o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à Administração Direta, têm a competência para o exercício, de forma descentralizado, de atividades administrativas. É integrada por pessoas jurídicas de direito público ou privado, criadas ou instituídas a partir de lei específica: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, como também associações e consórcios públicos.
É composta pelas Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, entidades com personalidade jurídica própria, todas fruto da chamada descentralização.
Na Administração Pública Indireta observarmos o fenômeno da DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
que nada mais é do que o mecanismo onde se atribui uma atividade pública a uma terceira pessoa jurídica. Por fim, é bom lembrar que as entidades da Administração Indireta sofrem um CONTROLE FINALÍSTICO. O
Ministério ou a Secretaria respectiva controla unicamente, se a entidade está cumprindo ou não a suas finalidades. Este controle no âmbito federal denomina-se SUPERVISÃO MINISTERIAL.
Características
São características das entidades que a compõem:
são criadas por lei (autarquias e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público) ou em virtude de lei autorizativa ( fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 37, XIX daCF/88);
se submetem a um regime jurídico de direito público;
São dotadas de personalidade jurídica;
Recebem a titularidade da atividade administrativa a ser executada através de OUTORGA (ou delegação legal);
Possuem autonomia administrativa, exercem atividades específicas;
Possuem orçamento, receita e patrimônios próprios;
decorrem do fenômeno da DESCENTRALIZAÇÃO administrativa: técnica, por serviços ou funcional;
estão VINCULADAS à Administração Direta, mas NÃO EXISTESUBORDINAÇÃO, e sim um controle finalístico, também denominado, controle de resultado ou tutela administrativa; Na esfera federal esse controle é denominado de SUPERVISÃOMINISTERIAL (art. 26, Decreto-lei 200/67)
submetem-se ao sistema de controle externo realizado pelos Tribunais de Contas (art. 71, II da CF/88);
seus agentes públicos, em regra, se submetem a concurso público;
em regra, também há a obrigatoriedade de realizar licitação;
Respondem diretamente pelos atos de seus agentes (pode ser responsabilidade objetiva ou subjetiva)
5.2.1 CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO
CENTRALIZAÇÃO
DESCENTRALIZAÇÃO
DESCONCENTRAÇÃO
Estado executa diretamente suas atividades, através da Administração Direta.
Atividade exercida por pessoas distintas do Estado;
Atividade exercida pelo Estado;
Existe apenas uma pessoa jurídica
(União, DF, Estados ou Municípios) que presta os serviços através dos seus órgãos e agentes.
Duas pessoas: entidade central e a descentralizada;
Uma pessoa: a central;
A atividade transferida ou a sua execução estão fora do Estado;
A atividade está no interior do Estado;
Não há hierarquia e sim controle;
Sendo dentro da mesma pessoa existe hierarquia, subordinação ou controle hierárquico (punição, fiscalização, avocação, revisão, delegação e
16 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
solução de conflitos de competência)
Há uma distribuição externa de competências
A distribuição é interna: dentro da mesma entidade
Pode ser por: outorga ou delegação. Em nenhuma destas formas há hierarquia.
O seu resultado é o surgimento dos órgãos públicos.
Descentralização por Outorga, Serviços, Legal ou Funcional
o Através de lei, o Estado transfere determinado
serviço público a entidade da administração indireta. É a lei que cria ou autoriza a criação PJ prestadora do serviço
o Normalmente o prazo é indeterminado.
o Não há hierarquia (subordinação) entre a administração direta e a indireta. Há uma relação de vinculação.
o A administração direta exerce supervisão (controle finalístico ou tutela administrativa) sobre a administração indireta.
Descentralização por Delegação, Colaboração ou Negocial
o Através de contrato (concessão ou permissão) ou ato unilateral (autorização).
o A delegação por contrato (concessão ou permissão) é sempre por prazo determinado.
o A delegação por ato administrativo (autorização), como regra, não há prazo certo (revogável a
qualquer tempo)
o É transferido apenas a execução do serviço.
o O serviço é prestado pela delegatária por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado.
o A concessão é dada somente a PJ ou Consórcio.
o A permissão e autorização pode ser para PF ou PJ
o Não há hierarquia.
Tipos de Desconcentração
o Desconcentração em razão da matéria
(Ministério da Saúde, Ministério da Educação, etc)
o Desconcentração em razão do grau ou hierarquia (ministérios, secretarias, etc)
o Desconcentração pelo critério territorial ou geográfica (Superintendência Regional da RFB - RJ)
ATENÇÃO!
Descentralização dos serviços públicos por colaboração (agentes delegados) ocorre
mediante contrato administrativo ou ato administrativo unilateral, transferindo a execução de determinado serviço público a um particular, conservando o poder público a titularidade.
Dica de concurso:
A desconcentração administrativa ocorre
quando um ente político cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa.(FVG)
5.2.2 CRIAÇÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Dispõe a CF/88 em seu art. 37, inc. XIX e XX que
―XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;‖
5.2.3 ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA e SUAS CARACTERÍSTICAS:
5.2.1.1 AUTARQUIA (entidade administrativa):
Conceito:
As autarquias são criadas por lei para executar, de forma descentralizado, atividades típicas da administração pública. Têm patrimônio formado por recursos próprios. Sua organização interna pode vir através de decretos (emanam do poder executivo); de portarias (ministérios, secretarias); regimentos ou regulamentos internos. São autarquias, por exemplo, as universidades federais. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: São pessoas jurídicas de direito público de capacidade exclusivamente administrativa.
Características:
Significa autogoverno, governo próprio.
Pessoa Jurídica de Direito Público;
NOTE BEM!
Não tem capacidade política, ou seja, não tem capacidade para editar leis.
Criada por lei (específica) =>Vide Art. 37, XIX, da CF/88;
EXTINÇAO: depende de lei consoante o Princípio da Simetria (não pode ser extinta por ato administrativo);
Orçamento, patrimônio e receita próprios;
Gestão administrativa e financeira DESCENTRALIZADA;
Controle finalístico (No âmbito federal esta forma de controle denomina-se supervisão ministerial.);
Fiscalização dos Tribunais de Contas;
Execução de serviços próprios do Estado;
Servidores ESTATUTÁRIOS;
Aplicação da regra constitucional da acumulação de cargos, empregos e funções;
Uso da Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Não se submete ao regime falimentar;
Suas dívidas estão sujeitas ao regime dos precatórios (art. 100 e parágrafos da CF/88);
Responsabilidade Civil: é, em regra, objetiva (art.37, §6º, da CF) e subsidiária do Estado;
NOTE BEM!
“A autarquia é pessoa de direito, e como tal deve responder pelas obrigações
DIREITO ADMINISTRATIVO 17
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
assumidas e pelos danos que causar a alguém”
(RT, 151:301 e RDA, 59:333);
Privilégios: imunidade de impostos, prescrição
quinquenal de suas dívidas, impenhorabilidade de seus bens, prazos dilatados em Juízo, pagamento de custas processuais somente ao final, quando vencidas, cláusulas exorbitantes, etc.
EX: UFC INCRA (Inst, Nac. de Colonização e
Reforma agrária), Banco Central - BACEN, DNIT, DER, DNOCS, DETRAN, IJF, INSS, IBAMA, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ANATEL, ANP, ANAC, ANP, ANVISA, AMC, etc.
ESPÉCIES DE AUTARQUIAS:
As autarquias podem ser identificadas como autarquias comuns e autarquias especiais (agências executivas, agências reguladoras e as associações públicas)
Autarquias comuns: são aquelas que se
enquadram nas características gerais do Decreto-lei 600/1967. Ex: INSS, IBAMA.
Autarquias especiais: são aquelas que por
imposição legal tem um regime jurídico diferenciado, possuindo características específicas, em regra gozando de maior autonomia e independência para desempenhar suas atividades. Ex. Agências reguladoras.
a) AGÊNCIAS REGULADORAS.
Conceito:
Autarquia de regime especial. Surge em razão do fim do monopólio estatal.
Regime especial: caracteriza-se por três elementos: maior independência, investidura especial (depende de aprovação prévia do Poder Legislativo) e mandato, com prazo fixo, conforme lei que cria a pessoa jurídica.
Função:
É responsável pela regulamentação, controle e fiscalização de serviços públicos, atividades e bens transferidos ao setor privado.
Algumas características:
a) Regime de pessoal: estatutário – Lei 10.871/04;
b) Licitação: obedece às normas da Lei 8.666/93.
c) Possui o chamado Poder de Polícia, inclusive no que diz respeito a aplicação de multas administrativas.
Ex: ANATEL, ANP, ANAC, ANP, ANVISA, etc.
b) AGÊNCIAS EXECUTIVAS
Conceito: são autarquias ou fundações que por
iniciativa da Administração Direta, recebem o status de Agência, em razão da celebração de um contrato de gestão, que objetiva uma maior eficiência e redução de
custos - Lei 9.649/98.
Ex: INMETRO.
5.2.1.2 FUNDAÇÕES PÚBLICAS OU GOVERNAMENTAIS (entidades administrativas)
Conceito:
É uma pessoa jurídica composta por um patrimônio personalizado, destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica. Pode ser pública ou
privada de acordo com a sua instituição, sendo que somente a pública, portanto, instituída pelo Poder Público, é que compõe a Administração Indireta.
Características:
Pessoa Jurídica de Direito Público (Segundo o STF, é espécie de autarquia denominada autarquia fundacional) ou de Direito Privado, denominada fundação governamental);
NOTE BEM!
Fundações públicas x Fundações privadas: diferem na figura do instituidor:
1 - Fundações privadas - instituídas por pessoas da iniciativa privada;
2 - Fundações públicas - instituídas pelo Estado.
Criada por lei específica (Fundação Pública de Direito público) ou autorizada por lei específica (Fundação Pública de Direito Privado);
EXTINÇAO: depende de lei consoante o Princípio da Simetria;
Orçamento, patrimônio e receita próprios (seu patrimônio personalizado é destinado pelo seu fundador para uma finalidade específica);
Gestão administrativa e financeira DESCENTRALIZADA;
Controle finalístico;
Fiscalização dos Tribunais de Contas (Fundação Pública de Direito Público) A Fundação Pública de Direto privado assim como a Fundação Privada é fiscalizada pelo Ministério Público;
Execução serviços sem fins lucrativos, principalmente na área de educação, ensino, pesquisa, assistência social etc (a área de atuação é fixada através de lei complementar);
Servidores ESTATUTÁRIOS (FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO) e CELETISTAS (FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PRIVADO);
Aplicação da regra constitucional da acumulação de cargos, empregos e funções;
Uso da Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Não se submete ao regime falimentar;
Suas dívidas estão sujeitas ao regime dos precatórios (art. 100 e parágrafos da CF/88);
Privilégios (somente aplicáveis as Fundações Públicas de Direito Público): imunidade de impostos, prescrição quinquenal de suas dívidas, impenhorabilidade de seus bens, prazos dilatados em Juízo, pagamento de custas processuais somente ao final, quando vencidas, cláusulas exorbitantes, etc.
Ex.: FUNAI, Butantã, IPEA, FIOCRUZ, FEBEM,
Fund. Memorial da América Latina, FUNECE, FUNCI, FUNCEME, etc.
5.2.1.3 EMPRESAS ESTATAIS OU GOVERNAMENTAIS
Salutar esclarecer, inicialmente, que o termo “empresa estatal” é utilizado na doutrina para designar apenas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Ademais, vamos elencar as características comuns das empresas estatais, lembrando que tais características se aplicam tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista:
18 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
1. Dependem de lei autorizadora (lei específica);
2. Os bens são de natureza privada;
3. Regime de pessoal é celetista;
4. Responsabilidade civil, duas situações:
a) Se a estatal desempenha serviço público (não visa lucro), a responsabilidade é objetiva;
b) Se a estatal desempenha atividade econômica responde de forma subjetiva;
5. Em regra, os bens podem ser penhorados;
NOTE BEM1!
O STF decidiu que o patrimônio da EBCT é impenhorável.
6. São passiveis de usucapião;
7. Fiscalização do tribunal de contas (STF)
8. Controle finalístico;
9. Não possuem privilégios fiscais e processuais;
10. Submetem-se as licitações e contratos
11. Gestão administrativa e financeira descentralizada.
NOTE BEM2!
A nova lei de falência (Lei Nº 11.101/05 exclui as estatais do processo falimentar.)
a) EMPRESA PÚBLICA
É pessoa jurídica de direito privado (o STF decidiu que as estatais possuem regime semi-público, ou seja possui caráter híbrido), composta por capital exclusivamente público, autorizada para a prestação de
serviços públicos ou exploração de atividades econômicas sob qualquer forma admitida no Direito Comercial.
Características
Além das características das empresas estatais, acima demonstradas, se aplicam ainda:
1. O capital é exclusivo do poder público (100% nacional);
NOTE BEM! Existem as Empresas Públicas UNIPESSOAIS e as Empresas Públicas PLURIPESSOAIS.
2. Podem ter qualquer tipo societário (Sociedade LTDA, S/A, cotas de participação, etc.);
3. Foro processual da empresa pública é federal, se o ente foi autorizado pela união, e estadual se o ente foi autorizado pelos estados ou municípios.
Ex.: ETUFOR, EMLURB, CEF. EBCT etc.
b) SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
É pessoa jurídica de direito privado, autorizada para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, com capital misto e na forma de S/A.
Características
Além das características das empresas estatais, acima demonstradas, se aplicam ainda:
1. O capital é em sua maior parte do poder público (Ações 50% + 1 pertencem ao Estado);
2. Podem ter apenas um tipo societário (S/A.);
3. Foro processual da sociedade de economia mista é, em regra, Estadual, (Justiça Comum) independente de quem autorizou sua criação.
Súmula 556 do STF:
―É competente à Justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.‖
Súmula 517 do STF:
―As sociedades de economia mista só têm foro da Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente.‖
Dica de concursos:
A criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, depende de autorização legislativa. (Tec.Sup.Advogado/CESPE/2010)
DIFERENÇAS: EMPRESA PÚBLICA X SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA:
Quanto a:
Empresa Pública Sociedade de Economia Mista
Natureza do Capital
Integralmente puro – exclusivo ao Estado (100%)
Majoritariamente público – o Estado detém a maioria do capital e, portanto, tem o controle acionário. Ex.: lei da ANP – art. 62 da lei 9478/97.
Forma Societária ou forma de constituição
Qualquer forma societária.
Atenção: Se for S.A. o capital, obrigatoriamente, será fechado
Só por S.A.
Foro Processual
Justiça Federal
Art. 109, I. “as causas em que a união, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho”
Justiça Estadual
(Súmula 517 do STF. “as sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”)
3.4.ENTIDADES PARAESTATAIS E TERCEIRO SETOR.
A PUBLICIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR: ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E OSCIPS
O termo “Paraestatal” é um vocábulo misto, formado pelos elementos “para”, partícula grega que quer dizer “ao lado de”, e “estatal”, adjetivo formado sobre o nome latino “status”, que tem o sentido de Estado. Desta forma, à letra, paraestatal é algo que está ao lado do Estado, mas não se confunde com ele.
DIREITO ADMINISTRATIVO 19
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Desta forma, utilizaremos aqui as expressões “Terceiro Setor” e “Entidades Paraestatais” como sinônimos, abrangendo essas entidades que nem se enquadram integralmente como entidades privadas, nem integram a Administração Pública, direta ou indireta, e que apresentam os mesmos traços: são entidades privadas (instituídas por particulares); desempenham serviços não exclusivos do Estado, porém em colaboração com ele; recebem algum tipo de incentivo do Poder Público; por essa razão, sujeitam-se a controle pela Administração Pública; seu regime jurídico é predominantemente de Direito Privado, porém parcialmente derrogado por normas de direito público.
Assim, podemos dizer que a alcunha ONG transmite a ideia geral de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e com interesse público.
3.4.1 - Serviços Sociais Autônomos(Sistema “S”.)
Atribuição dada às pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da iniciativa privada com algumas características peculiares. Elas não prestam serviços públicos delegados pelo Estado, mas exercem atividade privada de interesse público. Compõem o chamado sistema “S”. Podem ser constituídas por meio das instituições particulares convencionais, como fundações, sociedades civis ou associações ou com estruturas peculiares previstas em lei específica.
Características:
Recebem contribuições sociais (verbas públicas);
Tem, para sua criação, que ser autorizada por lei;
Obrigatoriedade de licitar (quem recebe verbas públicas tem que licitar), esse é o entendimento majoritário;
3.4.2 Organizações Sociais
Também chamada de “OS”, foram instituídas e
definidas pela Lei nº 9.637/98.
Pessoa jurídica de direito privado, são criadas por particulares para a execução, por meio de parcerias de serviços públicos não exclusivos do Estado, previsto em lei.
Peculiaridades:
Firma contrato de gestão;
Não se submete a licitações (entendimento dominante);
Possibilidades de receber recursos públicos (através da chamada dispensa de licitação);
Cessão de servidores públicos o ônus de remuneração para a Administração Pública.
EX: ONG “EDISCA.”.
ATENÇÃO:
As Organizações sociais são rótulos jurídicos (qualificações) atribuídas a pessoas jurídicas de direito privado já existentes.
3.4.3 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
Também denominada OSCIP, é pessoa jurídica de direito privado, instituída por particular para prestação de serviços sociais não exclusivos do Estado (serviços socialmente úteis – art. 3º da lei 9790/99), sob o incentivo e fiscalização dele e que consagrem em seus estatutos
uma série de normas sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas.
Peculiaridades:
Assina TERMO DE PARCEIRA;
Não se submete a licitações (entendimento dominante);
Cópias de documentos são enviados ao Ministério da Justiça.
Área de atuação mais ampla.
EX: ONG “AMIGOS DO PRATO.”.
ATENÇÃO: a Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público são rótulos jurídicos (qualificações) atribuídas às pessoas jurídicas de direito privado já existentes.
AGENTES PÚBLICOS
Segundo a doutrina, AGENTES PÚBLICOS são
todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal.
SERVIDORES PÚBLICOS EM SENTIDO AMPLO E EM SENTIDO RESTRITO
Para Diógenes Gasparini6 conforme os ditames
dos art. 37 a 41,da CF/88, “existe uma gama de pessoas físicas que se ligam, sob regime de dependência, à Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional pública, mediante uma relação de trabalho de natureza profissional e perene para lhes prestar serviços”, que considera de servidores públicos.
Já Celso Antônio Bandeira de Mello7 servidores
públicos “são os que entretêm com o Estado e com as pessoas de Direito Público da Administração Indireta relação de trabalho de natureza profissional e caráter não eventual sob vínculo de dependência”. Compreendem na espécie, Servidores titulares de cargos públicos,
Servidores empregados ou Particulares em colaboração com a Administração.
Já na concepção de Bastos8 os servidores públicos
se enquadram numa das categorias de agentes públicos: “são todos aqueles que mantêm com o Poder Público um vínculo de natureza profissional, sob uma relação de dependência”, compreendidos como os servidores investidos em cargos efetivos, em cargos em comissão ou servidores contratados por tempo determinado.
Servidores públicos, em sentido amplo, no entender de Hely Lopes Meirelles
9 são todos os agentes
públicos vinculados à Administração Pública, direta e indireta, do Estado, mediante regime jurídico estatutário regular, geral ou peculiar, ou administrativo especial, ou, ainda, celetista, que é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que possui natureza profissional e empregatícia.
6 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 171. 7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de administrativo.
27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 249. 8 (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. 5.
ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 311. 9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.
36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
20 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
O que podemos perceber, existem divergências acerca da classificação dos agentes públicos tomando como base o seu sentido amplo.
NOTE BEM!
Os agentes normalmente desempenham funções do órgão, distribuídas entre os cargos de que são titulares, mas excepcionalmente podem exercer funções sem cargo. O cargo, por sua vez, é lotado no órgão e o agente é investido no cargo público.
Os agentes públicos (gênero) se subdividem em cinco espécies: agentes políticos, agentes
administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados.
1) AGENTES POLÍTICOS
“São os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. Assim, temos nesta categoria tanto os chefes do Poder Executivo, e seus auxiliares diretos (Ministros de Estado e Secretários de Estado), os membros do Poder Legislativo, também os da Magistratura, Ministério Público, Tribunais de Contas e representantes diplomáticos.”
IMPORTANTE!
Por fim, regra geral, a forma de investidura nestes cargos é a eleição, com exceção dos
cargos comissionados (de livre nomeação e exoneração) e daqueles que exigem concurso público de provas ou de provas e títulos.
2) AGENTES ADMINISTRATIVOS
“São todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico da entidade estatal a que servem. Possuem retribuição pecuniária, em regra por nomeação. Os agentes administrativos são unicamente servidores públicos, com maior ou menor hierarquia, encargos e responsabilidades profissionais dentro do órgão ou da entidade a que servem, conforme o cargo ou a função em que estejam investidos, sem qualquer poder político.”
VEJA BEM!
O saudoso prof. Hely Lopes Meirelles reforça o seguinte fato: “Os servidores públicos constituem subespécies dos agentes públicos administrativos, categoria que abrange a grande massa de prestadores de serviços à Administração e a ela vinculados por relações profissionais, em razão de investidura em cargos e funções, a título de emprego e com retribuição pecuniária.”
VEJA BEM!
1) Servidores Públicos
Estas pessoas submetem-se ao denominado regime estatutário, estabelecido em
lei. Ocupam cargos públicos e não empregos e não possuem o F.G.T.S. Sua retribuição pecuniária é denominada remuneração, sinônimo de vencimentos.
2) Empregados públicos
São as pessoas contratadas sob o manto do regime trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). São ocupantes de empregos
públicos e não de caos públicos e sua retribuição pecuniária se dá por meio de salário. Possuem o F.G.T.S.
3) Servidores temporários
Regidos pela Lei 8.745/93 são contratados
por tempo limitado para atender a chamada necessidade temporária de excepcional interesse público.
3) AGENTES HONORÍFICOS
“São cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, sem qualquer renumeração. Tais serviços constituem serviços públicos relevantes, de que são exemplos a função de jurado, de mesário eleitoral, etc.”
4) AGENTES DELEGADOS
“São particulares, não revestidos da condição de servidor público, que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.”
NOTE BEM!
Quando esses agentes atuam no exercício da delegação e venham a lesar direitos de terceiros, devem responder civil e criminalmente sob as mesmas normas da administração Pública, ou seja, com RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO (CF/88, art. 37, § 6º), e, também, por crime funcional, se for o caso (Código Penal - CP, art. 327).
5) AGENTES CREDENCIADOS
“São os que recebem a incumbência da Administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante.” Ex: advogados que
atuam na Justiça Federal mediante uma credencial, pessoas que trabalharam no PAN do Rio receberam credenciais, etc.
ENTES POR COLABORAÇÃO
a) por vontade própria - ex.: debelar incêndio -
assumem o lugar da administração pública;
b) por requisição - ex.:.mesário eleitoral);
c) por concordância da Administração - ex.:
Escolas particulares - agem por delegação do poder público, tabeliães, diretores de faculdade, concessionários, permissionários, etc.).
SERVIDORES PÚBLICOS: CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICA.
Primeiramente, ressalte-se o conceito de agente público, pois este é um conceito bem mais amplo que o
DIREITO ADMINISTRATIVO 21
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
de servidor público. O conceito de agente público abrange todas as pessoas físicas que prestam algum serviço público. Estão abrangidos por esse conceito desde os titulares dos poderes do Estado até pessoas que se vinculam contratualmente com o Poder Público como é o caso dos concessionários, que são agentes delegados.
Os agentes públicos (na espécie agente administrativo) podem ser:
Estatutários (Servidores Públicos) possuem
CARGOS PÚBLICOS.
Empregados Públicos (celetistas) possuem
EMPREGOS PÚBLICOS.
Dicas de concursos:
Os ocupantes de empregos públicos são designados empregados públicos, contratados sob o regime da legislação trabalhista, ainda que submetidos a todas as normas constitucionais referentes a requisitos para investidura, acumulação de cargos e vencimentos. (Tec. Jud. TRE-GO - CESPE/2009)
Servidores Temporários possuem FUNÇÃO
PÚBLICA.
Dica de concursos:
Os servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, precisamente por exercerem atividades temporárias, estarão vinculados a emprego público, e não a cargo público. (Anal.Jud.II-TER-MT/CESPE/2010)
CARGOS
São as mais simples unidades de competência a serem expressas por um servidor público, previstos em número certo, com determinação própria e remunerados pelos cofres públicos devendo ser criados por Lei.
ATENÇÃO!
Não se pode criar cargos por ato infralegal (ex: decretos)
Vejamos como a Lei nº 8.112/1990 trata do
assunto:
Art. 3o Cargo público é o conjunto de
atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
NOTE BEM! Somente os cargos efetivos
precisam de CONCURSO PÚBLICO. A nomeação para cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração (“ad nutum”)
EMPREGOS
São núcleos de encargo de trabalho preenchidos por pessoas físicas contratados para desempenhá-los tendo como base uma relação trabalhista (celetista). TODO EMPREGO PÚBLICO NECESSITA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O SEU PREENCHIMENTO.
Exemplos de empregados públicos:
empregados da PETROBRÁS, BANCO DO BRASIL, CORREIOS, ETC.
NOTE BEM! Somente os celetistas possuem
FGTS. Assinam carteira e recebem SALÁRIO.
FUNÇÃO
É a atribuição ou conjunto de atribuições que a Administração confere a cada categoria profissional, ou comete individualmente a determinados servidores para a execução de SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS. Ex: os recenseadores do IBGE.
NOTE BEM1!
Quem desempenha função no serviço público assina contrato por tempo determinado.
NOTE BEM2!
Normalmente são submetidos a uma seleção pública.
DICAS DE CONCURSOS:
Agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal.(TRE-AM/FCC/2010)
Os particulares em colaboração com o poder público são considerados agentes públicos, mesmo que prestem serviços ao Estado sem vínculo empregatício e sem remuneração.(Anal.Jd.TRE-MTCESPE/2010)
Segundo a CF, a administração pública pode promover contratação de servidores públicos por tempo determinado, sem realização de concurso público, quando houver excepcional interesse público e para atender à necessidade temporária.(Anal.Jud.TRE-BA/CESPE/2010)
Se um indivíduo ingressou, sem concurso público, no serviço público federal, em 1.o/10/1980, estava em exercício na data da promulgação da CF, mesmo que não aprovado em concurso público, esse indivíduo será estável, mas não terá cargo efetivo.(BACEN/Proc. CESPE/2009)
Enquanto a função de confiança deve ser exercida exclusivamente por servidor público efetivo, o cargo em comissão pode ser ocupado também por agente público não concursado, desde que destinado apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. (Tec.Fed.TCU -CESPE/2009)
INVESTIDURA E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA
O art. 37, II da CF afirma que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
22 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Súmula 685 do STF - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
O SERVIDOR PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
- acréscimos pecuniários: Art. 37, XIV, CF
- acumulação remunerada de cargos: Art. 37, XVI e XVII, CF
- aposentadoria: Art. 40 e §§ 1º a 16, CF
- associação sindical: Art. 37, VI, CF
- concurso público: Art. 37, II, CF
- em exercício de mandato: Art. 38, CF
- estabilidade: Art. 41 e §§ 1º a 4º, CF
- extinção de cargo: Art. 41, § 3º, CF
- perda do cargo: Art. 247 e parágrafo único, CF
- plano de carreira: Art. 39 e §§ 1º a 8º, CF
- reintegração: Art. 41, § 2º, CF
- revisão da remuneração: Art. 37, X e XI, CF
- vencimentos; irredutibilidade: Art. 37, XV, CF
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Revista e atualizado conforme Lei 13.846, de 18 de junho de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a
pessoa legalmente investida em cargo público.
Comentários:
Os servidores estão para os cargos públicos
assim como os empregados públicos estão para os
empregos públicos. A pessoa será investida no cargo
somente no momento da posse.
Os agentes públicos, genericamente falando,
são as pessoas físicas que exercem função pública,
geralmente em nome de certa entidade política ou
administrativa (a ressalva se justifica pelos agentes
públicos delegados, que exercem funções públicas em
nome próprio).
Servidor público, para os efeitos da Lei nº
8.112/90 (servidor em sentido estrito), é o titular de
cargo público, seja ele de provimento efetivo ou em
comissão. É o antigo conceito de funcionário público,
que não deve mais ser utilizado, pois não foi
recepcionado pela Constituição de 1988. (João Trindade,
2012.)
Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
Art. 4o É proibida a prestação de serviços
gratuitos, salvo os casos previstos em lei.
Comentários:
Em todo cargo público haverá uma
contraprestação pecuniária (dinheiro), salvo a prestação
de serviços gratuitos como é o caso do serviço
voluntariado e os serviços realizados pelos agentes
honoríficos (mesários, membros do Tribunal do Júri, por
exemplo).
TÍTULO II
DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
Comentários:
Provimento - É o ato pelo qual o servidor é
investido no exercício de cargo, emprego ou função.
Formas de provimentos:
- Originário
Que vincula inicialmente o servidor ao cargo,
emprego ou função; pode ser tanto a nomeação
quanto a contratação, dependendo do regime jurídico
de que se trate.
NOMEAÇÃO: Forma de provimento
originário. Prazo para tomar posse: 30 dias. Se não
ocorrer a posse a nomeação é tornada sem efeito (não
há anulação do ato nem exoneração do servidor).
- Derivado
Provimento derivado é o que depende de um
vínculo anterior do servidor com a Administração
Pública.
Pode ocorrer por:
a) promoção: forma de provimento pelo qual o
servidor passa para cargo de maior complexidade e de
maior grau de responsabilidade, dentro da carreira a
que pertence;
b) readaptação: dá-se quando o servidor, em
razão de limitações supervenientes, torna-se inapto
para desempenhar as funções do cargo que ocupava;
c) reversão: retorno à atividade de servidor
aposentado:
(i) por invalidez, se insubsistentes os motivos
da aposentadoria;
(ii) no interesse da administração, se:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria foi voluntária;
c) era estável; e
d) aposentou-se nos 5 anos anteriores à
solicitação.
d) aproveitamento: reingresso, no serviço
público, do funcionário em disponibilidade, quando
haja cargo vago de vencimento e natureza compatíveis
com o anteriormente ocupado;
e) reintegração: reingresso do servidor
demitido, quando seja invalidada por sentença judicial
a sua demissão, sendo-lhe assegurado o ressarcimento
das vantagens inerentes ao cargo;
f) recondução: ocorre em consequência de:
reintegração, hipótese em que o servidor que ocupava
o cargo do reintegrado tem o direito de ser
DIREITO ADMINISTRATIVO 23
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
reconduzido a seu cargo de origem; e no caso de
inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo.
Formas de provimento quanto à durabilidade
Provimento efetivo é o que se faz em cargo
público, mediante nomeação por concurso público,
assegurando ao servidor, após três anos de exercício, o
direito de permanência no cargo, do qual só pode ser
destituído nas hipóteses constitucionais.
Provimento vitalício é o que se faz em cargo
público, mediante nomeação, assegurando ao servidor
a permanência no cargo, do qual só pode ser destituído
por sentença judicial transitada em julgado.
Provimento em comissão é o que se faz
mediante nomeação para cargo público,
independentemente de recurso e em caráter transitório.
Capítulo I
Do Provimento
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5o São requisitos básicos para investidura em
cargo público:
I - a nacionalidade brasileira;
Comentários:
Ressalte-se que os brasileiros naturalizados e
os portugueses equiparados não poderão ocupar os
cargos previstos no art. 12, §. 3º da Constituição
Federal de 1988, ou seja, Presidente e Vice-
Presidente da República, Presidente da Câmara dos
Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do
Supremo Tribunal Federal - STF, carreira diplomática
e oficial das Forças Armadas e seus assentos no
Conselho da República.
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental.
§ 1o As atribuições do cargo podem justificar a
exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2o Às pessoas portadoras de deficiência é
assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
§ 3o As universidades e instituições de pesquisa
científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97)
Art. 6o O provimento dos cargos públicos far-se-á
mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
Art. 7o A investidura em cargo público ocorrerá
com a posse.
DICA DE CONCURSO!
O servidor empossado já ocupa cargo público,
ainda que não tenha entrado em exercício. (V/F)
(UnB- CESPE – SEPLAG/SEAPA/DF/2009)
VERDADEIRO
Art. 8o São formas de provimento de cargo
público:
I - nomeação;
II - promoção;
III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V - readaptação;
VI - reversão;
VII - aproveitamento;
VIII - reintegração;
IX - recondução.
COMO CAIU NA PROVA!
De acordo com a legislação vigente, a
ascensão e a transferência são consideradas formas de
provimento de cargo público. (CESPE/UNB/
TRE/MS/2013 /ANALISTA) (V/F) FALSO
Seção II
Da Nomeação
Art. 9o A nomeação far-se-á:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentários:
Estabelece o art. 37, V, da CF/88: “as funções
de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)”
Veja que a diferença básica ente CARGO EM
COMISSÃO e FUNÇÃO DE CONFIANÇA reside
no fato de que a função será exercida exclusivamente
por ocupantes de cargos efetivos. Já os cargos em
comissão não possuem esta exigência. Lembre – se
que para cargo você é nomeado e para uma função
você será designado. Por fim ressalte – se que todo
cargo tem função, mas nem toda função tem um cargo
atrelado.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou
cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentário:
É conditio sine qua non (condição
imprescindível) que o servidor público nomeado para
24 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
cargo de provimento efetivo tenha sido, aprovado em
concurso público de provas ou provas e títulos (não há
concurso público somente de títulos). Será falsa a
afirmativa que disser que TODOS os cargos públicos
necessitam de concurso público, pois, por exemplo, os
cargos em comissão são exceções a esta regra geral.
Cargo de carreira é o que se escalona em
classes (níveis) admitindo a chamada promoção (daí a
luta de várias categorias para a aprovação de seus PCCs
ou seja, os Plano de Cargos e Carreiras).
Seção III
Do Concurso Público
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e
títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentário:
Em algumas situações o candidato poderá ser
isento do pagamento da taxa de inscrição destinada a
custear a realização do certame. A escolha da
organizadora do concurso público será feita ou por
licitação ou por sua dispensa. Sempre é bom lembrar que
não há concurso público somente de títulos.
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2
(dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Comentário:
Observe que poderemos ter um edital com um
prazo de validade menor que 2 (dois) anos tendo em
vista o prazo ser até 2 anos. É uma situação
discricionária, inclusive, quanto a possibilidade ou não
de prorrogação. Se a Administração Pública quiser
prorrogar um concurso público só poderá faze-lo uma
única vez. O prazo de validade de um concurso público
começa a contar da publicação da homologação deste na
Imprensa Oficial..
§ 1o O prazo de validade do concurso e as
condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
Comentário:
O edital define todos os aspectos do concurso
público. Existe uma vinculação tanto à Administração
Pública quanto ao candidato. A necessidade de
publicação atende ao princípio explícito da publicidade.
§ 2o Não se abrirá novo concurso enquanto houver
candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.
Comentário:
A CF/88 permite a abertura de um novo concurso
ainda estando no prazo de validade do anterior. O que
obviamente não será permitido o chamamento dos
candidatos aprovados no segundo concurso ainda
restando candidatos a ser chamados do primeiro.
Seção IV
Da Posse e do Exercício
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do
respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
Comentário:
É a partir da posse que o candidato tornar-se-á
servidor público. É através da a assinatura deste
documento que o servidor público toma conhecimento
oficial de suas atribuições, deveres, responsabilidades e
direitos referentes ao cargo a ser ocupado.
DICA DE CONCURSO:
O ato de posse refere-se ao ato administrativo
solene e formal que torna válida a investidura em um
cargo público de provimento efetivo ou não. No entanto,
somente com a posse é que a nomeação se consolida,
salvo nos casos de formas de provimento
derivadas.(Anal.Jud.TRE-MT- CESPE/2010)
§ 1o A posse ocorrerá no prazo de trinta dias
contados da publicação do ato de provimento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o Em se tratando de servidor, que esteja na data
de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do impedimento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o A posse poderá dar-se mediante procuração
específica.
§ 4o Só haverá posse nos casos de provimento de
cargo por nomeação. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 5o No ato da posse, o servidor apresentará
declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
Comentários:
Duas declarações importantes: a primeira ajuda a
Administração, a saber, as reais condições econômicas
do servidor ao entrar no serviço público. A segunda
obedece ao que preceitua a CF/88 (A REGRA
GERAL É A NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS):
Art. 37 da CF/88:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico
ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público;
§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento
se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1o deste
artigo.
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de
prévia inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
DIREITO ADMINISTRATIVO 25
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das
atribuições do cargo público ou da função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o É de quinze dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o O servidor será exonerado do cargo ou será
tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o À autoridade competente do órgão ou
entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 4o O início do exercício de função de confiança
coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o
reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.
Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de
exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro
município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o Na hipótese de o servidor encontrar-se em
licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o É facultado ao servidor declinar dos prazos
estabelecidos no caput. (Incluído pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de
trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
§ 1o O ocupante de cargo em comissão ou função
de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a
duração de trabalho estabelecida em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor
nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: (vide EMC nº 19)
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V- responsabilidade.
Comentários:
ESTÁGIO PROBATÓRIO
É um período de prova a que se submete o
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
(permanente), sendo apuradas a aptidão e a capacidade
para o desempenho do cargo. Esse período probatório
passou a ser de três anos, por força da Emenda
Constitucional nº 19.
Aferição da aptidão e capacidade: é feita
através de avaliações semestrais, pela chefia imediata
do servidor, com a observância dos seguintes
critérios: a) assiduidade - a presença do servidor no
local de trabalho, dentro do horário estabelecido para o
expediente da unidade; b) disciplina - a observância sistemática aos
regulamentos e às normas emanadas das autoridades
competentes; c) capacidade de iniciativa - a habilidade do
servidor em adotar providências em situações não
definidas pela chefia ou não previstas nos manuais ou
normas de serviço; d) produtividade - a quantidade de trabalhos
realizados num intervalo de tempo razoável, que
atenda satisfatoriamente à demanda do serviço;
e) responsabilidade - o comprometimento do
servidor com as suas tarefas, com as metas
estabelecidas pelo órgão ou entidade e com o bom
conceito da administração pública do Estado.
COMO CAIU!
(CESPE/UNB/TRE/MS/2013/ANALISTA) O
ato de exoneração de um servidor público em estágio
probatório depende apenas das formalidades legais de
apuração de sua capacidade.(V/F) FALSO
§ 1o 4 (quatro) meses antes de findo o período do
estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008
§ 2o O servidor não aprovado no estágio probatório
será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.
§ 3o O servidor em estágio probatório poderá
exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-
26 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente
poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 5o O estágio probatório ficará suspenso durante
as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1
o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em
curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção V
Da Estabilidade
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público
e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19)
Comentário:
Segundo a CF/88 o prazo foi modificado para 03
(três) anos e sobre isto nunca houve polêmica.
Entretanto, consoante o que estabelece o art. 28 da EC nº
19/98, ficou assegurado o prazo de 2 (dois) anos de
efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos
servidores em estágio probatório à época da
promulgação dessa Emenda (5/6/98).
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Comentário:
Observe o que estabelece o art. 41 da
Constituição Federal de 1988:
“São estáveis após três anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º. O servidor público estável só perderá o
cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em
julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de
origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro
cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em
outro cargo.
§ 4º. Como condição para a aquisição da
estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa
finalidade.”
Seção VI
Da Transferência
Art. 23. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção VII
Da Readaptação
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor
em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
§ 1o Se julgado incapaz para o serviço público, o
readaptando será aposentado.
§ 2o A readaptação será efetivada em cargo de
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção VIII
Da Reversão
(Regulamento Dec. nº 3.644, de 30.11.2000)
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de
servidor aposentado: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
II - no interesse da administração, desde que: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
a) tenha solicitado a reversão; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
b) a aposentadoria tenha sido voluntária; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
c) estável quando na atividade; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
e) haja cargo vago. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 1o A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no
cargo resultante de sua transformação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 2o O tempo em que o servidor estiver em
exercício será considerado para concessão da aposentadoria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 3o No caso do inciso I, encontrando-se provido o
cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 4o O servidor que retornar à atividade por
interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 5o O servidor de que trata o inciso II somente
terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 6o O Poder Executivo regulamentará o disposto
neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Art. 26. (Revogado pela Medida Provisória nº
2.225-45, de 4.9.2001)
DIREITO ADMINISTRATIVO 27
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já
tiver completado 70 (setenta) anos de idade.
DICA DE CONCURSO!
(UnB- CESPE – SEPLAG/SEAPA/DF/2009) No
caso de servidor aposentado por invalidez, se for
caracterizada a reversão, esta se dará ainda que ele tenha
completado setenta anos de idade. (V/F) FALSO
Seção IX
Da Reintegração
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do
servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
§ 1o Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o
servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31.
§ 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu
eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.
Seção X
Da Recondução
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor
estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.
Seção XI
Da Disponibilidade e do Aproveitamento
Art. 30. O retorno à atividade de servidor em
disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3o do
art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento
e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.
Capítulo II
Da Vacância
Comentário:
A vacância é um ato administrativo pelo
qual o servidor deixa o seu cargo público através da
exoneração, demissão, promoção; readaptação;
aposentadoria posse em outro cargo inacumulável e
falecimento. A promoção e a readaptação são formas
simultâneas de vacância e provimento de cargo
público.
Requisitos básicos - Ser servidor público e
nos casos de posse em cargo inacumulável, ter sido
aprovado em concurso público e nomeado.
Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VI - readaptação;
VII - aposentadoria;
VIII - posse em outro cargo inacumulável;
IX - falecimento.
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a
pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.
Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a
dispensa de função de confiança dar-se-á: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Capítulo III
Da Remoção e da Redistribuição
Seção I
Da Remoção
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção II
Da Redistribuição
28 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo
de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - interesse da administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - equivalência de vencimentos; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
III - manutenção da essência das atribuições do cargo; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o A redistribuição ocorrerá ex officio para
ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o A redistribuição de cargos efetivos vagos se
dará mediante ato conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o Nos casos de reorganização ou extinção de
órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 4o O servidor que não for redistribuído ou
colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Capítulo IV
Da Substituição
Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou
função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o O substituto assumirá automática e
cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o O substituto fará jus à retribuição pelo
exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva
substituição, que excederem o referido período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos
titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.
TÍTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS
Capítulo I
Do Vencimento e da Remuneração
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 11.784, de 2008)
Comentários:
Vencimento (no singular) é o estipêndio pago
ao servidor público. É o chamado vencimento-base já
que no plural é sinônimo de remuneração. Lembre-se
que o empregado público recebe salário, o agente
Político recebe subsídio, o inativo receberá proventos
e o militar, soldo. Vencimento nada mais é do que a
contraprestação pecuniária dada a quem exerce um de
cargo público em parcela única vedado o pagamento
de adicionais e gratificações.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
§ 1o A remuneração do servidor investido em
função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no art. 62.
§ 2o O servidor investido em cargo em comissão
de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1
o do
art. 93.
§ 3o O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, é irredutível.
§ 4o É assegurada a isonomia de vencimentos
para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
§ 5o Nenhum servidor receberá remuneração
inferior ao salário mínimo. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008
Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber,
mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.
Art. 43. (Revogado pela Lei nº 9.624, de 2.4.98)
(Vide Lei nº 9.624, de 2.4.98)
Art. 44. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela
DIREITO ADMINISTRATIVO 29
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
chefia imediata. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentário:
Acrescida a expressão “sem motivo justificado”
para estabelecer que a perda da remuneração só ocorra
nesta situação. O limite de 60 minutos foi eliminado,
além da criação do aspecto voltado a compensação de
horários nos casos de atraso, ausências justificadas e
saídas antecipadas até o mês subsequente, com a
concordância da chefia imediata.
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentários:
Caso fortuito – evento humano (uma greve, por
exemplo). Força Maior – eventos da natureza (um
vendaval, maremoto, terremoto etc). Lembre – se que
as faltas serão compensadas a critério da chefia
imediata.
Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado
judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. (Regulamento)
§ 1o Mediante autorização do servidor, poderá
haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)
§ 2o O total de consignações facultativas de que
trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento)
da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio
de cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei nº 13.172, de
2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela Lei nº 13.172, de 2015)
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário,
atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 1o O valor de cada parcela não poderá ser
inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 2o Quando o pagamento indevido houver
ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
§ 3o Na hipótese de valores recebidos em
decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias
para quitar o débito. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o
provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
Capítulo II
Das Vantagens
Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas
ao servidor as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
§ 1o As indenizações não se incorporam ao
vencimento ou provento para qualquer efeito.
§ 2o As gratificações e os adicionais incorporam-se
ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.
Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão
computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Seção I
Das Indenizações
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:
I - ajuda de custo;
II - diárias;
III - transporte.
IV - auxílio-moradia. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
Art. 52. Os valores das indenizações
estabelecidas nos incisos I a III do art. 51, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006)
Subseção I
Da Ajuda de Custo
Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar
as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentário:
Foi introduzida a proibição do duplo pagamento
da ajuda de custo, a qualquer tempo, no caso de o
cônjuge ou companheiro que detenha também a
condição de servidor vir a ter exercício na mesma
localidade, visando economizar para os cofres públicos.
Veja que na ajuda de custo o servidor muda de domicílio
COM CARÁTER PERMANENTE.
§ 1o Correm por conta da administração as
despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.
§ 2o À família do servidor que falecer na nova sede
são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.
30 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 3o São será concedida ajuda de custo nas
hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do
parágrafo único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de
2014)
Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a
remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.
Art. 55. Não será concedida ajuda de custo ao
servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
Art. 56. Será concedida ajuda de custo àquele
que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.
Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.
Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a
ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias.
Comentários:
A ajuda de custo é calculada sobre a
remuneração e não sobre o vencimento-base, não
podendo exceder a três vezes o valor da respectiva
remuneração. Perceba que consoante o que estabelece
o art. 56 caso a União nomeie uma pessoa, por
exemplo do Ceará, para um cargo comissionado
federal em São Paulo terá que conceder ajuda de custo
para o deslocamento até aquele Estado-Membro.
Subseção II
Das Diárias
Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da
sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o A diária será concedida por dia de
afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o Nos casos em que o deslocamento da sede
constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.
§ 3o Também não fará jus a diárias o servidor que
se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 59. O servidor que receber diárias e não se
afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.
Subseção III
Da Indenização de Transporte
Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte
ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
Subseção IV
Do Auxílio-Moradia
(Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no
ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao
servidor se atendidos os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederem a sua nomeação; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3
o, em relação ao local de
residência ou domicílio do servidor; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos doze meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período; e (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. (Incluído pela Lei nº 11.490, de 2007)
Parágrafo único. Para fins do inciso VII, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso V. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
Art. 60-C. (Revogado pela Lei nº 12.998, de 2014)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 12.998, de 2014)
Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é
limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do cargo
DIREITO ADMINISTRATIVO 31
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008
§ 1o O valor do auxílio-moradia não poderá
superar 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de Estado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008
§ 2o Independentemente do valor do cargo em
comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008
§ 3o (Incluído pela Medida Provisória nº 805, de
2017) vigência encerrada (Vigência encerrada)
§ 4o . (Incluído pela Medida Provisória nº 805, de
2017) vigência encerrada (Vigência encerrada)
Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração,
colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)
Seção II
Das Gratificações e Adicionais
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens
previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - gratificação natalina;
III - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VI - adicional noturno;
VII - adicional de férias;
VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.
IX - gratificação por encargo de curso ou concurso. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 9
o. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3
o e 10 da
Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3
o da Lei n
o
9.624, de 2 de abril de 1998. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput
deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Subseção II
Da Gratificação Natalina
Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12
(um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.
Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20
(vinte) do mês de dezembro de cada ano.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua
gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.
Art. 66. A gratificação natalina não será
considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Comentário:
A gratificação natalina copia o que se entende
por décimo terceiro salário. É natalina, obviamente,
pois será paga até a época próxima do natal. Conforme
Orientação Normativa DRH/AS nº 10, a Gratificação
Natalina poderá ser antecipada em 50% (cinquenta por
cento) de seu valor por ocasião do afastamento
decorrente de férias
Subseção III
Do Adicional por Tempo de Serviço
Art. 67. (Revogado pela Medida Provisória nº
2.225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8.3.1999)
Subseção IV
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas
Art. 68. Os servidores que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
Comentário:
Os adicionais de insalubridade e periculosidade
não são cumulativos. A lei não faz referência qual
adicional pagaria mais ao servidor.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
Art. 69. Haverá permanente controle da atividade
de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades
penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será
devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira
32 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que
operam com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.
Subseção V
Do Adicional por Serviço Extraordinário
Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação
à hora normal de trabalho.
Art. 74. Somente será permitido serviço
extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.
Comentário:
Memorize neste caso o percentual de 50% e o
máximo de horas por jornada (2 horas).
Subseção VI
Do Adicional Noturno
Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.
Comentário:
O adicional previsto ao servidor que prestar
serviço no horário compreendido entre 22 (vinte e duas)
horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, será no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor da hora diurna. Memorize, também, que à hora
noturna é menor que a hora diurna, ou seja, 52 minutos e
30 segundos.
Subseção VII
Do Adicional de Férias
Art. 76. Independentemente de solicitação, será
pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.
Comentário:
A CF/88 estabelece que o adicional de férias
corresponderá a pelo menos 1/3 da remuneração do
período das férias.
Subseção VIII
Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso
(Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual: (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006) (Regulamento)
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente
instituído no âmbito da administração pública federal; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
III - participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
§ 1o Os critérios de concessão e os limites da
gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal: (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividades previstas nos incisos I e II do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
§ 2o A Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4
o do art. 98 desta Lei. (Incluído
pela Lei nº 11.314 de 2006)
§ 3o A Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
COMO CAIU NA PROVA:
(CESPE/TRE/MS/ANALISTA/2013) Considere
que Luísa tenha sido aprovada em concurso público para
o cargo de auditora da Receita Federal, tendo sido
nomeada para assumir o cargo em outro estado da
federação. Com base nessa situação hipotética, assinale
a opção correta.
DIREITO ADMINISTRATIVO 33
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A Na hipótese de Luísa trabalhar horas extras,
além da jornada regular de trabalho, no período noturno,
ela terá direito ao acréscimo do adicional noturno que
incidirá sobre a remuneração do adicional por serviço
extraordinário.
B Luísa poderá tirar férias após doze meses de
exercício e converter um terço das férias em abono
pecuniário.
C Após cinco anos de efetivo exercício, Luísa
fará jus ao adicional por tempo de serviço.
D Caso Luísa não possua imóvel no local de
lotação, ela terá direito a auxílio-moradia.
E Se por necessidade do serviço Luísa trabalhar
além da jornada de quarenta horas semanais, ela deve ser
remunerada com acréscimo de cem por cento em relação
à hora normal de trabalho. GABARITO: A
Capítulo III
Das Férias
Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias,
que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10.12.97) (Férias de Ministro - Vide)
§ 1o Para o primeiro período aquisitivo de férias
serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.
§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta
ao serviço.
§ 3o As férias poderão ser parceladas em até três
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. (Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.97)
Comentário:
Observa-se que as férias poderão ser acumuladas
em no máximo dois períodos, mas há a possibilidade de
serem fracionadas, em até três etapas. Somente o
estatuto federal estabelece que somente para o primeiro
período aquisitivo o servidor terá que trabalhar 12 (doze)
meses de exercício. É proibido descontar qualquer falta
que o servidor tenha ao serviço quando do gozo de suas
férias.
Art. 78. O pagamento da remuneração das férias
será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1
o
deste artigo. (Férias de Ministro - Vide)
§ 1° e § 2° (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em
comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. (Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)
§ 4o A indenização será calculada com base na
remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. (Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)
§ 5o Em caso de parcelamento, o servidor receberá
o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. (Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.97)
Art. 79. O servidor que opera direta e
permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 80. As férias somente poderão ser
interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Férias de Ministro - Vide)
Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Capítulo IV
Das Licenças
Seção I
Disposições Gerais
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
III - para o serviço militar;
IV - para atividade política;
V - para capacitação; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VI - para tratar de interesses particulares;
VII - para desempenho de mandato classista.
§ 1o A licença prevista no inciso I do caput deste
artigo bem como cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no art. 204 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 2o (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o É vedado o exercício de atividade remunerada
durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo.
Art. 82. A licença concedida dentro de 60
(sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.
Comentário:
Lembre-se que somente as quatro primeiras
licenças serão concedidas a servidor em estágio
probatório. Atente para o art. 82, pois já caiu várias
vezes em concurso público.
Seção II
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor
por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 1o A licença somente será deferida se a
assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o A licença de que trata o caput, incluídas as
prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)
34 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)
II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)
§ 3o O início do interstício de 12 (doze) meses será
contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)
§ 4o A soma das licenças remuneradas e das
licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto no § 3
o, não poderá
ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2
o. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)
Seção III
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge
Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor
para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem
remuneração.
§ 2o No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou
companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção IV
Da Licença para o Serviço Militar
Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço
militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.
Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.
Seção V
Da Licença para Atividade Política
Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem
remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§ 1o O servidor candidato a cargo eletivo na
localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o A partir do registro da candidatura e até o
décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Seção VI
Da Licença para Capacitação (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício,
o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso
de capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. (Redação dada pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Comentário:
Quinquênio (e não quinquídio) corresponde a
cinco anos. Ressalte – se que os períodos não
acumuláveis. Não posso deixar passar 10 (dez) anos para
gozar 06 (seis) meses desta licença.
Art. 88. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 89. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 90. (VETADO).
Seção VII
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares
Art. 91. A critério da Administração, poderão ser
concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Seção VIII
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à
licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005) (Regulamento)
I - para entidades com até 5.000 associados, um servidor; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois servidores; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três servidores. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o Somente poderão ser licenciados servidores
eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - para entidades com até 5.000 (cinco mil)
associados, 2 (dois) servidores; (Redação dada pela Lei
nº 12.998, de 2014)
II - para entidades com 5.001 (cinco mil e um) a 30.000 (trinta mil) associados, 4 (quatro) servidores; (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)
III - para entidades com mais de 30.000 (trinta mil)
associados, 8 (oito) servidores. (Redação dada pela Lei
nº 12.998, de 2014)
§ 1o Somente poderão ser licenciados os
servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que
DIREITO ADMINISTRATIVO 35
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
cadastradas no órgão competente. (Redação dada pela
Lei nº 12.998, de 2014)
§ 2o A licença terá duração igual à do mandato,
podendo ser renovada, no caso de reeleição. (Redação
dada pela Lei nº 12.998, de 2014)
Capítulo V
Dos Afastamentos
Seção I
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter
exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela
Lei nº 8.270, de 17.12.91)
Comentário:
O supramencionado afastamento é
discricionário, ou seja, atende a conveniência e a
oportunidade da Administração Pública. A entidade
cessionária (entidade que recebe a força de trabalho do
servidor cedido), regra geral arcará com o ônus de sua
remuneração. Quando a União é que receber o servidor
cedido de outra entidade federativa o ônus será seu.
ATENÇÃO!
Ver DECRETO Nº 9.144, DE 22 DE
AGOSTO DE 2017, que dispõe sobre as cessões e as
requisições de pessoal em que a administração pública
federal, direta e indireta, seja parte.
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
II - em casos previstos em leis específicas. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
§ 1o Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para
órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. (Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006)
§ 3o A cessão far-se-á mediante Portaria publicada
no Diário Oficial da União. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
§ 4o Mediante autorização expressa do Presidente
da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. (Incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002)
§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II e
§§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. (Incluído pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002)
§ 7° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002) (Vide Decreto nº 5.375, de 2005)
Seção II
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo
aplicam-se as seguintes disposições:
Comentário:
Este afastamento permite ao servidor público
federal exercer mandato eletivo. Entretanto estabelece
regras a serem cumpridas.
As principais regras são previstas nos inciso I,
II e II
As duas situações em que o servidor público
investido em mandato eletivo poderá optar pela
remuneração do cargo de origem é o prefeito e o
vereador quando não houver compatibilidade de
horários.
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
§ 1o No caso de afastamento do cargo, o servidor
contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse.
§ 2o O servidor investido em mandato eletivo ou
classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.
Seção III
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do
País para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ 1o A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e
finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência.
§ 2o Ao servidor beneficiado pelo disposto neste
artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos
servidores da carreira diplomática.
36 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 4o As hipóteses, condições e formas para a
autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em
organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. (Vide Decreto nº 3.456, de 2000)
Seção IV (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País
Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da
Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 1o Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade
definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 2o Os afastamentos para realização de
programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 3o Os afastamentos para realização de
programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)
§ 4o Os servidores beneficiados pelos
afastamentos previstos nos §§ 1o, 2
o e 3
o deste artigo
terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 5o Caso o servidor venha a solicitar exoneração
do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4
o deste artigo, deverá
ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei n
o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com
seu aperfeiçoamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 6o Caso o servidor não obtenha o título ou grau
que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5
o deste artigo, salvo na hipótese
comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 7o Aplica-se à participação em programa de pós-
graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95
desta Lei, o disposto nos §§ 1o a 6
o deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 11.907, de 2009)
Capítulo VI
Das Concessões
Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço:
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado,
em qualquer caso, a 2 (dois) dias; (Redação dada pela
Lei nº 12.998, de 2014)
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
Art. 98. Será concedido horário especial ao
servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será
exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o Também será concedido horário especial ao
servidor portador de deficiência, quando comprovada a
necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o As disposições constantes do § 2
o são
extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei 13.370, de 12.12.2016)
§ 4o Será igualmente concedido horário especial,
vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede
no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.
Capítulo VII
Do Tempo de Serviço
Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo
de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
Comentário:
Todos os efeitos, entendam: aposentadoria,
disponibilidade e promoção (antiguidade e
merecimento). Averbar o tempo de serviço significa
registrar este tempo de serviço prestado a outras
instituições, públicas ou privadas.
Art. 101. A apuração do tempo de serviço será
feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.
DIREITO ADMINISTRATIVO 37
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas
no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
Comentário:
Na contagem do tempo de serviço não serão
considerados os anos bissextos.
I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VIII - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005)
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
f) por convocação para o serviço militar;
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;
X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;
XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de
aposentadoria e disponibilidade:
I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;
II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)
III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2
o;
IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social;
VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o O tempo em que o servidor esteve
aposentado será contado apenas para nova aposentadoria.
§ 2o Será contado em dobro o tempo de serviço
prestado às Forças Armadas em operações de guerra.
§ 3o É vedada a contagem cumulativa de tempo de
serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.
Capítulo VIII
Do Direito de Petição
Comentário:
Versa o artigo 5º, XXXIV, da CF/88:
XXXIV “são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder;
b) a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;”
Portanto é o direto de pedir administrativamente
Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de
requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade
competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à
autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. (Vide Lei nº 12.300, de 2010)
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 107. Caberá recurso: (Vide Lei nº 12.300, de
2010)
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade
imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.
§ 2o O recurso será encaminhado por intermédio
da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 108. O prazo para interposição de pedido de
reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a
38 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. (Vide Lei nº 12.300, de 2010)
Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito
suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.
Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso,
quando cabíveis, interrompem a prescrição.
Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não
podendo ser relevada pela administração.
Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é
assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.
Art. 114. A administração deverá rever seus atos,
a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.
Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos
estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.
TÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR
Comentários:10
Temos aqui o denominado Poder Disciplinar
que é aquele conferido à Administração com o
objetivo de manter sua disciplina interna, na medida
em que lhe atribui instrumentos para punir seus
servidores (e também àqueles que estejam a ela
vinculados por um instrumento jurídico determinado -
particulares contratados pela Administração).
Não se confunde o Poder Disciplinar da
Administração com o Poder de Polícia, visto o caráter
tipicamente interno do primeiro, como também não se
confunde com o denominado poder punitivo do
Estado, visto que este é exercido pelos órgãos do
Poder Judiciário e que se destina a punir crimes e
contravenções tipificados em lei, enquanto o Poder
Disciplinar tem por objeto apenas as denominadas
infrações administrativas.
O poder disciplinar de que se acha investida a
Administração Pública possui certo grau de
discricionariedade, já que não está vinculado ao
princípio da pena específica, que corresponde à
necessidade de prévia definição em lei da infração
funcional e da sanção cabível.
Vale dizer, no exercício deste poder-dever, a
Administração possui uma relativa liberdade para,
tipificada uma determinada conduta, especificar,
dentre as penas previstas, aquela aplicável ao caso
examinado, não estando, para tanto, submetida a
regras procedimentais rígidas.
O disposto no Título IV da lei nº 8.112/90
prevê basicamente um conjunto de obrigações
10
Fonte: www.portalciclo.com.br
impostas aos servidores por ela regidos. Tais
obrigações, ora positivas (os denominados Deveres –
art. 116), ora negativas (as denominadas Proibições –
art. 117) uma vez inadimplidas ensejam sua imediata
apuração (art. 143) e uma vez comprovadas importam
na responsabilização administrativa, a desafiar, então,
a aplicação de uma das sanções administrativas (art.
127). Não é por outra razão que o art. 124 declara que
a responsabilidade administrativa resulta da prática de
ato omissivo (quando o servidor deixa de cumprir os
deveres a ele impostos) ou comissivo (quando viola
proibição) praticado no desempenho do cargo ou
função.
Capítulo I
Dos Deveres
Art. 116. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
Comentário:
Trabalhar com zelo é trabalhar com perfeição,
presteza e rendimento funcional, ou seja, é trabalhar
obedecendo ao princípio da eficiência.
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
Comentário:
O servidor não é obrigado a cumprir todas as
ordens de seus superiores hierárquicos. Isto porque,
também, existem as ordens ilegais, impossíveis e a
absurdas. Entretanto, o dever de obediência estabelece
que o não cumprimento de ordens legais ensejará a
demissão do servidor público.
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; (Redação dada pela Lei nº 12.527, de 2011)
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.
Capítulo II
Das Proibições
Comentário:
DIREITO ADMINISTRATIVO 39
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
As proibições estabelecidas nos incisos I a VIII e
XIX do artigo 117 da lei 8112/90 implicarão na
aplicação da penalidade de advertência escrita ao
servidor, conforme estabelece o artigo 129 da mesma lei.
As proibições estabelecidas nos incisos IX a
XVI do artigo 117 da lei 8112/90 implicarão na
aplicação da penalidade de demissão do servidor.
Também incorrerá na penalidade de demissão,
as infrações descritas no artigo 132 da lei 8.112/90,
incisos I a XIII.
Art. 117. Ao servidor é proibido: (Vide Medida
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008
I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008
II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)
Capítulo III
Da Acumulação
Art. 118. Ressalvados os casos previstos na
Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
§ 1o A proibição de acumular estende-se a cargos,
empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.
§ 2o A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
Comentários:
Versa o art. 37, XVI e XVII:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de
2001)
XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3o Considera-se acumulação proibida a
percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de
um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9
o, nem ser remunerado pela
participação em órgão de deliberação coletiva. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social,
40 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei,
que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Capítulo IV
Das Responsabilidades
Art. 121. O servidor responde civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
Comentário:
É a chamada tríplice responsabilidade do
servidor público. As responsabilidades, civil, penal e
administrativa são independentes (e não
interdependentes) entre si, ou seja, por um mesmo ato, o
servidor poderá ter de responder, concomitantemente, na
área civil, penal e administrativa.
Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1o A indenização de prejuízo dolosamente
causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.
§ 2o Tratando-se de dano causado a terceiros,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
§ 3o A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
Art. 123. A responsabilidade penal abrange os
crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa
resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
Art. 125. As sanções civis, penais e
administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
Art. 126. A responsabilidade administrativa do
servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser
responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. (Incluído pela Lei nº 12.527, de 2011).
Capítulo V
Das Penalidades
Art. 127. São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V - destituição de cargo em comissão;
VI - destituição de função comissionada.
Comentários:
O rol estabelecido no art. 129 é taxativo, ou
seja, somente estas são as punições a ser aplicadas.
Percebe que a exoneração não é forma de punição. A
mais branda é a advertência e a mais grave é a
demissão (desligamento compulsório do serviço
público com caráter punitivo).
É importante salientar que as penalidades
abaixo são aplicadas no âmbito administrativo, o que
não inviabiliza que haja cumulação com sanções
penais e civis. Isso devido ao fato de os atos
contrários às normas administrativas poderem ser mais
graves e passarem a repercutir no âmbito de incidência
de leis civis e penais.
É o próprio art. 125 da Lei 8112/90 que
estabelece a regra:
“As sanções civis, penais e administrativas
poderão cumular-se, sendo independentes entre si”.
No âmbito civil, a sanção decorre em razão de
conduta culposa ou dolosa do servidor público que
cause prejuízo ao Estado ou a terceiro, o que
ocasionaria o dever de reparar o dano.
Já na esfera criminal, a responsabilidade do
servidor público decorre de conduta criminosa
tipificada em lei penal, praticada no exercício do cargo
ou em razão do mesmo. O objetivo é o de proteger o
interesse público e a coletividade.
Por último, a responsabilidade
administrativa do servidor decorre da perturbação ao
bom funcionamento da administração pública, quando
há o descumprimento de um dever ou proibição, como
explicado acima.
Art. 128. Na aplicação das penalidades serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 129. A advertência será aplicada por escrito,
nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
DICAS DE CONCURSOS:
Na hipótese de aplicação da penalidade de
advertência a servidor público, o poder disciplinar
deve ser harmonizado com os princípios da ampla
defesa e do contraditório.
As penalidades de advertência e de suspensão
terão seus registros cancelados, após o decurso de três
e cinco anos de efetivo exercício, respectivamente, se
o servidor não houver, nesse período, praticado nova
infração disciplinar, mas o cancelamento não surtirá
efeitos retroativos. Anal.Jud.TRE-MT- CESPE/2010)
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de
reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
DIREITO ADMINISTRATIVO 41
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 1o Será punido com suspensão de até 15
(quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
§ 2o Quando houver conveniência para o serviço,
a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
Comentários:
No máximo o servidor público federal poderá
ser suspenso por 90 dias. Ao final do período é direito
adquirido do servidor o retorno ao trabalho. Caso seja
impedido, usa-se o conhecido MANDADO DE
SEGURANÇA. Na suspensão o servidor deixa de
receber a sua remuneração. Atentem para a
possibilidade de conversão em multa, na base de 50%
por dia de vencimento ou remuneração.
Art. 131. As penalidades de advertência e de
suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes
casos:
I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI - insubordinação grave em serviço;
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI - corrupção;
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
III - julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o A indicação da autoria de que trata o inciso I
dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o A comissão lavrará, até três dias após a
publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o Apresentada a defesa, a comissão elaborará
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 4o No prazo de cinco dias, contados do
recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3
o do art. 167. (Incluído pela Lei nº 9.527,
de 10.12.97)
§ 5o A opção pelo servidor até o último dia de
prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 6o Caracterizada a acumulação ilegal e provada
a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 7o O prazo para a conclusão do processo
administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 8o O procedimento sumário rege-se pelas
disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a
disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.
Art. 135. A destituição de cargo em comissão
exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do art. 35 será convertida em destituição de cargo em comissão.
42 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo
em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.
Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo
em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.
Art. 138. Configura abandono de cargo a
ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.
Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a
falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou
inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - a indicação da materialidade dar-se-á: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 141. As penalidades disciplinares serão
aplicadas:
I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade;
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias;
III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;
IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão.
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da
data em que o fato se tornou conhecido.
§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.
§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de
processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o
prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.
TÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO é a sequência
da documentação e das providências necessárias para a
obtenção de determinado ato final
- Procedimento administrativo – é o modo pelo
qual o processo anda, ou a maneira de se encadearem os
seus atos – é o rito.
Pode ser:
a) vinculado: quando existe lei determinando a
sequência dos atos, ex. licitação
b) discricionário: ou livre, nos casos em que não há
previsão legal de rito, seguindo apenas a praxe
administrativa.
Na esfera administrativa não existe coisa julgada,
podendo sempre ser intentada ação judicial, mesmo após
uma decisão administrativa – art. 5º, XXXV.
Princípios do processo administrativo -
a) legalidade objetiva –apoiar-se em norma legal
específica
b) oficialidade – impulsionado pela administração
c) informalismo
d) verdade real
e) garantia de defesa
f) publicidade
Fases do procedimento:
a) Instauração – ato da própria administração ou
por requerimento de interessado.
b) Instrução
c) Defesa
d) Relatório
e) Decisão
f) Pedido de reconsideração – se tiver novos
argumentos
g) Recurso – para autoridade hierarquicamente
superior, todos tem efeitos devolutivo, podendo ter ou
não efeito suspensivo
Modalidades de processo:
a) mero expediente
b) internos – são os processos que envolvem
assuntos da própria Administração
c) externos – são os que abrangem os
administrados
d) de interesse público – são os que interessam à
coletividade
e) de interesse particular – são os que interessam a
uma pessoa
DIREITO ADMINISTRATIVO 43
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
f) de outorga – são aqueles em que o poder público
autoriza o exercício de direito individual (licença de
edificação)
g) de controle – são os que abrangem atividade
sujeita a fiscalização
h) disciplinares – envolve atuação dos servidores
i) licitatório – os que tratam de licitação
Sindicância - apuração prévia, pode se usado para
infrações leves, punidas com advertência e suspensão de
até 30 dias
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
§ 1o (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
(Revogado pela Lei nº 11.204, de 2005)
§ 2o (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o A apuração de que trata o caput, por
solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades
serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.
Art. 145. Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
III - instauração de processo disciplinar.
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo
servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
Capítulo II
Do Afastamento Preventivo
Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o
servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
Capítulo III
Do Processo Disciplinar
Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido
por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3
o do art. 143, que indicará, dentre eles, o
seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o A Comissão terá como secretário servidor
designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.
§ 2o Não poderá participar de comissão de
sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades
com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve
nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III - julgamento.
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 1o Sempre que necessário, a comissão dedicará
tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.
§ 2o As reuniões da comissão serão registradas
em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.
Seção I
Do Inquérito
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao
princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o
processo disciplinar, como peça informativa da instrução.
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão
promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e
44 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de
acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ 1o O presidente da comissão poderá denegar
pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
§ 2o Será indeferido o pedido de prova pericial,
quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor
mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.
Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.
Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e
reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.
§ 1o As testemunhas serão inquiridas
separadamente.
§ 2o Na hipótese de depoimentos contraditórios ou
que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.
Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas,
a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.
§ 1o No caso de mais de um acusado, cada um
deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.
§ 2o O procurador do acusado poderá assistir ao
interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.
Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade
mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será
formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
§ 1o O indiciado será citado por mandado
expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
§ 2o Havendo dois ou mais indiciados, o prazo
será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 3o O prazo de defesa poderá ser prorrogado
pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.
§ 4o No caso de recusa do indiciado em apor o
ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da
comissão que fez a citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas.
Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica
obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.
Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto
e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.
Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que,
regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.
§ 1o A revelia será declarada, por termo, nos autos
do processo e devolverá o prazo para a defesa.
§ 2o Para defender o indiciado revel, a autoridade
instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão
elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.
§ 1o O relatório será sempre conclusivo quanto à
inocência ou à responsabilidade do servidor.
§ 2o Reconhecida a responsabilidade do servidor,
a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório
da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.
Seção II
Do Julgamento
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a
alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.
§ 2o Havendo mais de um indiciado e diversidade
de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.
§ 3o Se a penalidade prevista for a demissão ou
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141.
§ 4o Reconhecida pela comissão a inocência do
servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 168. O julgamento acatará o relatório da
comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.
DIREITO ADMINISTRATIVO 45
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 1o O julgamento fora do prazo legal não implica
nulidade do processo.
§ 2o A autoridade julgadora que der causa à
prescrição de que trata o art. 142, § 2o, será
responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.
Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a
autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 171. Quando a infração estiver capitulada
como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.
Art. 172. O servidor que responder a processo
disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso.
Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias:
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.
Seção III
Da Revisão do Processo
Art. 174. O processo disciplinar poderá ser
revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
§ 1o Em caso de falecimento, ausência ou
desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.
§ 2o No caso de incapacidade mental do servidor,
a revisão será requerida pelo respectivo curador.
Art. 175. No processo revisional, o ônus da prova
cabe ao requerente.
Art. 176. A simples alegação de injustiça da
penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 177. O requerimento de revisão do processo
será dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar.
Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do art. 149.
Art. 178. A revisão correrá em apenso ao
processo originário.
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta)
dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão
revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.
Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que
aplicou a penalidade, nos termos do art. 141.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.
Art. 182. Julgada procedente a revisão, será
declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.
TÍTULO VI
DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade
Social para o servidor e sua família.
§ 1o O servidor ocupante de cargo em comissão
que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)
§ 2o O servidor afastado ou licenciado do cargo
efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência. (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)
§ 3o Será assegurada ao servidor licenciado ou
afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)
§ 4o O recolhimento de que trata o § 3
o deve ser
efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)
Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar
cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:
I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;
II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;
46 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
III - assistência à saúde.
Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.
Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade
Social do servidor compreendem:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria;
b) auxílio-natalidade;
c) salário-família;
d) licença para tratamento de saúde;
e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
f) licença por acidente em serviço;
g) assistência à saúde;
h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;
II - quanto ao dependente:
a) pensão vitalícia e temporária;
b) auxílio-funeral;
c) auxílio-reclusão;
d) assistência à saúde.
§ 1o As aposentadorias e pensões serão
concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.
§ 2o O recebimento indevido de benefícios havidos
por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.
Capítulo II
Dos Benefícios
Seção I
Da Aposentadoria
Art. 186. O servidor será aposentado:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos
e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados,
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados
na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da
lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
II - compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta)
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade,
na forma de lei complementar; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 88, de 2015)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões,
por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria,
por ocasião da sua concessão, serão consideradas as
remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor aos regimes de previdência de que tratam
este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de
2005)
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação
ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime de previdência previsto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de
pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor
falecido, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;
ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
II - ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art.
201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente
a este limite, caso em atividade na data do óbito.
DIREITO ADMINISTRATIVO 47
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o
tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma
de contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à
soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou
empregos públicos, bem como de outras atividades
sujeitas a contribuição para o regime geral de
previdência social, e ao montante resultante da adição de
proventos de inatividade com remuneração de cargo
acumulável na forma desta Constituição, cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, e de cargo eletivo. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios
fixados para o regime geral de previdência social.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdência
complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo
regime de que trata este artigo, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de que
trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art.
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de
entidades fechadas de previdência complementar, de
natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na
modalidade de contribuição definida. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao
servidor que tiver ingressado no serviço público até a
data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados
para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão
devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que
trata este artigo que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, com
percentual igual ao estabelecido para os servidores
titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer
em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime
próprio de previdência social para os servidores titulares
de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do
respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o
disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for
portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
ATENÇÃO PARA A EC 88/20015 que deu nova
redação ao inciso II do art. 40 da CF:
II - compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)
III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas
ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.
§ 2o Nos casos de exercício de atividades
consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas
48 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.
§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será
submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 187. A aposentadoria compulsória será
automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.
Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por
invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.
§ 1o A aposentadoria por invalidez será precedida
de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 2o Expirado o período de licença e não estando
em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3o O lapso de tempo compreendido entre o
término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.
§ 4o Para os fins do disposto no § 1
o deste artigo,
serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 5o A critério da Administração, o servidor em
licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
Art. 189. O provento da aposentadoria será
calculado com observância do disposto no § 3o do art. 41,
e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 190. O servidor aposentado com provento
proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1
o do art. 186
desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
Art. 191. Quando proporcional ao tempo de
serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.
Art. 192. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 193. (Vetado).
Art. 193. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a
gratificação natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.
Art. 195. Ao ex-combatente que tenha
efetivamente participado de operações bélicas, durante a
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.
Seção II
Do Auxílio-Natalidade
Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora
por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.
§ 1o Na hipótese de parto múltiplo, o valor será
acrescido de 50% (cinquenta por cento), por nascituro.
§ 2o O auxílio será pago ao cônjuge ou
companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora.
Seção III
Do Salário-Família
Art. 197. O salário-família é devido ao servidor
ativo ou ao inativo, por dependente econômico.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;
III - a mãe e o pai sem economia própria.
Art. 198. Não se configura a dependência
econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.
Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores
públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.
Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.
Art. 200. O salário-família não está sujeito a
qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.
Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem
remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família.
Seção IV
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 202. Será concedida ao servidor licença para
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.
Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta Lei
será concedida com base em perícia oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 1o Sempre que necessário, a inspeção médica
será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.
§ 2o Inexistindo médico no órgão ou entidade no
local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
DIREITO ADMINISTRATIVO 49
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 3o No caso do § 2
o deste artigo, o atestado
somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 4o A licença que exceder o prazo de 120 (cento
e vinte) dias no período de 12 (doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 5o A perícia oficial para concessão da licença de
que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta Lei, será efetuada por cirurgiões-dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
Art. 204. A licença para tratamento de saúde
inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica
não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1
o.
Art. 206. O servidor que apresentar indícios de
lesões orgânicas ou funcionais será submetido a inspeção médica.
Art. 206-A. O servidor será submetido a exames
médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) (Regulamento).
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput,
a União e suas entidades autárquicas e fundacionais
poderão: (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)
I - prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade à qual se encontra
vinculado o servidor; (Incluído pela Lei nº 12.998, de
2014)
II - celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e
fundações; (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)
III - celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do art. 230; ou(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)
IV - prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
pertinentes. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)
Seção V
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade
Art. 207. Será concedida licença à servidora
gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. (Vide Decreto nº 6.690, de 2008)
§ 1o A licença poderá ter início no primeiro dia do
nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2o No caso de nascimento prematuro, a licença
terá início a partir do parto.
§ 3o No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta)
dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.
§ 4o No caso de aborto atestado por médico
oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.
Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o
servidor terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.
Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a
idade de seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda
judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada. (Vide Decreto nº 6.691, de 2008)
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.
Seção VI
Da Licença por Acidente em Serviço
Art. 211. Será licenciado, com remuneração
integral, o servidor acidentado em serviço.
Art. 212. Configura acidente em serviço o dano
físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.
Art. 213. O servidor acidentado em serviço que
necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos.
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.
Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo
de 10 (dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.
Seção VII
Da Pensão
Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de
18 de junho de 2004. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
Art. 216. (Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015)
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I - o cônjuge; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
c) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
50 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
e) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão
alimentícia estabelecida judicialmente; (Redação dada
pela Lei nº 13.135, de 2015)
III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
b) seja inválido; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
c) (Vide Lei nº 13.135, de 2015) (Vigência)
d) tenha deficiência intelectual ou mental; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos
requisitos previstos no inciso IV. (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)
§ 1o A concessão de pensão aos beneficiários de
que tratam os incisos I a IV do caput exclui os
beneficiários referidos nos incisos V e VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 2o A concessão de pensão aos beneficiários de
que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário referido
no inciso VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 3o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a
filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à
pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº
13.135, de 2015)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº
13.135, de 2015)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº
13.135, de 2015)
§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada
pela Lei nº 13.846, de 2019)
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo; ou
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 1º A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 3º Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 4º Julgada improcedente a ação prevista no § 2º ou § 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 5º Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
Art. 220. Perde o direito à pensão por morte:
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha
dolosamente resultado a morte do servidor; (Incluído pela
Lei nº 13.135, de 2015)
II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o
direito ao contraditório e à ampla defesa. (Incluído pela
Lei nº 13.135, de 2015)
Art. 221. Será concedida pensão provisória por
morte presumida do servidor, nos seguintes casos:
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço;
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.
DIREITO ADMINISTRATIVO 51
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 222. Acarreta perda da qualidade de
beneficiário:
I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;
III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas a e b do inciso VII do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos,
pelo filho ou irmão; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúncia expressa; e (Redação dada pela Lei
nº 13.135, de 2015)
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os
incisos I a III do caput do art. 217: (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos
antes do óbito do servidor; (Incluído pela Lei nº 13.135, de
2015)
b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do
casamento ou da união estável: (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e
seis) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte
e nove) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de
2015)
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40
(quarenta) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de
2015)
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43
(quarenta e três) anos de idade; (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais
anos de idade. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 1o A critério da administração, o beneficiário de
pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas
condições. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 2o Serão aplicados, conforme o caso, a regra
contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea “b”
do inciso VII, ambos do caput, se o óbito do servidor
decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união
estável. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 3o Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos
e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins
previstos na alínea “b” do inciso VII do caput, em ato do
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as
idades anteriores ao referido incremento. (Incluído pela
Lei nº 13.135, de 2015)
§ 4o O tempo de contribuição a Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII
do caput. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
§ 5º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 6º O beneficiário que não atender à convocação de que trata o § 1º deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 7º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
§ 8º No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de
beneficiário, a respectiva cota reverterá para os
cobeneficiários. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de
2015)
I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.135,
de 2015)
II - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135,
de 2015)
Art. 224. As pensões serão automaticamente
atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 189.
Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada
a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais
de 2 (duas) pensões. (Redação dada pela Lei nº 13.135,
de 2015)
Seção VIII
Do Auxílio-Funeral
Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do
servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.
52 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 1o No caso de acumulação legal de cargos, o
auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração.
§ 2o (VETADO).
§ 3o O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral.
Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro,
este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em
serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.
Seção IX
Do Auxílio-Reclusão
Art. 229. À família do servidor ativo é devido o
auxílio-reclusão, nos seguintes valores:
I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;
II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.
§ 1o Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o
servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.
§ 2o O pagamento do auxílio-reclusão cessará a
partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.
§ 3o Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-
reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à
prisão. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
Capítulo III
Da Assistência à Saúde
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo
ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006)
§ 1o Nas hipóteses previstas nesta Lei em que
seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o Na impossibilidade, devidamente justificada,
da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação
de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 3o Para os fins do disposto no caput deste
artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006; (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei n
o 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e
seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador; (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
III - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de
2006)
§ 5o O valor do ressarcimento fica limitado ao total
despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
Capítulo IV
Do Custeio
Art. 231. (Revogado pela Lei nº 9.783, de
28.01.99)
Título VII
Capítulo Único
Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público
Art. 232. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)
Art. 233. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)
Art. 234. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)
Art. 235. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)
TÍTULO VIII
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais
Art. 236. O Dia do Servidor Público será
comemorado a vinte e oito de outubro.
Art. 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira:
I - prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.
Art. 238. Os prazos previstos nesta Lei serão
contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo
DIREITO ADMINISTRATIVO 53
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 239. Por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado,
nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:
a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;
b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido;
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria.
d) (Vetado).
e) (Vetado).
d) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
e) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 241. Consideram-se da família do servidor,
além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar.
Art. 242. Para os fins desta Lei, considera-se
sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente.
TÍTULO IX
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico
instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1
o de maio de 1943, exceto os
contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
§ 1o Os empregos ocupados pelos servidores
incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.
§ 2o As funções de confiança exercidas por
pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei.
§ 3o As Funções de Assessoramento Superior -
FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta Lei.
§ 4o (VETADO).
§ 5o O regime jurídico desta Lei é extensivo aos
serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber.
§ 6o Os empregos dos servidores estrangeiros
com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos.
§ 7o Os servidores públicos de que trata o caput
deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 8o Para fins de incidência do imposto de renda
na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 9o Os cargos vagos em decorrência da
aplicação do disposto no § 7o poderão ser extintos pelo
Poder Executivo quando considerados desnecessários. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já
concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transformados em anuênio.
Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art.
116 da Lei nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 90.
Art. 246. (VETADO).
Art. 247. Para efeito do disposto no Título VI desta
Lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores celetistas abrangidos pelo art. 243. (Redação dada pela Lei nº 8.162, de 8.1.91)
Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até
a vigência desta Lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor.
Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 1o do
art. 231, os servidores abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio.
Art. 250 (Vetado)
Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a
satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso II do art. 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei n° 1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. (Mantido pelo Congresso Nacional)
Art. 252. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente.
Art. 253. Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169o da
Independência e 102o da República.
FERNANDO COLLOR Jarbas Passarinho
54 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
PODERES E DEVERES DOS ADMINISTRADORES PÚBLICOS.
1. INTRODUÇÃO
Para que a Administração Pública possa programar as chamadas políticas públicas, esta é dotada de determinados poderes instrumentais.
Na verdade, o exercício destes poderes é um dever da Administração Pública por isso considerados como PODER–DEVER. E é bom ressaltar que não é lícito
ao Administrador Público omitir-se no dever de praticar o ato.
Estes poderes podem ser exercidos isolada ou cumulativamente para a realização de um mesmo ato administrativo.
2. CLASSIFICAÇÃO DOS PODERES
Lembra-nos Almir Morgado (pág 171), que a classificação abaixo assinalada deriva da clássica lição do já saudoso Hely Lopes Meirelles, ou seja, os poderes administrativos utilizados pela organização administrativa do Estado são o Hierárquico, o Disciplinar, o Vinculado, o Discricionário, o Regulamentar e o de Polícia. Começaremos na ordem abaixo escolhida.
2.1) PODER VINCULADO OU REGRADO.
Existem atividades em que a autoridade competente (a competência é dada pela lei) está estritamente vinculada às disposições especificadas na
lei, sendo - lhe vedado (proibido) exercer qualquer juízo meritório (conveniência, oportunidade e conteúdo). O Poder Vinculado, também chamado de Poder Regrado, estabelece quando e como a Administração Pública deve agir sobre um determinado fato não oferecendo qualquer espaço para análise do mérito.
Almir Morgado (pág. 175) corrobora este aspecto
ao lecionar:
―No exercício do poder vinculado não há escolha, não há opção nem liberdade, devendo o administrador decidir e agir segundo a lei.‖
E mais
―A partir justamente dessa situação de submissão total aos mandamentos legais é que se questiona atualmente na doutrina se este se trata de um verdadeiro poder ou mero dever-agir da Administração.‖
Por fim, na visão do, também, saudoso Prof. Daltro, o Administrador Público é, na verdade “um escravo da lei.”
Ex: Cobrança de Tributos (impostos, taxas,
contribuições de melhoria), Concurso Público (no que se refere a obrigação de chamar os aprovados de acordo com a sua classificação), licença para construir, aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade etc.
Dica de concursos:
O poder vinculado não existe como poder autônomo; em realidade, ele configura atributo de outros poderes ou competências da administração
pública. (Ass. Jurid. Pref. Mun.Natal - CESPE/2008).
2.2) PODER DISCRICIONÁRIO.
Por outro lado, caro concursando, existem atividades da Administração Pública que exigem agilidade, havendo a necessidade que o administrador público possa ter um certo grau de liberdade.
A lei oferece um determinado espaço a este administrador público para que decida conforme a conveniência, a oportunidade e o conteúdo. Não confunda, entretanto, discricionariedade com arbitrariedade, já que esta estabelece atos praticados
foras do limite da lei.
Ex: O momento da abertura de um Concurso
Público, ou, até mesmo, o momento de chamar os aprovados, a escolha do dia em que a prova será realizada, a prorrogação do prazo de validade de um concurso público, a contratação com o vencedor de um determinado processo licitatório, uma autorização para o fechamento de uma rua etc.
ATENÇÃO!
Reveja este aspecto do Código de Ética do Servidor Público Federal (Decreto n° 1.171/94):
Seção II
Dos Principais Deveres do Servidor Público
XIV – São deveres fundamentais do servidor público:
(...)
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;‖
2.3) PODER HIERÁRQUICO.
Os órgãos públicos possuem uma espécie de hierarquia. É com base no PODER HIERÁRQUICO que
os escalões superiores impõem ordens aos inferiores, os quais se obrigam ao seu cumprimento, salvo, se manifestamente ilegais, impossíveis ou absurdas. Graças a este poder as funções de seus órgãos e agentes são escalonadas estabelecendo, consequentemente, verdadeiros vínculos hierárquicos.
ATENÇÃO1!
Lembre-se dos conceitos de DELEGAÇÃO e AVOCAÇÃO de competência, pois derivam – se
deste poder administrativo.
ATENÇÃO2!
Não há hierarquia nos Poderes Judiciário e Legislativo, nas suas funções constitucionais (típicas). Nas funções administrativas (atípicas), entretanto, existe esta hierarquia.
ATENÇÃO3!
São características da fiscalização hierárquica: a permanência e a automaticidade.
O não cumprimento de ordens legais caracteriza a chamada DESOBEDIÊNCIA levando à punição do
servidor público.
2.4) PODER DISCIPLINAR.
Este poder é utilizado para PUNIR INTERNAMENTE as infrações praticadas por servidores
DIREITO ADMINISTRATIVO 55
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina da Administração Pública.
NOTE BEM!
Este poder é diferente do poder de punir do Estado aplicado somente pelo Poder Judiciário (dizem respeito aos crimes e contravenções estabelecidas nas leis penais). A aplicação da penalidade pressupõe a instauração de um processo administrativo assegurada a ampla defesa e o contraditório (CF/88, art. 5°, IV). Se houver simultaneamente, crime e infração disciplinar, não se configurará em bis in idem a aplicação das duas sanções referentes a uma única conduta ilícita, quer por ação, quer por omissão.
A autoridade competente é obrigada (DEVER–PODER) a promover a apuração das irregularidades, sob pena de ser responsabilizado.
Ressalte-se que o poder disciplinar tem natureza discricionária, tendo em vista que o administrador
público, quando de seu julgamento, aplicará a sanção que julgar cabível, dentro da permitidas em lei.
Lembra-nos Almir Morgado (pág. 174) que
―a lei administrativa normalmente utiliza conceitos jurídicos indeterminados para descrever as infrações, como ‗procedimento irregular‘, ‗falta grave‘, ‗conduta incompatível‘ etc, deixando à Administração a discricionariedade de enquadrar as ocorrências fáticas nesses pressupostos normativos, consoante a gravidade das mesmas, os danos que provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor‖.
Já o art. 143 da Lei n 8.112/90 e demais alterações posteriores ressalta que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público á obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado à ampla defesa.
É importante lembrarmos que na aplicação de penalidades disciplinares, deverá sempre ser observado a chamada AMPLA DEFESA e o CONTRADITÓRIO, sem o qual o processo será passível de anulação (efeito ex tunc).
2.5) PODER REGULAMENTAR OU NORMATIVO.
As leis necessitam, naturalmente, de uma regulamentação, pois a lei é uma formulação genérica. O Poder Regulamentar ou Normativo, é o poder
concedido ao Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governadores de Estado e Distrital e Prefeitos Municipais) para a expedição de atos normativos (este poder se manifesta através dos chamados decretos) visando tornar possível ou mais fácil a execução das leis oriundas do Poder Legislativo.
Portanto, a competência para realizar esta regulamentação é do CHEFE DO PODER EXECUTIVO o qual se manifesta através de DECRETOS (CF/88, Art. 84, IV).
IMPORTANTE!
Os decretos não poderão exorbitar (ultrapassar) o conteúdo da lei. É por isso que a constituição federal de 1988 (art. 49, v) outorga a competência ao congresso nacional para sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa. É por este motivo que se afirma que o decreto não têm caráter de novidade.
NOTE BEM!
A EC N° 32/2001 passou a admitir a existência dos chamados DECRETOS AUTÔNOMOS. A Constituição Federal de 1988 (art.84, VI) autorizou o Presidente da República a dispor, entre outros aspectos, sobre a organização e funcionamento da Administração Federal, quando não implicar aumento de despesa e sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, DIRETAMENTE MEDIANTE DECRETO. Lembre – se que a criação ou extinção de órgãos públicos somente se efetuam, juridicamente, por LEI.
São também atos normativos que têm por fim explicar o modo e a forma de execução das leis as RESOLUÇÕES, as PORTARIAS, as DELIBERAÇÕES, as INSTRUÇÕES e os REGIMENTOS.
Dica de concursos:
No exercício do poder regulamentar, a administração não pode criar direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, devendo limitar-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida. (OAB/CESPE/2008.2)
2.6) PODER DE POLÍCIA.
Os direitos e liberdades individuais
consagrados na Carta Magna de 1988 não são absolutos, tendo em vista o princípio implícito da supremacia do interesse público sobre o particular.
Este limite à atuação do particular chama-se PODER DE POLÍCIA.
2.6.1 Conceito
O conceito de Poder de polícia é trazido pelo Código Tributário Nacional, mais precisamente em seu art. 78 (PORTANTO, EXISTE UM CONCEITO LEGAL DE PODER DE POLÍCIA):
―Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, a tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos‖.
EXEMPLOS DE ATOS DE POLÍCIA:
Fiscalização visando coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade; autorização para estabelecimentos comercializarem fogos de artifícios etc.
A Administração Pública exerce o poder de polícia sobre todas as atividades que possam afetar os interesses da coletividade, sendo exercido por todas as esferas da Federação (União, Estados-Membros, DF e Municípios).
VEJA BEM!
É proibido ao particular exercê-lo, pois o poder de polícia trata-se de atividade do Estado.
56 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
2.6.1 Divisão
A doutrina administrativista divide o PODER DE POLÍCIA em ADMINISTRATIVA (atua preventivamente ou repressivamente, controlando, em geral, a ordem
pública, saúde, higiene etc. É exercido pelas Polícias Militares, Policia Rodoviária Federal, e órgãos de fiscalização e controle.) e JUDICIÁRIA (exercida, repressivamente, por meio de inquéritos, pelas Polícias
Civil e Federal.).
A principal diferença entre as duas está no caráter, PREDOMINANTEMENTE, PREVENTIVO da polícia administrativa e no caráter REPRESSIVO da polícia
judiciária.
Outro aspecto a considerar é que a polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades. Já a polícia judiciária atua sobre pessoas.
Ou seja:
►Polícia administrativa – Age “a priori”. Ex:
aplicação da chamada lei do silêncio etc.
►Polícia judiciária – Age “a posteriori”.
NOTE BEM!
Um exemplo de atuação repressiva, no que diz respeito à polícia administrativa, verifica-se na fiscalização das atividades e bens sujeitos ao controle da Administração pública. Ao verificar a existência de uma infração, a fiscalização deverá lavrar AUTO DE INFRAÇÃO. Além da multa, Hely Lopes Meirelles menciona como SANÇÕES, a interdição da atividade, o fechamento do estabelecimento, a demolição da construção irregular, o embargo administrativo da obra, a inutilização de gêneros, a apreensão e destruição de objetos etc.
Geralmente, no uso dos bens e no exercício das atividades, o controle do Poder de Polícia é materializado por alvarás de licença ou autorização.
• O alvará, se definitivo, chama-se licença; o alvará precário, é a autorização.
NOTE BEM!
A taxa, espécie de tributo é um dos fatos geradores do PODER DE POLÍCIA.
2.6.3 Atributos (características) do poder de polícia
a) DISCRICIONARIEDADE → É dada a
Administração Pública a escolha da conveniência, oportunidade e conteúdo quando for exercer o Poder de Polícia, aplicando a sanção legalmente estabelecida.
b) AUTO–EXECUTORIEDADE → A Administração
Pública pode executar suas próprias decisões sem a necessidade de intervenção de qualquer outro Poder.
Entretanto a auto-executoriedade deve ser exercida com moderação, sendo observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
ATENÇÃO! A administração pública não poderá
executar as suas próprias multas e demais créditos pecuniários, somente ingressando com uma ação de execução fiscal em uma das varas da fazenda pública.
Por fim, ressalte-se que a atuação do Poder de Polícia da Administração Pública, não é ilimitado, tendo em vista a observância do PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (não pode a extensão da
medida ser maior que a necessária para a obtenção dos resultados licitamente desejados, evitando, assim, excessos na sua execução material.).
c) COERCIBILIDADE OU EXIGIBILIDADE → O
administrado é obrigado a cumprir as determinações, se possível com o uso da força desde que aplicada com moderação.
2.6.4 Sanções do poder de policia
As sanções que efetivam as medidas relacionadas ao poder de polícia são: a multa, a interdição de ativiade, a demolição de prédio, a destruição de armas e materiais falsificados, a inutilização de bens alimentícios e o embargo de obra.
2.6.5 Espécies de poder polícia administrativa
a) Polícia de Costumes → (interdição de locais, a
cassação de alvarás e a vigilância);
b) Polícia de Comunicação → (controla a
diversão e espetáculos públicos, embora tenha sido extinta a censura);
c) Polícia Sanitária → (defende a saúde humana);
d) Polícia de Viação → (estabelece os limites ao
exercício ao direito individual à utilização dos meios de transportes);
e) Polícia de Comércio e Indústria → (controle o
comércio ambulante, feiras livres e mercados);
f) Polícia Ecológica → (fiscaliza o cumprimento
da legislação ambiental);
g) Polícia Edílica → (estabelece limitações de
todos os tipos nas cidades visando a segurança e o bem estar nas áreas urbanizadas).
3. USO E ABUSO DE PODER
Segundo Aldemario Araujo Castro11
“uso do
poder é uma prerrogativa do agente público. O uso (normal) do poder implica na observância das normas constitucionais, legais e infralegais, além dos princípios explícitos e implícitos do regime jurídico-administrativo e na busca do interesse público.”
Três são as formas abuso de poder ou de autoridade:
a) Excesso de poder: quando a autoridade
competente vai além do permitido na legislação vigente.
b) Desvio de finalidade ou de poder: quando o
ato é praticado por motivos ou com fins diversos dos previstos na legislação.
c) Omissão: quando constata-se a inércia da
Administração, a recusa injustificada em praticar determinado ato.
LEMBRE-SE!
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público" (art. 5o., inciso LXIX da Constituição).
Dicas de concursos:
A administração pública pode exercer o seu poder de polícia por meio de atos administrativos gerais, de caráter normativo, ou por meio de atos concretos, como o de sancionamento. (Anal. Ambiental-IBAMA - CESPE /2009)
11 http://www.direitoadministrativo.hpg.ig.com.br/texto5.htm)
DIREITO ADMINISTRATIVO 57
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Os atos praticados com esteio no poder de polícia administrativa possuem os atributos da presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. (Anal. Ambiental-IBAMA - CESPE/2009)
No exercício do poder de polícia, a administração pública está autorizada a tomar medidas preventivas e não apenas repressivas. (Anal.Jud.TJ-DFT - CESPE/2008)
Programa de restrição ao trânsito de veículos automotores, em esquema conhecido como rodízio de carros, é ato que se insere na conceituação de poder de polícia, visto ser uma atividade realizada pelo Estado com vistas a coibir ou limitar o exercício dos direitos individuais em prol do interesse público. (Anal.Jud.TJ-DFT/CESPE/2008
O poder de polícia pode envolver atos de fiscalização e sanção. (OAB-RJ - CESPE/2007).
Resumo: PODER DE POLÍCIA
Conceito: É uma atividade da administração pública que, limitando ou cerceando direitos individuais, regula a pratica de um ato ou uma abstenção de fato, visando à satisfação do interesse público.
O poder de policia limita ou cerceia direitos individuais. Exemplificando, poder de policia é o poder que a administração pública tem de restringir liberdades individuais, o uso e o gozo da propriedade para garantir o interesse público. É a manifestação da supremacia do interesse público sob o interesse privado.
Natureza do poder de polícia
O poder de polícia pode ser:
a) Preventivo
b) Repressivo
É discricionári
o ou vinculado?
Como regra geral o poder de polícia é discricionário (ex.: autorizações
administrativas: porte de arma). Todavia, é a lei que vai disciplinar se vinculado ou discricionário (ex.: as licenças administrativas: alvarás de funcionamento de estabelecimento comerciais, licença para aquisição de arma).
Competência para praticar os atos de
polícia administrativ
a
De acordo com a doutrina a competência para praticar os atos de polícia administrativa é do ente federativo que tiver atribuição constitucional para legislar sobre o tema.
Fases do poder de polícia
1) Ordem (ou norma de polícia ou legislação de polícia) = são
comandos abstratos e coercitivos que visam normatizar, disciplinar e regulamentar atos e condutas que em tese são nocivos a sociedade. Ex: CTB quando limita velocidade. O CTB fala em aplicação subsidiária ao ato administrativo, ou seja, as regras de velocidade do CTB só serão aplicadas se não houver outra norma dispondo de forma contrária.
2) Consentimento = Traduz-se na
anuência prévia da administração, quando exigida, para a prática de determinadas atividades privadas ou para determinado exercício de poderes concernentes à propriedade privada. Esse consentimento se materializa nas licenças e autorizações.
Essa fase nem sempre se fará presente. Com efeito, o uso e a fruição de bens e a prática de atividades privadas que não necessitem de obtenção prévia de licença ou autorização podem estar sujeitos a fiscalização de polícia e a sanções de polícia, pelo descumprimento direto de determinada ordem de polícia.
3) Fiscalização = São os atos
materiais que decorrem da própria ordem. São atos de natureza executória.
Exemplo: fiscalização de transito, fiscalização da vigilância sanitária e etc.
4) Sanção = É a aplicação do
preceito secundário da norma pelo descumprimento do preceito primário. Será oriundo do poder de policia quando o vinculo jurídico for genérico. Se ó vinculo for específico estaremos diante do poder disciplinar.
É possível delegar o poder de policia?
Administração direita e indireta =
SIM
É possível a outorga do poder de polícia a entidades de Direito Público da Administração Indireta, como as agências reguladoras, as autarquias corporativas e o Banco Central.
Particular = Divergência
v Celso Antônio: é indelegável.
v Carvalhinho (MP/RJ): é delegável,
a pessoa jurídica de direito privado, desde que preenchidos determinados requisitos cumulativos. São eles:
(i) Ter previsão legal;
(ii) Ser pessoa que integre a administração pública indireta e
(iii) Referir-se as fases de consentimento ou fiscalização. (não é possível delegação na fase de ordem e sanção)
v STJ: é delegável somente os atos
de consentimento e fiscalização, ordem e sanção constituem atividades típicas da administração pública e não podem ser delegadas
Classificação do
Doutrinador Carvalhinho para poder de policia
v Poder de policia originário: seria aquele exercido pelas pessoas políticas.
v Poder de policia derivado: seria
aquele exercido pelas pessoas jurídicas que integram a administração indireta.
Atributos ou característica
s do poder
a) Autoexecutoriedade = os atos de
policia não necessitam de anuência previa do Judiciário para serem
58 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
de polícia
implementados. Mas a regra geral é que a implementação de tais medidas devem ser precedidas de contraditório e ampla defesa para aqueles que sofrerão a incidência de tais medidas (processo administrativo prévio). A unilateralidade com postergação do devido processo legal administrativo somente ocorre em 3 casos:
1. Quando a lei autorizar;
2. Nas situações de emergência/urgência;
3. Quando houver risco de perecimento do direito para restabelecer de imediato a ordem pública, a saúde pública, a paz social.
Para Celso Antonio:
Divide-se em:
(i). Exigibilidade – é a capacidade que goza o ato de policia administrativa de gerar para o particular uma obrigação de fazer, não fazer ou suportar. Significa dizer que o ato é fonte de obrigação.
(ii). Executoriedade – é a capacidade da administração pública fazer com que o particular cumpra a obrigação.
Dito isso, pergunta-se: A administração pública tem condições – por si só – de fazer o particular cumprir a obrigação? Sim, se o ato é exigível e executável, p.ex.: apreensão de mercadoria. Caso contrário, não há executoriedade, p.ex.: multa.
b)Imperatividade/Coercibilidade =
é a possibilidade do uso de força se necessário para implementar a medida de polícia. Poder extroverso.
Imperatividade – Significa que a
administração tem a possibilidade de impor ao particular a sua vontade, p.ex. desfazimento de passeata que estiver subvertendo a ordem pública, destruição de casa construída em área ambiental.
Coercibilidade – É a possibilidade
do uso de força se necessário para implementar a medida de polícia. Só se faz presente quando o particular oferece resistência. Todavia, a coercibilidade está limitada ao principio da proporcionalidade
c) Discricionariedade = (regra) –
consiste na livre escolha pela administração sobre a conveniência e oportunidade do exercício do poder de polícia. TODAVIA, nem todos os atos são discricionário, p.ex. licença é ato vinculado.
Limites ao exercício do
poder de polícia
a) Principio da legalidade estrita –
o legislador só pode fazer o que a lei manda.
b) Principio da razoabilidade –
quando a legalidade estrita, por si só, não resolve o caso, aplica-se o principio da razoabilidade
c) Núcleo essencial ao direito individual – o estado pode limitar o
direito do individuo, desde que não toque o núcleo essencial.
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
1. INTRODUÇÃO
Onde existe Administração Pública, existe ato administrativo; no entanto, nem sempre se utilizou essa expressão, pois se falava mais comumente em atos do Rei, atos do Fisco, atos da Coroa. Na realidade, a noção de ato administrativo só começou a ter sentido a partir do momento em que se tornou nítida a separação dos poderes, e à submissão da Administração Pública ao Direito (Estado de Direito), com a adoção de um regime jurídico administrativo, diverso do regime de direito privado.
1. CONCEITO
“ATO ADMINISTRATIVO é toda manifestação UNILATERAL de vontade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que, agindo nessa qualidade, tenha por fim
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.” (Hey Lopes Meirelles)
“Declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime de Direito Público e sujeita ao controle pelo Poder judiciário.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro)
CUIDADO!
O silêncio administrativo não é considerado ato administrativo.
=> FATO ADMINISTRATIVO: é toda realização
material da Administração Pública, em cumprimento de alguma decisão administrativa. O fato administrativo é consequência de um ato administrativo que o determina. EX: limpeza de uma rua, construção de uma ponte etc.
3. DIFERENÇA ENTRE ATO ADMINISTRATIVO E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Atos da administração pública
Ato administrativo
É gênero É espécie de ato da administração
Falta de manifestação de vontade – ato material
É uma manifestação de vontade
Vontade bilateral – contrato, convênio e consórcio administrativo
Unilateral praticada pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes
Vontade do legislador constitucional – ato político
Que visa materializar a vontade do legislador infraconstitucional
Égide do direito privado – ato privado da administração pública
Praticada pela égide do direito público
Passível de exame de
DIREITO ADMINISTRATIVO 59
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
legalidade pelo poder judiciário
Para Maria Silvia di Pietro – ato enunciativo, porque não transferem, não modificam, não adquirem e não extinguem obrigações.
Que altera posições jurídicas, modificando, resguardando, adquirindo, transferindo ou extinguindo direitos e obrigações do estado ou de particulares atingidos pela pratica do ato.
Maria Silvia ainda fala em imperatividade (posição minoritária). Para ela se não houver imperatividade não é ato administrativo.
Obs.: Imperativida é
sinônimo de poder extroverso.
4. ATRIBUTOS ou CARACTERÍSTICAS:
Os atos administrativos, como emanação do Poder Público, trazem em si certos atributos (características) que os distinguem dos atos jurídicos privados e lhes emprestam características próprias e condições peculiares de atuação. São a PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, a IMPERATIVIDADE, AUTO-EXECUTORIEDADE e TIPICIADE (PAIT).
a) PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
Tendo em vista que, pelo princípio da legalidade, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, qualquer ato administrativo goza da presunção de legitimidade, ou seja, os atos administrativos presumem-se praticados de acordo com a lei e baseados em fatos verdadeiros. Portanto, é ele válido até que seja declarada sua nulidade.
VEJA BEM!
Em decorrência dessa presunção, ocorre a transferência da obrigação de provar a invalidade do ato para quem alega (inversão do ônus da prova).
► Ressalte-se que a presunção de legitimidade de que gozam atos administrativos é do tipo juris tantum, ou seja, é relativa, pois admite prova em contrário.
Dicas de concurso:
Todo ato administrativo tem presunção de legitimidade. (CESPE–MC - Administração/2008) Certo
O ato administrativo ilegal praticado por agente administrativo corrupto produz efeitos normalmente, pois traz em si o atributo da presunção, ainda que relativa, de legitimidade. (CESPE/TRE/MS/Analista/2013) Certo
b) AUTO-EXECUTORIEDADE
Consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem executados imediata e diretamente pela Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Exemplos: apreensão de remédios com prazo de
validade vencido, embargo de obra, fechamento de estabelecimento comercial etc.
NOTE BEM! Não se esqueça que existe uma
exceção: cobrança da Dívida Ativa.
c) IMPERATIVIDADE
Por esse atributo os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Possibilita a COERCIBILIDADE (emprego da força) caso
haja resistência do particular em acatar uma decisão do Poder Público.
A imperatividade é uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado, haja vista que este última não cria qualquer obrigação para terceiro sem sua concordância. É também chamada a imperatividade de “PODER EXTROVERSO”
NOTE BEM!
Alguns autores falam da TIPICIDADE como atributo do ato administrativo. Segundo este atributo, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados.
Exemplo: O tipo ABANDONO DE
CARGO exige que o servidor tenha a intenção de abandonar o cargo por um período superior a 30 dias consecutivos.
3. REQUISITOS OU ELEMENTOS (COFIFOMOB):
São os componentes que o ato deve ter para ser considerado perfeito e válido.
A) COMPETÊNCIA OU SUJEITO
É o poder que a lei outorga ao agente público para o desempenho de suas funções, sendo nulo o ato praticado por agente incompetente.
ATENÇÃO!
Ocorrerá o chamado ABUSO DE AUTORIDADE OU DE PODER, na modalidade EXCESSO DE PODER quando a autoridade competente ultrapassar os limites legais de suas atribuições Já o USURPADOR DE FUNÇÃO PÚBLICA pratica atos administrativos sem estar legalmente investidos como agente público. Seus atos são considerados inexistentes.
A competência é intransferível e improrrogável (não pode ser estendida) por interesse das partes.
Entretanto, poderá a LEI facultar a delegação e a avocação desta competência, senão vejamos:
DELEGAÇÃO → “Atribuição temporária e
revogável a qualquer tempo, do exercício de algumas atribuições originariamente pertencentes ao cargo do superior hierárquico a um subordinado.”.
NOTE BEM!
A delegação é sempre parcial (não podendo abranger todas as atribuições do cargo), por tempo determinado e deverá ser publicada na Imprensa Oficial.
IMPORTANTE!
São indelegáveis:
-A edição de atos de caráter normativo;
-A edição de recursos administrativos;
-As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
60 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Dica de concurso:
Delegação não transfere competência, mas somente, e em caráter temporário, transfere o exercício de parte das atribuições do delegante.
AVOCAÇÃO → “É o poder que possui o superior
hierárquico de chamar para si a execução de atribuições cometidas originariamente a seus subordinados.”
NOTE BEM!
A Lei n° 9.784, de 29/01/1999 (Processo Administrativo Federal) estabelece o seguinte:
“Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior”.
Lembra-nos Alexandrino12
que a avocação deve
ser evitada por representar um incontestável desprestígio para o servidor subordinado.
B) FINALIDADE
É o requisito que impõe seja o ato administrativo praticado unicamente para um fim de INTERESSE PÚBLICO, isto é, no interesse da coletividade. Decorre diretamente do PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE expresso no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
NOTE BEM!
O Princípio da impessoalidade visa
impedir que um agente público haja com simpatia ou antipatia, vingança, ou favorecimento, desviando-se da verdadeira finalidade, que é o
atendimento ao interesse público.
Este princípio se divide em duas vertentes fundamentais:
A impessoalidade que se traduz na busca do interesse público, ou seja, o administrador não deve atuar em prol dos seus próprios interesses ou em prol de interesses de um particular específico. Fundamenta-se no princípio da finalidade. Senão vejamos o art. 37, parágrafo 1°, da CF/88:
Art. 37. (...)
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
A impessoalidade que se traduz na busca do tratamento isonômico a ser dado a todos os particulares, ou seja, a Administração Pública deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica tratamento igualitário.
NOTE BEM2!
Qualquer ato administrativo praticado não tendo em vista o interesse público, será nulo por desvio de finalidade, que é uma espécie do gênero abuso de poder (ou de autoridade).
Dica de concurso:
O princípio da impessoalidade em relação à atuação administrativa impede que o ato administrativo seja praticado visando a interesses do agente público que o praticou ou,
12 Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (pág. 157)
ainda, de terceiros, devendo ater-se, obrigatoriamente, à vontade da lei, comando geral e abstrato em essência.(Tec.Min.P/PI/CESPE/2012)
C) FORMA
É o modo pelo qual o ato aparece, revela sua existência. Todo ato administrativo só terá validade se obedecer à forma prescrita em lei. A mais comum é a forma escrita, porém não é a única, pois existem atos orais (ordens dada a um servidor), atos pictóricos (placas de sinalização de trânsito), atos eletromecânicos (semáforos) e atos mímicos (agentes dirigindo manualmente o tráfego).
NOTE BEM!
A falta de motivação é um defeito ligado a forma e não ao motivo!
D) MOTIVO
É a circunstância de FATO (VERACIDADE) ou de DIREITO (LEGITIMIDADE) que autoriza ou determina ao
agente público a prática do ato administrativo.
Já a motivação consiste na exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, da justificativa da ação do administrador público, geralmente feita em forma de “CONSIDERANDOS”.
NOTE BEM!
Todo ato têm um MOTIVO. Entretanto,
nem todo ato terá uma MOTIVAÇÃO.
LEMBRE-SE:
MOTIVAÇÃO = JUSTIFICATIVA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) já decidiu que a MOTIVAÇÃO é necessária em TODO e qualquer ato administrativo, como por exemplo, a necessidade de motivação aplicável às decisões administrativas dos Tribunais.
(EXCEÇÃO: Exoneração de servidor público
ocupante de cargo comissionado).
NOTE BEM2!
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
Segundo esta teoria se for provado que o motivo é falso ou inexistente, por exemplo, é possível anular-se totalmente o ato, ou seja, os motivos se integram à validade do ato. Isto acontecerá, mesmo que a lei não tenha estipulado a necessidade de enunciá-los. Lembre-se que o ato administrativo somente terá validade se os motivos efetivamente ocorreram.
E) OBJETO OU MÓVEL
É o efeito jurídico imediato que o ato produz. É o próprio conteúdo do ato, ou seja, é o que o ato decide, enuncia, certifica, opina ou modifica na ordem jurídica. Assim, por exemplo, o desligamento do agente público, é o conteúdo do ato de exoneração. O objeto de uma multa de trânsito é seu caráter educativo etc.
6. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
6.1 QUANTO AOS DESTINATÁRIOS:
A) ATOS GERAIS
Também chamados ATOS REGULAMENTARES são aqueles expedidos sem destinatários determinados,
DIREITO ADMINISTRATIVO 61
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontre na mesma situação de fato abrangida por seus preceitos.
Ex.: Regulamentos, Instrução Normativa.
NOTE BEM!
Não geram direito adquirido.
B) ATOS INDIVIDUAIS
Conhecidos ainda por atos especiais, são aqueles
que se dirigem a destinatários certos, criando-lhes situação jurídica particular.
Ex.:Decreto de desapropriação, nomeação,
exoneração etc.
NOTE BEM!
Geram direito adquirido.
IMPORTANTE!
Havendo conflito entre atos gerais e individuais, prevalecerá o primeiro, ainda que provindos da mesma autoridade.
6.2 QUANTO AO ALCANCE:
A) ATOS INTERNOS
São os destinados a produzir efeitos no âmbito das repartições administrativas, incidindo, normalmente, sobre os órgãos e agentes da Administração. Ex.: aplicação de penalidade a servidor, portaria.
B) ATOS EXTERNOS
São todos aqueles que alcançam os administrados, os contratantes, e, em certos casos, os próprios servidores, provendo sobre seus direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. Ex.: nomeação de um servidor público.
6.3 QUANTO AO OBJETO
A) ATOS IMPÉRIO
Atos de império (ou de autoridade) são atos unilaterais em que a Administração pratica usando de sua supremacia sobre o administrado ou servidor, sendo de atendimento obrigatório. Ex.: Interdição de atividade,
desapropriação, aplicação de uma multa de trânsito etc.
B) ATOS DE GESTÃO
São atos bilaterais que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Ex.:
Aquisição de bens, contratação de serviços etc.
C) ATOS DE EXPEDIENTE
São aqueles que se destinam a dar andamento aos processos e papéis que tramitam pelas repartições públicas, preparando-os para a decisão de mérito a ser proferida pela autoridade competente. Ex.:Envio para
publicação no Órgão Oficial, vista para defesa etc.
6.4 QUANTO AO REGRAMENTO
A) ATOS VINCULADOS
Também chamados REGRADOS, são aqueles em
que a lei determinada rigidamente a conduta do administrador público, dispondo sobre a competência, a finalidade, a forma, o motivo, a oportunidade e a conveniência, não lhe deixando margem de liberdade.
Assim, a lei estabelece detalhadamente os requisitos e condições de sua realização, não podendo o administrador se afastar desses requisitos, sob pena de nulidade do ato.
Ex.:cobrança de tributos (impostos, taxas etc);
aposentadoria compulsória aos 70 anos para o ocupante de cargo efetivo, seja homem ou mulher; convocação dos aprovados em concurso público pela ordem de classificação etc.
B) ATOS DISCRICIONÁRIOS
É o praticado pelo administrador com certa margem de liberdade (discricionariedade), podendo,
diante do caso concreto, decidir acerca de sua conveniência, de sua oportunidade, de seu destinatário e o modo de sua realização.
Dentre as várias soluções possíveis, deve o administrador optar pela que melhor atender ao interesse público. Ex.:autorização de porte de arma, abertura de
concurso público, a prorrogação do prazo de validade de um concurso público etc.
ATENÇÃO!
Discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade.
Mérito administrativo
O mérito administrativo decorre do poder discricionário da Administração, o qual permite que o Administrador escolha diante de duas ou mais opções legalmente validas, ponderando as aspectos relativos à conveniência e à oportunidade, são esses aspectos que a doutrina denomina de mérito administrativo. José dos Santos conceitua o mérito administrativo sendo “a avaliação da conveniência e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da pratica de ato
discricionário.”.
=> O ato discricionário pode ser apreciado pelo
Poder Judiciário, entretanto, em matéria restrita aos aspectos da legalidade, não podendo adentrar no mérito (conveniência e oportunidade) do ato.
6.5 QUANTO À FORMAÇÃO DA VONTADE
A) ATOS SIMPLES
São os que resultam da manifestação da vontade de um único órgão, unipessoal ou colegiado. Ex.:Despacho
de um chefe, decisão do conselho de contribuintes etc.
Dica de concursos:
Quanto à formação da vontade, a deliberação de um conselho constitui exemplo de ato administrativo simples.(TRF 2ª R/CESPE/2011)
B) ATOS COMPLEXOS
São os que se forma pela configuração de vontades de mais de um órgão administrativo, sendo essencial o
concurso de vontades de órgãos diferentes para formação de um ato único. Ex.:Nomeação do Procurador-Geral da
República, pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, nomeação de ministros dos Tribunais Superiores etc.
C) ATOS COMPOSTOS
São os que resultam da vontade única de um órgão, mas depende de verificação por parte de outro para ter
62 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
validade. Ex.:uma autorização que depende do visto de
autoridade superior.
6.6 QUANTO AO CONTEÚDO
A) ATO CONSTITUTIVO
É o que cria uma nova situação jurídica individual para seus destinatários em relação à Administração. Ex.:
nomeação de servidor, licença etc.
B) ATO EXTINTIVO
É o que põe termo (fim) a situações jurídicas individuais. Ex.: cassação de uma autorização.
C) ATO DECLARATÓRIO
É o que visa a preservar direitos, reconhecer situações preexistentes ou mesmo possibilitar seu exercício. Ex.:certidões.
D) ATO ALIENATIVO
É o que opera a transferência de bens ou direitos de um titular para outro, dependendo, em regra, de autorização legal. Ex.: doação, permuta, venda etc.
E) ATO MODIFICATIVO
É o que tem por fim alterar situações preexistentes, sem suprimir direitos ou obrigações. Ex.: portaria
alterando horário.
F) ATO ABDICATIVO
É aquele pelo qual o titular abre mão de um direito, dependendo de autorização legal. Ex.: renúncia de uma
determinada receita.
6.7 QUANTO À EFICÁCIA
A) ATO VÁLIDO
É o que provém de autoridade competente para praticá-lo e contém todos os requisitos necessários à sua eficácia.
B) ATO NULO
É o que nasce afetado de vicio insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos ou no processo de formação. O ato é ilegítimo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre as partes, porque não se pode adquirir direitos contra a lei. Ressalte-se que a nulidade pode ser reconhecida pela Administração ou pelo Poder Judiciário, com efeitos ex tunc, somente se admitindo exceção para com os terceiros de boa fé.
C) ATO ANULÁVEL
É o que infringe regras atinentes aos elementos do ato administrativo (competência em razão da pessoa e a forma). O vício é sanável ou convalidável, caracteriza-se a hipótese de nulidade relativa, e o ato é anulável. Caso contrário, a nulidade é absoluta e o ato é nulo.
D) ATO INEXISTENTE
É o que apenas tem aparência de manifestação regular da Administração, mas não chegou a se aperfeiçoar como ato administrativo. Ato inexistente ou
ato nulo é ato ilegal e imprestável, desde o seu nascedouro. Ex.: casos de usurpação de função pública.
6.8 QUANTO À EXEQUIBILIDADE
A) ATO PERFEITO
É aquele que reúne todos os elementos necessários à sua exequibilidade ou operatividade, apresentando-se apto e disponível para produzir todos seus efeitos. Este ato ultrapassou todas as etapas de formação.
B) ATO IMPERFEITO
É que se apresenta incompleto na sua formação ou carente de um ato complementar para tornar-se exequível e operante.
C) ATO PENDENTE
É aquele que, embora perfeito, por reunir todos os elementos de sua formação, não produz efeitos por não verificado o termo ou a condição de que depende sua
exequibilidade ou operatividade.
D) ATO CONSUMADO
É o que produziu todos os seus efeitos, tornando-se, por isso mesmo, irretratável ou imodificável.
6.9 QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO
A) ATO AUTO-EXECUTÓRIO
É aquele que traz em si a possibilidade de ser executado pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.
B) ATO NÃO AUTO-EXECUTÓRIO
É o que depende de pronunciamento judicial para produção de seus efeitos finais. Ex.: Execução fiscal.
6.10 QUANTO AO OBJETO VISADO
A) ATO PRINCIPAL
É o que representa a manifestação da vontade final da Administração.
B) ATO COMPLEMENTAR
É aquele que aprova ou ratifica o ato principal, como condição de exequibilidade, sendo requisito de operatividade, embora este se apresente completo em sua formação. Ex: visto de um superior hierárquico
visando à liberação de um período de férias.
C) ATO INTERMEDIÁRIO (OU PREPARATÓRIO)
É o que concorre para a formação de um ato principal e final. Ex.:Numa concorrência, o edital é ato
intermediário para o principal, que é a adjudicação do objeto licitado.
D) ATO-CONDIÇÃO
É todo aquele que se antepõe a outro para permitir a sua realização, destinando-se a remover um obstáculo à prática de certas atividades públicas ou particulares, para quais se exige a satisfação prévia de determinados requisitos. Ex.: concurso é ato-condição para nomeação
efetiva.
DIREITO ADMINISTRATIVO 63
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
7. ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS
a) ATOS NORMATIVOS:
Aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei; estabelecem regras gerais e abstratas, pois visam a explicitar a norma legal. Exs.: Decretos, Regulamentos, Regimentos,
Resoluções, Deliberações etc.
b) ATOS ORDINATÓRIOS:
Visam disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. Emanam do poder hierárquico da Administração. Exs.:
Instruções, Circulares, Avisos, Portarias, Ordens de Serviço, Ofícios, Despachos.
c) ATOS NEGOCIAIS:
Aqueles que contêm uma declaração de vontade do Poder Público coincidente com a vontade do particular; visa a concretizar negócios públicos ou atribuir certos direitos ou vantagens ao particular. Ex.: Licença;
Autorização; Permissão; Aprovação; Apreciação; Visto; Homologação; Dispensa; Renúncia.
d) ATOS ENUNCIATIVOS:
Aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato, ou emitir opinião sobre determinado assunto; NÃO SE VINCULA A SEU ENUNCIADO. Ex.: Certidões;
Atestados; Pareceres.
e) ATOS PUNITIVOS:
Atos com que a Administração visa a punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos administrados ou de servidores. É a APLICAÇÃO do Poder de Policia e Poder Disciplinar. Ex.:
Multa; Interdição de atividades; Destruição de coisas; Afastamento de cargo ou função.
7.1 ATOS ADMINISTRATIVOS EM ESPÉCIE – QUANTO AO CONTEÚDO:
a) ADMISSÃO:
Ato unilateral e vinculado.
Utilidade: para utilizar serviço público; para
ingresso em próprio (área) público.
Devem ser atendidos alguns requisitos.
b) PERMISSÃO:
Ato unilateral discricionário e precário (destituível a qualquer tempo).
Utilidade: prestação de serviço público pelo particular; uso de área pública.
Alguns doutrinadores entendem que seria um contrato, mas é considerado um ato administrativo.
Há entendimento de que se algumas questões foram vinculadas (como o prazo) haveria alguns direitos, mas não à manutenção, apenas a indenização ou similares.
c) AUTORIZAÇÃO:
Ato unilateral, discricionário e precário (destituível a qualquer tempo).
Utilidade: prestação de serviço público pelo
particular; uso de área pública; exercício do poder de polícia (ex. fiscalização de materiais bélicos).
Fundamento: Poder de policia do Estado sobre a
atividade privada.
DIFERENÇA ENTRE AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO:
Não há diferença objetiva entre autorização e permissão, mas o que é levado em consideração é a precariedade.
Se a precariedade for menor, o caso é de permissão;
Se a precariedade for maior, o caso é de
autorização.
d) APROVAÇÃO:
Ato unilateral e discricionário (segue os critérios de oportunidade e conveniência).
Utilidade: serve para o exercício do controle.
Pode ocorrer “a priori” (tendo então característica de autorização) ou “a posteriori” (equivale a um referendo do ato).
e) HOMOLOGAÇÃO:
Ato unilateral e vinculado (segue os critérios da legalidade).
Utilidade: serve para o exercício do controle.
Será sempre “a posteriori”.
f) LICENÇA:
Ato unilateral e vinculado.
Ato declaratório.
Utilidade: Faculta o exercício de uma atividade a quem preencha os requisitos legais.
f) PARECER:
Mero ato administrativos.
Utilidade: Manifestação opinativa de órgão consultivo.
Pode ser facultativo, obrigatório ou vinculante.
Sendo facultativo não será vinculante, mas pode ser o motivo de um ato.
Sendo obrigatório é exigido por lei, mas não há vinculação em agir de acordo com ele.
Sendo vinculante é obrigatório pela lei e deve ser acatado.
h) VISTO:
Mero ato administrativo, unilateral.
Utilidade: atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico.
7.2 ATOS ADMINISTRATIVOS EM ESPÉCIE – QUANTO À FORMA:
a) DECRETO:
Ato exclusivo do chefe do executivo.
Quanto às regras pode ser:
• Decreto Geral: regras gerais e a abstratas;
Regulamentar ou de execução – para fiel execução da lei;
Independente ou autônomo – matéria não regulamentada em lei.
• Decreto Individual: tem efeito concreto. (Ato
administrativo propriamente dito).
64 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
b) RESOLUÇÃO:
Ato para a manifestação de órgão colegiados ou ato geral individual.
c) ALVARÁ:
Instrumento para a expedição de autorização e licenças.
d) PORTARIA:
Ato para a designação de servidores (ideia de hierarquia).
e) DESPACHO:
Decisão das autoridades administrativas.
- Pode ser normativo: se por meio dele é
aprovado parecer de órgão técnico sobre assunto de interesse geral.
f) CIRCULAR:
Instrumento para expedição de ordens internas.
8. CONVALIDAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO OU SANATÓRIA
“A convalidação é o refazimento de modo válido e com efeitos retroativos do que fora produzido de modo inválido‖(Celso Antônio Bandeira de Mello, 11ª edição, editora Melhoramentos, 336).
Trata-se do processo através do qual a Administração Pública visa aproveitar atos administrativos com vícios que não sejam insuperáveis. É admissível a convalidação dos atos administrativos anuláveis,
aqueles que apresentam defeitos sanáveis, desde que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros.
São formas de convalidação do ato administrativo:
a) ratificação - é realizada pela própria autoridade que emanou o ato viciado
b) confirmação - é dada por outra autoridade que não aquela que emanou o ato viciado ocorre
c) saneamento - resulta de um ato particular afetado
O ato que convalida tem efeitos ex tunc, (retroativo).
NOTE BEM!
Não se convalidam atos administrativos:
a) nulos aqueles com vícios insanáveis;
b) que causaram prejuízos ao erário ou a terceiros;
c) com vícios de finalidade;
d) com vícios de matéria (competência exclusiva).
Não se pode convalidar um ato impugnado judicial ou administrativo, com exceção, quando tardiamente é motivado o ato impugnado demonstrando, m esmo tardiamente, a existência dos motivos que originaram o ato e de que o ato foi praticado com o exato conteúdo legal.
Só se convalida defeitos de competência e de forma.
A convalidação será feita pela própria Administração sendo ato discricionário.
O decurso de tempo pode ser um obstáculo a convalidação do ato administrativo, caso ocorra a prescrição o ato não mais poderá ser convalidado.
A lei 9.784, de 29.01.1999, dispõe que:
"Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros " (art. 55).
Assim:
Só é admissível o instituto da convalidação para a doutrina dualista, que aceita possam os atos administrativos ser nulos ou anuláveis.
Os vícios sanáveis possibilitam a convalidação, ao passo que os vícios insanáveis impedem o aproveitamento do ato”.
Os efeitos da convalidação são ex-tunc
(retroativos).
Dica de concurso:
Quando o vício do ato administrativo atinge o motivo e a finalidade, não é possível a sua convalidação. (Anal.Adm.MP-PI CESPE/2012)
9. ATOS ADMINISTRATIVOS NULOS E ANULÁVEIS
Quando se compara o tema das nulidades no direito civil e no direito administrativo, verifica-se que em ambos os ramos do direito, os vícios podem gerar nulidades absolutas (atos nulos) ou nulidades relativas (atos anuláveis); porém, o que não pode ser transposto para o direito administrativo, sem atentar para as suas peculiaridades, são as hipóteses de nulidade e de anulabilidade previstas nos artigos 145 e 147 do Código Civil.
No direito Civil, são as seguintes as diferenças entre a nulidade absoluta e a relativa, no que diz respeito à suas consequências:
1. na nulidade absoluta, o vício não pode ser sanado; na nulidade relativa, pode;
2. a nulidade absoluta pode ser decretada pelo juiz, de oficio ou mediante provocação do interessado ou do Ministério Público (art. 146 do CC); a nulidade relativa só pode ser decretada se provocada pela parte interessada.
No direito administrativo, essa segunda distinção não existe, porque, dispondo a Administração do poder de autotutela, não pode ficar dependendo de provocação do interessado para decretar a nulidade, seja absoluta seja relativa. Isto porque não pode o interesse individual do administrado prevalecer sobre o interesse individual do administrado prevalecer sobre o interesse público na preservação da legalidade administrativa.
Mas a primeira distinção existe, pois também em relação ao ato administrativo, alguns vícios podem e outros não podem ser sanados.
Quando o vício seja sanável ou convalidável, caracteriza-se hipótese de nulidade relativa; caso contrário, a nulidade é absoluta.
10. TEORIA DAS NULIDADES NO DIREITO ADMINISTRATIVO
Teoria Monista: o ato é nulo ou válido.
DIREITO ADMINISTRATIVO 65
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Teoria Dualista: os atos podem ser nulos ou anuláveis, de acordo com a menor ou maior gravidade do vício.
Regra Geral: Nulidade (sobretudo nos casos em que produziu efeitos para terceiros).
INVALIDAÇÃO => anulabilidade e nulidade Forma de desfazimento do ato administrativo em virtude da existência de vício de legalidade.
11. VÍCIOS DO ATO ADMINISTRATIVO
Ato é viciado quando não atende aos elementos que deve conter.
Pode ter vício em relação ao sujeito, objeto...
É considerado irregular ou inválido.
Vícios podem ser:
- Por usurpação de função à agente pratica atos de função na qual não está investido.
Ex.: Chumbeta.
- Por excesso de poder à quando agente excede limites de sua competência.
Ex.: suspende funcionário sem ter competência para isso.
- Por exercício de função de fato (não de direito) à quando a aparência da investidura existe, mas o agente de fato está irregular.
Ex.: Funcionário tem um cargo, chega aos 75 anos (deveria estar aposentado) e continua “exercendo” a função.
Ex.: Cargo em comissão - presidente tem 30 dias para praticar o ato e o faz no 31º dia.
1) Vício quanto ao sujeito
Ocorre quando o sujeito que praticar o ato não tiver a devida competência. Padece também de tal vício o agente que excede no seu poder (o que também significa incompetência).
Pode ocorrer:
a) Em razão da matéria - Quando a autoridade não tem poder ou competência sobre aquela matéria.
b) Em razão do grau hierárquico do órgão ou autoridade - Um diretor financeiro, por exemplo, não pode demitir um funcionário.
c) Em razão do lugar - Exemplo: Coordenador de ensino de Maceió não pode baixar ato para o ensino em Rio Largo.
d) Em razão do tempo do ato - A delegação de competência vai até determinada data, após o que a autoridade não tem mais competência.
2) Vício quanto ao objeto
Ocorre quando o ato importa violação à lei, regulamento ou outro ato normativo.
Acontece quando o objeto:
a) É proibido por lei - Ex.: Município que desapropria bem imóvel da União.
b) É diverso do previsto na lei para o caso sobre o qual incide- Ex.: Pena de suspensão quando cabível de repreensão.
c) É impossível porque os efeitos pretendidos são irrealizáveis - Ex.: Nomeação para cargo inexistente.
d) É imoral porque o ato fere a norma - Ex.: Pareceres são encomendados contrários ao entendimento.
e) É incerto em relação ao destinatário, às coisas e ao lugar - Ex.: Desapropriação de bem não definido com precisão.
3) Vício quanto à forma
Ocorre em virtude da omissão ou da inobservância completa ou irregular de formalidades essenciais à existência do ato.
Exemplos:
a) Nomeação para cargo público sem concurso´.
b) Regulamento baixado por portaria (só pode ser baixado por decreto).
c) Convocação para participação em concorrência sem adital.
d) Decreto não assinado pela autoridade competente.
e) Demissão de funcionário sem processo administrativo.
4) Vício quanto ao motivo
Ocorre quando o fundamento do ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado do ato.
Pode ocorrer, também, quando o motivo é falso.
Exemplos:
a) Punição de funcionário sem que ele tenha cometido infração (motivo inexistente).
b) Se o funcionário punido praticou infração diversa (ato falso).
5) Vício quanto à finalidade
Quando há desvio de poder ou finalidade específica de interesse público.
Ex.:
a) Desapropriação feita para prejudicar determinada pessoa. É desvio de poder porque o ato não foi praticado para atender interesse público.
b) Remoção "ex officio" de funcionário para puni-lo.
É desvio de poder porque tal remoção é permitida apenas para atender a necessidade de serviço.
12. FORMAS DE EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
A Administração Pública tem por objeto propiciar o bem comum, através da realização do Direito, portanto, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa. Se por erro, culpa ou dolo de seus agentes, a atividade do Poder Público desvia-se da lei, é dever da Administração invalidar espontaneamente ou por provocação, seus atos.
Com efeito, os atos podem ser revogados ou anulados.
Súmula 473 do STF:
―A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial‖.
66 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Formas de extinção
Cumprimento dos seus efeitos. Ex: Despacho concedendo férias. No fim das férias, o despacho se extingue
Desaparecimento do sujeito ou do objeto do ato. Ex: O perecimento do bem leva à extinção do tombamento que sobre ele existia.
Retirada: A extinção do ato administrativo decorre da edição de outro ato jurídico.
Caducidade
Contraposição ou derrubada
Cassação
Renúncia
Recusa
Anulação
Revogação
Caducidade:
Caducidade é a retirada do ato administrativo por ter sobrevindo norma superior que torna incompatível a manutenção do ato. O ato estava de acordo com a lei, mas sobreveio uma nova e ele ficou incompatível.
Não se pode confundir esta caducidade com a caducidade da concessão do serviço público, que nada mais é do que a extinção da concessão por inadimplência do concessionário.
Contraposição ou derrubada:
Derrubada é a retirada do ato administrativo pela edição de um outro ato jurídico, expedido com base em competência diferente e com efeitos incompatíveis, inibindo assim a continuidade da sua eficácia. Os efeitos do primeiro ficam inibidos pelo do segundo. Ex: Efeitos de demissão impede os efeitos da nomeação.
Cassação:
Cassação é a retirada do ato administrativo por ter o seu beneficiário descumprido condição indispensável para a manutenção do ato. Ex: Cassação do alvará de funcionamento do pasteleiro por não atingir condições de higiene.
Para Hely Lopes Meirelles, a cassação seria espécie de anulação. Não concordamos com essa posição, pois só existe espécie de um gênero, se tem as mesmas características do gênero e cassação não tem as características da anulação (os efeitos da cassação não são ex tunc, como os da anulação).
Renúncia:
Renúncia é a retirada do ato administrativo eficaz por seu beneficiário não mais desejar a continuidade dos seus efeitos. A renúncia só se destina aos atos ampliativos (atos que trazem privilégios). Ex: Alguém que tem uma permissão de uso de bem público não a quer mais.
Recusa:
Recusa é a retirada do ato administrativo ineficaz em decorrência do seu futuro beneficiário não desejar a produção de seus efeitos. O ato ainda não está gerando efeitos, pois depende da concordância do seu
beneficiário, mas este o recusa antes que possa gerar efeitos.
Anulação:
Anulação é a retirada do ato administrativo em decorrência da invalidade (ilegalidade) e poderá ser feita pela Administração Pública (princípio da autotutela) ou pelo Poder Judiciário. Os efeitos da anulação são “ex tunc” (retroagem à origem do ato).
“A Administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos” (sumula 346 do STF). “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por motivos e conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas em todos os casos, a apreciação judicial” (súmula 473 do STF). - A doutrina e a Jurisprudência têm
entendido que a anulação não pode atingir terceiro de boa-fé.
Categorias de invalidade: Para Hely Lopes
Meirelles e Celso Antonio Bandeira de Mello, o direito administrativo tem um sistema de invalidade próprio que não se confunde com o do direito privado, pois os princípios e valores do direito administrativo são diferentes. No direito privado, o ato nulo atinge a ordem pública e o anulável num primeiro momento, atinge os direitos das partes (Há autores que trazem ainda o ato inexistente), já no direito administrativo nunca haverá um ato que atinja apenas as partes, pois todo vício atinge a ordem pública.
Para Hely Lopes Meirelles, só há atos nulos no direito administrativo. Entretanto, para a maioria da doutrina há atos nulos e anuláveis, mas diferentes do direito privado. O ato nulo não pode ser convalidado, mas o anulável em tese pode ser convalidado. – Há ainda autores que trazem o ato inexistente, aquele que tem aparência de ato administrativo, mas não é. Ex.: Demissão de funcionário morto. O inexistente é diferente do nulo, pois não gera qualquer consequência, enquanto o nulo gera, isto é tem que respeitar o terceiro de boa-fé.
Convalidação: É o ato jurídico que com efeitos
retroativos sana vício de ato antecedente de tal modo que ele passa a ser considerado como válido desde o seu nascimento.
O legislador admitiu a existência da convalidação ao afirmar que “Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando: importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo” (art. 50, VIII da Lei 9784/99).
Para alguns, a convalidação é fato jurídico em sentido amplo. Ex: O tempo pode ser uma forma de convalidação, pois ao ocorrer a prescrição para se anular o ato, automaticamente ele estará convalidado.
A convalidação é um dever, por força do princípio da estabilidade das relações jurídicas. Assim sempre que um ato possa ser sanado deve ser feito, pois a anulação é uma fonte de incerteza no ordenamento jurídico. Há autores que afirmam que a convalidação é uma discricionariedade.
Espécies de convalidação:
Ratificação: É a convalidação feita pela própria autoridade que praticou o ato.
Confirmação: É a convalidação feita por uma autoridade superior àquela que praticou o ato.
DIREITO ADMINISTRATIVO 67
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Saneamento: É a convalidação feita por ato de terceiro.
Casos em que o ato não poderá ser convalidado:
Prescrição do prazo para anulação.
Impugnação do ato pela via judicial ou administrativo pois, neste caso o ato será anulado e não convalidado.
Convalidação não se confunde com conversão (sanatória) do ato administrativo, que é o ato administrativo que, com efeitos “ex tunc”, transforma um ato viciado em outro de diferente categoria tipológica. O ato passa a ser considerado válido desde o seu nascimento. A conversão é possível diante do ato nulo, mas não diante do ato anulável.
Revogação:
Revogação é a retirada do ato administrativo em decorrência da sua inconveniência ou inoportunidade em face dos interesses públicos. Os efeitos da revogação são “ex nunc” (não retroagem), pois até o momento da revogação os atos eram válidos (legais).
A revogação só pode ser realizada pela Administração Pública, pois envolve juízo de valores (princípio da autotutela). É uma forma discricionária de retirada do ato administrativo.
Atos administrativos irrevogáveis:
Atos administrativos declarados como irrevogáveis pela lei;
Atos administrativos já extintos;
Atos administrativos que geraram direitos adquiridos (direito que foi definitivamente incorporado no patrimônio de alguém);
Atos administrativos vinculados.
Para Celso Antonio Bandeira de Mello, invalidação é utilizada como sinônimo de anulação. Para Hely Lopes Meirelles, a invalidação é gênero do qual a anulação e revogação são espécies.
QUADRO RESUMO:
REVOGAÇÃO ANULAÇÃO
1. Somente pela Administração Pública
2. Por razões de mérito, isto é, por motivo de conveniência e oportunidade
3. É ato discricionário
4. Tem efeito EX NUNC, quer dizer, não retroage.
1. Pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário
2. Por razões de vício na sua formação, isto é, ilegalidade
3. É ato vinculado
4. Tem efeito, EX TUNC, ou seja, retroage.
EFEITOS DECORRENTES:
A revogação gera efeitos - EX NUNC - ou seja, a partir da sua declaração. Não retroage.
A anulação gera efeitos EX TUNC (retroage à data de início dos efeitos do ato).
13. O SILÊNCIO COMO ATO ADMINISTRATIVO
O silêncio da Administração não pode ser tomado como ato administrativo, porque este ato é definido como uma declaração. Dessa forma, a Administração ao ser provocada pelo administrado deve se pronunciar expressamente, essa postura decorre do direito de
petição, art. 5º, XXXIV, CF. É assim que estabelece o art. 48 da lei 9.784/99, in verbis:
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Dessa forma, a Administração deve se pronunciar quando provocada, agora a Administração pode silenciar, quando a lei expressamente atribuir efeitos ao silêncio. Um exemplo está previsto no art. 22, § 1º, do Decreto-Lei 25/37, acerca do tombamento:
Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os municípios terão, nesta ordem, o direito de preferência.
§ 1º Tal alienação não será permitida, sem que previamente sejam os bens oferecidos, pelo mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao município em que se encontrarem. O proprietário deverá notificar os titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo.
Agora, se a Administração permaneceu inerte, quando deveria expressamente se pronunciar, o administrado deve recorrer ao Judiciário, o qual poderá se pronunciar de duas formas:
Se o ato administrativo pretendido for vinculado, o juiz supre a vontade da administração, determinando a expedição do ato, desde que preenchido todos os requisitos;
Se o ato que o administrado quer for discricionário, o juiz não pode se fazer de administrador, o magistrado pode impor que a Administração se pronuncie expressamente, podendo impor penalidades.
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
CONTROLE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONTROLE
INTRODUÇÃO
Entre nós, a origem do controle das contas pública deu-se com a vinda da Família Real para o Brasil, pois, em 28 de junho de 1808, o Príncipe Regente D. João VI lavrou alvará criando o Erário Régio e Conselho de Fazenda. Vale observar que o referido controle tomou a feição atual com a iniciativa do grande jurista baiano Ruy Barbosa, concomitante à instituição da República, através da criação do TCU.
Atualmente, os doutrinadores são unânimes ao asseverar não haver país democrático sem a presença de um órgão de controle com a missão de fiscalizar e garantia à sociedade a boa gestão do dinheiro público..
No direito pátrio, o vocábulo CONTROLE foi introduzido por Seabra Fagundes em sua obra O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário.
CONCEITO (Di Pietro): controle da Administração
é o “poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo
68 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
ordenamento jurídico.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo. Atlas, 2004.)
O saudoso Hely Lopes conceitua controle como: “... a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”. Verifica-se ser o controle exercitável em todos e por todos os Poderes de Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário.
ATENÇÃO!
Lembra-nos Almir Morgado (pág 267 Obra Citada) que o controle hierárquico é pleno e
ilimitado, enquanto que o das entidades da Administração Indireta, sendo apenas finalístico,
é sempre restrito e limitado.”
Este controle poderá ser de ofício (ex officio) – é o
que se instaura independemente de provocação do administrado ou de qualquer outro órgão pertencente à estrutura do Poder Público. Como exemplo, a análise de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros públicos ou controle por provocação ou externo popular - tem assento no artigo 74, § 2º da CF/88. Assim, todo cidadão poderá denunciar as irregularidades ao órgão de controle externo para fins de instauração do devido procedimento.
ESPÉCIES DE CONTROLE13
► CONTROLE INTERNO: “é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração.”
Ver o Princípio da Autotutela (A Súmula 473 do STF).
A Súmula 473 do STF preceitua:
―A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvados, em todos os casos, a apreciação judicial‖.
ATENÇÃO!
Existe uma RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos responsáveis pelo controle
interno, quando deixarem de dar ciência ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU de
qualquer irregularidade ou ilegalidade.
Por fim, lembre-se que o sistema de controle interno não tem a atribuição de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, as sanções legais, inclusive a aplicação de multa pecuniária. (as decisões do Tribunal de Contas, de que resultem imputação de débito ou multa, terão, com todas suas características, eficácia de um título executivo.). EX: O controle que o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, quando provocado, exerce sobre as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria da Receita Federal (pág. 523 – Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito Administrativo. Ed Impetus)
► CONTROLE EXTERNO: “é o que se realiza por
órgão estranho à Administração responsável pelo ato controlado, como por exemplo, a apreciação das contas do Executivo e do Judiciário pelo Legislativo; a auditoria do Tribunal de Contas sobre a efetivação de uma determinada despesa
13
(Segundo Hely Lopes Meirelles, citado por Almir
Morgado, pág 267 e 268)
do executivo, a invalidação de ato administrativo pelo Poder Judiciário etc.” (GRIFO NOSSO)
ATENÇÃO!
EXISTE, TAMBÉM O CONTROLE EXTERNO POPULAR: As contas dos Municípios ficarão, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, (não é qualquer pessoa) para exame e apreciação. Neste período poderá ser questionada a
legitimidade de qualquer gasto público.
Lembrem-se que o art. 5º, LXXIII da CF/88 estabelece que “qualquer cidadão é parte legítima para propor AÇÃO POPULAR que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”.
E mais:
O parágrafo segundo do art.74 da CF/88 estatui que “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.”
► CONTROLE PRÉVIO OU PREVENTIVO (a priori): ―é o que antecede à conclusão ou operatividade do ato, como requisito para sua eficácia, como ocorre com a liquidação da despesa, para oportuno pagamento; autorização do Senado para o Estado-Membro ou o Município contrair empréstimo etc.”
NOTE BEM!
A chamada liquidação da despesa é outro exemplo deste controle.
► CONTROLE CONCOMITANTE OU SUCESSIVO: “é
todo aquele que acompanha a realização do ato para verificar a regularidade de sua formação, como a realização de auditoria durante a execução do orçamento, ou a fiscalização de um contrato administrativo em andamento.”
VEJA BEM!
Outro exemplo seria o acompanhamento de concurso público pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, como é o caso do concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Ceará.
► CONTROLE SUBSEQUENTE OU CORRETIVO (a posteriori): “é o que se efetiva após a conclusão do
ato controlado, visando corrigir-lhe eventuais defeitos, declarar a sua nulidade ou dar-lhe eficácia.”
NOTE BEM!
Abrange atos como os de aprovação, homologação, anulação, revogação ou convalidação, entre outros. Segundo a doutrina é a forma mais comum, mas também a mais ineficaz, pois verificar as contas de um gestor terminada sua gestão torna a reparação do dano e a restauração do statu quo ante muito difíceis.
Ex: a homologação de um concurso público ou de uma
licitação é um exemplo típico deste controle.
► CONTROLE HIERÁRQUICO: “é o que resulta
automaticamente do escalonamento vertical dos órgãos do Executivo (na verdade de toda a
DIREITO ADMINISTRATIVO 69
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Administração), em que os inferiores estão subordinados aos superiores.”
Ver princípio da hierarquia.
► CONTROLE FINALÍSTICO: “é o que a norma legal
estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades exercitadas e as finalidades objetivadas.”
► CONTROLE DE LEGALIDADE OU LEGITIMIDADE:
“é o que objetiva verificar unicamente a conformação do ato ou do procedimento administrativo com a s normas legais que o regem.”
VEJA BEM!
A Administração Pública poderá exercitá-lo de ofício ou mediante provocação. Por esse controle o ato ilegal e ilegítimo somente pode ser anulado, e não revogado e que o Poder Judiciário somente poderá revogar os seus próprios atos administrativos.
► CONTROLE DO MÉRITO: “é todo aquele que visa à
comprovação da eficiência, do resultado, da conveniência ou da oportunidade do ato controlado, acarretando a sua revogação.”
Existe também!
► CONTROLE ADMINISTRATIVO: é todo aquele
exercido pelo Poder Executivo e pelos órgãos administrativos dos demais poderes (Legislativo e do Judiciário), sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria (de ofício) ou mediante provocação.
VOCÊ SABIA!
Os recursos administrativos constituem mecanismos de controle interna da administração pública!
LEI 8.112/90:
Capítulo VIII
Do Direito de Petição
Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 107. Caberá recurso:
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade
imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.
§ 2o O recurso será encaminhado por
intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.
Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.
Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração.
Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.
Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.
Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.
► CONTROLE LEGISLATIVO: este controle, segundo
a doutrina, não pode exorbitar às hipóteses constitucionalmente previstas, sob pena de ofensa ao sagrado princípio da separação de poderes. Este controle alcança os órgãos do Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta e o Poder Judiciário (quando executa função administrativa, que é uma função atípica).
NOTE BEM1!
Segundo a CF/88 a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
NOTE BEM2!
1) Ao Congresso Nacional compete julgar, anualmente,
as contas prestadas pelo Presidente da Republica;
2) Ao Senado Federal compete aprovar a escolha de
ministros do TCU, do Procurador da República e de outras autoridades;
3) A Câmara dos Deputados compete proceder à
tomada de contas do Presidente da
70 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Republica,quando não apresentada ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS: é um órgão auxiliar do PODER LEGISLATIVO (e não integrante, portanto, não é subordinado) e colaborador do Poder Executivo. Tem a função de auxiliá-lo no controle financeiro externo da Administração Pública no que diz respeito a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
NOTE BEM!
As principais competências do Tribunal de Contas da União estão dispostas na Constituição Brasileira de 1988 e são as citadas a seguir. Há instrumentos legais que também atribuem atividades específicas ao TCU, como a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) a Lei nº 4.320/1964 (Disposições sobre Direito Financeiro) e a Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos).
• Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
• Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
• Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
• Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário;
• Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, juste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
• Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
• Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
• Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
• Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
• Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
NOTE BEM!
Mesmo que os Tribunais de Contas e Controladorias tenham o mesmo objetivo, ou seja, fiscalizar as contas da Administração Pública, possuem profundas distinções, a saber:
(a) as Controladorias são órgãos monocráticos, já os Tribunais de Contas são órgãos de decisão coletiva;
(b) as Controladorias têm avançado sistema de fiscalização, dotadas de competência para análise do mérito do ato administrativo.
Já o Tribunal de Contas analisa a regularidade e
conformidade do ato, como consequência lógica do princípio da legalidade, ou seja, investiga a adequação do ato à norma legal.
Todavia, com o advento da Carta de 1988, os Tribunais de Contas viram suas competências ser significativamente ampliadas, pois o caput do artigo 70 do referido diploma legal prevê a apreciação da legalidade, legitimidade, economicidade dos atos administrativos da Administração Direta e Indireta. (c) Somente o Tribunal de Contas tem a competência para aplicar multas, que, inclusive, possuem eficácia de título executivo.
E AS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – CPIs
Por fim ressalte-se, no exercício do controle parlamentar, a utilização das chamadas COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – CPIs, que
segundo o STF podem, desde que motivados os seus ato:
1) Convocar investigados e testemunhas a depor, incluindo autoridades públicas federais, estaduais e municipais;
2) Determinar a quebra dos sigilos, bancário, telefônico e fiscal;
3) Realizar diligências que se façam necessárias;
4) Solicitar documentos de repartições públicas e privadas;
5) Convocar magistrados para falarem sobre sua função atípicas.
O mesmo STF, entretanto, estabeleceu que as CPIs NÃO podem:
1) Determinar a interceptação telefônica;
2) Determinar a indisponibilidade dos bens do investigado;
3) Determinar a prisão de pessoas (salvo se em flagrante delito);
4) Determinar busca e apreensão de documentos;
5) Convocar magistrados para falarem sobre suas funções típicas.
O art. 58, § 3° da CF/88 estabelece, portanto, que a
CPI terá poderes próprios das autoridades judiciais e será criada para a apuração de fato determinada e por prazo certo. Serão criadas pela Câmara de Deputados e
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros. A
DIREITO ADMINISTRATIVO 71
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
conclusão de seu trabalho deverá, se for o caso, ser encaminhado para o Ministério Público - MP para a apuração das devidas responsabilidades, civil ou criminal.
CONTROLE JUDICIAL: é o poder de fiscalização que o Judiciário exerce especificamente sobre a atividade administrativa da Administração pública.
IMPORTANTE!
O direito pátrio adotou o chamado sistema de JURISDIÇÃO UNA, através da qual o Poder
Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional. (o poder de apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais ou coletivos.).
Por fim, nunca é bom olvidar que é proibido ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo e
restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato administrativo impugnado.
REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
Constituição Federal - CF/1988
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á "habeas-data":
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus.
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INTRODUÇÃO
No exercício (legítimo ou ilegítimo) de suas funções o agente público - que ao agir representa o Estado - pode causar dano à pessoa ou ao seu patrimônio. Em razão deste aspecto nasce o direito subjetivo a uma indenização pelos danos causados. A esse instituto dá-se ao nome de Responsabilidade Civil do Estado.
NOTE BEM!
Antigamente existia a tese baseada no princípio da irresponsabilidade do Estado, onde se entendia que, em nenhum caso, o Estado deveria reparar um prejuízo, derivado de ação ou omissão sua, sofrido por terceiro. Dizia-se ainda, por certo aforisma inglês, que The king can do no wrong (o rei não pode errar). Atualmente, pode-se dizer que a doutrina
da "irresponsabilidade estatal" está inteiramente superada, visto que, os dois últimos países que a sustentavam, passaram a admitir que demandas indenizatórias, provocadas por atos de agentes públicos, possam ser dirigidas diretamente contra a Administração: Inglaterra e Estados Unidos da América.
1. CONCEITO
É a obrigação atribuída ao Estado (ENTIDADE POLÍTICA), de pagar os danos causados a terceiros
(vítima ou paciente) em razão de comportamento comissivo (ação) ou omissivo (omissão), legítimo ou ilegítimo, de sua responsabilidade.
►Se deriva de ato ilícito, chama-se RESSARCIMENTO;
►Se deriva de ato lícito, chama-se INDENIZAÇÃO.
Essa responsabilidade objetiva exige a concorrência dos seguintes requisitos:
- Ocorrência do dano;
- Ação ou omissão administrativa;
- Existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa;
- Ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
A responsabilidade civil do Estado é, primeiramente, uma obrigação EXTRACONTRATUAL que tem o Estado de indenizar os danos patrimoniais ou morais que
seus agentes, atuando em seu nome, causem a particulares.
72 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
2. TEORIAS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
a) teoria da culpa administrativa: a obrigação do
Estado indenizar decorre da ausência objetiva do serviço público em si. Não se trata de culpa do agente público, mas de culpa especial do Poder Público, caracterizada pela falta de serviço público.
b) teoria do risco administrativo: a
responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos de seus agentes, é de natureza objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de culpa. "Para que se configure a responsabilidade objetiva do ente público, basta a prova da omissão e do fato danoso e que deste resulte o dano material ou moral".
Dicas de concurso:
A teoria do risco administrativo foi a adotada como regra pela CF/88, admitindo excludentes de responsabilização como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. (Tec.Desenv. Adv. Caixa RS/2010)
O direito brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, tanto na ocorrência de atos comissivos como de atos omissivos de seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros.
Pela referida teoria da reparação integral, basta a ocorrência do evento danoso, ainda que este resulte de caso fortuito ou força maior, para gerar a obrigação do Estado de reparar a lesão sofrida elo terceiro. (Técnico em Procuradoria PGE/PA 2007 / CESPE)
c) Teoria do risco integral: a Administração
responde invariavelmente pelo dano suportado por terceiro, ainda que decorrente de culpa exclusiva deste, ou até mesmo de dolo. É a exacerbação da teoria do risco administrativo que conduz ao abuso e à iniquidade social, com bem lembrado por Meirelles.
Dica de concurso:
A teoria do risco integral somente é prevista pelo ordenamento constitucional brasileiro na hipótese de dano nuclear, caso em que o poder público será obrigado a ressarcir os danos causados, ainda que o culpado seja o próprio particular.(Adv.CAIXA/CESPE/2010)
3. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO BRASILEIRO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 37, § 6
o, determina que:
―As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa‖.
Está evidenciada a Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo.
Na verdade, no dispositivo constitucional estão compreendidos dois tipos de responsabilidades:
a) Responsabilidade Objetiva do Estado com
base na TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO;
b) Responsabilidade Subjetiva do Agente Público, nos casos de dolo ou culpa (o servidor público atua com culpa quando age
com imprudência, negligência ou imperícia e, com dolo quando age com intensão de causar
o dano.).
4. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO:
A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo o art. 37, § 6
o da Constituição Federal de 1988:
a) Que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos – (Há, também, a aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva às empresas privadas permissionárias e concessionárias de serviços públicos).
b) A prestação de serviços públicos –
Constituição federal:
Art. 173, § 1o A empresa pública, a
sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.
IMPORTANTE!
As entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada não terão responsabilidade objetiva, ou seja, terão responsabilidade civil subjetiva.
c) Dano causado a terceiro (NEXO CAUSAL);
d) Ato de agente;
e) Na qualidade de agente público - (ou seja, no
exercício de suas funções já que somente neste caso o Estado responderá em face da TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO).
5. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Em algumas situações paira as chamadas excludentes da responsabilidade do Estado. Ou seja, o
dever de recompor o prejuízo só cabe em razão do comportamento danoso de seus agentes, considerando o fato da vítima não ter concorrido para o evento danoso.
Desse modo, em duas hipóteses o Estado não tem obrigação de indenizar, sendo apontadas como causas excludentes da responsabilidade A FORÇA MAIOR e a CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
a) FORÇA MAIOR
São acontecimentos imprevisíveis e estranhos à vontade das pessoas, como por exemplo, uma tempestade, um terremoto, raio, entre outros eventos da natureza. Nestes casos, não há o nexo de causalidade (causa e efeito) entre o dano e o comportamento da Administração.
IMPORTANTE!
Observe-se que, mesmo diante do motivo de força maior, o Estado poderá ser responsabilizado se, aliada à esta força maior, ocorrer omissão do Poder Público na prestação de um determinado serviço público. Exemplo: tempestades que venham a provocar enchentes em uma cidade, inundando casas, o Estado responderá se ficar demonstrado que a
DIREITO ADMINISTRATIVO 73
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
realização de serviços referentes a limpeza dos rios ou desobstrução de bueiros teria sido suficiente para evitar a enchente.
b) CULPA EXCLUSIVA (E NÃO CONCORRENTE) DA VÍTIMA.
Uma vez provado que a vítima participou de algum modo para o evento danoso, livra-se o Estado da obrigação de indenizar. Assim, quando houver culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Caso a culpa seja concorrente (da vítima e da Administração), o Estado responde de forma parcial, proporcionalmente à sua atuação no caso.
6. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS LEGISLATIVOS
A lei em tese (pelo seu caráter geral e abstrato, determinando obrigações generalizadas, impostas a toda coletividade), não gera dever de indenizar, tendo em vista que não é causa de dano direto.
Todavia, uma vez reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF que uma determinada lei seja inconstitucional poderá o Estado se ver obrigado a indenizar as vítimas a fim de reparar prejuízos dela decorrentes.
Supremo Tribunal Federal, RE 153.464, de 02.09.92, em que foi relator o Ministro CELSO DE MELLO:
"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - LEI INCONSTITUCINAL - INDENIZAÇÃO - O Estado responde civilmente por danos causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional da função de legislar." (RDP 189/305)
7. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS JUDICIAIS
“Prima facie” (a princípio) o Estado não responde por erro judicial, vez que o ato judicial (sentença) é uma consequência do poder do Estado. Entretanto, deve ser ressalvada a hipótese de condenação judicial injusta, cuja absolvição é obtida através de revisão criminal, consoante o que preceitua o art. 630 do Código de Processo Penal combinado com o art. 5
o, LXXV da Constituição Federal
de 1988, senão vejamos:
Constituição federal:
Art. 5º, LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
Código de Processo Penal:
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.
IMPORTANTE! Com relação a atos judiciais que
não impliquem exercício de função jurisdicional, é cabível a responsabilidade do Estado, porque se trata de atos administrativos no seu conteúdo (o magistrado estará nesta situação realizando um ato atípico).
8. AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO
a) Autarquias e Fundações Públicas – Responsabilidade objetiva
As autarquias são pessoas jurídicas de direito público e, por via de consequência, respondem, OBJETIVAMENTE, pelos danos que seus servidores,
nessa qualidade, possam causar a terceiros.
b) Empresas Estatais e privadas prestadoras de serviço público – Responsabilidade objetiva
Também terão responsabilidade objetiva as empresas estatais ou governamentais (sociedades de economia mista e empresas públicas) e as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos.
IMPORTANTE:
Haverá RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA do Poder Público titular do serviço
delegado (autorização, permissão ou concessão), em caso de exaurido o patrimônio das empresas prestadoras de serviço público.
9. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS NUCLEARES
No artigo 21, inciso XXIII, letra c da CF/88 encontraremos mais um caso de responsabilidade civil. Temos ali uma norma específica para o DANO NUCLEAR, que estabeleceu RESPONSABILIDADE OBJETIVA para o seu causador, fundada no RISCO INTEGRAL, dado a enormidade dos riscos decorrentes
da exploração da atividade nuclear.
Artigo 21 da CF/88: Compete à União: (...)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: (...)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. (Redação dada pela Emenda Constitucional 49, de 2006 — Constituição Federal.
10. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
A lei n.º 6.938/81, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, criou a responsabilidade independente de culpa (OBJETIVA) em matéria ambiental, tendo como base a TEORIA DO RISCO INTEGRAL, segundo a qual cabe o dever de indenizar
àquele que exerce atividade perigosa e, assim, para que se prove a existência da responsabilidade por danos ambientais, basta a comprovação do dano existente e do nexo causal. Assim, a teoria supracitada trouxe algumas consequências, como: o fato da culpa não precisar ser provada; a inaplicabilidade das excludentes ente outros aspectos. Vale ressaltar, ainda, que não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas também a privação do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida imposta à coletividade. Até porque, a CF/88, no seu art. 225, elevou o meio ambiente à categoria de bem de uso comum do povo, assegurando ser direito de todos tê-lo de maneira ecologicamente equilibrada e, em contrapartida, determinou que sua defesa e preservação, para as presentes e futuras gerações, é dever do Poder Público, bem como de toda a coletividade.
74 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
11. REPARAÇÃO DO DANO
A reparação do dano causado pela Administração a terceiro pode ocorrer de duas maneiras:
a) Procedimento amigável
A vítima de ação danosa da Administração Pública pode conseguir a correspondente indenização através de procedimento amigável, no âmbito da Administração Pública, através de processo administrativo.
IMPORTANTE!
No que diz respeito ao tema responsabilidade do servidor público, afirma-se que as sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Todavia, a própria Lei n° 8.112/90 ressalta que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a autoria ou que estabeleça a inexistência do fato.
b) Procedimento Judicial
Neste caso, a vítima (ou paciente) poderá propor ação judicial de indenização (em regra) contra a pessoa jurídica que causou o dano. Na ação, deverá demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, bem como
seu montante.
IMPORTANTE!
O direito de acionar o Estado prescreve em 5 anos a partir da data da configuração do evento danoso.
12. AÇÃO REGRESSIVA
A nossa CF/88l assegura, na parte final do § 6o do
art. 37, o chamado DIREITO DE REGRESSO contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), devendo a referida medida ser interposta após o trânsito em julgado da sentença que condenou a Administração Pública a satisfazer o prejuízo, ou seja, a Administração Pública necessita provar que pagou o dano.
É imprescindível para admitir ação regressiva, a conduta lesiva, dolosa ou culposa, do agente causador do dano. Desse modo, se o servidor não agiu com dolo ou culpa, não há que se falar na possibilidade de ação regressiva. Aqui tem lugar a responsabilidade subjetiva.
Portanto, para que a Ação Regressiva tenha êxito são necessários dois requisitos:
a) que a Administração já tenha sido condenada definitivamente a indenizar a vítima do dano sofrido;
b) que o agente responsável pelo dano tenha agido com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva)
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
LICITAÇÃO E CONTRATOS – LEI 8.666/93
1. FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666, de 21/06/1993 – abrangência.
Segundo o art. 22, XXVII da CF/88, segundo o qual “compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III”
Por seu turno, o art. 37, XXI da CF, artigo este que a Lei 8.666/93 afirma estar regulamentando, estabelece que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
Especificamente no que respeita aos serviços públicos, temos a expressa exigência do art. 175 da CF:
―Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.‖
Considerando estes motivos, a própria Lei, logo em seu art. 1º, declara sua natureza e abrangência: trata-se de uma lei de “normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Em seguida, o parágrafo único do art. 1º explicita sua abrangência, estatuindo subordinarem-se às normas constantes da Lei 8.666 “além dos órgãos da Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.
NOTE BEM!
Também estão obrigados a licitar as corporações legislativas, bem como o Poder Judiciário e os Tribunais de Contas, além das entidades indicadas em leis especiais e o SEBRAE.
2. CONCEITO DE LICITAÇÃO
Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Tal procedimento propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.
Assim, consiste numa sucessão ordenada de atos vinculados para que o Poder Público possa comprar, vender ou locar bens ou, ainda, realizar obras e adquirir serviços, segundo condições previamente estipuladas, visando selecionar a melhor proposta, ou o melhor candidato, conciliando os recursos orçamentários existentes à promoção do interesse público.
3. FINALIDADE DA LICITAÇÃO
A licitação tem dupla finalidade, segundo o art. 3° da Lei 8.666/93:
► a obtenção do negócio jurídico mais vantajoso visando o desenvolvimento sustentável.
DIREITO ADMINISTRATIVO 75
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
► o resguardo dos direitos dos possíveis contratantes (observância do princípio da isonomia)
4. OBJETO DA LICITAÇÃO
Entende-se por objeto da licitação a obra, serviço, compra, alienação, concessão, permissão e locação, as quais serão, por fim, contratadas com o particular vencedor da licitação. A regra atual permite que a licitação seja feira por itens (divisão do objeto) em oposição à licitação global. O que não se permite é a divisão do objeto com a finalidade de realizar várias licitações em modalidade mais simples, ao invés de se realizar uma única licitação em modalidade mais complexa.
A própria Lei n° 8.666/93 e demais alterações posteriores traz algumas definições pertinentes:
►OBRA
É toda construção, reforma, fabricação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;
►SERVIÇO
É toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
NOTE BEM!
Lei nº 8.666/93, Art. 7º, §2º:
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
E mais:
Lei nº 8.666/93, Art. 10:
As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
I - execução direta - a que é feita pelos órgãos e
entidades da Administração, pelos próprios meios;
II - execução indireta - a que o órgão ou entidade
contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global - quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário - quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;
c) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
d) empreitada integral – É uma espécie de
empreitada global. Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.
NOTE BEM!
Veja também os seguintes conceitos:
1) Seguro-Garantia - o seguro que garante
o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos;
2) Projeto Básico - conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.
3) Projeto Executivo - o conjunto dos
elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
4) Comissão - comissão, permanente ou
especial, criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
►COMPRA
É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
NOTE BEM!
Lei nº 8.666/93, Art. 14:
Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Lei nº 8.666/93, Art. 14:
As compras, sempre que possível, deverão atender ao PRINCÍPIO DA PADRONIZAÇÃO (Padronizar significa igualar, uniformizar.); ser processadas através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade, além de balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
O registro de preços (seleção feita mediante
concorrência) será precedido de ampla pesquisa de mercado, sendo que os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
76 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
O sistema de registro de preços será
regulamentado por decreto e a validade do registro não superior a um ano.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.
O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido nesta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
Lei nº 8.666/93, Art. 16:
Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.
►ALIENAÇÃO
É toda transferência de domínio de bens a terceiro.
5. PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO.
O art. 3º da Lei de Licitações enumera os princípios que regem o procedimento administrativo de licitação:
―Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.‖
5.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
O art. 4º da Lei 8.666 claramente reporta-se ao princípio da legalidade quando estatui que todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades da Administração têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei.
NOTE BEM! Segundo a Lei qualquer licitante
(pessoa física ou jurídica que participa da licitação), contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei de licitações.
5.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
O princípio da isonomia, ou igualdade, costuma, quando se trata de licitações, ser enunciado como “igualdade entre os licitantes”. Observamos que a Lei, uma vez que afirma visar o procedimento licitatório a assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia, parece conferir significativa relevância a este princípio.
Com efeito, a observância da igualdade entre os participantes implica um duplo dever. Deve-se não apenas tratar isonomicamente todos os que participam da disputa, o que significa vedação a discriminações de qualquer espécie quando do julgamento das propostas. É também necessário que se enseje oportunidade de participar da licitação a quaisquer interessados que tenham condições de assegurar o futuro cumprimento do contrato a ser celebrado. Não configura, por essa razão, violação ao princípio em comento o estabelecimento de requisitos mínimos que tenham por finalidade exclusivamente garantir a adequada execução do contrato.
O § 1º do art. 3º da Lei é bastante elucidativo, pelo quê o transcrevemos:
―§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3° da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991‖.
O ―parágrafo seguinte‖ a que se refere o dispositivo estabelece, todavia, distinção entre os participantes, em hipótese de empate, transcrita:
―§ 2º Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
II - produzidos no País;
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.‖
5.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE E PROBIDADE.
O princípio da moralidade, que é princípio informativo de toda atuação da Administração, não apresenta maiores peculiaridades no tocante às licitações. Traduz-se na exigência de atuação ética dos agentes da Administração em todas as etapas do procedimento. Esta exigência encontra-se bastante enfatizada na Lei que, reiterando o princípio da moralidade, refere-se à probidade como princípio atinente às licitações.
DIREITO ADMINISTRATIVO 77
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
5.4 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
O princípio da publicidade dos atos do procedimento licitatório, a par de se encontrar expresso no caput do art. 3º da Lei, acima transcrito, está explicitado no § 3º do mesmo artigo, segundo o qual “a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura”.
O objetivo evidente do princípio da publicidade no que respeita às licitações é permitir o acompanhamento e controle do procedimento não só pelos participantes como também pelos administrados em geral. Estes podem sustar ou impugnar quaisquer atos lesivos à moralidade administrativa ou ao patrimônio público, representar contra ilegalidades ou desvios de poder etc. O art. 4º da Lei expressamente assegura a qualquer cidadão o direito de acompanhar o desenvolvimento do certame, direito esse que, evidentemente, inclui a fiscalização de sua lisura. Os instrumentos à disposição são inúmeros, bastando mencionarmos a ação popular (CF, art. 5º, LXXIII), o direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV, “a”) e até mesmo, quando cabível, o mandado de segurança (CF, art. 5º, LXIX) ou o habeas data (CF, art. 5º, LXXII).
O princípio da publicidade impõe, ainda, que os motivos determinantes das decisões proferidas em qualquer etapa do procedimento sejam declarados.
NOTE BEM!
O art. 16 da Lei exige que seja publicada a relação de todas as compras feitas pela Administração direta e indireta.
5.5 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
Anote-se, de início, que a impessoalidade da atuação administrativa veda que os atos sejam praticados visando a interesses do agente ou de terceiros, devendo ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato por essência. Impede, o princípio, perseguições ou favorecimentos, discriminações benéficas ou prejudiciais aos licitantes e aos administrados em geral. Qualquer ato praticado em razão de objetivo diverso da tutela do interesse da coletividade será inválido por desvio de finalidade. Assim, impõe-se que, em todo o procedimento licitatório, os participantes sejam tratados com absoluta neutralidade, constituindo-se, aqui, o princípio, como verdadeiro corolário da igualdade.
5.6 PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
A vinculação da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei, verbis:
―Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.‖
Diz-se que o edital é “a lei interna da licitação” e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
NOTE BEM!
Revelando–se falho ou inadequado ao interesse público, o edital ou a carta-convite poderá ser corrigido reabrindo-se o prazo apara entrega dos envelopes.
5.7 PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO.
Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. Objetiva-se, aqui, afastar o discricionarismo na escolha da proposta vencedora.
Critério objetivo é o que permite saber qual a proposta vencedora mediante uma simples comparação entre elas, como é o caso do tipo de julgamento denominado MENOR PREÇO.
Os arts. 44 e 45 da Lei tratam da matéria nos seguintes termos:
―Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
............................
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
NOTE BEM!
Na ausência de critérios, presume-se que a licitação é a de menor preço.
5.8 PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE.
A doutrina menciona a competitividade como um dos princípios norteadores das licitações públicas, afirmando ser ele da essência mesmo do procedimento. Com efeito, a Lei e a própria Constituição referem-se à competitividade.
Como exemplo, citem-se os seguintes excertos:
―Art. 3º, § 1º, I - É vedado aos agentes públicos: admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato‖.
O art. 90, tipifica como crime a frustração do caráter competitivo do procedimento:
―Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.‖
5.9 PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO FORMAL.
Este princípio, embora não se encontre expresso no caput do art. 3º, é incluído pela doutrina como princípio cardeal das licitações e está enunciado no art. 4º, parágrafo único:
―Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.‖
78 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
5.10 PRINCÍPIO DO SIGILO DAS PROPOSTAS.
Este princípio decorre da própria lógica do procedimento e encontra-se enunciado, embora indiretamente, no § 3º do art. 3º, que, ao propugnar a publicidade das licitações, declara “públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura”.
A observância do sigilo das propostas até sua abertura é de tal importância que constitui crime sua violação, como consta do art. 94 da Lei, transcrito:
―Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.‖
A violação do sigilo das propostas deixa em posição vantajosa o concorrente que disponha da informação relativa a seu conteúdo, uma vez que pode, conhecendo, por exemplo, o preço oferecido por seus adversários para a realização de uma obra pública, oferecer um preço um pouco menor e vencer o certame em evidente fraude à competitividade do procedimento.
5.11 PRINCÍPIO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
O princípio da adjudicação compulsória ao vencedor impede que a Administração, concluído o procedimento licitatório, atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor. Este princípio também veda que se abra nova licitação enquanto válida a adjudicação anterior.
Não se deve confundir adjudicação com a celebração do contrato. A adjudicação apenas garante ao vencedor que, quando a Administração for celebrar o contrato relativo ao objeto da licitação o fará com o vencedor. É, todavia, possível que o contrato não venha a ser celebrado, por motivos como anulação do procedimento, ou que tenha sua celebração adiada por motivo que justifique tal adiamento, etc.
Portanto, a Lei estabelece que a Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas, nem com terceiros estranhos ao procedimento, sob pena de nulidade.
A fase da adjudicação encerra o procedimento licitatório.
6. OBRIGATORIEDADE DA LICITAÇÃO.
A Constituição Federal exige licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienações (art. 37, XXI), bem como para concessão e a permissão de serviços públicos (art. 175).
Constituição Federal/1988:
Art. 37, XXI:
Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Art. 175:
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Por sua vez, a Lei nº 8.666 exige licitação para obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Admite-se que as empresas estatais que possuem personalidade Jurídica de Direito Privado (sociedades de economia mista, empresas públicas e outras entidades controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público) possam ter regulamento próprio, mas ficam sujeitas às normas gerais da lei 8.666/93 (art. 119).
A expressão obrigatoriedade de licitação tem duplo sentido, significando não só a compulsoriedade da licitação em geral, como também, a modalidade prevista em lei para a espécie.
7. DA EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR: LICITAÇÃO DISPENSADA, DISPENSÁVEL E DA INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO.
O Art. 37, XXI da Constituição, ao exigir licitação para os contratos ali mencionados, ressalva “os casos especificados na legislação”, ou seja, deixa em aberto a possibilidade de serem fixadas, por lei ordinária, hipóteses em que a licitação deixa de ser obrigatória, dando lugar aos casos de licitação, dispensada, dispensável e inexigibilidade de licitação.
A diferença básica entre a licitação dispensável e a inexigível está no fato de que, na DISPENSA, há
possibilidade de competição que justifique a licitação, de modo que a lei faculta, que fica inserida na competência discricionária da Administração. Nos casos de INEXIGIBILIDADE, não há possibilidade de competição,
porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração, tornando a licitação inviável.
Assim, Licitação dispensável é toda aquela que a Administração pode dispensar se assim lhe convier, enquanto será inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar competição entre eventuais interessados.
Já na licitação dispensada e na inexigível o administrador público não fará o procedimento licitatório, pois a Lei proíbe a sua realização.
►HIPÓTESES DE LICITAÇÃO DISPENSADA:
QUANDO FOREM ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS:
Lei nº 8.666/93, Art. 17:
I - Dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
Caberá a Administração Pública provar que a dação de um imóvel em pagamento é mais vantajosa que a venda do bem.
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)
DIREITO ADMINISTRATIVO 79
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei (não pode haver permuta de bem imóvel por bem móvel);
d) investidura;
Entende-se por investidura, para os fins desta lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei n
o 6.383, de 7 de dezembro de 1976,
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009)
QUANDO FOREM ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS:
II - Dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.
O procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei n
o 6.383, de 7 de dezembro de 1976,
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição.
►HIPÓTESES DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL (EXEMPLOS MAIS IMPORTANTES QUE, GERALMENTE, CAEM E CONCURSO PÚBLICOS):
1) Em razão do pequeno valor
a) É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na modalidade carta-convite ou seja, até R$ 33.000,00, desde que não se refiram a parcelas de uma
mesma obra ou serviço ou ainda de obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta ou concomitantemente;
b) Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na modalidade carta-convite ou seja, até R$ 17.600,00 e para alienações,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.
NOTE BEM!
Os percentuais acima serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.
2) Em razão de situações excepcionais
a) Guerra ou grave perturbação da ordem;
b) Emergência e calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa;
c) Complementação de obra, serviço ou fornecimento;
d) Quando não acudirem interessados à licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. (Licitação deserta);
e) Intervenção da União no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;
14
f) Propostas com preços manifestamente superiores aos praticados no mercado;
g) Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional;
h) Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico;
14 Assunto cobrado pelo CESPE, Tec.Jud.TRE-BA/2010)
80 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
i) Para abastecimento de unidades militares em deslocamento por motivo de movimentação operacional ou adestramento.
3) Em razão do objeto
Prevê a Lei de Licitações os seguintes casos:
a) para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha;
b) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis;
c) aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos;
d) aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos;
e) nas compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo;
f) para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP ou CNPq.
4) Em razão da pessoa
São as seguintes hipóteses legais de dispensa:
a) para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública;
b) para impressão dos diários oficiais, formulários padronizados de uso da Administração, de edições técnicas oficiais, a prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública;
c) na contratação de instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso;
d) na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos, e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidades da Administração Pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra;
e) na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;
f) para celebração de contrato de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para as atividades contempladas no contrato de gestão;
g) na aquisição de bens ou prestação de serviços realizados por empresa pública ou sociedade de economia mista e suas subsidiárias e suas controladas, desde que o preço seja compatível com o mercado.
h) na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.
i) na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.
j) para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão.
NOTE BEM!
§ 1o Os percentuais referidos nos incisos I
e II do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. (Art. 24. Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
► HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (HIPÓTESES EXEMPLIFICATIVAS):
a) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca.
b) A contratação de serviços técnicos profissionais especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados
Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
NOTE BEM!
Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
DIREITO ADMINISTRATIVO 81
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
c) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
A inexigibilidade não libera a Administração Pública da comprovação das demais exigências legais: capacidade jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. Toda inexigibilidade deverá ser motivada (justificada).
Os casos de inexigibilidade de licitação não são taxativos (podem ser alterados ou surgirem outros casos).
Lei 8.666/1993, Art. 25, § 1º:
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
Se nos casos de inexigibilidade ou em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
Com exceção dos casos de dispensa de lcitação pelo pequeno valor, as situações de inexigibilidade serão, necessariamente justificadas, e qualquer retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Lei 8.666/1993, Art. 26, § único:
O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500,
de 2017)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
Por fim, é bom ressaltar o que seria a chamada LICITAÇÃO FRACASSADA: aparecem interessados,
mas nenhum é selecionado em decorrência da inabilitação ou desclassificação. Nesse caso a dispensa não é possível.
8. MODALIDADES DE LICITAÇÃO.
A Lei nº 8.666/93 enumera, em seu art. 22, cinco diferentes modalidades de licitação:
a) concorrência;
b) tomada de preços;
c) convite;
d) concurso;
e) leilão.
f) pregão (criado pela Lei nº 10.520/02)
É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação destas.
Não confundam modalidades com tipos de licitação. As modalidades de licitação relacionam-se, em regra, com o valor estimado do contrato, enquanto que os tipos relacionam-se com o julgamento das propostas.
Os contratos de concessão de serviços públicos sempre exigem licitação prévia e somente admitem seja esta na modalidade concorrência.
NOTE BEM 1!
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018
As modalidades de licitação CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais);
c) concorrência - acima de R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais);
NOTE BEM 2!
Também se utiliza a CONCORRENCIA para a alienação de bens de valor superior a R$ 650.000,00 e para o REGISTRO DE PREÇOS, ressalvada a possibilidade de utilização da modalidade PREGÃO.
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais)
b) tomada de preços - até R$ 1.430.000,00
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)
c) concorrência - acima de R$ 1.430.000,00
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)..
a) CONCORRÊNCIA.
É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
ATENÇÃO!
Na concorrência a 1º fase é uma audiência pública.
A concorrência presta-se à contratação de obras, serviços, compras, celebração de contratos de concessão serviços públicos e alienação de imóveis públicos (regra geral). É também a modalidade utilizada para concessão de direito real de uso e para licitações internacionais (neste último caso também se admite, sob determinadas circunstâncias, a modalidade tomada de preços ou o convite).
São princípios característicos da concorrência:
a) universalidade;
b) ampla publicidade;
82 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
c) habilitação preliminar;
d) julgamento por comissão.
Habilitação preliminar corresponde à fase de
apresentação de informações e documentos ligados à comprovação da habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira e da regularidade dos ofertantes. Na concorrência constitui a fase inicial do procedimento.
Concorrência internacional é aquela em que
se permite a participação de firmas nacionais e estrangeiras, isoladamente ou em consórcios. Para participar da concorrência internacional as empresas estrangeiras deverão comprovar que estão autorizadas a funcionar ou operar no Brasil e demonstrar a regularidade de sua constituição no país de origem e a plenitude de sua capacidade jurídica como empresas técnicas, industriais ou comerciais.
Consórcio de empresas É a associação de
dois ou mais interessados na concorrência (empresas ou profissionais), de modo que, somando técnica, capital, trabalho e Know-how, possam executar um empreendimento que, isoladamente, não teriam condições de realizar. Não é, portanto, uma pessoa jurídica, mas uma simples reunião operativa de firmas, cada qual com sua personalidade própria, sob a liderança de uma delas. Nas concorrências nacionais a liderança será sempre brasileira. A firma–líder apenas representa o consórcio no trato com o Poder Público.
NOTE BEM!
É vedada à participação da empresa ou profissional, na mesma licitação, em mais de um consórcio, ou isoladamente.
Julgamento por comissão A comissão é
composta por, no mínimo, três membros, sendo ao menos dois servidores qualificados da entidade licitante, podendo o terceiro ser estranho à Administração Pública.
b) TOMADA DE PREÇOS.
É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
Presta-se à celebração de contratos relativos a obras, serviços e compras de menor vulto do que os que exigem a concorrência. Fora esta característica, o procedimento, inclusive quanto ao julgamento por comissão de três membros, é o mesmo da concorrência. O que realmente distingue a tomada de preços é a existência da habilitação prévia à abertura do procedimento, mediante o cadastramento dos interessados nos REGISTROS CADASTRAIS da Administração (prazo de validade de, no máximo, um ano.).
De qualquer forma, mesmo os não previamente cadastrados têm garantida a possibilidade, tendo em vista o princípio da competitividade, de se inscreverem até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, contanto que satisfaçam as condições de qualificação exigidas.
É admitida a tomada de preços para licitações internacionais, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores e desde que o contrato a ser celebrado esteja dentro dos limites estabelecidos no art. 23 da Lei.
c) CONVITE.
É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
O instrumento de convocação utilizado na modalidade convite é a carta-convite, enviada diretamente aos interessados. É importante ressaltar que a Lei se refere a interessados cadastrados ou não. No caso do convite não há publicação em diário oficial, mas é necessário, além do envio da carta-convite aos interessados, afixação de cópia do instrumento em local apropriado para que outros interessados não originalmente convidados possam participar habilitando-se até 24 horas antes do prazo para entrega das propostas.
O convite é a modalidade de licitação utilizada
para as contratações de menor valor, sendo, por isso, mais simples em seu procedimento. Por isso, o art. 51, § 1º, da Lei prevê que “no caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente”.
É possível que a carta-convite, excepcionalmente, seja enviada a menos de três interessados, desde que por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, seja impossível a obtenção do número mínimo de licitantes. Estas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.
Na hipótese contrária, ou seja, de existirem mais de três possíveis interessados numa praça, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.
ATENÇÃO!
No convite havendo apenas um interessado não impede a sequência regular do processo.
Embora seja a menos complexa das modalidades, é possível convite em licitações internacionais, respeitados os limites de valor estabelecidos no art. 23, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no Brasil (art. 23, § 3º).
d) CONCURSO.
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
O procedimento, no caso do concurso é um tanto diverso, pois o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não.
Não é compatível a aplicação do concurso aos tipos de licitação previstos no art. 45 da Lei 8.666 (menor preço, melhor técnica etc.), pois os vencedores recebem um prêmio ou remuneração.
DIREITO ADMINISTRATIVO 83
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
O concurso deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital, e que, em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar conveniente.
É importante observar que os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação.
e) LEILÃO.
É a modalidade de licitação, entre quaisquer interessados, para a venda, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, de:
a) bens móveis inservíveis para a Administração;
b) produtos legalmente apreendidos ou penhorados;
c) bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento;
d) venda de bens móveis em valor inferior a R$ 650.000,00.
Nos casos de privatizações de pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos sob controle direto ou indireto da União, simultâneas com a outorga de novas concessões de serviços públicos ou com a prorrogação de concessões existentes, a União, regra geral, pode utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência do controle societário (art. 27, I, da Lei nº 9.074/95).
O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.
É obrigatório que todo bem a ser leiloado seja previamente avaliado pela Administração para fixação do preço mínimo de arrematação.
Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido.
Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas.
O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.
9. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
O procedimento constitui-se numa sucessão de atos administrativos tendentes a permitir melhor contratação para a Administração Pública. Compreende as fases interna e externa.
a) Fase Interna:
Inicia-se no âmbito da repartição interessada, com a abertura do processo em que a autoridade determina sua realização. Nesse momento é definido o objeto e indicado os recursos financeiros para a despesa.
b) Fase Externa:
Desenvolve-se através de: edital ou carta-convite, habilitação, classificação, julgamento, adjudicação e homologação.
9.1 EDITAL
É o instrumento pelo qual a Administração leva ao conhecimento do público a abertura da concorrência, tomada de preços, concurso, leilão ou pregão, divulgando as regras a serem aplicadas em determinado procedimento de licitação. Note-se que não será utilizado na modalidade carta-convite. O que efetivamente deverá ser publicado não é o edital e seus anexos, mas tão somente o seu resumo, chamado de aviso. Constitui-se em lei interna da Licitação, obrigando tanto os licitantes como a Administração Pública.
NOTE BEM!
Lei 8.666/1993, art. 21:
Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação
do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento
das propostas ou da realização do evento será:
I - quarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";
II - trinta dias para:
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;
IV - cinco dias úteis para convite.
► Conteúdo do edital:
84 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A Lei de Licitações dispõe que o edital deve conter:
a) objeto da licitação, que não poderá ser descrito genericamente;
b) prazos e condições para a assinatura do contrato ou para a retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64;
c) garantias para a execução do contrato;
d) sanções para o caso de inadimplemento;
e) local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
f) critério de julgamento das propostas;
g) condições de pagamento.
As regras constantes do edital poderão ser impugnadas pelos licitantes (no prazo de dois dias) ou por qualquer cidadão que entender ser o edital discriminatório ou omisso em pontos essenciais
9.2 HABILITAÇÃO
É a fase do procedimento em que a Administração verifica a aptidão do licitante para futura contratação. Abrange o recebimento da documentação e da proposta.
Da Habilitação
Lei 8.666/1993, art. 27:
Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA – é a qualidade atribuída a pessoa física ou jurídica para exercer direitos e obrigações;
II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – é a aptidão profissional ou operacional para a execução do objeto da contratação;
III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – é a aptidão para responder pelos encargos financeiros e econômicos decorrentes do contrato;
IV - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – é a qualidade de quem está em situação regular com o fisco federal, estadual, distrital e municipal.
V – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO inciso XXXIII do art. 7
o da Constituição Federal.
Cumprimento ao inc. XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal (XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos)
Lei 8.666/1993, art. 28:
A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Lei 8.666/1993, art. 29:
A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme o caso, consistirá em:
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Lei 8.666/1993, art. 30:
A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
Constituição Federal – art. 195, § 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Se o licitante demonstrar possuir as condições necessárias, será considerado habilitado e poderá passar para a fase seguinte. Os inabilitados, ao contrário, serão excluídos da licitação (preclusão), recebendo os seus envelopes com as propostas devidamente lacradas.
DIREITO ADMINISTRATIVO 85
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
9.2.1 Desistência do Proponente
Até o final da fase de habilitação, o licitante pode, legitimamente, desistir da licitação, visto que sua proposta ainda não foi conhecida. Abertos os envelopes na fase de classificação, porém, o licitante não poderá desistir, salvo nos casos de fato superveniente que justifique a sua desistência (a justificação deve ser aceita pela Comissão de Licitação)
9.3 CLASSIFICAÇÃO
É a etapa do procedimento licitatório em que são apreciadas e julgadas as propostas dos licitantes habilitados. Nesse momento, serão abertos os envelopes das propostas comerciais.
Nessa fase devem as propostas serem analisadas quanto ao seu conteúdo a fim de se verificar a adequação ao edital, sob pena de desclassificação.
Desclassificação de Propostas – Art. 30
Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
NOTE BEM!
Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
Licitação Fracassada todos os licitantes
inabilitados ou todas as propostas desclassificadas. Nesse caso, a lei faculta à Administração tentar “salvar” a licitação, permitindo que todos os inabilitados apresentem nova documentação ou todos os desclassificados apresentem nova proposta (o prazo para apresentação de documentos ou propostas é de oito dias)
9.4 JULGAMENTO
Em local e dia designados, são abertos os envelopes dos proponentes habilitados, ou seja, o envelope com as propostas. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela lei.
Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
► Tipos de Licitação:
a) MENOR PREÇO: o proponente vencedor será
aquele que apresentar proposta com o menor valor nominal. É o tipo usado, obrigatoriamente, pela modalidade pregão.
b) MELHOR TÉCNICA: será vitorioso o
proponente que apresentar a proposta de melhor técnica dentro das especificações da Administração. É o instrumento convocatório aquele que define qual a melhor técnica e quais os critérios a serem observados.
c) TÉCNICA E PREÇO: de acordo com os
preceitos do instrumento convocatório, a Administração conjuga a melhor técnica e o menor preço (a proposta deverá apresentar técnica satisfatória e preço mais vantajoso). É o tipo usado para compra de computadores.
d) MAIOR LANCE OU OFERTA: será aplicado
nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. É o tipo usado, obrigatoriamente, pela modalidade leilão.
Entre os quatro critérios apontados, dois são objetivos (menor preço e maior lance) e dois subjetivos (melhor técnica e técnica e preço).
O tipo regra é o de menor preço. Os demais se aplicam aos casos expressamente previstos em lei.
9.5 HOMOLOGAÇÃO
É o ato de controle da autoridade competente sobre o processo de licitação, ou seja, equivale à aprovação do procedimento e seu resultado. É o ato administrativo pelo qual a autoridade superior manifesta sua concordância com a legalidade e conveniência do procedimento licitatório.
9.6 ADJUDICAÇÃO
Adjudicação é o ato administrativo pelo qual se declara como satisfatória a proposta vencedora do procedimento e se afirma a intenção de celebrar o contrato com o seu ofertante.
Significa que a Administração confere ao licitante a qualidade de vencedor do certame e o de titular da preferência para celebração do futuro contrato.
Da Adjudicação surtem os seguintes efeitos:
a) Direito de contratação futura (expectativa de direito);
b) Impedimento da Administração de licitar para o mesmo objeto;
c) Sujeita o vencedor às penalidades do edital, caso não assine o contrato no prazo estabelecido;
NOTE BEM!
Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
d) Vinculação do adjudicatário aos encargos, termos e condições fixados no edital e na proposta vencedora.
O adjudicatário que se recusar a
assinar o contrato será considerado inadimplente, ou seja, ficará na mesma situação daquele que assinar o contrato e não o cumprir. Responderá por perdas e danos e
86 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
sofrerá as sanções administrativas, que serão aplicadas de acordo com o comportamento do adjudicatário.
10. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público (conveniência e oportunidade) decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
Em caso de prejuízo para o licitante, deve o mesmo ser indenizado, desde que devidamente comprovado o dano.
A autoridade competente somente poderá ANULAR a licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
A anulação do procedimento não gera obrigação de indenizar, ressalvada a hipótese da ilegalidade ser imputável à própria Administração; nesse caso, deverá ela promover a responsabilidade de quem lhe deu causa.
11. RECURSOS
A Lei de Licitações prevê três tipos de recursos possíveis no processo licitatório:
recurso hierárquico;
representação;
pedido de reconsideração.
a) Recurso hierárquico
O recurso hierárquico (ou recurso administrativo em sentido estrito) é cabível contra:
habilitação ou inabilitação do licitante;
julgamento das propostas;
anulação ou revogação da licitação;
indeferimento, alteração ou cancelamento de inscrição no registro cadastral.
O prazo para a interposição será de 5 dias, salvo
se a modalidade for à do convite e o recurso dirigido contra a habilitação, ou inabilitação, e contra o julgamento, hipóteses em que será de 2 dias úteis. O
prazo é contado a partir da intimação ou da lavratura do termo (para os que estiverem presentes).
b) Representação
Cabe a representação contra decisões havidas no processo licitatório e que não comportam recurso hierárquico. É dirigida à autoridade superior para que se altere decisão emanada da autoridade inferior (Ex.: modificação do objeto da licitação).
c) Pedido de reconsideração
O pedido de reconsideração é cabível contra decisão que impôs as sanções de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. É dirigido ao ministro de Estado ou ao secretário estadual ou municipal, no prazo de 10 dias úteis.
11.1 Efeitos e processamento
Os recursos operam efeitos devolutivos, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas, que sempre produzirão efeitos suspensivos.
Os demais apenas produzirão efeitos suspensivos por decisão da autoridade destinatária do recurso. A decisão, que concede ou não o aludido efeito, é discricionária. Para conceder o referido efeito, porém, deverá a autoridade motivar o ato, indicando o interesse público presente.
A interposição dos recursos hierárquico e de representação deve ser comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 5 dias úteis.
Sempre que um recurso for provido, os efeitos serão retroativos, alcançando o ato desde a sua edição.
12. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
A Administração Pública criará comissão, permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
12.1 Composição
A comissão permanente ou especial será composta de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação e terá competência para processar e julgar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas.
No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente.
No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não.
A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos.
A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
12.2 Responsabilidade
Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
Os membros da comissão não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
Senão Vejamos:
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
DIREITO ADMINISTRATIVO 87
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1. DOS ATOS ADMINISTRATIVOS BILATERAIS
Contrato é todo acordo de vontades, firmado
livremente pelas partes, para criar obrigações e direitos recíprocos. Em princípio, todo contrato é negócio jurídico bilateral e comutativo, isto é, realizado entre pessoas que se obrigam a prestações mútuas e equivalentes em encargos e vantagens. Como pacto consensual, pressupõe liberdade e capacidade jurídica das partes para se obrigarem validamente; como negócio jurídico, requer objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei.
Dicas de concursos:
Contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada pelo documento que formaliza tal acordo. (Adm. Banco Amazônia/CESPE/2010)
CONTRATO ADMINISTRATIVO é o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração.
A Lei 8.666/93, art. 2º, parágrafo único, utiliza conceito diverso: “Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.
Perceba-se que, aqui, não foi utilizado o critério dos interesses divergentes. Trata-se, portanto, de um conceito amplo, que convive com a definição estrita exposta anteriormente. Em qualquer um dos conceitos, os contratos são considerados acordos sinalagmáticos, pois impõem prestações para ambas as partes.
Contratos e convênios: distinção
Interesses Envolvidos Licitação
Convênios
Convergentes Partícipes (entidades
públicas entre si ou
com entidades
privadas)
Obrigatória
Contratos (em
sentido estrito)
Divergentes Contratante
(Administração
Pública) e
contratado
Dispensada
Os contratos administrativos têm que ser precedidos de Licitação, salvo nos casos de INEXIGIBILIDADE e DISPENSA.
CUIDADO!!!
O contrato e o convênio têm pontos em
comum, mas também divergentes entre si. Convênio e contrato são acordos, mas aquele não é contrato. Convênio não é dotado de personalidade jurídica, porque dependente da vontade de cada um, tendo em vista a execução de objetivos comuns. É uma cooperação associativa, sem vínculos contratuais, entre órgãos e entidades da Administração ou entre estes e o particular.
2. CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
a) presença da Administração Pública como Poder Público, ou seja, no exercício de suas
prerrogativas conferidas pelo Direito Público – incidência de cláusulas exorbitantes;
b) finalidade pública;
c) forma prescrita em lei;
e) consensualidade: os contratos administrativos
são atos bilaterais, pois dependem de um acordo entre as partes.
e) onerosidade: o contratado recebe um
pagamento na forma convencionada;
f) comutatividade: as prestações das partes são
equivalentes entre si.
g) procedimento legal – geralmente, há
necessidade de licitação prévia;
h) natureza de contrato de adesão, uma vez que
suas cláusulas são determinadas unilateralmente pela Administração;
i) natureza intuitu personae (personalíssimo),
ou seja, o contrato é feito em razão das condições pessoais do contratado, verificadas na licitação4;
a) Presença da Administração Pública como Poder Público
Nos contratos administrativos, a Administração aparece com uma série de prerrogativas que garantem a sua posição de supremacia sobre o particular; elas vêm expressas precisamente por meio das chamadas cláusulas exorbitantes ou de privilégio, ou ainda de prerrogativas.
b) Finalidade Pública
88 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Esta característica está presente em todos os atos e contratos da Administração Pública. Às vezes pode ocorrer que a utilidade direta seja usufruída apenas pelo particular, como acontece na concessão de uso de sepultura, mas, indiretamente, é sempre o interesse público que a Administração tem que ter em vista, sob pena de desvio de poder. No exemplo, veja-se que o sepultamento adequado, nos termos da lei, é do interesse de todos e, por isso mesmo, colocado sob tutela do poder público.
c) Obediência à forma prescrita em lei – formalismo
É especialmente na Lei nº 8.666/93 que estão estabelecidas uma série de normas referentes ao aspecto formal, não só em benefício do interessado como da própria Administração, para fins de controle da legalidade. Destacam-se:
I – Salvo os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas (escritura pública), os demais serão lavrados por instrumento escrito, nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico de seus autógrafos e registro sistemático de seu extrato. Somente se admite contrato verbal excepcionalmente para pequenas compras de pronto pagamento de valor até R$ 4.000,00.
II – Deve ser publicado, resumidamente, seu extrato no Diário Oficial, no prazo de 20 dias a contar da data da assinatura, como condição de eficácia e validade.
III – O contrato materializa-se por meio de “termo de contrato”, “carta contrato”, “nota de empenho de despesa”, “autorização de compra” ou “ordem de execução de serviço”. O termo de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis.
IV – Na redação do termo de contrato ou outro instrumento equivalente deverão ser observadas as condições constantes do instrumento convocatório da licitação (edital ou carta-convite, conforme o caso), já que o mesmo é a lei do contrato e da licitação.
Nenhuma cláusula poderá ser acrescentada ao contrato, contendo disposição não prevista na licitação.
V – Deverão, obrigatoriamente, constar do contrato determinadas cláusulas consideradas necessárias, dentre elas as referentes ao objeto, regime de execução, preço e condições de pagamento, critérios de reajustamento prazo, garantias, responsabilidade das partes, penalidades e rescisão.
NOTE BEM!
Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão
contratual, salvo o disposto no 6o do art. 32 desta
Lei.
Integram o Contrato: o Edital, o projeto, o
memorial, cálculos, planilhas, etc.
NOTE BEM1!
Art. 64. A Administração convocará regularmente
o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.
§ 1o O prazo de convocação poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
§ 2o É facultado à Administração, quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.
§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da
entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
NOTE BEM2!
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, EXCETO quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
ATENÇÃO!
§ 4o Em caráter excepcional, devidamente
justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses.
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
Por fim ressalte-se que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
d) Procedimento Legal
A lei estabelece determinados procedimentos obrigatórios para celebração de contratos que podem variar de uma modalidade para outra, compreendendo medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação, autorização pela autoridade competente, indicação de recursos orçamentários e licitação.
A própria Constituição Federal contém algumas exigências quanto ao procedimento (o art. 37, XXI, exige
DIREITO ADMINISTRATIVO 89
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienação, e o artigo 175, para concessão de serviços públicos). A mesma exigência é feita por leis ordinárias, dentre as quais a Lei nº 8.666, de 21/06/93.
e) Natureza de contrato de adesão
Todas as cláusulas dos contratos administrativos são fixadas unilateralmente pela Administração Pública. Costuma-se dizer que, pelo instrumento convocatório da licitação, o poder público faz uma oferta a todos os interessados, fixando as condições em que pretende contratar. A apresentação de propostas pelos licitantes equivale à aceitação da oferta feita pela Administração.
f) Consensual
Consubstancia um acordo de vontades, e não um ato unilateral e impositivo da administração.
g) Onerosidade
Deverá ser sempre ser remunerado, na forma convencionada.
h) Comutatividade
Em razão de estabelecer compensações recíprocas e equivalentes para as partes.
i) Natureza intuitu personae
Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados intuitu personae, ou seja, em razão
de condições pessoais do contratado, apurados no procedimento licitatório. A própria Lei de Licitação veda a subcontratação total de seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência parcial, a não ser que esteja expressamente previsto no edital da licitação e no contrato administrativo.
DICAS DE CONCURSOS:
Uma das características do contrato administrativo é ser intuitu personae, porque o contratado é, em tese, o que melhor comprovou ter condições de contratar com a administração.(Proc. Seletivo MPOG/CESPE /2009).
h) Mutabilidade
Um dos traços característicos do contrato administrativo é a sua mutabilidade, que decorre de determinadas cláusulas exorbitantes, ou seja, que conferem à Administração o poder de, unilateralmente, alterar as cláusulas regulamentares ou rescindir o contrato antes do prazo estabelecido, por motivo de interesse público, face à ocorrência de Fato do Príncipe, Fato da Administração ou aplicação da Teoria da Imprevisão.
TEORIA DA IMPREVISÃO
Por essa teoria, fatos imprevisíveis, anormais, fora da cogitação dos contratantes e que tornam o cumprimento do contrato ruinoso para uma das partes, criam uma situação que não pode ser suportada unicamente pelo contratante prejudicado e impõem uma imediata revisão do ajuste. É a aplicação da antiga cláusula “rebus sic stantibus”, em oposição à obrigatoriedade absoluta da convenção (“pacta sun
servanda”)
É admitida sua aplicação aos contratos administrativos para adequá-lo à nova realidade, mediante a recomposição dos interesses inicialmente pactuados. Assim, esta teoria converteu-se em fórmula eficaz para garantir integralmente o equilíbrio econômico-financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo. São circunstâncias dessa natureza o fato do príncipe, os casos fortuitos e os de força maior.
DICAS DE CONCURSOS:
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, regularmente comprovada, seja impeditiva da execução do contrato autoriza a rescisão do contrato, por parte da administração, por ato unilateral e escrito. (Aud. Fisc.TCU/ CESPE/2009)
O fato do príncipe, como causa justificadora da inexecução do contrato, distingue-se do fato da Administração, pois, este se relaciona diretamente com o contrato, enquanto aquele só reflexamente repercute sobre o contrato.(Anal.Jud.TRE-AM/FCC/2010).
FATO DO PRÍNCIPE
É um ato da autoridade, não diretamente relacionado com o contrato, mas que repercute
indiretamente sobre ele, causando desequilíbrio econômico financeiro em prejuízo do contratado, respondendo a Administração pelo restabelecimento do equilíbrio rompido. Também chamado ÁLEA ADMINISTRATIVA, é caracterizada pela generalidade e
coercitividade da medida prejudicial.
Ex.: Proibição de importar determinado produto
que seja objeto de um contrato administrativo.
Fato da Administração
É toda ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou impede a sua execução. Ex.: falta de desapropriação da área onde se realizaria a obra.
Interferências Imprevistas
É a ocorrência de fatos imprevistos, por ambas as partes, quando da celebração do contrato administrativo.
i) Presença de Cláusulas Exorbitantes
São cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam comuns ou que seriam ilícitas em contrato celebrado entre particulares, por conferirem privilégios a uma das partes (a Administração) em relação à outra; elas colocam a Administração em posição de supremacia sobre o contratado.
O art. 58 da lei enumera as seguintes prerrogativas do contratante:
a) modificação unilateral do contrato;
b) rescisão unilateral;
c) fiscalização da execução; d) aplicação de sanções;
e) ocupação provisória de bens, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato.
Também existem prerrogativas previstas esparsamente na lei:
a) exigência de garantias;
b) atenuação da exceção do contrato não cumprido em caso de inadimplência do contratante;
c) anulação do contrato.
90 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
PRINCIPAIS CLÁUSULAS EXORBITANTES:
I – Exigência de garantia
A faculdade de exigir garantia nos contratos de obras, serviços e compras pode abranger as seguintes modalidades, de acordo com a Lei de Licitações, cabendo a escolha ao contratado: a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; b) seguro-garantia (também é conhecido como performance Bond); c) fiança bancária.
NOTE BEM!
A referida garantia não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o caso das obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato.
Esta garantia será devolvida após a execução do contrato. Caso o contratado tenha dado causa a rescisão contratual, a Administração poderá reter a garantia a título de ressarcimento.
II – Alteração unilateral
Essa prerrogativa visa possibilitar a melhor adequação às finalidades de interesse público, sendo possível nos seguintes casos:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites legais (25% de acréscimo ou supressões em obras, serviços ou compras e 50% de acréscimo em reforma de edifício ou equipamentos). Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder esses limites, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
Ocorrendo alteração unilateral, o contratado tem direito de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, a relação que se estabelece, no momento da celebração do ajuste, entre o encargo assumido e a prestação pecuniária assegurada pela Administração.
III – Rescisão unilateral
Prevê a Lei as seguintes hipóteses de rescisão unilateral, pela Administração Pública:
a) Inadimplemento contratual total ou parcial (não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, lentidão, atraso injustificado, paralisação, cometimento reiterado de faltas, subcontratação total ou parcial não autorizada);
b) desaparecimento do sujeito, sua insolvência ou comprometimento da execução do contrato (falência, concordata, insolvência civil,
dissolução de sociedade, falecimento do contratado);
c) Interesse Público;
d) caso fortuito ou força maior.
IV – Fiscalização
Trata-se de prerrogativa que exige seja a execução do contrato acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente designado.
V – Aplicação de penalidades
A inexecução total ou parcial do contrato dá à Administração, assegurada prévia defesa, a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa, dentre as indicadas na Lei nº 8.666/93:
a) advertência;
b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no letra anterior.
A aplicação de penalidades resulta do princípio da “auto-executoriedade” da Administração Pública.
No contrato de direito privado seria inadmissível a aplicação das sanções penais, que exigem intervenção do Poder Judiciário.
VII – Retomada do objeto
Essa prerrogativa tem por objeto assegurar a continuidade da execução do contrato, sempre que sua paralisação possa ocasionar prejuízo ao interesse público e, principalmente, ao andamento de serviço público essencial; trata-se e aplicação do princípio da continuidade do serviço público.
VIII – Restrições ao uso da “exceptio non adimpleti contractus”
No Direito Privado, quando uma das partes descumpre o contrato, a outra pode descumpri-lo também, socorrendo-se da exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido), com
fundamento no Código Civil.
No Direito Administrativo, o particular não pode interromper a execução do contrato, em decorrência dos princípio das continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o particular; em regra, o que ele deve fazer é requerer, administrativa ou judicialmente a rescisão do contrato e pagamento de perdas e danos, dando continuidade à execução, até que obtenha ordem da autoridade competente (administrativa ou judicial) para paralisá-lo.
DIREITO ADMINISTRATIVO 91
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A Lei 8.666/93 prevê a paralisação da execução do contrato não pago por período acima de 90 dias.
j) Autonomia da vontade
Entende-se também que se frisa como um dos traços marcantes do contrato administrativo a autonomia de vontade do particular, relacionada à formação do vínculo. Ora, a Administração Pública tem o dever de somente celebrar contratos cujo fim imediato seja o interesse público; que é indisponível; logo, não pode pactuar com autonomia da vontade.
Assim, as características do contrato administrativo derivam, sempre, da própria supremacia do interesse público sobre o particular, que se exteriorizam (implícita ou explicitamente) através das cláusulas exorbitantes.
Nos contratos de direito privado, as vontades das partes se equivalem, na maioria das vezes; o que caracteriza o contrato administrativo é precisamente a preponderância da vontade do Estado, que tira a essa espécie de contrato a paridade inerente à natureza dos atos jurídicos bilaterais privados.
3. MODALIDADES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
3.1 CONTRATO DE CONCESSÃO
É o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública confere ao particular a execução remunerada de serviço público ou de obra pública, ou lhe cede o uso de bem público, para que o explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais.
a) Concessão de Serviço Público
É o contrato administrativo pelo qual a Administração delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. Ex.: Telecomunicações, distribuição de energia elétrica, telefonia, transporte aéreo, transporte intermunicipal, serviços funerários, serviços de táxi, distribuição de água.
b) Concessão de Obra Pública
É o contrato administrativo pelo qual o poder público transfere a outrem a execução de uma obra pública, para que a execute por sua conta e risco, mediante remuneração paga pelos beneficiários da obra obtida em decorrência da exploração dos serviços ou da utilidade que a obra proporciona. Ex.: Construção de ponte ou estrada com direito a cobrança de pedágio pelo concessionário, que por esse modo remunerar-se-á do capital investido e alcançará o lucro desejado.
c) Concessão de Uso de Bem Público
É o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública faculta a terceiros a utilização privativa de bem público, para que o exerça conforme a sua destinação. Ex.: Exploração de restaurante em prédio público.
3.2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
É o ajuste celebrado pela Administração com um particular, que tem por objeto a construção, reforma,
fabricação, recuperação ou ampliação de certa obra pública, realizada por execução direta (realizada pelos próprios órgãos e entidades da Administração) ou indireta (realizada por terceiros contratados para esse fim). A execução indireta pode ser feita por empreitada ou por tarefa:
a) Empreitada
É o contrato pelo qual a Administração comete ao particular a execução da obra para que a execute por sua conta e risco, mediante remuneração prefixada. Pode ser por preço global (quando o pagamento é por preço certo e total, abrangendo toda obra) ou por preço unitário (em que o trabalho é executado paulatinamente e pago por preço certo de unidade de execução, como m2 ou Km).
b) Tarefa
É o contrato administrativo que tem por objeto a mão-de-obra para pequenos trabalhos, mediante pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de material.
Existe ainda a empreitada integral, que é uma espécie de empreitada por preço global, distinguindo-se pela abrangência da prestação imposta ao contratado, que tem o dever de executar e entregar um empreendimento em sua integralidade, ponto, acabado e em condições de funcionar.
3.3 CONTRATO DE SERVIÇO
É todo ajuste administrativo que tem por objeto uma atividade prestada à Administração, para atendimento de suas necessidades ou de seus administrados. Os serviços são classificados em:
a) Serviços Comuns
São aqueles que não exigem habilitação legal específica para sua execução. Ex.: limpeza, digitação, copa.
b) Serviços Técnicos Profissionais
São os que exigem habilitação legal específica, somente podendo ser executado por profissional habilitado. Ex.: Engenharia, advocacia, arquitetura.
Os profissionais de notória especialização podem ser contratados sem licitação, por inexigibilidade.
c) Serviços artísticos
São os que visam a realização de obra de arte, desenvolvendo-se nos mais variados setores. Pode ser contratado sem licitação desde que se trate de profissional consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, por inexigibilidade.
O contrato de serviço não se confunde com o contrato de concessão de serviço. No Contrato de Serviço a Administração recebe o serviço. Já na Concessão, presta o serviço ao Administrado por intermédio de outrem.
3.4 CONTRATO DE FORNECIMENTO
É o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública adquire bens móveis e semoventes necessários à execução de obras ou serviços. Classifica-se em:
a) Fornecimento parcelado
92 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
É aquele que se faz por partes. Ex.: Aquisição máquinas em que a entrega se faz parceladamente.
b) Fornecimento contínuo
É aquele que se faz por tempo determinado, para entrega de bens de consumo habitual ou permanente. Ex.: papel, combustível, água mineral.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
§ 1o Nos casos de aquisição de
equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§ 2o O recebimento provisório ou definitivo
não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do
inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo
circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:
I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II - serviços profissionais;
III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.
Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL
É facultado à Administração exigir prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços, de modo a assegurar plena execução do contrato e a evitar prejuízos ao patrimônio público. Antes de estabelecer no edital exigência de garantia, deve a Administração, diante da complexidade do objeto, avaliar se realmente é necessária ou se servirá apenas para encarecer o objeto. Verificada necessidade de prestação de garantia contratual, o contratado pode optar por uma das seguintes modalidades:
• caução em dinheiro;
• caução em títulos da dívida pública;
• seguro-garantia;
• fiança bancária.
Garantia contratual poderá ser exigida se prevista no ato convocatório e no contrato. Será devolvida somente após execução e entrega do objeto contratado.
Nos contratos que importem entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor dos bens entregues. Não pode o valor da garantia exceder a 5% do total do contrato, exceto quanto à compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto, isto é, de valor superior a R$ 37.500.000,00, quando o valor da garantia pode então ser elevado para até 10%. Quanto à garantia prestada em dinheiro, a devolução será feita após devidamente atualizada. Por isso, sugere-se que o valor correspondente seja depositado em caderneta de poupança. Segundo visto anteriormente (no título “Garantia de Participação”), garantia de contrato geralmente só é feita por instituições financeiras após assinatura do termo. Assim, é muito importante que conste do edital e do contrato prazo suficiente para que o futuro contratado possa apresentar o documento de garantia exigido.
Se o objeto for acrescido ou suprimido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção.
5. DURAÇÃO DOS CONTRATOS
Entende-se por duração ou prazo de vigência o período em que os contratos firmados produzem direitos e obrigações para as partes contratantes.
A vigência é cláusula obrigatória e deve constar de todo contrato, que só terá validade e eficácia após assinado pelas partes contratantes e publicado seu extrato na imprensa oficial.
A lei estabelece que os contratos têm sua vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio da anualidade do orçamento. Sendo assim, os contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício financeiro em que foi formalizado, independentemente de seu início.
Em alguns casos, os contratos podem ultrapassar a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:
DIREITO ADMINISTRATIVO 93
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
• projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, que podem ser prorrogados, se houver interesse da Administração e previsão no ato convocatório. Exemplo: construção de um hospital de grande porte;
• serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por até 60 meses. Exemplo: serviços de limpeza e conservação;
• aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, que podem ser prorrogados pelo prazo de até 48 meses. Exemplo: aluguel de computadores.
Deliberação do TCU
Deve-se evitar a inclusão, em contratos de prestação de serviços certos e mensuráveis, de hipóteses de prorrogação fundamentadas no art. 57, inciso II, da
Lei nº 8.666, de 1993.
Decisão 300/2002 Plenário
As prorrogações deverão estar devidamente justificadas em processo administrativo.
Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto do contrato podem ser prorrogados, desde que mantidas as demais cláusulas do contrato e preservado o equilíbrio econômico-financeiro.
São motivos para as prorrogações dos prazos:
• modificação do projeto ou das especificações, pela Administração;
• superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
• interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
• impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido em documento contemporâneo à sua ocorrência;
• omissão ou atraso de providências a cargo da Administração nos pagamentos previstos no ato convocatório que resulte em impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
• aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites previstos pela Lei;
- Tais limites encontram-se detalhados no item “Acréscimo ou Supressão” do tópico “Alterações do Contrato” mais adiante.
A prorrogação de prazo de vigência de contrato
ocorrerá se:
• constar sua previsão no contrato;
• houver interesse da Administração e da empresa contratada;
• for comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;
• for constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração;
• estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;
• estiver previamente autorizada pela autoridade competente.
As prorrogações dos contratos só podem ocorrer se não houver interrupção do prazo, ainda que esta tenha ocorrido por um dia apenas.
Torna-se, em princípio, indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.
Súmula 191: Justifique a conveniência de eventual
prorrogação do Contrato, demonstrando que o preço a ser praticado é o mais vantajoso para a administração.
6. ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
O contrato firmado entre as partes pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que haja interesse da Administração e para atender ao interesse público. Para que as modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato.
As alterações podem ser unilaterais, quando feitas só pela Administração, ou por acordo entre a Administração e o contratado.
Alteração unilateral
A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações:
Alteração qualitativa
Quando a Administração necessitar modificar o projeto ou as especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
Alteração quantitativa
Quando for necessária a modificação do valor do contrato em razão de acréscimo ou diminuição nos quantitativos do seu objeto (25% para mais ou para menos).
Alteração bilateral
A alteração por acordo das partes pode ocorrer nas seguintes situações:
Quando for conveniente substituir a garantia efetuada para a execução do contrato;
Quando for necessária a modificação: do regime de execução da obra ou serviços ou do fornecimento, pela constatação técnica de que os termos originais do contrato não se aplicam mais; da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias que surgirem após a assinatura do contrato, devendo ser mantido seu valor inicial atualizado;
Para restabelecer a relação inicialmente pactuada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato;
Acréscimo ou supressão
A Administração pode alterar o contrato quando necessários acréscimos ou supressões nas compras, obras ou serviços, desde que respeitados os seguintes limites:
Para compras, obras ou serviços:
94 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
o Acréscimos ou supressões de até 25% do valor atualizado do contrato;
Para reforma de edifício ou de equipamento:
o Acréscimos até o limite de 50% do valor atualizado do contrato.
Os prazos de execução do objeto contratado poderão ser aumentados ou diminuídos proporcionalmente aos acréscimos ou supressões que por acaso ocorrerem.
7. ANULAÇÃO DO CONTRATO
O contrato administrativo pode ser anulado pela Administração, ou pelo Judiciário, por razões de ilegalidade, imoralidade ou incompatibilidade com o edital da licitação. A anulação da própria licitação implica também em nulidade do contrato derivado dela.
Seu efeito é retroativo (ex tunc), resultando em desfazimento daquilo que foi produzido pelo contrato anulado. Porém, essa retroatividade não é absoluta, pois a Administração deve indenizar o contratado de boa-fé por tudo o que ele fez até a data da anulação e, ainda, por outros prejuízos comprovados. Deve ser responsabilizado, civil, penal e administrativamente, o agente público e o particular que tenham dado causa à anulação do contrato.
Anulação do contrato
Competência Administração Pública e Judiciário
Motivo Ilegalidade, imoralidade e desobediência ao edital.
Efeitos Ex tunc (retroativos)
Indenização Para o contratado de boa-fé.
8. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
Como visto, o contrato deve submeter-se à vontade do contratante quando ocorrerem as situações permissivas de alteração unilateral do contrato. Da mesma forma, eventos imprevisíveis ou mesmo previsíveis, mas de consequências imprevisíveis (caso fortuito e força maior), podem onerar excessivamente o contratado, rompendo o equilíbrio contratual.
Porém, deve ser mantida inalterada a equação financeira estabelecida inicialmente no contrato, ou seja, a taxa de lucro do contratado deve manter-se constante. Assim, a qualquer aumento no custo do contrato imposto pelo contratante ou por circunstâncias imprevisíveis deve corresponder o respectivo aumento do pagamento ao contratado.
Todo contrato administrativo tem, implícita, a cláusula rebus sic stantibus (“enquanto a situação for
mantida”), que determina a validade dos dispositivos financeiros do contrato enquanto a situação existente à época de sua celebração mantiver-se. Seu desdobramento é a teoria da imprevisão, que determina
a modificação desses dispositivos em caso de eventos imprevisíveis ou mesmo previsíveis ou de consequências imprevisíveis. O objetivo dessa mudança é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Reajustamento contratual de preços é o aumento
do valor pago ao contratado, em decorrência da desvalorização da moeda provocada pela inflação. O reajuste é evento normal relacionado ao contrato, não requerendo sua revisão. Repactuação é uma modalidade
específica de reajuste, utilizada apenas em contratos de
serviços contínuos, na qual não se trabalha com um índice geral de inflação, mas com a variação específica dos custos do contrato. Porém, a revisão contratual será requerida no caso de recomposição extraordinária de preços, ou seja, nas situações em que for aplicável a
teoria da imprevisão. Ao contrário do reajuste e da repactuação, previsíveis e com periodicidade mínima de um ano, a recomposição deriva de eventos imprevisíveis e não tem prazo mínimo para ser aplicada. A atualização financeira, por sua vez, tem semelhanças com o reajuste
e a repactuação, pois refere-se também à mera correção monetária do valor .
Porém, a atualização é devida somente nos casos em que a Administração atrasar o pagamento do contratado, sendo estipulada em 6% ao ano.
Alteração dos preços
Reajustamento Correção monetária de acordo com os índices oficiais – periodicidade mínima de um ano.
Repactuação Baseada na variação dos custos do contratado – periodicidade mínima de um ano.
Recomposição Motivada por eventos imprevisíveis – sem periodicidade mínima.
Atualização Correção monetária no caso de atraso do pagamento pela Administração.
9. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
Geralmente, o contrato é formalizado em termo próprio da repartição, exceto quando se trata de contrato relativo a direitos reais sobre imóveis, que são formalizados por meio de instrumento no cartório de notas (art. 60, caput). O contrato deve ser escrito, exceto no caso de pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas no valor de até 5% do limite previsto para os convites em geral.
Atualmente, esse percentual é calculado sobre R$80.000,00; assim, os contratos verbais podem ser de até R$4.000,00 (art. 60, parágrafo único). Todos os contratos administrativos devem mencionar (art. 61, caput): a) os nomes das partes e de seus representantes; b) a finalidade; c) o ato que autorizou sua lavratura; d) o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade; e) a sujeição dos contratantes às normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas contratuais. A publicação de um resumo do contrato é condição para sua eficácia e deve ser providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte à sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data (art. 61, parágrafo único).
A formalização do contrato pode ser feita por diversos meios, como instrumento de contrato, carta-contrato, nota de emprenho de despesa, autorização de compra e ordem de execução de serviço. O instrumento de contrato, que é o meio mais formal, deve ser utilizado, obrigatoriamente, nos casos de concorrência e de tomada de preços e também nos casos das dispensas e inexigibilidades compreendidas nos limites dessas duas modalidades de licitação (valores acima de R$150.000 para obras e serviços de engenharia e de R$80.000,00 para outros casos); e, facultativamente, nas demais situações (art. 62).
Todo edital, ou carta-convite, deve conter a minuta (esboço) do futuro contrato (art. 62, § 1°). De acordo com Hely Lopes Meirelles, “todo contrato administrativo tem
DIREITO ADMINISTRATIVO 95
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
cláusulas essenciais ou necessárias e cláusulas acessórias ou secundárias: aquelas fixam o objeto da avença e estabelecem as condições fundamentais para sua execução; estas complementam e esclarecem a vontade das partes, para facilidade de sua interpretação no desenvolver do ajuste e na conduta dos contratantes”.
O art. 55 enumera um rol exemplificativo de cláusulas essenciais ou necessárias de todos os contratos (art. 55) 25:
―I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei26;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.‖
Formalização
Regra: contrato
escrito.
Exceção: contrato verbal para
compras de pronta entrega no valor de até R$4.000,00.
Regra: contrato formalizado em termo próprio da repartição.
Exceção: contrato relativo a direitos reais sobre imóveis, que são formalizados no cartório.
Publicação do resumo do contrato
Condição de eficácia para terceiros. Deve ser providenciada até o quinto dias útil seguinte à sua assinatura.
Meios possíveis Instrumento de contrato, carta-contrato, nota de emprenho de despesa, autorização de compra e ordem de execução de serviço.
O primeiro é obrigatório sempre
que o valor for superior a R$150.000,00 (obras e serviços de engenharia) ou a R$80.000,00
(outros contratos).
Cláusulas Essenciais ou necessárias (art. 55), acessórias ou secundárias.
10. EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1 Introdução
A partir do momento da assinatura do contrato, já é possível sua execução. Executar é cumprir o contrato, de acordo com os termos de suas cláusulas, determinadas originariamente pelo comum acordo entre as partes. De acordo com o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, as determinações contratuais devem ser rigidamente obedecidas pelas partes, respondendo cada uma delas por sua inexecução total ou parcial (art. 66). Porém, o contrato pode ser modificado por novo acordo entre as partes ou mesmo unilateralmente pela Administração.
10.2 Direitos e obrigações das partes O principal direito da Administração é exercer suas prerrogativas decorrentes do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que estão dispostas nas cláusulas exorbitantes.
O principal direito do contratado é receber o preço, na forma e no prazo convencionado.
Também há o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração unilateral do contrato e de exigir da Administração o cumprimento de suas próprias obrigações.
As obrigações da Administração resumem-se ao pagamento do preço, no tempo e no modo ajustados e na entrega do local da obra ou do serviço ao contratado na época e nas condições que permitam a regular execução do contrato.
O particular tem a principal obrigação de prestação do objeto do contrato. Além disso, deve cumprir as seguintes obrigações, mesmo que não estejam no contrato:
a) observância das normas técnicas adequadas;
b) emprego do material apropriado;
c) sujeição aos acréscimos e supressões legais;
d) execução pessoal do objeto do contrato – a lei permite a subcontratação, mas, nos termos e limites definidos pela Administração no edital, que pode, inclusive, proibi-la. Se não houver menção à subcontratação, entende-se que foi, implicitamente, proibida;
e) atendimento aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do contrato;
f) manutenção no local da obra ou serviço de preposto em condições de tratar com a Administração e dela receber a orientação cabível.
Principais direitos
Do contratante Exercer as prerrogativas previstas nas cláusulas exorbitantes.
Do contratado Receber o preço convencionado; manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
96 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Principais obrigações
Do contratante Pagamento do preço e entrega do local da execução da obra ou serviço.
Do contratado Prestação do objeto do contrato.
10.3 Responsabilidade do contratado
O contratado é o exclusivo responsável pelos prejuízos causados à Administração ou a terceiros, desde que os tenha causado por dolo ou culpa. A existência de fiscalização pela contratante não o exime nem diminui suas responsabilidades. De acordo com o art. 71, o contratado também é o único responsável pelos “encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato”.
Portanto, a sua inadimplência não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
Existem, porém, duas situações nas quais a Administração é também responsável pelo débito:
a) encargos previdenciários decorrentes da
execução do contrato, nos termos art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 199127 – responsabilidade solidária. Essa possibilidade surgiu apenas com a Lei 9.032/95, o que impede sua utilização antes dessa data;
b) dívidas trabalhistas, nos termos da Súmula
331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho – responsabilidade subsidiária.
Responsabilidade pelas dívidas decorrentes da execução do contrato
Regra: responsabilidade exclusiva do contratado.
Exceções: dívidas previdenciárias (responsabilidade solidária com o contratante) e trabalhistas (responsabilidade subsidiária do contratante)
10.4 Recebimento do objeto do contrato
O contrato administrativo é finalizado com a entrega e o recebimento do objeto (art. 73 a 76), que
pode ser:
a)provisório: efetuado em caráter experimental,
durante período determinado, para verificação da qualidade do objeto entregue. É a oportunidade para rejeitar o objeto do contrato. Pode ser dispensado nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada, serviços profissionais e obras ou serviços de até R$80.000,00. Caso a Administração verifique a incompatibilidade do objeto oferecido com o contrato, deve rejeitá-lo;
b)definitivo: feito em caráter permanente. Trata-se
da regra, pois o recebimento provisório deve estar expressamente previsto na lei ou no contrato. Depois desse ato, a Administração somente pode responsabilizar o contratado por vícios ocultos no objeto, ou seja, não perceptíveis no momento da entrega definitiva.
O recebimento definitivo do objeto do contrato marca o início da contagem do prazo para o pagamento do contratado, que é de 30 dias (art. 40, XIV, a).
Todos os testes e ensaios exigidos para a comprovação da boa execução do contrato correm por conta do contratado, salvo disposição normativa, editalícia ou contratual em sentido contrário.
Recebimento do objeto do contrato
Provisório Período de testes do objeto entregue pelo contratado.
Definitivo Feito em caráter permanente. Ainda é
possível a responsabilização do contrato por vícios ocultos.
10.5 Prazo e prorrogação do contrato
Todo contrato administrativo deve ter um prazo determinado e extingue-se normalmente ao final desse prazo. A regra é de que os contratos têm sua duração limitada em 12 meses, ou seja, um exercício financeiro. Porém, a lei prevê as seguintes exceções, em que é possível a adoção de prazo mais dilatados:
a) contratos relativos a projetos incluídos no plano plurianual – o prazo será aquele
previsto na lei que aprovou o plano, atendendo o limite de quatro anos;
b) serviços de execução contínua – limite de 60
meses, podendo ser estendido por mais 12 meses;
c) aluguel e utilização de materiais de informática – limite de 48 meses.
As concessões de serviços públicos não estão vinculadas aos créditos orçamentários anuais, pois exigem prazos mais dilatados para que o contratado recupere seu investimento.
Requer-se apenas que o contrato seja firmado por tempo determinado.
Os prazos contratuais podem ser prorrogados nas seguintes situações:
a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração30;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na Lei;
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
Prazos dos contratos
Duração normal: período do crédito orçamentário
Primeira exceção: contratos incluídos no plano plurianual (até quatro anos).
DIREITO ADMINISTRATIVO 97
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
(até um ano)
Segunda exceção: serviços contínuos (até 60 meses, podendo ser prorrogados por mais 12 meses).
Terceira exceção: aluguel de materiais e serviços de informática (até 48 meses).
Quarta exceção: concessão de serviços públicos (prazos superiores a um ano).
10.6 Extinção do contrato
Extinção do contrato é o fim do vínculo obrigacional entre contratante e contratado. Pode ser decorrente de:
a) conclusão do objeto: nesse caso, o ato
administrativo que extingue o contrato é, como visto, o recebimento definitivo;
b) término do prazo: é a regra nos contratos por
tempo determinado. É possível a prorrogação antes do fim do prazo previsto no contrato;
c) anulação;
d) rescisão: forma excepcional de extinção do
contrato, pois implica cessação antecipada do vínculo. Pode ser unilateral, bilateral (amigável ou consensual) e judicial.
A rescisão amigável, que não precisa ser homologada pelo juiz, é possível nos seguintes casos, previstos no art. 78:
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei31;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
Formas de extinção do contrato
Conclusão do objeto
Últimos atos: recebimento definitivo e devolução da
garantia.
Término do prazo É possível sua prorrogação nas hipóteses previstas em lei.
Anulação A invalidação da licitação implica a do contrato.
Rescisão Unilateral, bilateral (amigável ou consensual) e judicial.
11. RESCISÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
É o desfazimento do contrato, durante sua execução, por inadimplência de uma das partes, pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento do ajuste ou pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito. Pode ser:
a) Administrativa
É a que resulta de ato unilateral da Administração Pública, em razão de interesse público, inadimplência do contratado ou ilegalidade. Há exigência de procedimento onde seja assegurada ampla defesa e justa causa para rescisão, sob pena de nulidade. O particular fará jus a ampla indenização, no caso de rescisão por motivo de interesse público.
O poder público não tem necessidade de ir a juízo já que a lei lhe confere o poder de rescindir unilateralmente o contrato. No caso de inadimplemento culposo, poderá a Administração aplicar as sanções administrativas cabíveis.
b) Amigável
Ocorre com entendimento dos contratantes para pôr fim ao contrato e acertar os respectivos direitos, bem como, para dispor sobre o destino dos bens utilizados na execução do contrato. É o chamado distrato.
c) Judicial
É a que resulta de decisão proferida em ação judicial proposta pela parte que entender ter direito à extinção do contrato. O fundamento do pedido é, essencialmente, o inadimplemento. Uma parte descumpre suas obrigações e dá ensejo à outra de pleitear judicialmente a rescisão e o ressarcimento correspondente.
d) De Pleno Direito
É a que se verifica independente da manifestação de vontade de qualquer das partes, diante da só ocorrência de fato extintivo do contrato previsto em lei, no regulamento ou no próprio texto do ajuste tais como o falecimento. A extinção do contrato dá-se em razão do advento de um fato, que tem relevância para o Direito, chamado fato jurídico. que põe fim ao contrato. Os efeitos desses fatos são ex nunc, isto é, desde agora para frente, não retroagindo. São fatos extintivos dos contratos:
a) o cumprimento do objeto (Ex.: construção de uma ponte);
b) cumprimento do prazo (Ex.: concessão de serviço público por 30 anos);
c) desaparecimento do contratante particular (Ex.: morte do contratante particular);
d) desaparecimento do objeto (Ex.: terremoto).
12. INEXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 Introdução
98 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Inexecução é o descumprimento total ou parcial das cláusulas contratuais. Pode ocorrer nas
seguintes modalidades:
a) inexecução ou inadimplemento culposo ou doloso: decorrente da intenção de não
executar (dolo) ou da imperícia, negligência ou imprudência (culpa) do contratado no atendimento de suas obrigações. Tem como consequência a responsabilização administrativa pelo descumprimento contratual, podendo ser o contratado sancionado com penas que vão da advertência à declaração de inidoneidade;
b) inexecução ou inadimplemento sem culpa:
decorre de fatos estranhos à vontade do contratado. Não implica a penalização do contratado.
12.2 Causas de inexecução sem culpa do contrato
A teoria da imprevisão (cláusula rebus sic stantibus) dispõe que a parte não pode ser responsabilizada por inadimplemento contratual derivado de acontecimentos e situações imprevistos e imprevisíveis. Com relação ao contrato administrativo, essa teoria é aplicada nos seguintes casos:
a) força maior: fato humano que constitui
obstáculo instransponível à execução do contrato;
b) caso fortuito: evento da natureza que também
impede a execução do contrato.
Nos dois casos, é preciso que o fato seja não só imprevisto, mas também imprevisível. Porém, o contratado é responsabilizado pelo inadimplemento se já estava em mora na data da ocorrência do evento;
c) fato do príncipe: determinação estatal genérica
que onera excessivamente os custos do contrato administrativo. Está previsto no art. 65, § 5°:
“Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso”.
d) fato da administração: qualquer conduta da
Administração que, na condição de contratante, afete diretamente o contrato. Ex.: a administração deixa de entregar, para o administrado, o local de realização da obra;
e) interferências imprevistas (agravações ou sujeições imprevistas): de acordo com Hely Lopes
Meirelles, “são ocorrências materiais não cogitadas pelas partes na celebração do contrato, mas que surgem na sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento e a execução dos trabalhos”
Inexecução sem culpa do contratado
Fato do príncipe Determinação estatal genérica que atinge indiretamente o contrato.
Fato da administração
Ação ou omissão da Administração Pública
na condição e contratante.
Força maior Evento humano imprevisível.
Caso fortuito Evento natural imprevisível.
Interferências imprevistas
Situações anteriores ao contrato, que não eram de conhecimento das partes.
12.3 Consequências da inexecução do contrato
A inexecução do contrato pelo contratado pode ter como consequência sua responsabilização civil e administrativa, além da revisão e da rescisão do contrato não cumprido. A responsabilidade civil impõe a obrigação de reparar um dano patrimonial, sendo a multa moratória a sanção mais comum. A responsabilidade administrativa é aquela que resulta da desobediência de norma (lei, decreto, etc.), do edital e do próprio contrato.
Pode ser concretizada por meio das sanções previstas no art. 87 da lei: advertência, multa, suspensão do direito de licitar e proibição de contratar e declaração de inidoneidade. Outras responsabilidades podem surgir, como as trabalhistas, tributárias e ético-profissionais.
13. ENCARGOS DA EXECUÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
NOTE BEM1!
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
NOTE BEM2!
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e comerciais decorrentes da Execução do contrato.
No caso de obrigações previdenciárias, a Administração Pública responde solidariamente com o contratado.
A inadimplência do contratado, com referência a esses encargos, não transfere a responsabilidade à Administração e nem onera o objeto do contrato.
DIREITO ADMINISTRATIVO 99
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Outros encargos poderão ser atribuídos ao contratado, mas deverão constar do Edital de Licitação.
DICAS DE CONCURSOS:
Quando a administração pública realiza licitação para execução de determinada obra, ela torna-se responsável, solidariamente com a contratada, pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. (Assit.Educ. SEPLAG-DF -CESPE/2009)
14. SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Lei nº 8.666/93
O Art. 87 relaciona as sanções administrativas:
- advertência;
- multa;
- suspensão temporária de contratar com a ADM; e
- declaração de inidoneidade para contratar coma ADM PUB.
Lei 10.520/02 e Decreto 5.450/05
Art. 7º e Art. 28
Quem convocado:
- não celebrar o contrato;
- Deixar de entregar documentação;
- Apresentar documentação falsa;
- Retardar execução;
- Não mantiver a proposta;
- Falhar ou fraudar na execução;
- comportar-se de modo inidôneo;
- cometer fraude fiscal
- Ficará IMPEDIDO DE LICITAR e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e
- Será DESCREDENCIADO do SICAF;
-SEM PREJUÍZO DAS MULTAS e cominações legais
- Por até 5 anos
Lei 10.520/02
- Art. 9º - Aplicam-sesubsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93;
Lei 8.666/93
- A aplicação de sanção administrativa deve ser precedida de notificação ao inadimplente; e
- organização de processo administrativo, nos termos da Lei nº 8.666/93, visando à ampla defesa e à oportunidade do contraditório.
Art. 81 – Lei 8.666/93
Quem
- Recusar a assinar o contrato;
- Recusar a aceitar ou retirar documento equivalente (NE);
- Descumpre totalmente a obrigação
MULTA
- Cobrada por qualquer inexecução parcial ou total;
- Pelo atraso injustificado será cobrada multa de mora (por dia de atraso);
- As multas não impedem a rescisão e a aplicação de outras sanções;
- A multa é abatida da fiança ou cobrada através de GRU
SUSPENSÃO EM LICITAR
- Imposta ao particular, proibindo sua participação em licitações;
- Pode durar até 5 anos, conforme decisão da Adm.
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
- Mais grave sanção-Imposta enquanto perdurarem os motivos
-Competência exclusiva do Ministro da Defesa (no caso do EB)
- Infrações e sanções devem estar expressas no edital e no contrato;
- Quem pune é o Ministro de Estado
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Conforme Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I Dos Princípios
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
NOTA: As disposições das Leis nºs 8.666, de 21 de
junho de 1993, 13.019, de 31 de julho de 2014, e 9.790, de 23 de março de 1999, não se aplicam
aos instrumentos de parceria e aos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público.(Art. 31 da Lei 13.800, de 4 de janeiro de 2019.
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
100 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5
o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei n
o 8.248, de 23 de outubro
de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991.
§ 2o Em igualdade de condições, como critério de
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)
II - produzidos no País; III - produzidos ou prestados por empresas
brasileiras.(Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de
2010)
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. (Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015)
§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Nos processos de licitação, poderá ser
estabelecida margem de preferência para: (Redação dada
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras; e (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação. (Incluído
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
§ 6o A margem de preferência de que trata o §
5o será estabelecida com base em estudos revistos
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei nº 12.349, de
2010) (Vide Decreto nº 7.713, de 2012) I - geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei
nº 12.349, de 2010)
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 5
o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 8o As margens de preferência por produto,
serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5
o e 7
o, serão definidas pelo Poder
Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 9o As disposições contidas nos §§ 5
o e 7
o deste
artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no País seja inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o
do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído pela Lei nº
12.349, de 2010)
§ 10. A margem de preferência a que se refere o § 5
o poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e
serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul. (Incluído pela Lei nº 12.349, de
2010)
§ 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de
2010)
§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei n
o
10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei nº
12.349, de 2010)
§ 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos §§ 5
o, 7
o, 10, 11 e 12 deste
artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Art. 4o Todos quantos participem de licitação
promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.
Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados
nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta
DIREITO ADMINISTRATIVO 101
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo terão
seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor.
§ 2o A correção de que trata o parágrafo anterior
cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Observados o disposto no caput, os
pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei nº 9.648, de
1998) Seção II
Das Definições Art. 6
o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;
V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei;
VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos;
VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios;
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada;
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;
XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente;
XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;
XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública;
XVI - Comissão - permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras
102 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos - bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído
pela Lei nº 12.349, de 2010)
XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
Seção III Das Obras e Serviços
Art. 7o As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução das obras e serviços. § 1
o A execução de cada etapa será
obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração.
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando: I - houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a
obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.
§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da
licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a
nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
§ 7o Não será ainda computado como valor da obra
ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.
§ 8o Qualquer cidadão poderá requerer à
Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, no
que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.
Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 9o Não poderá participar, direta ou
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto
ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação
ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do
disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos
membros da comissão de licitação. Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados
nas seguintes formas: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
I - execução direta; II - execução indireta, nos seguintes regimes:
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global; b) empreitada por preço unitário; c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) tarefa; e) empreitada integral. Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
DIREITO ADMINISTRATIVO 103
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos
fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento.
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
I - segurança; II - funcionalidade e adequação ao interesse público; III - economia na execução, conservação e
operação; IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra,
materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação;
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
VII - impacto ambiental. Seção IV
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se
serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; VII - restauração de obras de arte e bens de valor
histórico. VIII - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de
licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste artigo
aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. § 3
o A empresa de prestação de serviços técnicos
especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
Seção V Das Compras
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento)
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado. § 2
o Os preços registrados serão publicados
trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será
regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência; II - estipulação prévia do sistema de controle e
atualização dos preços registrados; III - validade do registro não superior a um ano. § 4
o A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral
de preços, quando possível, deverá ser informatizado. § 6
o Qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao
limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Seção VI Das Alienações
Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
104 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento; b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;
d) investidura; e) venda a outro órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de
2007)
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976,
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1
o do art. 6
o da Lei n
o 11.952, de 25 de junho de 2009,
para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; e (Redação dada pela Lei nº 13.465, 2017)
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei n
o 6.383, de 7 de dezembro de 1976,
mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 1o Os imóveis doados com base na alínea "b" do
inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.
§ 2o A Administração também poderá conceder título
de propriedade ou de direito real de uso de imóveis,
dispensada licitação, quando o uso destinar-se: (Redação
dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei
no 11.952, de 25 de junho de 2009; (Redação dada pela Lei nº
13.465, 2017)
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam
dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada pela Lei
nº 11.952, de 2009)
I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1
o de dezembro de 2004; (Incluído pela Lei nº 11.196, de
2005)
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas; (Incluído pela Lei n] 11.196, de 2005)
III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; e (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2
o deste artigo:
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades agropecuárias; (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)
II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; (Redação dada pela Lei nº 11.763, de 2008)
III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 2008)
§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta
lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta lei; (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
DIREITO ADMINISTRATIVO 105
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 6o Para a venda de bens móveis avaliados,
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea "b" desta Lei, a Administração poderá permitir o leilão. (Incluído pela Lei nº
8.883, de 1994) § 7
o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
Art. 18. Na concorrência para a venda de bens
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pública,
cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras:
I - avaliação dos bens alienáveis; II - comprovação da necessidade ou utilidade da
alienação; III - adoção do procedimento licitatório, sob a
modalidade de concorrência ou leilão. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994) Capítulo II
Da Licitação Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa Art. 20. As licitações serão efetuadas no local onde
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais.
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais
das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local
em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das
propostas ou da realização do evento será: I - quarenta e cinco dias para: (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; (Incluída pela Lei nº 8.883, de
1994)
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela Lei nº
8.883, de 1994)
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IV - cinco dias úteis para convite. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior
serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o Qualquer modificação no edital exige
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV - concurso; V - leilão. § 1
o Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6o Na hipótese do § 3
o deste artigo, existindo na
praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada
106 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 7o Quando, por limitações do mercado ou
manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3
o
deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.
§ 8o É vedada a criação de outras modalidades de
licitação ou a combinação das referidas neste artigo. § 9
o Na hipótese do parágrafo 2
o deste artigo, a
administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital. (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994) Art. 23. As modalidades de licitação a que se
referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia: (Redação
dada pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018 – em
vigar após 18.06.2018) a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais); b) na modalidade tomada de preços - até R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e c) na modalidade concorrência - acima de R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e II - para compras e serviços não incluídos no
inciso I: (Redação dada pelo Decreto nº 9.412, de 18 de
junho de 2018 – em vigar após 18.06.2018) a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento
e setenta e seis mil reais); b) na modalidade tomada de preços - até R$
1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
TEXTO ANTERIOR AO DECRETO:
I - para obras e serviços de engenharia:
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998)
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
II - para compras e serviços não referidos no
inciso anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de
1998)
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais); (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais). (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
amplicação da competitiivdade, sem perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o Na execução de obras e serviços e nas
compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o A concorrência é a modalidade de licitação
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o Nos casos em que couber convite, a
Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência.
§ 5o É vedada a utilização da modalidade "convite"
ou "tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6o As organizações industriais da Administração
Federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o
dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número. (Incluído pela Lei
nº 11.107, de 2005) Art. 24. É dispensável a licitação: > Vide Lei nº 12.188, de 2010 Vigência
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
1998)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei
nº 9.648, de 1998)
DIREITO ADMINISTRATIVO 107
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do incico II do art. 23 desta Lei: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto; (Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei
nº 8.883, de 1994)
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do
art. 23; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento
de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração
108 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído pela
Lei nº 11.484, de 2007).
XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído pela Lei nº
11.783, de 2008).
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. (Acrescentado pela Lei n 12.188/2010)
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3
o, 4
o, 5
o e 20 da Lei n
o 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela Lei nº 12.349, de
2010)
XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema
Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção
nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela
seca ou falta regular de água. (Incluído pela Lei nº 12.873,
de 2013)
XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. (Incluído pela Lei nº 13.500, de
2017)
§ 1o Os percentuais referidos nos incisos I e II
do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para
compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei nº 12.715, de
2012)
§ 2o O limite temporal de criação do órgão ou
entidade que integre a administração pública estabelecido
no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos
órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos
para o SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção
nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do art. 9o à hipótese prevista no inciso XXI
do caput. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
§ 1o Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4
o do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8
o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial,
DIREITO ADMINISTRATIVO 109
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço. IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998) Seção II
Da Habilitação Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á
dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica; II - qualificação técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada
pela Lei nº 12.440, de 2011) V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) Art. 28. A documentação relativa à habilitação
jurídica, conforme o caso, consistirá em: I - cédula de identidade; II - registro comercial, no caso de empresa
individual; III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Art. 29. A documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de
2011)
Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II
do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994) II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de
valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de
aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações
de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de
grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
110 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade
técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1
o deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) § 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 31. A documentação relativa à qualificação
econômico-financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1
o do art. 56 desta Lei, limitada a
1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à
demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o A Administração, nas compras para entrega
futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1
o do art. 56
desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio
líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da
empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 32. Os documentos necessários à habilitação
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31
desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.
§ 2o O certificado de registro cadastral a que se
refere o § 1o do art. 36 substitui os documentos
enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
1998)
§ 3o A documentação referida neste artigo poderá
ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei.
§ 4o As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanto quanto possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
§ 5o Não se exigirá, para a habilitação de que trata
este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.
§ 6o O disposto no § 4
o deste artigo, no § 1
o do art.
33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às licitações
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.
§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31
e este artigo poderá ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor previsto na alínea
“a” do inciso II do caput do art. 23. (Incluído pela Lei nº
13.243, de 2016)
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação
de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado,
DIREITO ADMINISTRATIVO 111
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e
estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.
§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover,
antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.
Seção III Dos Registros Cadastrais
Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e
entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento)
§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamente
divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.
§ 2o É facultado às unidades administrativas
utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou
atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta Lei.
Art. 36. Os inscritos serão classificados por
categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.
§ 1o Aos inscritos será fornecido certificado,
renovável sempre que atualizarem o registro. § 2
o A atuação do licitante no cumprimento de
obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado,
suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral.
Seção IV Do Procedimento e Julgamento
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado
com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações; XII - demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação,
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma
licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a cento e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de
ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; II - prazo e condições para assinatura do contrato ou
retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
III - sanções para o caso de inadimplemento; IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o
projeto básico; V - se há projeto executivo disponível na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
112 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o dispossto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XII - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo: a) prazo de pagamento não superior a trinta dias,
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso; XV - instruções e normas para os recursos previstos
nesta Lei; XVI - condições de recebimento do objeto da
licitação; XVII - outras indicações específicas ou peculiares da
licitação. § 1
o O original do edital deverá ser datado, rubricado
em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo
parte integrante: I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as
suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se
como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento
contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.
§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§5º A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistemaprisional, coma finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei
nº 13.500, de 2017)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o do art. 113.
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo
licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão do
seu direito de participar das fases subsequentes. Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional,
o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.
§ 1o Quando for permitido ao licitante estrangeiro
cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro.
§ 2o O pagamento feito ao licitante brasileiro
eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o As garantias de pagamento ao licitante
brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.
§ 4o Para fins de julgamento da licitação, as
propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda.
§ 5o Para a realização de obras, prestação de
serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
DIREITO ADMINISTRATIVO 113
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 6o As cotações de todos os licitantes serão para
entrega no mesmo local de destino. Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos: I - abertura dos envelopes contendo a
documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.
§ 1o A abertura dos envelopes contendo a
documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
§ 2o Todos os documentos e propostas serão
rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão. § 3
o É facultada à Comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência
e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos
concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe
desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos definidos no
edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento,
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
§ 2o Não se considerará qualquer oferta de
vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se
também às propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou importações de qualquer natureza.(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo,
devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de
licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;
II - a de melhor técnica; III - a de técnica e preço. IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de
alienção de bens ou concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o No caso de empate entre duas ou mais
propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3
o
desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
§ 3o No caso da licitação do tipo "menor preço",
entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o Para contratação de bens e serviços de
informática, a administração observará o disposto no art.
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2o e
adotando obrigatoriamento o tipo de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o É vedada a utilização de outros tipos de
licitação não previstos neste artigo. § 6
o Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão
selecionadas tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
114 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou
"técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4
o do artigo anterior. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o Nas licitações do tipo "melhor técnica" será
adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar:
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;
II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;
III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;
IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica.
§ 2o Nas licitações do tipo "técnica e preço" será
adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório:
I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;
II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório.
§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação
previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório.
§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e
serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.
Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº
9.648, de 1998)
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação
do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
§ 1o A anulação do procedimento licitatório por
motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à
do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 3o No caso de desfazimento do processo
licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos
aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
DIREITO ADMINISTRATIVO 115
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 50. A Administração não poderá celebrar o
contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em
registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
§ 1o No caso de convite, a Comissão de licitação,
excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente.
§ 2o A Comissão para julgamento dos pedidos de
inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos.
§ 3o Os membros das Comissões de licitação
responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
§ 4o A investidura dos membros das Comissões
permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.
§ 5o No caso de concurso, o julgamento será feito
por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não.
Art. 52. O concurso a que se refere o § 4o do art. 22
desta Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital.
§ 1o O regulamento deverá indicar:
I - a qualificação exigida dos participantes; II - as diretrizes e a forma de apresentação do
trabalho; III - as condições de realização do concurso e os
prêmios a serem concedidos. § 2
o Em se tratando de projeto, o vencedor deverá
autorizar a Administração a executá-lo quando julgar conveniente.
Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial
ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.
§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente
avaliado pela Administração para fixação do preço mínimo de arrematação.
§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou no
percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido.
§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da
parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente
divulgado, principalmente no município em que se realizará. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Capítulo III DOS CONTRATOS
Seção I Disposições Preliminares
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata
esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam: I - o objeto e seus elementos característicos; II - o regime de execução ou a forma de
fornecimento; III - o preço e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão; IX - o reconhecimento dos direitos da Administração,
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administração
Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6
o do art. 32 desta Lei.
§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de março
de 1964. Art. 56. A critério da autoridade competente, em
cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
116 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação
dada pela Lei nº 11.079, de 2004) II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994) III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8.6.94)
§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo
não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3
o deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande
vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o A garantia prestada pelo contratado será
liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
§ 5o Nos casos de contratos que importem na
entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 1998) III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado. § 4
o Em caráter excepcional, devidamente
justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998) Art. 58. O regime jurídico dos contratos
administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;
III - fiscalizar-lhes a execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total
ou parcial do ajuste; V - nos casos de serviços essenciais, ocupar
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.
§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e
monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as
cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato
administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
Seção II Da Formalização dos Contratos
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão
lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes
das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.
DIREITO ADMINISTRATIVO 117
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994) Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos
casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
§ 1o A minuta do futuro contrato integrará sempre o
edital ou ato convocatório da licitação. § 2
o Em "carta contrato", "nota de empenho de
despesa", "autorização de compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61
desta Lei e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;
II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.
§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada
a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
Art. 63. É permitido a qualquer licitante o
conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
Art. 64. A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.
§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
§ 2o É facultado à Administração, quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.
§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da
entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
Seção III Da Alteração dos Contratos
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão
ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes: a) quando conveniente a substituição da garantia de
execução; b) quando necessária a modificação do regime de
execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá
exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 3o Se no contrato não houverem sido
contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1
o deste artigo.
§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou
serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato
que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
118 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 7o (VETADO)
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face
ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
Seção IV Da Execução dos Contratos
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 66-A. As empresas enquadradas no inciso V
do § 2o e no inciso II do § 5
o do art. 3o desta Lei deverão
cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos
serviços e nos ambientes de trabalho. (Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015) (Vigência)
Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1o O representante da Administração anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
§ 2o As decisões e providências que ultrapassarem
a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Art. 68. O contratado deverá manter preposto,
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde
solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será
recebido: I - em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos de
grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I
deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a
verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento
provisório nos seguintes casos: I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; II - serviços profissionais; III - obras e serviços de valor até o previsto no art.
23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.
Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em
parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
Seção V Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
DIREITO ADMINISTRATIVO 119
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do
contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o do art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1
o do
art. 65 desta Lei; XIV - a suspensão de sua execução, por ordem
escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação; IV - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato
até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização. § 3º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) § 4º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou
sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo
anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
§ 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I
e II deste artigo fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
§ 2o É permitido à Administração, no caso de
concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato
deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo
anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo.
Capítulo IV DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA
JUDICIAL Seção I
Disposições Gerais Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
120 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2
o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem
atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que
simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins
desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.
§ 1o Equipara-se a servidor público, para os fins
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.
§ 2o A pena imposta será acrescida da terça parte,
quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.
Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei
pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto.
Seção II Das Sanções Administrativas
Art. 86. O atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que
a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
§ 2o A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo
é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do
artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Seção III Dos Crimes e das Penas
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer
modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida
DIREITO ADMINISTRATIVO 121
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais.
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização
de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa. Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio
de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.
Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública,
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços; II - vendendo, como verdadeira ou perfeita,
mercadoria falsificada ou deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra; IV - alterando substância, qualidade ou quantidade
da mercadoria fornecida; V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais
onerosa a proposta ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com
empresa ou profissional declarado inidôneo: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que,
declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.
Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a
inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98
desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
§ 1o Os índices a que se refere este artigo não
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
§ 2o O produto da arrecadação da multa reverterá,
conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. Seção IV Do Processo e do Procedimento Judicial
Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei são de ação
penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.
Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os
efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência.
Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas.
Art. 102. Quando em autos ou documentos de que
conhecerem, os magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
Art. 103. Será admitida ação penal privada
subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal.
Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá
este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda produzir.
Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da
defesa e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para alegações finais.
Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os
autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 10 (dez) dias para proferir a sentença.
Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível
no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 108. No processamento e julgamento das
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal.
Capítulo V DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da
aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação ou inabilitação do licitante; b) julgamento das propostas; c) anulação ou revogação da licitação; d) indeferimento do pedido de inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento; e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do
art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4
o do art. 87 desta Lei,
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. § 1
o A intimação dos atos referidos no inciso I,
alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
122 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na
modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3
o deste artigo serão de
dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
Art. 111. A Administração só poderá contratar,
pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.
Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.
Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a
mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.
§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar
licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela Lei nº
11.107, de 2005)
§ 2o É facultado à entidade interessada o
acompanhamento da licitação e da execução do contrato. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos
contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.
§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física
ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.
§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes
do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes
forem determinadas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994) Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede
a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados.
§ 1o A adoção do procedimento de pré-qualificação
será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior.
§ 2o Na pré-qualificação serão observadas as
exigências desta Lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à analise da documentação.
Art. 115. Os órgãos da Administração poderão
expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial.
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no
que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III - etapas ou fases de execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - cronograma de desembolso; VI - previsão de início e fim da execução do objeto,
bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em
estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
DIREITO ADMINISTRATIVO 123
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não
utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma do
parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
Art. 117. As obras, serviços, compras e alienações
realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três esferas administrativas.
Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.
Art. 119. As sociedades de economia mista,
empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei.
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.
Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão
ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado, no período. (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União os novos valores oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no "caput" deste artigo, desprezando-se as frações inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real). (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994) Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às
licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no art. 57, nos parágrafos 1
o, 2
o e 8
o do art. 65, no inciso XV
do art. 78, bem assim o disposto no "caput" do art. 5o,
com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias contados da vigência desta Lei, separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei n
o 8.666, de
21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de
1946, com suas alterações, e os relativos a operações de
crédito interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se esta Lei, no que couber.
Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas,
observar-se-á procedimento licitatório específico, a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.
Art. 123. Em suas licitações e contratações
administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica.
Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos
para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2
o do art. 7
o serão dispensadas nas licitações
para concessão de serviços com execução prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da Administração Pública concedente. (Incluído pela Lei nº
8.883, de 1994) Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. (Renumerado por força do disposto no art. 3º da
Lei nº 8.883, de 1994) Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21 de novembro
de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 2.360, de 16 de
setembro de 1987, a Lei no 8.220, de 4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de
1966.(Renumerado por força do disposto no art. 3º da Lei nº
8.883, de 1994) Brasília, 21 de junho de 1993, 172
o da Independência e
105o da República.
ITAMAR FRANCO
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
SERVIÇOS PÚBLICOS: CONCEITO E PRINCÍPIOS INTRODUÇÃO
A nossa Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu art. 175, atribui expressamente ao Poder Público A TITULARIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, senão vejamos:
Art. 175 da CF/88: Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Estabelece que esta prestação de serviços públicos pode ser feita DIRETAMENTE ou MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, neste último caso por meio de CONCESSÃO ou PERMISSÃO, sendo obrigatória
124 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
LICITAÇÃO PRÉVIA para qualquer destas formas de
delegação.
VEJA BEM!
Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou carta-convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.
A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.
A Lei nº 8.666 de 1993, ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por outro lado, ressalte-se que o art. 175 da CF/88 foi regulamentado pela Lei n° 8.987/95 e demais alterações posteriores, que estabelece NORMAS GERAIS sobre o regime de concessão e permissão de
serviços públicos.
Por sua vez, ressalte-se que o Poder Público possui a obrigação de fornecer serviços eficientes, seguros e contínuos inclusive podendo ser responsabilizado por qualquer dano que venha a causar.
1. CONCEITO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
Inicialmente, devemos ressaltar que a Constituição Federal de 1988 não conceitua serviço público. Muito
menos o fazem as leis de nosso país, o que, naturalmente, nos leva a buscar no universo doutrinário uma conceituação para este assunto.
Segundo o já saudoso Hely Lopes Meirelles, “serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado”.
NOTE BEM1!
A criação de agências reguladoras é resultado direto do processo de retirada do Estado da economia. As agências foram criadas com o objetivo de normatizar os setores dos serviços públicos delegados e de buscar equilíbrio e harmonia entre Estado, usuários e delegatários. Na Alemanha, esse novo conceito é chamado de economia social de mercado, pois, se há uma regulação, não é o liberalismo puro. Também não é correto afirmar que esse modelo se aproxima dos conceitos socialistas, pois há concorrência entre a iniciativa privada na prestação de serviços. A idéia é a de um capitalismo regulado, que visa evitar crises, um modo de interferência do Estado na economia. (Márcio Chalegre Coimbra. Agências reguladoras. Internet: < jus2.uol.com.br/doutrina> (com adaptações).
NOTE BEM2!
É o estado, por meio de lei, que escolhe quais atividades que, em determinado momento, são consideradas serviços públicos. além das
leis ordinárias, a própria cf/88 faz essa indicação
nos arts. 21, X, XI, XII, XV E XXIII E 25, § 2º.
Art. 21 da CF/88.
Compete à União:
(...)
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
(...)
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
(...)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
(...)
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
(...)
§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
DIREITO ADMINISTRATIVO 125
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
2. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS:
2.1 QUANTO À ESSENCIALIDADE:
1) SERVIÇOS PÚBLICOS PROPRIAMENTE DITOS (ESSENCIAIS): a Administração presta DIRETAMENTE a coletividade, por reconhecer sua
importância à sobrevivência da sociedade e do próprio Estado. Não existe, neste caso, a delegação a terceiros, até porque, estes serviços exigem os chamados atos de império para a sua concretização. Neste caso o serviço visa atender as necessidades gerais e essenciais dos indivíduos na coletividade. Hely chama este serviço de pró-comunidade (Hely, pág. 318).
Ex: Segurança pública, defesa nacional, preservação da
saúde pública, serviços judiciário, etc.
2) SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (NÃO ESSENCIAIS): neste caso a Administração, embora não reconhecendo a sua essencialidade e necessidade para o grupo social, mas, a conveniência, presta – o DIRETAMENTE OU PERMITE QUE SEJA PRESTADO POR TERCEIRO
(concessionários, permissionários ou autorizatários), nas condições regulamentadas e sob o seu controle, mas por sua própria conta e risco, mediante remuneração do usuário. Neste caso o serviço visa facilitar a vida do indivíduo na coletividade. Hely chama este serviço de pró-cidadão (Hely, pág. 318).
Ex: Serviços de transporte coletivo, energia elétrica,
fornecimento de gás, telefone etc.
2.2 QUANTO À ADEQUAÇÃO:
1) SERVIÇOS PRÓPRIOS DO ESTADO: “São aqueles
que são diretamente relacionados com as atribuições do Poder Público (segurança, saúde pública, polícia). A Administração se vale de sua supremacia sobre os administrados. Tendo em vista este aspecto, só devem ser prestados por órgãos ou entidades públicas, sendo vedada à delegação a particulares.”
DICA DE CONCURSO: Os serviços públicos
próprios são aqueles prestados diretamente pela administração pública, sem a possibilidade de delegação. (CESPE/2013)
2) SERVIÇOS IMPRÓPRIOS DO ESTADO: “São
aqueles que não afetam substancialmente as necessidades dos administrados, satisfazendo, apenas, a interesses comuns entre seus membros. A Administração Pública poderá prestar estes serviços através de suas entidades descentralizadas (autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades economia mista) ou através de delegação a particulares (concessionários, permissionários ou autorizatários), neste caso, sempre sob o controle do Estado.”
2.3 QUANTO AOS DESTINATÁRIOS:
1) SERVIÇOS UTI UNIVERSI (OU GERAIS): “São
aqueles que a Administração Pública presta sem ter usuários determinados, atendendo ao interesse da coletividade como um todo. São mantidos por imposto e não por taxa ou tarifa (ou preço público) que é remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do serviço prestado ao usuário.”
EX: Polícia, pavimentação, iluminação pública,
saneamento básico etc.
2) SERVIÇOS UTI SINGULI (OU INDIVIDUAIS): “São
aqueles que a Administração Pública presta a usuários determinados. São mantidos por taxa ou tarifa (ou preço público) que é remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do serviço prestado ao usuário.”
Ex: Telefone, água, energia elétrica etc.
NOTE BEM!
No caso da telefonia e da energia elétrica, a suspensão da prestação do serviço, tendo em vista o não pagamento por parte do usuário, é legal, mas exige prévio aviso antes do corte. Já no que diz respeito ao abastecimento de água, o STF (RE 96.055-4-PR) decidiu que este tipo de fornecimento, por ser indispensável à coletividade, não pode estar sujeito a cortes por falta de pagamento.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
STJ assim se pronunciou:
"Seu fornecimento é serviço público subordinado ao princípio da continuidade, sendo impossível a sua interrupção e muito menos por atraso em seu pagamento "(Decisão unânime do stj, que rejeitou o recurso da Companhia Catarinense de Água e Saneamento- CASAN. Proc. RESP. 201112).
Esta decisão do STJ fundamentou-se em que:
"O fornecimento de água, por se tratar de serviço público fundamental, essencial e vital ao ser humano, não pode ser suspenso pelo atraso no pagamento das respectivas tarifas, já que o poder público dispõe dos meios cabíveis para a cobrança dos débitos dos usuários".
3. REQUISITOS DO SERVIÇO PÚBLICO OU DE UTILIDADE PÚBLICA15
No que diz respeito à Lei n° 8.987/95 e demais alterações posteriores (lei que estabelece normas gerais
sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos), verificamos em seu art. 6º, a definição de SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, referido no art. 175, inciso IV da CF/88.
4. PRINCÍPIOS APLICADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Segundo a retromencionada lei, seria adequado o
serviço público que atendesse aos usuários, observando os seguintes princípios:
4.1 Continuidade (permanência) – O serviço público não poderá sofrer solução de continuidade (paralisação).
Nos contratos administrativos, esse princípio traz duas consequências: 1) a aplicação da teoria da imprevisão, para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e permitir a continuidade do serviço. 2) a inaplicabilidade da exceptio non adimplenti contractus contra a Administração;
NOTE BEM!
Ressalte-se que a retromencionada Lei não considera existir descontinuidade quando há interrupção do serviço em situação de emergência ou, após prévio aviso, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e
15
Conforme o que estabelece à Lei 8.987/95 e demais
alterações posteriores.
126 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
Por sua vez, no que se refere a GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ressalte-se que a Lei n°
7.783/89, define como essenciais, entre outros, os serviços de água, energia elétrica, gás e combustíveis, tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, etc. Nestes serviços os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação desses serviços, desde que a greve coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, consoante o que estabelece o parágrafo único do art. 11 da retromencionada Lei).
DICA DE CONCURSO:
Segundo o entendimento jurisprudencial dominante no STJ relativo ao princípio da continuidade dos serviços públicos, não é legítimo, ainda que cumpridos os requisitos legais, o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais, em caso de estar inadimplente pessoa jurídica de direito público prestadora de serviços indispensáveis à população. (DPE/PE –
CESP/2015)
4.2 Eficiência - Exige a atualização do serviço visando
oferecer a comunidade o melhor serviço possível; O princípio da eficiência é um dos princípios explícitos especificados no “caput” do art. 37 da CF/88.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
4.3 Segurança - O serviço deve ser seguro, não pode
causar lesões à população;
4.4 Atualidade – Diz respeito à modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço;
4.5 Generalidade - Deve ser assegurado o atendimento sem discriminação a todos os que se situem na
área abrangida pelo serviço. Além disso, deve ser assegurado atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional inclusive as rurais;
4.6 Cortesia na prestação - Traduz-se em um bom
tratamento para com o público.
4.7 Modicidade das tarifas - A remuneração pelo
serviço público deve ser modesta (razoável), sendo defeso (proibido) à obtenção de lucros extraordinários ou a prática de margens exorbitantes pelas delegatárias.
4.8 OUTROS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO SERVIÇO PÚBLICO:
- Supremacia do interesse público: o norte
obrigatório de quaisquer decisões atinentes ao serviço público será a conveniência da coletividade;
- Transparência: deve-se dar o mais amplo
conhecimento ao publico de tudo que concerne ao serviço e à sua aplicação;
LEMBRE-SE1!
Faltando qualquer desses requisitos aplicados a um serviço público adequado, é
obrigação de o Estado intervir para restabelecer o seu regular funcionamento já
que a regulamentação e o controle do serviço público e de utilidade pública caberão sempre ao Poder Público. Qualquer deficiência do serviço que revele incapacidade de quem os presta ou descumprimento de obrigações impostas pela Administração Pública, ensejará a intervenção imediata do poder delegante para regularizar o seu funcionamento, ou retirar-lhe a prestação.
LEMBRE-SE2!
Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas públicas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
5. COMPETÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Registre-se, por oportuno, que as três esferas de nossa Federação são competentes para a prestação de serviços públicos, sendo essas competências especificadas pela Constituição Federal de 1988 da seguinte forma:
5.1UNIÃO:
As competências atribuídas à UNIÃO são
taxativas, encontrando-se nos ditames do art. 21 e 22. EX: Alguns serviços públicos de competência
exclusiva da União são: serviço postal, de telecomunicações, de energia elétrica, de navegação aérea, de transporte interestadual e internacional, emissão de moeda, instalação e produção de energia nuclear, etc.
NOTE BEM!
Competências comuns da União, Estados e Municípios:
1) Serviços de saúde pública (SUS);
2) Promoção de programas de construção de moradias;
3) Proteção do meio ambiente.
5.2 ESTADOS – MEMBROS:
As competências dos ESTADOS - MEMBROS são ditas remanescentes (para realização de todos os
serviços não atribuídos à União e nem de interesse local dos municípios), segundo o que especifica o art. 25, § 1º da CF/88. Ex: No que diz respeito aos chamados
estados-membros (e ao DF), somente se encontra discriminada a competência para exploração dos serviços locais de gás canalizado, afastando do município a competência para a distribuição local ( art. 25, § 2°).
5.3 MUNICÍPIOS:
Já os MUNICÍPIOS possuem as competências
relacionadas a seus interesses locais (art. 30).
NOTE BEM!
O que caracteriza o interesse local é a preponderância desse interesse para a esfera municipal em relação ao eventual interesse estadual ou federal sobre o mesmo assunto. Ex: No que diz respeito aos
chamados municípios (ao DF) temos os serviços de coleta de lixo, de transporte coletivo, promoção da proteção do patrimônio histórico – cultural, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, etc.
DIREITO ADMINISTRATIVO 127
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
5.4 DISTRITO FEDERAL – DF:
Ao DF cabe a prestação dos serviços públicos da competência dos estados e, cumulativamente, dos municípios.
REGIMES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
A Administração Pública pode prestar os serviços públicos de uma forma direta (prestados centralizadamente através de seus próprios órgãos em seu nome e sob sua responsabilidade) ou indireta (prestada descentralizadamente). Esta última, mais importante ao nosso estudo, será sempre feita, mediante outorga ou delegação, por uma pessoa diferente
daquela que representa a Entidade Política do Estado, competente para a prestação (União, DF, Estado – Membro ou Município).
NOTE BEM1!
Quando a descentralização ocorre mediante OUTORGA DO SERVIÇO PÚBLICO, há criação por
lei, ou autorização legal para instituição, de uma entidade com personalidade jurídica própria, à qual é atribuída à titularidade da prestação daquele serviço. Esta entidade pode ser uma AUTARQUIA, uma FUNDAÇÃO PÚBLICA, uma EMPRESA PÚBLICA ou uma SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
NOTE BEM2!
A segunda forma de prestação descentralizada é DELEGAÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO a particular, a qual, pode se dar por CONCESSÃO, PERMISSÃO ou AUTORIZAÇÃO
para prestação do serviço público. A prestação de serviços públicos sob regime de delegação deve ser classificada como prestação indireta, uma vez que a titularidade do serviço permanece com o Poder Público delegante, diferentemente do que ocorre nos casos de outorga, acima mencionado.
6. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO 6.1 Serviços Delegáveis
São aqueles que é possível a execução do serviço pelo próprio Estado ou por terceiros, mediante delegação a particulares, por meio de concessões, permissões ou autorizações de serviços públicos.
Ex: fornecimento de energia elétrica, gás e telefonia,
transporte coletivo.
DICA DE CONCURSO: Classificam-se como
indelegáveis aqueles serviços que só podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública. (TCE/RN – CESPE/2015)
6.2 Serviços Indelegáveis
Não pode ser prestado por pessoas de direito privado, nem mesmo por aquelas integrantes da Administração indireta, porquanto pressupõem exercício de poder de império.
Ex: defesa nacional, segurança pública interna; fiscalização de atividades profissionais; judiciário.
A doutrina vem adotando definição mais restrita de serviço público, a qual exclui as atividades relacionadas ao exercício do poder de polícia.
7. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
7.1 RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO BRASILEIRO
A Constituição de 1988, no art. 37, § 6o, determina
que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Entende-se, então, que está consagrada a TEORIA
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, SOB A MODALIDADE DO RISCO ADMINISTRATIVO, partindo-se da idéia de que, se a Constituição só exige dolo ou culpa para o direito de regresso contra o funcionário, é porque não quis fazer a mesma exigência para as pessoas jurídicas.
No dispositivo constitucional estão compreendidas duas regras:
a) Responsabilidade Objetiva do Estado com base no Risco Administrativo
b) Responsabilidade Subjetiva (com culpa) do Agente
No que se refere à responsabilidade objetiva das empresas privadas prestadoras de serviços públicos
ressalte-se que haverá a chamada RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO (titular do serviço delegado a particulares por
meio de concessão, permissão ou autorização), em caso de esgotamento do patrimônio das empresas prestadoras de serviços públicos. O Poder Público responderá pelo valor remanescente até a completa satisfação do direito da vítima da ação ou omissão.
NOTE BEM!
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE:
É certo que não se pode admitir que sempre, sob qualquer condição, dever haver indenização por parte do Estado. Assim, o dever de recompor o prejuízo só cabe em razão do comportamento danoso de seus agentes e, ainda assim, quando a vítima não concorreu para o dano. Desse modo, em duas hipóteses o Estado não tem obrigação de indenizar, sendo apontadas como causas excludentes da responsabilidade a força maior e a culpa da vítima.
a) Força maior
É o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como por exemplo, uma tempestade, um terremoto, um maremoto, raio. Não podendo estes fatos serem imputados à Administração Pública, não pode incidir a responsabilidade do Estado; Observe-se que, em determinados eventos, mesmo acontecendo motivo de força maior, a responsabilidade do Estado poderá estar presente se, aliada à força maior, ocorrer omissão do Poder Público na realização de um serviço. Exemplo: chuvas que provocam enchentes na cidade, inundando casas, o Estado responderá se ficar demonstrado que a realização de serviços de limpeza dos rios, desobstrução de bueiros e galerias teria sido suficiente para evitar a enchente.
b) Culpa da vítima
Há casos em que a vítima concorre parcial ou totalmente, para o evento danoso, influindo diretamente na determinação da extensão da responsabilidade de indenizar da Administração Pública. Logo, provado que a vítima participou, de algum modo para o evento danoso, exime-se o Estado da obrigação de indenizar, na mesma proporção. Assim, quando houver culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde; sendo a culpa concorrente
128 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
(da vítima e da Administração), o Estado responde de forma parcial, proporcionalmente à sua atuação.
Por fim ressalte-se a existência da chamada AÇÃO REGRESSIVA!
É a ação de que dispõem as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público para cobrarem de seus agentes que tiverem atuado com culpa ou dolo, a indenização paga a terceiro.
A Constituição Federal de 1988, na parte final do § 6
o do art. 37, assegura expressamente o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, devendo tal medida ser interposta após o trânsito em julgado da sentença que condenou a Administração Pública a satisfazer o prejuízo.
É imprescindível para admitir ação regressiva, a conduta lesiva, dolosa ou culposa, do agente causador do dano. Desse modo, se o servidor não agiu com dolo ou culpa, não há que se falar na possibilidade de ação regressiva. Aqui tem lugar a responsabilidade subjetiva.
Portanto, para que a Ação Regressiva tenha êxito
são necessários dois requisitos:
a) que a Administração já tenha sido condenada definitivamente a indenizar a vítima do dano sofrido;
b) que o agente responsável pelo dano tenha agido com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva)
8. DA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: CONCESSÃO, PERMISSÂO E AUTORIZAÇÃO
Segundo a doutrina administrativista, a concessão de serviços públicos é certamente a mais importante forma de delegação de sua prestação e encontra-se alicerçada nos ditames da Lei nº 8.987/95, com as alterações posteriores.
Este documento diz respeito a nossa lei de normas gerais sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, obrigando, portanto, o Estado. Nada impede que os entes federados menores editem suas leis sobre concessões e permissões, as quais somente não poderão desrespeitar os preceitos que constituam normas gerais, estabelecidos na Lei n° 8.987/95.
A Lei n° 8.987/95 disciplina as regras específicas
pertinentes às licitações pertinentes a cada delegação, aplicando-se, supletivamente, todas as regras da Lei n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. Ou seja, não existindo disposição específica aplicam-se às disposições relativas às licitações e contratos em geral, estabelecidas na Lei 8.666/93, inclusive, com a observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.
Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito aos critérios de julgamento das licitações aqui referidas. O art. 15. estabelece, entre outros os seguintes critérios de julgamento:
a) menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado.
b) melhor proposta técnica, com preço fixado no edital.
c) maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão.
d) melhor proposta, em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica.
NOTE BEM! Em igualdade de condições, será
dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira.
8.1 CONCESSÃO.
8.1.1 Conceito: é o contrato administrativo (precedido de
licitação) pelo qual a Administração Pública confere ao particular a execução remunerada de serviço (por tarifa), mediante delegação do Poder Executivo. O poder público apenas delega a execução do serviço, sempre sujeita a regulamentação e fiscalização do concedente.
EX: exploração de linhas aéreas, emissoras de rádio e
televisão, fornecimento de energia elétrica, serviços de telefonia, etc.
DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;
IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;
XII - às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:
I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão; e
II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.
8.1.2 CONCESSÃO DE SERVIÇO: é a delegação de sua
prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, à
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
DIREITO ADMINISTRATIVO 129
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
NOTE BEM!
Não se admite concessão a pessoas físicas.
a) CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA: é a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
Ex: Construção de uma ponte, viaduto, uma estrada ETC.
b) CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: é o
contrato administrativo pelo qual a Administração Pública faculta a terceiros a utilização privativa de bem público, para que o utiliza conforme a sua destinação.
Ex: Lanchonete em órgão público, ETC.
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE
Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade; e
XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.
NOTE BEM!
Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.
DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA
Art. 31. Incumbe à concessionária:
I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;
VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;
VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e
VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.
8.1.3 DA INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO
Estabelece o art. 32 da Lei a hipótese de o Poder concedente intervir no serviço quando este esteja sendo inadequadamente prestado. A intervenção é sempre provisória e o prazo de sua duração deverá estar expressamente assinalado no ato que a decrete (a lei não estabelece duração máxima à intervenção). Este ato é um decreto do poder concedente e, além do prazo,
deverá determinar os objetivos e limites da intervenção bem como designar o interventor.
Após a decretação da intervenção, o Poder concedente tem prazo de 30 dias (trinta) dias para
instaurar procedimento administrativo visando a comprovar a existência dos motivos que levaram à intervenção e apurar as responsabilidades. O procedimento de comprovação tem prazo de 180 (cento e oitenta) dias para estar concluído, ou a intervenção será considerada inválida.
NOTE BEM!
A intervenção não resulta obrigatoriamente na extinção da concessão. Se não for o caso de extinção, cessada a intervenção a administração do serviço será
devolvida á concessionária.
8.1.4 EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
A lei enumera , no art. 35, as seguintes modalidades de extinção da concessão:
130 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
a) ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL: corresponde ao TÉRMINO REGULAR DO CONTRATO por haver sido atingido o prazo de sua duração (não há concessões por prazo indeterminado – art. 23, I).
NOTE BEM!
Com o advento do termo contratual, retornam à Administração Pública os bens de sua propriedade e os bens vinculados ao serviço que se encontravam em posse do concessionário. Tais bens, ditos bens reversíveis, pois, extinta a concessão, revertem
ao Poder Concedente, devem estar especificados no contrato de concessão, sendo esta uma das cláusulas essenciais do contrato (art. 23, X).
De qualquer forma, os investimentos que o concessionário houver realizado nos bens reversíveis e ainda não tenham sido inteiramente depreciados ou amortizados, serão a ele indenizados pelas parcelas restantes, uma vez que o concessionário deve investir até o fim do contrato com vistas a assegurar a continuidade e a atualidade do serviço concedido.
Pretende-se evitar que a prestação do serviço se deteriore nos últimos anos do contrato, pois este evitaria investir em algo que soubesse que não lhe seria indenizado quando da reversão dos bens vinculados ao serviço.
8.1.5 ENCAMPAÇÃO OU RESGATE: esta causa de
extinção da concessão verifica-se na hipótese de INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE à
concessão tornar mais conveniente à prestação do serviço pelo próprio Poder Público, diretamente.
NOTE BEM!
Atualmente compete ao Poder Legislativo determinar a existência de interesse público superveniente e não mais ao Chefe do Poder Executivo. Exige-se, ainda, indenização prévia das
parcelas não amortizadas ou não depreciadas dos investimentos realizados nos bens reversíveis, nos termos do art. 36 da Lei.
8.1.6 CADUCIDADE: esta é provavelmente a mais importante forma de extinção das concessões no âmbito dos concursos públicos, segundo a doutrina especializada nesta área. Extingue-se a concessão por caducidade sempre que houver INADIMPLEMENTO OU ADIMPLEMENTO DEFEITUOSO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.
Antes de instaurar-se o processo administrativo de inadimplência, em que deve ser evidentemente assegurado à concessionária contraditório e ampla defesa, é necessário comunicar a ela os
descumprimentos contratuais que serão objeto do processo administrativo, dando-lhe um prazo para corrigi-los. Se não houver a correção, o processo administrativo será instaurado e, se comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do Poder Concedente. A indenização, no caso de decretação de caducidade é também devida, e nas mesmas condições do art. 36, ou seja, devem ser indenizadas as parcelas
não amortizadas ou não depreciadas dos investimentos realizados nos bens reversíveis.
A grande diferença deste tipo de extinção é que, na hipótese de caducidade, não há necessidade de que a indenização seja prévia. A Lei diz que a indenização
será calculada no decurso do processo. Além disso, do montante a ser indenizado devem ser descontados as
multas contratuais e o valor dos danos causados pela concessionária.
NOTE BEM1!
Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária.
NOTE BEM2!
A subconcessão irregular também
acarreta a declaração de caducidade da concessão.
Vejamos o Art. 26. “É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.
§ 1o A outorga de subconcessão será sempre
precedida de concorrência.
8.1.7 RESCISÃO: chega-se a conclusão de que a rescisão especificada no inciso IV do art. 35 parece ser somente a rescisão por iniciativa da concessionária. Segundo a Lei, a rescisão de
iniciativa da concessionária deve decorrer de descumprimento de normas contratuais pelo Poder Concedente. Mesmo assim, será necessária uma ação judicial específica e a concessionária não pode interromper ou paralisar o serviço até o trânsito em julgado da sentença que reconheça a inadimplência contratual da Administração.
Observamos que, no caso dos serviços públicos, o princípio da continuidade assume grande importância, a ponto de tornar extremamente rígida a regra da inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).
8.1.8 ANULAÇÃO: a hipótese de anulação da concessão
como forma de sua extinção está prevista no inciso V do art. 35 e decorre de ilegalidade da licitação da concessão ou do contrato e acarretará a responsabilização de quem houver dado causa à ilegalidade.
8.1.9 FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA E FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DO TITULAR, NO CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL:
Segundo o já saudoso Hely Lopes Meirelles, esta última hipótese só se aplica às permissões, uma vez que somente pessoa jurídica pode ser concessionária (art. 2, II), e jurídicas são apenas aquelas enumeradas no art. 16 do CC, as sociedades civis, as fundações e as sociedades comerciais, sem contar as pessoas jurídicas de Direito Público (Hely, pág. 378).
8.2 PERMISSÃO a) PERMISSÃO: é a delegação, a título precário
(podendo ser revogada a qualquer momento), mediante licitação (não foi definida a modalidade a ser adotada), da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco. (art. 2º, IV).
NOTE BEM!
Segundo parte da doutrina administrativista, a permissão é ato administrativo unilateral, discricionário,
DIREITO ADMINISTRATIVO 131
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
precário e intuitu personae (não admitindo a substituição do permissionário). Segundo a
doutrina o documento que formaliza a permissão é o chamado Termo de Permissão.
Normalmente admite-se a não fixação de um prazo específico. No entanto, a doutrina tem admitido à possibilidade de fixação de prazo, hipótese em que a revogação antes do prazo estabelecido dará ao permissionário direito à indenização.
Ex: permissionários do Mercado Central, mototaxistas,
táxi (no caso específico de algumas capitais como Fortaleza), Vans, etc.
ATENÇÃO!
Entretanto, a Lei n° 8.987/95, no que respeita às permissões, afirma que elas serão formalizadas mediante CONTRATO DE ADESÃO (e não por Termo de Permissão)
Capítulo XI
DAS PERMISSÕES
Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.
A CF/88, em seu art. 175, já exigia licitação prévia para a delegação de serviços públicos, fosse por meio de concessão ou de permissão. Com o advento da Lei 8.987/1995, restou expressamente sepultada a possibilidade de permissão de serviços públicos efetuada por ato unilateral.
Atualmente, podemos falar em permissão como ato administrativo unilateral no caso de permissão de uso de bem público.
Por fim, a retromencionada lei ressalta que “aplica-se às permissões o disposto para as concessões”.
CONCESSÃO PERMISSÃO
Caráter mais estável Caráter mais precário
Exige autorização legislativa
Não exige autorização legislativa, em regra
Licitação só por concorrência
Licitação por qualquer modalidade
Formalização por contrato
Formalização por contrato de adesão
Prazo determinado Pode ser por prazo indeterminado
Só para pessoas jurídicas Para pessoas jurídicas ou físicas.
NOTE BEM!
O disposto na Lei n° 8.987/95 e demais alterações posteriores não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a
terceiros, mediante novo contrato.
8.3 AUTORIZAÇÃO. 8.3.1 Conceito: é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário, sendo a única forma de delegação de prestação de serviços públicos que não exige licitação e não depende de celebração de
contrato (o autorizatário assina um TERMO DE AUTORIZAÇÃO, que é ato unilateral, discricionário e precário). Este tipo de delegação não está
expressamente prevista no art. 175 da CF/88. Da mesma forma, a autorização de serviços não foi disciplinada na Lei n° 8.987/95.
NOTE BEM!
A base constitucional para a autorização de serviços públicos encontra-se alicerçada nos incisos XI e XII do art. 21 da CF/88.
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ressaltam que o ”uso das autorizações deve sempre ser bastante restrito e limitado às situações previstas na legislação pertinente, pois, caso contrário, representaria uma burla à exigência de licitação para prestação indireta de serviços públicos.(Obra Citada pág. 418).
Segundo o já saudoso Hely Lopes Meirelles, p 382, “a modalidade de serviços autorizados é adequada para todos aqueles que não exigem execução pela própria Administração, nem exigem grande especialização, como é o caso dos serviços de táxi, de despachantes, de segurança particular de residências ou estabelecimentos, etc.” É necessário que o Poder Público credencie seus executores e sobre eles exerça o seu necessário controle.
Por fim, ressalte-se que, em regra, não haverá direito a indenização para o particular que tenha sua autorização revogada. O cometimento de irregularidades ou faltas pelo autorizatário enseja aplicação de sanções pela Administração, inclusive a cassação da autorização.
DICA DE CONCURSO:
A autorização de serviço público consiste em ato unilateral, discricionário e precário, por meio do qual se delega um serviço público a um autorizatário, que o explorará, predominantemente, em benefício próprio. (CEF – CESPE/2014)
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO (LEI NO 9.784/99) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o
processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.
§ 2o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - órgão - a unidade de atuação integrante da
estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta; (SEM PERSONALIDADE JURÍDICA)
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
132 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado
de poder de decisão.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
CAPÍTULO II DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos
perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.
CAPÍTULO III DOS DEVERES DO ADMINISTRADO
Art. 4o São deveres do administrado perante a
Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
CAPÍTULO IV DO INÍCIO DO PROCESSO
Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de
ofício ou a pedido de interessado.
Art. 6o O requerimento inicial do interessado,
salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve
ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: (Regra: POR ESCRITO)
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
Art. 7o Os órgãos e entidades administrativas
deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.
Art. 8o Quando os pedidos de uma pluralidade de
interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.
CAPÍTULO V DOS INTERESSADOS
Art. 9o São legitimados como interessados no
processo administrativo:
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos
16.
Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada
previsão especial em ato normativo próprio.
CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce
pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular
poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda
16
Interesses difusos são um tipo de interesse transindividual ou
metaindividual, isto é, pertencem a um grupo, classe ou
categoria indeterminável de pessoas, que são reunidas entre si
pela mesma situação de fato.
DIREITO ADMINISTRATIVO 133
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação
deverão ser publicados no meio oficial.
§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e
poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.
§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer
tempo pela autoridade delegante.
§ 3o As decisões adotadas por delegação devem
mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por
motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas
divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.
Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o
processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.
CAPÍTULO VII DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO
Art. 18. É impedido de atuar em processo
administrativo o servidor ou autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em
impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.
Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade
ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.
CAPÍTULO VIII DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO
PROCESSO
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos
por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua
realização e a assinatura da autoridade responsável.
§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de
firma somente será exigido quando houver dúvida de
autenticidade.
§ 3o A autenticação de documentos exigidos em
cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.
§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas
sequencialmente e rubricadas.
Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da
repartição na qual tramitar o processo.
Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.
Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do
órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada
justificação.
Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se
preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.
CAPÍTULO IX DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o
processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima
de três dias úteis quanto à data de comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Art. 27. O desatendimento da intimação não
importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do
processo que resultem para o interessado em imposição
134 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
CAPÍTULO X DA INSTRUÇÃO
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a
averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará
constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos
interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.
Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.
Art. 31. Quando a matéria do processo envolver
assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.
§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de
divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.
§ 2o O comparecimento à consulta pública não
confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.
Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da
autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.
Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em
matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.
Art. 34. Os resultados da consulta e audiência
pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado.
Art. 35. Quando necessária à instrução do processo,
a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e
antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o
Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de
informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos
solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de
realização.
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou
comprovada necessidade de maior prazo.
§ 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de
ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.
§ 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante
deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento.
Art. 43. Quando por disposição de ato normativo
devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.
Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias,
salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração
Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
Art. 46. Os interessados têm direito à vista do
processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.
Art. 47. O órgão de instrução que não for
competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.
CAPÍTULO XI DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
DIREITO ADMINISTRATIVO 135
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período
expressamente motivada.
CAPÍTULO XII DA MOTIVAÇÃO
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma
natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados
e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.
CAPÍTULO XIII DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO
Art. 51. O interessado poderá, mediante
manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.
§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou
renúncia atinge somente quem a tenha formulado.
§ 2o A desistência ou renúncia do interessado,
conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige.
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto
o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.
CAPÍTULO XIV DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o
prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular
qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não
acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
CAPÍTULO XV DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso,
em face de razões de legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu
a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso
administrativo independe de caução.
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão
administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006).
>Vê art. 64-A
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo
disposição legal diversa.
Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação
oficial da decisão recorrida.
§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão
competente.
§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior
poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de
requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. (É A REGRA)
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente
para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem
alegações.
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
136 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
II - perante órgão incompetente;
III - por quem não seja legitimado;
IV - após exaurida a esfera administrativa.
§ 1o Na hipótese do inciso II, será indicada ao
recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a
Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso
poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de
enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006).
Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a
reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006).
Art. 65. Os processos administrativos de que
resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
CAPÍTULO XVI DOS PRAZOS
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem
o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o
primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de
modo contínuo.
§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se
de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.
CAPÍTULO XVII DAS SANÇÕES
Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer,
assegurado sempre o direito de defesa.
CAPÍTULO XVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 69. Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em
qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado: (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
§ 1o A pessoa interessada na obtenção do
benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão
identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de
2009).
§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de
2009).
Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
QUESTÕES DE CONCURSOS
VER NO FINAL DESTE MATERIAL
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
LEI 8.429/92
(Atualizado conforme Lei nº 13.650, de 11 de abril
de 2018)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I Das Disposições Gerais
Comentários:
Esta é a chamada Lei do Colarinho Branco que
foi editada, em 02 de junho de 1992, a qual ressalta os
chamados atos de improbidade administrativa.
Improbidade do latim "improbitate" significa
desonestidade, desonradez, entre outros aspectos. O
vocábulo acima adjetiva a conduta do administrador
público desonesto. Portanto, um agente público é um
agente desonesto com o trato da “coisa pública”. As
penalidades aplicáveis ao caso são pesadas e preveem,
inclusive, a suspensão dos direitos políticos.
DIREITO ADMINISTRATIVO 137
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
Comentários:
Logo em seu artigo 1º, a Lei nº 8429/92 procurou
esclarecer quais os sujeitos estariam sujeitos à sua esfera
de responsabilidade, utilizando-se de expressão mais
ampla possível a alcançar a generalidade das pessoas
que, de qualquer forma, exercem múnus público.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Comentários:
O conceito de agente público é muito mais amplo
do que servidor público. São exemplos de agentes
públicos, o mesário, o membro do Tribunal do Júri, a
servidor público concursado, o empregado público, o
prefeito municipal, o governador de Estado, o Presidente
da República, entre outros.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no
que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão
ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Comentários:
O Ministério Público, enquanto órgão
fiscalizador da lei deve atuar, com rigor, afim de que
este país não se torne, verdadeiramente, o país da
impunidade. Somente a Justiça poderá decretar a
indisponibilidade dos bens do indiciado. Este aspecto
não é auto-executório.
- Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.
Comentários:
O falecimento do indiciado não fará com que a
Administração Pública perdoe o débito. Entretanto este
será cobrado até o limite do valor da herança recebida.
CAPÍTULO II Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
138 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam
Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Acrescentado pela Lei nº 13.019, de 2014)
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Acrescentado pela Lei nº 13.019, de 2014)
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Acrescentado pela Lei nº 13.019, de 2014)
XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública com entidades privadas ou dispensá-lo indevidamente; (Acrescentado pela Lei nº 13.019, de 2014)
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
Seção II-A
(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício
Financeiro ou Tributário
Art. 10-A. Constitui ato de improbidade
administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
DIREITO ADMINISTRATIVO 139
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
Seção III Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam
Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
Comentários:
Portanto, são três as espécies de atos de
improbidade, cada qual com sanções específicas. No
artigo 12 vislumbram-se quais as que são, teoricamente,
as mais graves e quais as que são menos graves.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018)
CAPÍTULO III Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de
2016)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
CAPÍTULO IV Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público
ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. (Regulamento)
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo .
Comentários:
Este aspecto é importante para que a
Administração Pública possa acompanhar o crescimento
patrimonial do servidor público.
CAPÍTULO V Do Procedimento Administrativo e do Processo
Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do
140 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará
conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de
responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.
§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta
pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3
o do art. 6
o da Lei n
o 4.717, de 29 de junho
de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
§ 6o A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de
trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
Comentários:
O art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 estabelece que
a ação de improbidade administrativa será rejeitada nas
seguintes situações: inexistência do ato de improbidade
administrativa, improcedência da ação ou inadequação
da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1
o, do Código de Processo Penal.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
CAPÍTULO VI Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
Comentários:
Não se deve usar a Justiça como instrumento de
vingança, principalmente sabendo da inocência da
pessoa, inclusive cabendo uma ação de perdas e danos a
pessoa que se sentir lesada.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
DIREITO ADMINISTRATIVO 141
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta
lei independe:
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
Atenção no art. 21, pois é muito cobrado em
concurso público.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
Comentários:
Com efeito, o disposto no artigo 22, da Lei de
Improbidade Administrativa deve ser interpretado de
modo a não conflitar com as disposições, tanto da
Constituição Federal, quanto da LC nº 35/79.
CAPÍTULO VII Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
CAPÍTULO VIII Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1°
de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.
FERNANDO COLLOR
QUESTÕES DE PROVAS FGV PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
01. (AL-RO -FGV - 2018 - Assistente Legislativo) O
princípio da eficiência na Administração Pública foi previsto expressamente pela Emenda Constitucional 19/1998, dando origem a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos.
Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na Administração Pública decorrente do princípio da eficiência.
a) vedação de promoção pessoal.
b) avaliação periódica de desempenho.
c) autorização de créditos adicionais.
d) delegação da competência tributária.
e) foro por prerrogativa de função.
02. (AL-MA -FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo)
"Os bens e interesses públicos não pertencem à administração pública nem a seus agentes. Cabe-lhes apenas administrá-los em prol da coletividade, esta, sim, a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos".
O fragmento acima se refere à diretriz que norteia os princípios da Administração Pública, denominada
A) supremacia do interesse público.
B) tutela ou controle.
C) presunção da legitimidade.
D) indisponibilidade.
E) razoabilidade.
03. (AL-RO -FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo)
A Prefeitura do Município de Porto Velho publica um edital de licitação para a compra de 300 cadeiras para uma escola municipal. No entanto, no dia seguinte à publicação do edital ocorre uma tempestade que danifica grande parte da escola, levando a Prefeitura a optar pela revogação da licitação, ex-officio.
À luz dos Princípios Constitucionais, é correto afirmar que a atitude da Prefeitura está relacionada ao princípio da
A) tutela.
B) anualidade.
C) especialidade.
D autotutela.
E) publicidade.
04. (FGV - 2014 - Prefeitura de Osasco/SP - Agente
Fiscal) Princípios administrativos são postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração Pública, podendo ser expressos ou reconhecidos. O princípio que autoriza a Administração Pública, quando provocada ou de ofício, a rever os seus próprios atos é chamado princípio da:
A) imperatividade;
B) autoexecutoriedade;
C) indisponibilidade;
D) eficiência;
E) autotutela.
05. (FGV - 2014 - Prefeitura de Osasco - SP - Agente
Fiscal) Prefeito municipal veiculou por toda a cidade, com verba do erário municipal, centenas de propagandas com cunho de promoção pessoal e interesse eleitoreiro, através de publicações por via de outdoors. Nesse caso, foram violados diretamente os princípios da Administração Pública da:
A) publicidade e segurança jurídica;
B) publicidade e proporcionalidade;
C) pessoalidade e razoabilidade;
D) autotutela e impessoalidade;
E) moralidade e impessoalidade.
06. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria
Pública) O Defensor Público, Dr. João, estava em férias deferidas para todo o mês de janeiro. Ocorre que o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro, praticou ato administrativo determinando a interrupção de férias do Dr. João no dia 30 de janeiro, por necessidade do
142 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
serviço, para que ele comparecesse a uma importante audiência pública marcada para aquele dia. No dia 23 de janeiro, o chefe da Defensoria recebeu o ofício anunciando o adiamento sine die da audiência pública, razão pela qual praticou novo ato administrativo, revogando o anterior de interrupção de férias e mantendo integralmente as férias do Dr. João, na forma originalmente deferida.
Tal ato administrativo de revogação da interrupção de férias do Dr. João foi praticado pelo Defensor Público-Geral com base no princípio da administração pública da:
A) intranscendência, segundo o qual o administrador público está vinculado à veracidade dos motivos expostos para a prática de qualquer ato administrativo;
B) autotutela, que permite ao administrador público revogar seus próprios atos inoportunos ou inconvenientes, sem necessidade de manifestação prévia judicial;
C) continuidade, haja vista que o administrador público não pode interromper sem justo motivo e contraditório prévio as férias de um servidor público;
D) legalidade, na medida em que o administrador público deveria ter oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao Dr. João antes da interrupção de suas férias;
E) eficiência, eis que a interrupção de férias enseja indenização em favor do servidor prejudicado e, diante do desaparecimento do justo motivo, deve-se evitar dano ao erário.
Gabarito: 01/B; 02/D; 03/D; 04/E; 05/E; 06/B
PODERES ADMINISTRATIVOS
01. (DPE-RJ -FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de
Defensoria Pública) Com o objetivo de retaliação política, o novo prefeito João, tão logo tomou posse, praticou ato administrativo determinando a remoção do servidor público efetivo municipal José, seu antigo desafeto, que não o apoiou na campanha eleitoral. Inconformado, José buscou assistência jurídica na Defensoria Pública, ocasião em que lhe foi informado que era:
A) inviável o ajuizamento de ação judicial visando à nulidade ou reforma do ato de remoção, eis que está calcado na discricionariedade administrativa;
B) inviável o ajuizamento de ação judicial visando à nulidade ou reforma do ato de remoção, eis que goza do atributo da presunção de legalidade e legitimidade;
C) viável o ajuizamento de ação judicial visando à nulidade do ato de remoção, diante do abuso de poder, na modalidade excesso de poder, por vício no elemento competência do ato;
D) viável o ajuizamento de ação judicial visando à nulidade do ato de remoção, diante do abuso de poder, na modalidade desvio de poder, por vício no elemento finalidade do ato;
E) viável o ajuizamento de ação judicial visando à revogação do ato de remoção, diante do abuso de poder, na modalidade excesso de poder, por vício no elemento motivo do ato.
02. (FGV - 2013 - AL-MA - Técnico de Gestão
Administrativa) Os poderes administrativos nascem com a Administração Publica e se apresentam
diversificados segundo as exigências do Serviço Público.
O poder que é concedido à Administração Pública, de modo implícito ou explícito para a prática de atos administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo, é denominado
A) poder vinculado.
B) poder hierárquico.
C) poder disciplinar.
D) poder regulamentar.
E) poder discricionário.
03. (FGV - 2014 - Prefeitura de Osasco - SP - Agente
Fiscal) A prerrogativa de direito público, conferida à Administração Pública, de editar atos gerais (como decretos e regulamentos) para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicabilidade é chamada de:
A) processo legislativo;
B) processo suplementar;
C) poder de polícia;
D) poder complementar;
E) poder regulamentar.
04. (FGV - 2018 - MPE-AL - Técnico do Ministério
Público) O Subsecretário de Estado de Administração, no regular exercício de suas competências, decidiu instaurar processo administrativo para aquisição de produtos de limpeza, o que veio a determinar aos seus subordinados de modo expresso.
Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Secretário de Estado de Administração decidiu revogar a decisão tomada, por vê-la como contrária ao interesse público.
Sobre o prisma dos poderes administrativos, o ato praticado pelo Secretário de Estado é emanação do poder
A) hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois o Secretário deveria suspender o ato praticado pelo Subsecretário, cabendo a revogação ao Prefeito.
B) hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza a anulação de atos ilegais praticados pelo Subsecretário, não a sua revogação.
C) disciplinar, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza a anulação de atos ilegais praticados pelo Subsecretário, não a sua revogação.
D) isciplinar, que foi usado de modo regular, pois autoriza a anulação e a revogação dos atos praticados pelo Subsecretário.
E) hierárquico, que foi usado de modo regular, pois autoriza tanto a anulação como a revogação dos atos praticados pelo Subsecretário.
Gabarito: 01/D; 02/E; 03/E; 04/E
ATOS ADMINISTRATIVOS
01. (FGV - 2013 - AL-MA - Técnico de Gestão
Administrativa - Administrador) Os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração Pública não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. O fragmento acima mostra um atributo do ato administrativo. Assinale-o.
DIREITO ADMINISTRATIVO 143
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A) Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
B) Autoexecutoriedade.
C) Tipicidade.
D) Imperatividade.
E) Manifestação de vontade.
02. (FGV - 2018 - AL-RO - Advogado) O Presidente de
uma Assembleia Legislativa, por estar sobrecarregado de trabalho, delegou para o 1º Vice Presidente, com a concordância deste, competência para decidir de recurso hierárquico interposto contra decisão de Presidente de Comissão, em questão de ordem por este resolvida.
O mencionado ato administrativo de delegação é
A) lícito, eis que o Presidente da Assembleia agiu no regular exercício de seu poder regulamentar, na medida em que editou norma geral e abstrata.
B) lícito, eis que o Presidente da Assembleia agiu no regular exercício de seu poder hierárquico, delegando competência de ato devidamente especificado para inferior hierárquico.
C) lícito, eis que o Presidente da Assembleia agiu no regular exercício de seu poder disciplinar, pois possui prerrogativa para regulamentar o exercício de suas próprias atribuições.
D) nulo, eis que causará vício de competência, por excesso de poder para o 1º Vice Presidente, pois a decisão de recurso hierárquico é indelegável.
E) nulo, eis que causará vício de hierarquia, pois o ato apenas poderia ser delegado para autoridade hierarquicamente superior ao agente delegante.
03. (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo -
Administração) Um guarda municipal, durante ronda em um mercado popular municipal, identifica inúmeras mercadorias falsificadas, realizando prontamente uma apreensão.
De acordo com o entendimento da doutrina administrativa, assinale a afirmativa correta.
A) O ato do guarda, na situação, está amparado pelo atributo da autoexecutoriedade.
B) Desde que tenha autorização judicial, a ação do guarda estará correta.
C) A atitude do guarda representa um abuso de poder.
D) A conduta do guarda deve ser invalidada, devido ao vício de objeto.
E) Em nenhuma hipótese a ação do guarda e permitida, visto que viola o direito social do trabalho.
04. (FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo -
Orçamento Público) Quanto à classificação do objeto do ato administrativo têm-se os praticados pela Administração Pública em situação de igualdade com os particulares, sem usar sua supremacia sobre os destinatários, para a conservação e o desenvolvimento do patrimônio público.
Esse ato é denominado
A) de império.
B) de expediente.
C) de gestão.
D) de negócio.
E) de discricionário.
05. (FGV - 2018 - MPE-AL - Técnico do Ministério Público
– Geral) Determinada norma jurídica dispôs sobre a prática de ato administrativo, sob a forma de decreto, e permitiu, ao agente competente, que escolhesse a melhor solução considerando as peculiaridades do caso concreto.
O ato que venha a ser praticado, em razão da liberdade na valoração dos motivos e na escolha do objeto, será considerado um ato
A) discricionário.
B) vinculado.
C) imperativo.
D) mitigado.
E) difuso.
06. (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo - Processo
Legislativo) João, servidor público ocupante do cargo efetivo de Analista da Assembleia Legislativa de Rondônia, no exercício da função, praticou dois atos administrativos: no primeiro, elaborou um parecer com opinião na qualidade de órgão consultivo sobre assunto técnico de sua competência; no segundo, redigiu um memorando contendo comunicação interna entre agentes de um mesmo órgão, com solicitação de informações para melhor executar a atividade pública.
De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, os atos administrativos praticados por João são, respectivamente,
A) discricionário e requisitório.
B) enunciativo e ordinatório.
C) vinculado e precário.
D) executório e constitutivo.
E) normativo e declaratório.
Gabarito: 01/A; 02/D; 03/A; 04/C; 05/A; 06/B
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
01. (FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo -
Orçamento Público) As alternativas a seguir apresentam características comuns às entidades da administração indireta, à exceção de uma. Assinale-a.
A) Criação ou autorização de instituição por lei específica.
B) Vinculação à administração direta.
C) Não há subordinação hierárquica por ser ente autônomo.
D) Personalidade jurídica de direito público.
E) Titular de direitos e obrigações distintos da pessoa política que a instituiu, tendo, então, patrimônio próprio.
02. (FGV - 2018 - MPE-AL - Analista do Ministério Público
- Gestão Pública) Em relação à estrutura do aparelho público brasileiro, assinale a opção que apresenta um integrante da Administração Indireta.
A) Casa Civil da Presidência.
B) Polícia Federal.
C) Caixa Econômica Federal.
D) Tribunal de Contas da União.
E) Forças Armadas.
144 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
03. (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo -
Administração) A qualificação de Agência Executiva é fornecida pelo Poder Público a determinadas entidades com o objetivo de ampliar sua autonomia, assumindo o compromisso de cumprir determinadas metas de desempenho.
Assinale a opção que apresenta entidades que podem receber essa qualificação.
A) As ONGs.
B) As fundações privadas.
C) As autarquias.
D) As cooperativas.
E) Os órgãos públicos.
04. (FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo) Em
decorrência de diversos escândalos de corrupção ocorridos no país, um município decide criar uma Controladoria Geral para aprimorar o controle interno na gestão municipal.
Acerca da criação da Controladoria Geral do município, assinale a afirmativa correta.
A) Possui personalidade jurídica própria.
B) Não será subordinada à Administração Direta.
C) Representa uma desconcentração da função administrativa.
D) É uma entidade política com capacidade de auto-organização.
E) Não integra a Administração Pública no sentido amplo.
05. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior -
Administração de Empresas) Hércules, diretor-executivo de uma multinacional do setor de varejo, recebe um convite do Presidente da República para assumir cargo de diretor-geral de uma agência reguladora federal. Entusiasmado com a oportunidade, mas com receio de abandonar seu emprego seguro na multinacional, Hércules pergunta ao seu amigo Aquiles, destacado jurista, sobre a possibilidade de perda de mandato de dirigentes das agências reguladoras. Aquiles informa, corretamente, que:
A) por ter natureza jurídica de cargo comissionado, os cargos de dirigentes das agências reguladoras são caracterizados como de livre nomeação e exoneração;
B) embora a estabilidade, por tempo determinado, seja a regra, a lei instituidora da agência pode prever condições diferentes para a perda de cargo dos dirigentes;
C) devido ao seu caráter político, o dirigente de agência reguladora só poderá ser substituído após cumprido integralmente seu mandato;
D) em razão de a nomeação ser realizada por meio de processo seletivo simplificado, sua demissão será feita apenas pelo plenário do Congresso Federal;
E) com o objetivo de garantir a autonomia das agências reguladoras no cumprimento de seus deveres funcionais, é assegurada a vitaliciedade aos seus dirigentes.
06. (FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo -
Técnico em Informática) Assinale a opção que indica a modalidade de administração do Estado em que há transferência de serviços e competências para outras pessoas jurídicas.
A) concentrada.
B) desconcentrada.
C) particularizada.
D) descentralizada.
E) funcionalizada.
Gabarito: 01/D; 02/C; 03/C; 04/C; 05/B; 06/D
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
01. (FGV - 2013 - AL-MA - Técnico de Gestão
Administrativa ) Controle na Administração Pública é o conjunto de mecanismos jurídicos para a correção e a fiscalização das atividades da Administração Pública. O controle feito em âmbito administrativo por outra pessoa jurídica distinta daquela de onde precede o ato, é denominado
A) Controle Judicial.
B) Controle Externo.
C) Controle de Legalidade.
D) Controle Hierárquico.
E) Controle Tutelar.
02. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria
Pública) Em matéria de controle da Administração Pública, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, é exercida pelo Poder:
A) Judiciário, com auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo, bem como pelo seu sistema de controle interno;
B) Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo, bem como pelo seu sistema de controle interno;
C) Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo, bem como pelo seu sistema de controle interno;
D) Executivo, com auxílio da Controladoria-Geral do Estado, mediante controle externo, e o Governador deve repassar os recursos orçamentários à Defensoria até o dia 30 (trinta) de cada mês;
E) Executivo, com auxílio do Defensor Público-Geral do Estado, mediante controle misto, e o Governador deve repassar os recursos orçamentários à Defensoria até o dia 10 (dez) de cada mês.
03. (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo - Processo
Legislativo) Em matéria de controle da administração pública, a Assembleia Legislativa de Rondônia deve exercer o controle
A) judicial, com auxílio do Tribunal de Contas estadual, de fiscalização sobre os atos administrativos do Executivo, do Judiciário e do próprio do Legislativo.
B) legislativo sobre os atos normativos editados pelos Poderes Judiciário e Executivo, sustando os efeitos dos atos inconstitucionais.
C) externo, com auxílio do Tribunal de Contas estadual, sobre o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público estaduais no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos.
D) administrativo e o interno, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
DIREITO ADMINISTRATIVO 145
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
subvenções e renúncia de receitas dos órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo estadual.
E) interno sobre verbas públicas dos demais poderes, mediante fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todas as entidades da administração direta e indireta.
Gabarito: 01/E; 02/B; 03/C
SERVIDORES PÚBLICOS (LEI 8.112 DE 1990)
01. (2019 - UFAC - Economista) Segundo a Lei nº 8.112/90, assinale a opção em que não há requisito básico para investidura em cargo público:
A) a nacionalidade brasileira.
B) apresentação da documentação exigida em edital convocatório.
C) aptidão física e mental.
D) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
E) gozo dos direitos políticos.
02. (2019 - UFAC - Assistente em Administração) João, recém-nomeado para ocupar cargo no serviço público federal, ao consultar a lei n. 8.112/90, observou que são requisitos básicos para investidura em cargo público:
A) idade mínima de dezoito anos e inaptidão física e mental.
B) idade mínima de 16 anos, em caso de menor emancipado, e nacionalidade brasileira.
C) gozo dos direitos políticos e nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
D) quitação com as obrigações militares e qualquer nacionalidade para todos os cargos.
E) quitação com as obrigações militares, sendo dispensáveis as obrigações eleitorais.
03. (2019 - UFTM - Biomédico) Segundo o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, com relação à posse e exercício do servidor público federal, complete as lacunas a seguir:
A posse ocorrerá no prazo de ___________dias contados da publicação do ato de provimento. É de _____________ dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
A) quinze – quinze.
B) sessenta – trinta.
C) trinta – trinta.
D) trinta – quinze.
04. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico) Antônio tomou posse como Prefeito do Município Beta e convidou o seu amigo João, empresário do ramo hoteleiro e pessoa de sua inteira confiança, para chefiar determinada repartição pública.
À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que João:
A) somente pode ser nomeado caso seja aprovado em concurso público;
B) somente pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão;
C) somente pode ser nomeado para exercer uma função de confiança;
D) pode ser nomeado para ocupar um cargo de provimento efetivo ou um cargo em comissão;
E) pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão ou exercer uma função de confiança.
05. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico) Maria, servidora pública, foi aposentada por invalidez. Ocorre que, um ano depois, após se submeter a um tratamento específico, foi totalmente curada, o que a levou a pleitear o retorno ao serviço ativo.
Para que Maria possa retornar ao serviço ativo, deve ocorrer:
A) a sua reversão;
B) a sua reintegração;
C) a sua readaptação;
D) a sua transferência;
E) o seu aproveitamento.
06. (2019 - UFTM - Biomédico) Nos termos do disposto na Lei nº 8.112/90 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, as formas de provimento de cargo público são, EXCETO:
A) Nomeação.
B) Recondução.
C) Redistribuição.
D) Reintegração.
07. (CETREDE - 2019 - Prefeitura de Acaraú - CE - Auxiliar Administrativo) Considerando a Lei nº 8.112/90, analise a afirmativa a seguir.
____________ é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou reintegração do anterior ocupante.
Marque a opção que completa corretamente a lacuna.
A) Readaptação
B) Reintegração
C) Recondução
D) Reversão
E) Remoção
08. (2019 - UFAC - Economista) São hipóteses de VACÂNCIA, nos termos da Lei nº 8.112/90, EXCETO:
A) Exoneração.
B) Demissão.
C) Falecimento.
D) Posse em outro cargo acumulável.
E) Promoção.
09. (2019 - UFAC - Assistente em Administração) José, estudando para as provas do concurso público da UFAC, realizou a leitura da lei n. 8.112/90, na qual pôde observar que NÃO é hipótese de vacância prevista na referida lei:
A) demissão.
B) promoção.
C) aposentadoria.
D transferência.
E) falecimento.
146 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
10. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico) João, servidor público estadual, foi acusado, em um processo penal, da prática do crime de corrupção. Paralelamente, passou a responder, pela mesma conduta, a um processo administrativo, sob a alegação de que praticara uma infração disciplinar, e a um processo civil por ato de improbidade administrativa.
Considerando a sistemática vigente, a simultânea instauração das três relações processuais a respeito do mesmo fato está:
A) correta, pois as instâncias de responsabilização são independentes entre si, influenciando-se nos termos da lei;
B) incorreta, pois a responsabilização administrativa somente pode ser perquirida após o exaurimento da penal e da cível;
C) incorreta, pois a responsabilização administrativa somente pode ser perquirida após o exaurimento da penal;
D) correta, pois as instâncias de responsabilização não têm correlação entre si;
E) incorreta, pois não é possível que João seja responsabilizado em três instâncias distintas pela prática da mesma conduta.
11. (2019 - UFRRJ - Assistente Social) O servidor público federal efetivo e estável que após nomeação, posse e exercício em outro cargo público efetivo for reprovado no estágio probatório do novo cargo deverá ser
A) reconduzido ao cargo ocupado anteriormente.
B) colocado em disponibilidade.
C) exonerado do cargo ocupado anteriormente
D) colocado em espera de vagas.
E) demitido do cargo ocupado anteriormente.
12. (FGV - 2018 - Prefeitura de Niterói - RJ - Auditor Municipal de Controle Interno - Controladoria) Leia o fragmento a seguir. O gozo dos direitos ________ é requisito _______ para a ___________ em ________ público. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.
A) civis – inicial – posse - cargo
B) políticos – condicional – investidura – serviço
C) fundamentais – básico - nomeação – cargo
D) políticos – básico - investidura – cargo
E) naturais – primário – investidura – serviço
13. (2019 - UFMG – Administrador) A Lei nº 8.112/1990 prevê que quando o servidor, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.
Tendo por referência a lei supracitada e considerando a necessidade de um servidor se deslocar, a serviço e sem pernoite fora da sede, não constituindo exigência permanente do cargo, o pagamento de diária é devida em
A) 100 % do valor integral.
B) 50 % do valor integral.
C) 30 % do valor integral.
D) 70 % do valor integral.
14. (FAURGS - 2018 - UFRGS - Assistente em Administração) Considere as afirmativas a seguir, tendo em vista as disposições da Lei nº 8.112/1990.
I - O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
II - A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á somente a juízo da autoridade competente.
III - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
15. (FAURGS - 2018 - UFRGS - Assistente em Administração) Tendo em vista as disposições da Lei nº 8.112/1990, relativas a tempo de serviço, considere as afirmativas abaixo.
I - É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
II - O exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal, não é considerado como de efetivo exercício.
III - O tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal contar-se-á apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
16 (2019 - UFMA - Analista de Tecnologia da Informação) Genoveva, servidora pública federal, solteira, sem filhos, está cumprindo estágio probatório no órgão em que foi lotada. Ela também está concluindo seu curso de inglês e decide que, para aprimorar ainda mais seu conhecimento na língua, é melhor passar um ano morando na Inglaterra, mesmo sem estar vinculada a curso algum nesse país, mas não sabe se é possível licenciar-se com esse propósito; pergunta então para José, seu colega também servidor, sobre essa possibilidade. José lhe responde que:
A) É possível, pois a experiência no exterior poderá ser utilizada para trazer novos conhecimentos para o serviço público e se inclui entre as permissões previstas na Lei 8.112/90 para os servidores públicos em estágio probatório.
B) Não é possível, pois as licenças e afastamentos previstas na Lei 8.112/90 para servidores em estágio probatório são para poucos casos, como por exemplo, por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para atividade política bem como afastamento para participar de curso de
DIREITO ADMINISTRATIVO 147
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.
C) É possível, desde que Genoveva venha a cada três meses ao Brasil apresentar-se no serviço público, tal como prevê a Lei 8.112/90.
D) Não é possível, pois as únicas licenças e afastamentos previstas na Lei 8.112/90 para servidores em estágio probatório são por motivo de doença em pessoa da família e por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
E) Não é possível, pois, por estar em estágio probatório, Genoveva não tem direito a nenhuma licença ou afastamento.
17 (2019 - UFRRJ - Assistente Social) O servidor público federal efetivo que for eleito ao cargo de Prefeito, no que se refere a sua remuneração, deverá
A) receber as duas remunerações.
B) receber as duas remunerações, caso haja compatibilidade de horários.
C) optar por uma das remunerações.
D) optar por uma das remunerações, acrescida de 1/3 do salário de Prefeito.
E) receber as duas remunerações, diminuída de 1/3 do salário de Prefeito.
18. (2019 - UFTM – Biomédico) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
B) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
C) A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
D) A acumulação de cargos, se lícita, independe de comprovação da compatibilidade de horários.
19. (2019 - UFTM – Biomédico)Analise os itens:
I. O servidor poderá ausentar-se do serviço por 1 (um) dia, para doação de sangue.
II. O servidor poderá ausentar-se do serviço por 8 (oito) dias úteis em razão de casamento.
III. O servidor poderá ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias.
IV. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mediante compensação de horário.
Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90, estão CORRETOS os itens:
A) II e III.
B) I e III.
C) I, III e IV.
D) Somente o item I.
20. (2019 - UFTM – Biomédico) Paula é servidora pública na UFTM, tendo entrado em exercício em 15 de março de 2017. Segundo o que dispõe a Lei nº 8.112/90,
atualmente Paula tem direito aos seguintes afastamentos e licenças, EXCETO:
A) Licença para desempenho de mandato classista.
B) Licença para atividade política.
C) Afastamento para estudo ou missão no exterior.
D) Licença por motivo de doença em pessoa da família.
Gabarito: 01/B; 02/C; 03/D; 04/B; 05/A; 06/B; 07/C; 08/D; 09/D; 10/A; 11/A; 12/D; 13/B; 14/D; 15/D; 16/B; 17/C; 18/B; 19/B; 20/A
LICITAÇÃO PÚBLICA
01. (FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo) Os tipos
de licitação "menor preço, melhor técnica, técnica e preço" se aplicam às modalidades relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
A)Convite.
B)Concurso.
C)Tomada de preços.
D)Compra direta.
E)Concorrência.
02. (FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo ) A
Administração Pública Direta, nos casos de emergência ou de calamidade pública em que os serviços devem ser concluídos no prazo máximo de cento e oitenta dias, vedada a prorrogação, deve adotar o seguinte procedimento:
A) Licitação direta.
B) Licitação deserta.
C) Licitação fracassada.
D) Dispensável a licitação.
E) Licitação especial.
03. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior
Especializado) Suponha que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ) inicie procedimento licitatório para a aquisição de computadores a serem utilizados pelo órgão, tendo em vista a chegada dos novos servidores admitidos no concurso público previsto, e que, no entanto, por motivos desconhecidos, não apareçam interessados na licitação. Além disso, ficou comprovado que, em decorrência da proximidade do concurso, não será possível a realização de novo procedimento sem prejuízo para a Administração Pública.
Considerando o ocorrido, excepcionalmente, será permitido que a DPE-RJ realize:
A) a contratação direta, por meio de dispensa de licitação, desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas;
B) a contratação direta, por meio de dispensa de licitação, facultando-se mudanças nas condições para viabilizar o acordo;
C) a contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, valendo-se da necessidade de respeitar o princípio da continuidade do serviço público;
D) a contratação indireta, por meio de inexigibilidade de licitação, contanto que seja registrada no termo contratual a impossibilidade de competição;
E) a execução direta, por meio do uso de sistema de registro de preços, justificada pela relação da
148 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
aquisição com o cumprimento das atividades-fim do órgão.
04. (FGV - 2014 - Câmara Municipal do Recife-PE -
Engenheiro Civil) Os avisos contendo os resumos dos editais das licitações deverão ser publicados, no mínimo, por uma vez em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra. A Lei n° 8.666/1993 e alterações determinam que a partir da última publicação do edital resumido até o recebimento das propostas deverá ser garantido o prazo mínimo de:
A) sessenta dias para concurso;
B) trinta dias para concorrência, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";
C) cinco dias corridos para convite;
D) quinze dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";
E) quarenta e cinco dias para concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral.
05. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior
Especializado - Administração de Empresas) Com o objetivo de investir na formação e na qualificação continuada de seus servidores, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pretende realizar contratação de serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, de natureza singular, com determinada sociedade empresária de notória especialização. Estudos preliminares realizados revelaram que o valor proposto pela futura eventual contratada de cento e cinquenta mil reais atende à economicidade, eis que compatível com o valor de mercado. No caso em tela, o Defensor Público-Geral do Estado:
A) deve realizar licitação para a contratação dos serviços pretendidos, que deverá ser feita na modalidade tomada de preços, diante do valor do contrato;
B) deve realizar licitação para a contratação dos serviços pretendidos, que deverá ser feita na modalidade concorrência, diante do valor do contrato;
C) deve realizar licitação para a contratação dos serviços pretendidos, que deverá ser feita na modalidade convite, diante do valor do contrato;
D) pode contratar diretamente a mencionada sociedade empresária, mediante dispensa de licitação, por expressa previsão legal;
E) pode contratar diretamente a mencionada sociedade empresária, mediante inexigibilidade de licitação, por expressa previsão legal.
06. (FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo -
Orçamento Público) Assinale a alternativa que indica o princípio de licitação que "exige que o administrador aja com honestidade não só para com a Administração, mas, também, para com os licitantes, de tal forma que sua atividade esteja voltada para o interesse da Administração, que é o de promover a seleção mais acertada possível".
A) Princípio da moralidade.
B) Princípio da probidade administrativa.
C) Princípio da impessoalidade.
D) Princípio da igualdade.
E) Princípio da isonomia entre os interessados.
07. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria
Pública) A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pretende realizar contratação de serviços de paisagismo, a fim de revitalizar os canteiros e jardins existentes na sua sede. Após pesquisas de mercado, o Defensor Público-Geral verificou que o valor de mercado estimado para contratação é de cem mil reais e optou pela contratação de determinada associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, com expertise na área de paisagismo.
No caso em tela, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, a Administração Pública:
A) pode contratar diretamente a mencionada associação, mediante dispensa de licitação, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
B) pode contratar diretamente a mencionada associação, mediante inexigibilidade de licitação, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
C) deve contratar a sociedade empresária que sair vencedora da licitação, que deverá ser feita na modalidade convite, diante do valor da contratação;
D) deve contratar a sociedade empresária que sair vencedora da licitação, que deverá ser feita na modalidade tomada de preços, diante do valor da contratação;
E) deve contratar a sociedade empresária que sair vencedora da licitação, que deverá ser feita na modalidade concorrência, diante do valor da contratação.
08. (FGV - 2018 - AL-RO - Consultor Legislativo -
Assessoramento em Orçamentos) João estudante de direito, após concluir suas pesquisas sobre licitação dispensada, dispensável e inexigível, concluiu que:
I. nas situações de licitação dispensada, a lei expressamente afasta a realização da licitação, ainda que a competição seja possível;
II. na licitação dispensável, a competição é possível, mas a lei permite que o administrador, apenas em razão do baixo valor da contratação, deixe de realizá-la; e
III. na licitação inexigível, apesar de a competição ser possível, a licitação será muito onerosa para o Poder Público.
Sobre as conclusões de João, à luz da sistemática estabelecida na ordem jurídica, em especial na Lei nº 8.666/93, está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) II e III, somente.
D) I, somente.
E) III, somente.
09. (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo -
Engenharia Civil) Para adquirir equipamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, ficando caracterizada a inexistência de viabilidade jurídica de competição, a Administração Pública deve preferencialmente optar pelo processo de
DIREITO ADMINISTRATIVO 149
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
A) carta convite.
B) concorrência.
C) tomada de preços.
D) inexigibilidade de licitação.
E) dispensa de licitação.
10. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior
Especializado) Considere as seguintes informações sobre as modalidades de licitação X e Y.
X é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
Y é a modalidade de licitação para obras e serviços de engenharia, cujo limite é de até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), segundo o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.
Analisando o modelo de gestão de cada uma, conclui-se que:
A) Y é um convite;
B) X é uma concorrência;
C) X é um leilão;
D) X e Y são um concurso;
E) X e Y são uma tomada de preços.
11. (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo -
Engenharia Civil) O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia resolveu, em 01 de agosto de 2018, contratar uma empresa para realizar uma pequena obra de engenharia no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Considerando o previsto na Lei nº 8.666/93 e em suas atualizações, a contratação supracitada deverá ser feita
A) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na modalidade carta-convite.
B) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na modalidade pregão-eletrônico.
C) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na modalidade concorrência.
D) por meio de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.
E) por meio de dispensa de licitação, ou por licitação prévia nas modalidades convite, tomada de preços ou concorrência.
Gabarito: 01/B; 02/D; 03/A; 04/E; 05/E; 06/B; 07/A; 08/D; 09/E; 10/A; 11/E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
01. (FGV - 2013 - AL-MA - Consultor Legislativo -
Orçamento Público) Assinale a alternativa que representa um dos casos de alteração unilateral de contrato administrativo com a administração pública.
A) Quando é necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto.
B) Quando há inadimplemento de cláusulas contratuais, abrangendo o cumprimento irregular, a morosidade indevida e o atraso imotivado da execução.
C) Quando há falência, insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contrato e, ainda, alteração social.
D) Quando, em decorrência de caso fortuito ou de força maior, é descumprido o objeto contábil.
E) Quando há razões de interesse público motivadas por descumprimento parcial ou integral do objeto contratual.
02. (FGV - 2013 - AL-MA - Técnico de Gestão
Administrativa - Administrador) Com relação à execução dos contratos administrativos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
( ) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
( ) O contratado poderá aprovar, em parte, obra, serviço ou fornecimento, quando executados em desacordo com o contrato.
As afirmativas são, respectivamente,
A) F, V e V.
B) V, F e V.
C) F, V e F.
D) F, F e V.
E) V, V e F.
03. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico) A
Administração Pública contratou a sociedade empresária Alfa para a construção de um edifício em determinado terreno. Apesar disso, por desorganização interna, atrasou em 1 (um) ano a liberação do respectivo local, o que impediu o início das obras durante todo esse período.
Considerando a sistemática vigente, o referido atraso configura:
A) fato do príncipe;
B) alteração unilateral;
C) fato da Administração;
D) álea econômica;
E) álea ordinária.
04. (FGV - 2018 - MPE-AL - Técnico do Ministério Público
- Tecnologia da Informação) Os contratos administrativos se diferenciam dos contratos de direito privado por propiciarem alguns tipos de prerrogativas para o poder público. Essas prerrogativas são chamadas de
A) tratados desiguais.
B) acordos Impróprios.
C) fato do príncipe.
D) onerosidade exclusiva.
E) cláusulas exorbitantes.
05. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior
Especializado - Engenharia Civil) Considere um empreendimento que foi contratado em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para utilização em condições de segurança estrutural e operacional e
150 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.
Segundo a Lei nº 8.666/93, o empreendimento está sendo realizado por:
A) execução direta, no regime de empreitada por preço global;
B) execução direta, no regime de tarefa;
C) execução direta, no regime de empreitada por preço unitário;
D) execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário;
E) execução indireta, no regime de empreitada integral.
06. (FGV - 2013 - AL-MA - Técnico de Gestão
Administrativa - Administrador) O contrato administrativo caracteriza-se pela participação do poder público, como parte predominante, e pela finalidade de atender a interesses públicos, podendo agir de forma unilateral. A característica do ato administrativo, pela qual "é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado" é denominada
A) Prorrogabilidade.
B) Supremacia do Poder Público.
C) Publicidade.
D) Prazo determinado.
E) Licitação prévia.
07. (FGV - 2018 - Câmara de Salvador/BA - Analista
Legislativo Municipal) Prefeituras costumam descentralizar alguns de seus serviços e para isso são assinados contratos com prestadores de serviços.
Trata-se de uma característica dos contratos administrativos:
A) presença de cláusulas exorbitantes;
B) finalidade privada do cidadão;
C) imutabilidade do conteúdo do contrato;
D) obediência à forma prescrita no acordo coletivo do sindicato;
E) inexigência de garantia, mas de palavra.
Gabarito: 01/A; 02/B; 03/C; 04/E; 05/E; 06/D; 07/A
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
01. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico)
Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada, que atua como concessionária do serviço público de conservação de rodovias, no exercício de suas funções, atropelou João, motociclista que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu sérios danos.
Considerando a sistemática vigente na ordem jurídica, é correto afirmar que:
A) somente Antônio pode ser responsabilizado, sendo necessário provar a sua culpa;
B) a concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo;
C) somente a concessionária será responsabilizada, mas será preciso provar a culpa de Antônio;
D) somente o ente federado concedente será responsabilizado, o que ocorrerá em caráter objetivo;
E) Antônio e a concessionária serão solidariamente responsabilizados em caráter objetivo.
02. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria
Pública) Policiais militares, em operação de combate ao tráfico de entorpecentes, trocaram disparos de arma de fogo com criminosos em comunidade do Rio de Janeiro. Durante a troca de tiros, um projétil de arma de fogo atingiu a cabeça da criança João, de 6 anos, que estava de uniforme a caminho da escola e faleceu imediatamente. Câmeras de vigilância e perícia de confronto balístico comprovaram que o disparo que vitimou o menor se originou da arma do PM José.
A família de João buscou assistência jurídica da Defensoria Pública, que:
A) informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois a Defensoria integra o Poder Executivo estadual;
B) informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois o policial agiu no estrito cumprimento de seu dever legal;
C) ajuizou ação indenizatória em face do PM José, com base em sua responsabilidade civil objetiva, devendo ser comprovado que o policial agiu com culpa ou dolo;
D) ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo;
E) ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo.
03. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria
Pública) João, Técnico Médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processos, quando tropeçou e caiu em cima da particular Maria, que estava sendo atendida pela Defensoria, quebrando-lhe o braço e danificando o aparelho de telefone celular que estava na mão da lesada.
Em razão dos danos que lhe foram causados, Maria ajuizou ação indenizatória em face:
A) da Defensoria Pública-Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
B) da Defensoria Pública-Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
C) do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
D) do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
E) da Defensoria Pública-Geral do Estado e do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil solidária entre ambos, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João.
04. (FGV - 2018 - AL-RO - Consultor Legislativo -
Assessoramento Legislativo) João, ocupante do cargo efetivo de Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia, no exercício da função
DIREITO ADMINISTRATIVO 151
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
pública, praticou ato ilícito que, com o pertinente nexo causal, causou dano ao administrado Mário.
Em matéria de responsabilidade civil, o particular Mário deve ajuizar ação indenizatória em face
A) da Assembleia Legislativa de Rondônia, por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa do agente público João.
B) da Assembleia Legislativa de Rondônia, por sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa do agente público João.
C) de João por sua responsabilidade civil primária e objetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa do agente público, facultada a inclusão do Estado no polo passivo da demanda.
D) do Estado de Rondônia, por sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa do agente público João, que responderá pelos danos perante o Estado em ação de regresso.
E) do Estado de Rondônia, por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa do agente público João, que responderá de forma subjetiva perante o Estado em ação de regresso.
Gabarito: 01/B; 02/D; 03/C; 04/E
SERVIÇOS PÚBLICOS
01. (DPDF/DF - Analista de Apoio à Assistência Judiciária
- Área Judiciária – FGV/2014) O contrato de concessão de serviço público pode ser extinto em razão do descumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. Tal forma de extinção, prevista no ordenamento jurídico, denomina-se:
A.reversão.
B.caducidade.
C.encampação.
D.rescisão.
E.retomada.
02. (Técnico Superior Jurídico - Vargas (FGV) A empresa
de ônibus ROTA XXX LTDA. prestava o serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros em cidade do interior do Estado, após sair vencedora em licitação e celebrar com o poder público municipal contrato de concessão. Ocorre que, após um ano, a municipalidade verificou a inadequação na prestação do serviço, com ineficiência e falta de condições técnicas operacionais, haja vista que os ônibus, em sua maioria, estavam quebrados, superlotados, além de não cumprirem com todas as rotas previstas no contrato, não respeitarem as gratuidades legais e outras violações do contrato e da lei. Após intensas manifestações populares, o Município finalmente instaurou processo administrativo, reuniu todas as provas cabíveis, tudo com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, culminando por extinguir a concessão por
A.rescisão.
B.anulação.
C.revogação.
D.caducidade.
E.encampação.
03. (TRT 16ªR - Analista Judiciário - Oficial de Justiça
Avaliador – FCC/2014) Determinada empresa privada, concessionária de serviços públicos, torna-se inadimplente, deixando de prestar o serviço de administração de uma estrada do Estado do Maranhão, descumprindo o contrato firmado e prejudicando os usuários. Neste caso, a retomada do serviço público concedido ainda no prazo de concessão pelo Governo do Estado do Maranhão tem por escopo assegurar o princípio do serviço público da
A.cortesia.
B.continuidade.
C.modicidade.
D.impessoalidade.
E.atualidade.
Gabarito: 01/D; 02/D; 03B
PROCESSO ADMINISTRATIVO
01. (FCC / EXEC.MANDADOS/ TRF4°) Na sistemática do
Processo Administrativo previsto na Lei no 9.784/1999,
(A) os prazos do processo e do recurso começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo- se na contagem o dia do começoe excluindo-se o do vencimento.
(B) o não conhecimento do recurso impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, ainda que não ocorrida preclusão administrativa.
(C) quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo dequinze dias, a partir da sua interposição nos autos pelo interessado.
(D) salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
(E) salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito devolutivo, embora sempre suspenda a decisão atacada até o seu julgamento final.
02. (Tec.Adm.TRE-AM/FCC/2010) Dentre outros, NÃO
tem legitimidade para interpor recurso administrativo
A) as organizações e associações representativas, no tocante a direitos coletivos.
B) os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo.
C) aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida.
D) as associações civis instituídas há menos de 12 (doze) meses, no tocante a interesses individuais.
E) os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.
03. (Anal.Jud.TRT 7ª R/FCC/2009) Nos termos da Lei n°
9.784/99, quanto à competência para o processo administrativo, é INCORRETO afirmar que
a) as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.
b) não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, dentre outros.
152 DIREITO ADMINISTRATIVO
www.editoreadince.com.br e veja sé há novidade sobre esse material.
c) inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.
d) o ato de delegação é irrevogável, salvo quando se tratar de decisão de recursos administrativos.
e) será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
04. (Anal.Jud.TRT 7ª R/FCC/2009) Quanto à instrução do
processo administrativo objeto da Lei n° 9.784/99, é INCORRETO que
a) antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.
b) em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
c) encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
d) após encerrada a fase instrutória, o interessado não mais poderá juntar documentos, requerer diligências, perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, ainda que não tenha sido proferida a sentença.
e) os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
Gabarito: 01/D; 02/D; 03/D; 04/D
IMPROBIDADE ADMINISTRAIVA
01. (Analista Min.MP/PI/CESPE/2012) Considerando as
disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue os itens subsequentes.
1 Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito sujeitam seus autores, entre outras sanções, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos e à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
2 No sistema adotado pela referida lei, são sujeitos ativos do ato de improbidade os agentes públicos, assim como aqueles que, não se qualificando como tais, induzem ou concorrem para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiam direta ou indiretamente.
02. (Anal.Jud.TJ-ES/CESPE/2011) Julgue os itens
seguintes, considerando a Lei de Improbidade Administrativa.
1 Os atos de improbidade administrativa estão taxativamente previstos em lei, não sendo possível compreender que sua enumeração seja meramente exemplificativa.
2 As sanções penais, civis e administrativas previstas em lei podem ser aplicadas aos responsáveis pelos atos de improbidade, de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato.
03. (Anal.Jud.STM/CESPE/2011) Tendo em vista a
disciplina da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens
1 Caracteriza-se como ato de improbidade administrativa a ação ou omissão que causa lesão ao erário, decorrente tanto de dolo como de culpa em sentido estrito.
2 No âmbito do processo administrativo, um órgão e seu titular podem, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, devendo, tanto o ato de delegação quanto sua eventual revogação, ser objeto de publicação em meio oficial.
04. (Anal.Jud.TRT 21ª R/CESPE/2010) Considerando a
Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens seguintes
1 A lei considera atos de improbidade administrativa os que gerem enriquecimento ilícito, os que causem prejuízo ao erário e os que atentem contra os princípios da administração pública.
2 São sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa não apenas aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta e indireta, mas, também, os terceiros que, mesmo não se qualificando como agentes públicos, concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem direta ou indiretamente.
05. (Anal.Muni.Pref.Mun.Boa Vista - CESPE/2010)
Considerando a Lei de Improbidade - Lei n.º 8.429/1992 - e os procedimentos administrativos, julgue os itens seguintes
1 O procedimento administrativo cabe à administração pública, mas a Lei de Improbidade permite ao Ministério Público designar um representante do órgão para acompanhar esse procedimento.
2 As disposições da Lei n.º 8.429/1992 não são aplicáveis àqueles que, não sendo agentes públicos, se beneficiarem, de forma direta ou indireta, com o ato de improbidade cometido por prefeito municipal.
Gabarito: 01/CC; 02/EC; 03/CC/ 04/CC; 05/CE