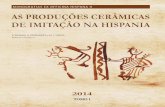TAUBER, Esmeralda, PINHEIRO, Luzia (2012). “Quando as palavras não chegam…”. In A crise da(s)...
Transcript of TAUBER, Esmeralda, PINHEIRO, Luzia (2012). “Quando as palavras não chegam…”. In A crise da(s)...
A Crise da(s) Socialização(ões)? La Crise de(s) Socialisation(s) ?
Colóquio internacional Colloque international
19 e 20 Abril 2012 19 et 20 Avril 2012
Atas Digitais/Actes Numériques
Universidade do Minho, Braga, Portugal ISBN : 978-989-97123-1-7
2
Organização/Organisation: Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF); Departamento de Ciências Sociais da Educação – Instituto de Educação – Universidade do Minho; Centro de Investigação em Educação (CIEd); Centro de Investigação dos Estudos da Criança (CIEC); Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS); Centro de Estudos Comunicação e Sociedade (CECS). Comissão organizadora/Comité d’organisation: Alice Delerue Matos, Ângela Matos, Carlos Alberto Gomes, Jean-Martin Rabot, Júlia Tomás, Manuel Sarmento, Maria Custódia Rocha, Natália Fernandes. Comissão Científica/Comité Scientifique Jean-Martin Rabot, Júlia Tomás, Manuel Sarmento Conceção gráfica e formatação/Conception graphique et formatation: Júlia Tomás Fotografia/Photographie: João Catalão Editor/Éditeur Instituto de Educação Universidade do Minho Braga, Portugal Impressão/Impression Copiscan, UNIP. LDA Braga, Portugal ISBN: 978-989-97123-1-7 Abril 2012/Avril 2012
3
Apresentação ………………………………………………………………
4
Présentation ………………………………………………………………..
6
Distributed Papers …………………………………………………………
8
Posters ……………………………………………………………………..
213
Aplicações informáticas/Applications numériques ……………………….
214
Clique sobre os títulos para aceder diretamente aos conteúdos. Cliquez sur les titres pour accéder directement aux contenus. NOTA 1: Os textos em português seguirão o acordo ortográfico escolhido pelos autores. NOTE 1 : Les textes en portugais suivront l’accord orthographique choisi par les auteurs.
4
Apresentação A socialização é um termo âncora da sociologia. De certa forma, a partir de E. Durkheim, a socialização condensa em si todo um programa teórico perseguido por algumas correntes estruturantes do pensamento sociológico: o processo pelo qual uma sociedade comunica valores e saberes e garante a sua continuidade e coesão. O estudo dos processos de socialização constitui-se, deste modo, como um tema central do pensamento sociológico. Com a modernidade, a transmissão dos valores e saberes sociais assumiu formas institucionais e normativas, que se consagraram especialmente em torno da família nuclear, da escola e das organizações de trabalho. Durante décadas, o pensamento sociológico discutiu os processos através dos quais diferentes grupos sociais operavam processos distintos de socialização primária familiar e eram sujeitos à socialização secundária, realizada no contexto da escola pública, reprodutora do capital social dos grupos socialmente hegemónicos. Noutro domínio, procurou-se discernir estilos de vida e dinâmicas de ação de indivíduos “des-socializados”, em rutura com as normas dominantes, portadores de projetos de vida alternativos ou exibindo comportamentos desviantes. Em qualquer dos casos, o discurso sobre a socialização representou-se sob o modo de uma imposição socialmente realizada, condição necessária ao laço social e à vida coletiva, sem deixar margem de liberdade ao indivíduo para configurar a sua própria norma e estabelecer o laço social a partir de uma proposta em consonância com visões do mundo e projetos de vida diferenciados. As transformações de uma sociedade em movimento, marcada pela incerteza e inscrita nas rotas do risco social, assinalam o lugar da socialização como um processo em crise, em correlação direta com o declínio das organizações sociais, especialmente as que são investidas da ação socializadora: a família nuclear e a escola. Deste modo, a radicalização do princípio da autonomia do sujeito – já inscrito no processo histórico desde a afirmação dos direitos do homem, mas agora promovido a fundamento da “sociedade dos indivíduos” (Elias) – e da pluralidade dos valores e visões do mundo, inerente a sociedades abertas, pluralistas e multiculturais, fazem emergir não apenas a pluralização das socializações, como a rutura com os processos e dispositivos em que esta se sustenta. Na auto-construção biográfica, que a radicalização da autonomia propõe, são mobilizados referenciais legitimadores de proveniência variada, para além da família e da cultura escolarmente transmitida: os grupos de pares, as tribos urbanas, os ídolos mediáticos. Face à vertigem dos princípios e lógicas de ação das instituições socializadoras, emergem como agências promotoras de novas sociabilidades as redes informais, os clubes desportivos e de fãs, em algumas redes de consumo, induzidas por processos fidelizadores de produtos do mercado. Com a abertura de formas de comunicação virtual e à distância, escrevem-se novas narrativas afiliadoras nos chats de conversação, nas redes sociais informáticas, no intercâmbio frenético de imagens, de ideias e de possibilidades de perceção de outras formas de existência? Com a emergência das sociedades multiculturais promovem-se formas de convivência cosmopolita, questionam-se estereótipos constitutivos de sentidos comunitários ou, alternativamente, reafirmam-se modos de constituição de comunidades-fortaleza, reacendem-se crenças e inventam-se hiperidentidades isolacionistas?
5
No quadro da análise da turbulência gerada na normatividade constituída, é propósito do colóquio interrogar o sentido da(s) socialização(ões) na contemporaneidade. Essa interrogação debruçar-se-á sobre as transformações e mudanças familiares, a escola, as crianças e a sua educação, as relações intra e intergeracionais, as organizações de trabalho e a influência dos média. Em comum a todos estes níveis e contextos de análise, uma mesma questão: como ocorre a transmissão de valores e saberes na era da “socialização para a individualização” (Beck e Gershein-Beck) e da crise e multiplicação das narrativas fundadoras da modernidade? Será que o conceito de socialização ainda nos fundeia num porto seguro de análise da produção do pensamento sociológico? Finalmente, será que a crise da(s) socialização(ões) não será, também, a crise do próprio conceito de “socialização”? Que outras formas de pensar o social se disponibilizam para pensar os processos de construção dos laços sociais?
6
Présentation Le concept de socialisation est un point d’ancrage de la sociologie. D’une certaine manière, à partir d’E. Durkheim, la socialisation condense en elle-même tout un programme théorique, poursuivie par certains courants de la structuration de la pensée sociologique actuelle : il s’agit du processus par lequel une société communique des valeurs et des connaissances et assure sa continuité et sa cohésion. L’étude des processus de socialisation constitue, par conséquent, un thème central de la pensée sociologique. Avec la modernité, la transmission des valeurs sociales et des connaissances a pris des formes institutionnelles et des normes qui se sont inscrites tout particulièrement autour de la famille nucléaire, de l’école et des organisations du travail. Pendant des décennies, la pensée sociologique a discuté les aménagements par lesquels les groupes sociaux opéraient à des différents processus de socialisation primaire chez la famille, ou se soumettaient au capital culturel socialement hégémonique, par le biais de la socialisation secondaire qui se manifestait dans le contexte de l’école publique. Dans un autre domaine, la pensée sociologique a essayé de discerner les modes de vie et l’action dynamique des individus « désocialisés », soit disant des individus qui avaient des projets de vie alternatifs ou des comportements déviants qui étaient en contradiction avec les normes dominantes. En tout cas, le discours sur la socialisation s’est représenté sur un mode d’imposition normatif, vu comme la condition nécessaire au lien et à la vie collective, sans marge de liberté pour l’individu de fixer sa propre norme et d’établir les rapports sociaux qui seraient en accord avec des visions du monde et des projets de vie différentiés. Les transformations d’une société en mouvement, marquée par l’incertitude et marchant sur les routes du risque social, marquent la socialisation comme un processus en crise, en corrélation directe avec le déclin des institutions sociales, en particulier de celles qui y ont investi : la famille nucléaire et l’école. Ainsi, la radicalisation du principe de l’autonomie du sujet – déjà inscrite, au début de la modernité, dans le processus historique de l’affirmation des droits humains, mais maintenant élu comme principe nucléaire dans la « société des individus » (Elias) – et la pluralité des valeurs et des visions du monde, inhérente à une société ouverte, pluraliste et multiculturelle, fait ressortir non seulement la pluralisation de la socialisation mais aussi la rupture avec les procédures et les dispositifs qui peuvent la soutenir. Dans la construction autobiographique, que la radicalisation de l’autonomie propose, sont mobilisés des repères de légitimation d’origines variées, au delà de la famille et de la culture académique transmise : les groupes de pairs, les tribus urbaines, les idoles médiatiques. Étant donné le vertige des principes et de la logique de l’action des institutions de socialisation, d’autres agences émergent comme promotrices de nouvelles sociabilités : les réseaux informels ;; les clubs sportifs et d’amitiés ; certains réseaux de la consommation, induites par les marchés. Avec les nouvelles formes de communication virtuelle et à distance, on écrit de nouveaux récits d’affiliation par la conversation en chat, par les réseaux sociaux informatiques, par l’échange frénétique d’images qui puissent se configurer comme des idées et des possibilités de perception d’autres formes d'existence. Avec l’émergence de sociétés multiculturelles on construit des formes de vie cosmopolite, on questionne les stéréotypes constitutifs du sens-commun ou, alors, on
7
réaffirme les modes de formation des communautés-forteresse, on revivifie les croyances et on invente des hyper-identités isolationnistes. Tenant en compte l’analyse de la turbulence produite au sein de la normativité établie, le colloque a comme propos celui de questionner le sens de(s) socialisation(s) dans le monde contemporain. Ce questionnement renversera sur les bouleversements et les changements familiaux et scolaires, sur les enfants et son éducation, sur les relations intra et intergénérationnelles, sur l’influence des médias. Conjointe à tous ces niveaux et contextes d’analyse, une question d’ensemble se pose : quelle est la transmission des valeurs et des connaissances dans l’ère de la « socialisation à l’individualisation » (Beck et Gershein-Beck) et de multiplication des grands récits fondateurs de la modernité ? Le concept de socialisation est-il encore un refuge sûr dans l’analyse de la production de la pensée sociologique ? Finalement, la crise de(s) socialisation(s) n’est/ne sont elle (s) pas aussi la crise du concept de « socialisation » ? Quelles autres formes de penser le social se présentent disponibles pour examiner les processus de construction des liens sociaux ?
8
Distributed Papers Aprender com a vida: Retratos e trajectórias de adultos portugueses pouco escolarizados Apprendre avec la vie : Portraits et trajectoires des adultes portugais peu scolarisés Alexandra Aníbal Aprender a viver num mundo em mudança: a socialização dos avós pelos netos na perspectiva dos adolescentes Apprendre à vivre dans un monde en mutation : La socialisation des grands-parents par les petits-enfants du point de vue des adolescents Alice Delerue Matos, Rita Borges Neves, Patrícia Silva Discussão teórica acerca da relação entre fotografia e escola Débat théorique sur le rapport entre photographie et école Amanda Nogueira A ponte e a porta. A formação das identidades como processo de socialização e de dessocialização Le pont et la porte. La formation des identités comme procès de socialisation et de déssocialisation Ana Leite Penser la crise de la socialisation professionnelle des enseignants français : un changement de modèle ? Pensar a crise da socialização profissional dos professores franceses: uma mudança de modelo? Benjamin Gesson A sociedade nos indivíduos, os indivíduos em sociedade: a construção de elos entre imigrantes peruanos no Brasil La société dans les individus, les individus en société : la construction de liens entre les immigrants péruviens au Brésil Camila Daniel “De pequenino/a se socializa o/a menino/a”: O Orçamento Participativo enquanto processo de socialização para a cidadania ‘C’est lorsqu’il est tout petit que l’on socialise l’enfant’ : Le Budget Participatif comme procès de socialisation pour la citoyenneté Catarina Tomás e Ana Matos Processos de Socialização Online: Novos Entraves e Desafios à Luta pela Igualdade de Género Processus de socialisation on-line : nouveaux obstacles et défis de la lute pour l´égalité du genre Custódia Rocha
9
Socialização e sustentabilidade: ruídos de uma comunicação mediatizada La socialisation et le développement durable: les bruits d’une communication médiatisée Denise Hosana de Sousa Moreira Quando as palavras não chegam... Quand les mots manquent… Esmeralda Cristina Tauber e Luzia Pinheiro Proposta de comunicação Francisco Pinheiro Socialização e aprendizagem colectiva Socialisation et apprentissage collectif Irene Santos A socialização em contextos educativos não-escolares La socialisation en contextes éducatifs non-scolaires José Palhares Confeccionar o comum na escola a partir da individuação: a socialização política à prova nas formas de habitar a escola Confectionner le commun à l’école à partir de l’individuation : la socialisation politique à l’épreuve dans les formes d’habiter l’école José Manuel Resende A invisibilidade social, uma construção teórica L’invisibilité sociale : une construction théorique Júlia Tomás Socializações em rede: experiências juvenis do bairro à Internet Socialisations en réseau : expériences juvéniles de la cité à Internet Juliana Batista dos Reis e Juarez Dayrell Qual é a cor da cultura na educação infantil? Quelle est la couleur de la culture à l’école maternelle Leni Vieira Dornelles e Gládis Elise Pereira da Silva Kaercher A socialização para a excelência na escola pública portuguesa La socialisation pour l’excellence dans l’école publique portugaise Leonor Lima Torres & José Augusto Palhares Conceito de infância pelas crianças: as socializações Le concept d’enfance par les enfants : les socialisations Luciana Ponce Bellido Giraldi
10
Novas formas de sociabilização Nouvelles formes de Sociabilité Luzia De Oliveira Pinheiro e Maria Odete Coelho A Internet como vetor de novas socializações: a dialética do real e do virtual L’Internet comme vecteur de nouvelles socialisations : la dialectique du réel et du virtuel Mafalda da Silva Oliveira Recompositions familiales et socialisation : le cas de la socialisation politique par les belles-mères Recompositions familiales et socialisation : le cas de la socialisation politique par les belles-mères Manon Réguer-Petit O Homem de negócios contemporâneo: três socializações? L’homme d’affaires contemporain : trois socialisations? Márcio Sá Universo de programas: a política de educação do campo em Sergipe Un univers de programmes : la politique d’éducation des campagnes à Sergipe Marilene Santos Histórias de vida e processos de socialização: o caso dos trabalhadores portugueses em processos de reconhecimento de competências Histoires de vie et processus de socialisation : la cas des travailleurs portugais en processus de reconnaissance de compétences Pedro Abrantes Confinar o “rebanho”: uma idéia absurda...(mente) recorrente na escola de educação da infância Enfermer le “troupeau” : une idée absurde et récurrente dans l’école d’éducation de l’enfance Rosana Coronetti Farenzena Jeunes, lutte contre le VIH/SIDA et construction identitaire au Cameroun Jovens, luta contra o VIH/SIDA e construção identitária nos Camarões Vivien M. Meli e Honoré Mimche
11
Aprender com a vida: Retratos e trajectórias de adultos portugueses pouco escolarizados Alexandra Aníbal ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, CIES-IUL, Lisboa, Portugal. alexandra.aní[email protected] A comunicação proposta enquadra-se numa investigação em curso, no âmbito do programa de doutoramento em Sociologia do ISCTE, que tem por objectivo a abordagem sociológica das questões da aprendizagem e da aquisição de competências de literacia fora do sistema de ensino formal, em contextos informais e não formais de aprendizagem. Tem como pano de fundo a “Iniciativa Novas Oportunidades”, nomeadamente os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) levados a cabo nos Centros Novas Oportunidades. Estes processos têm como destinatárias pessoas com competências adquiridas pela experiência de vida mas que não foram certificadas oficialmente pelo sistema nacional de ensino. São sobejamente conhecidos os défices de escolarização e de literacia da população portuguesa, assim como os factores históricos e estruturais que constituem fortes constrangimentos à aquisição, pelos portugueses, de competências de literacia (Ávila, 2008). Conhecemos os seus efeitos a nível macro. Mas não sabemos exactamente como actuam a um nível micro, individual, ao nível dos processos de socialização de cada indivíduo. Tentando responder a esta questão, analisaram-se em profundidade percursos de vida de indivíduos pouco escolarizados que fizeram uma parte significativa das suas aprendizagens em contextos não formais e informais. Tentou-se compreender que contextos não escolares de aprendizagem (não formais e informais) potenciam ou inibem a formação de disposições reflexivas e cognitivas que potenciam a aquisição e desenvolvimento de competências de literacia. Considerando como relevante e válida a compreensão da realidade e das regularidades sociais a partir do seu confronto com as singularidades, o enfoque da pesquisa foi colocado nestes casos singulares/excepções estatísticas, pretendendo-se conhecer detalhadamente os percursos biográficos dos adultos com desempenhos excepcionais nos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. Na presente comunicação propomo-nos analisar apenas a “parcela” do percurso biográfico de cada um dos indivíduos entrevistados que coincide com a infância e adolescência, até à entrada no “mundo do trabalho”. Este período é fundamental para a compreensão das disposições incorporadas pelos sujeitos através das primeiras experiências socializadoras. Ao longo da história da sociologia, a fase inicial da vida das pessoas foi sempre considerada fulcral ao nível da sua construção social, aquela que, por ser precoce e inaugural, tem efeitos mais estruturadores do indivíduo. Para Durkheim, esta fase inicial é uma etapa primordial da vida dos indivíduos e das sociedades pois é então que, através da educação se “forma no indivíduo o ser social”. Humanizar/socializar cada indivíduo, através da aprendizagem dos deveres e regras do colectivo em que nasce, asseguram o ajustamento do ser individual à sociedade, condição para a existência humana e para o progresso social. A escola e a família são as
12
instituições que desempenham neste modelo funcionalista estas relevantes funções educativas e integradoras, estando a forma como desempenham o seu papel dependente do estádio de desenvolvimento socio-histórico das sociedades. Bourdieu introduz na sua análise da socialização a questão das desigualdades sociais e a noção de que esta tem a função de manter um status quo social com vantagens para alguns e desvantagens para muitos. A função da socialização é, segundo Bourdieu, a de transmitir às crianças, em cada grupo social, um habitus específico, entendido como “conjunto de disposições, de maneiras de pensar, de sentir, de se comportar, socialmente constituído e incorporado pelos indivíduos. O tipo de socialização exercida sobre cada criança depende, assim, da sua posição social/do seu grupo de origem, e determina esse conjunto coeso de disposições que ela incorpora, sem disso ter consciência, para o resto da vida. Berger e Luckmann (2010) e Lahire (1998, 2004, 2005, 2008 a) contrapõem visões mais dinâmicas da socialização. Os primeiros consideram que os processos de socialização são múltiplos e contraditórios, inacabáveis e que se desenvolvem ao longo de toda a vida. Embora não coloquem em dúvida os elementos constitutivos do indivíduo adquiridos na infância, chamam a atenção para o carácter não determinístico da socialização, e para as possibilidades de transformações identitárias ao longo da existência humana (Berger e Luckmann, 2010). No entanto, acentuam que a “socialização primária”, correspondente aos cruciais primeiros anos de vida, produz efeitos indeléveis nos indivíduos: corresponde à imersão da criança num mundo social que ela apreende não como um universo possível entre outros, mas como o mundo, o único mundo existente e concebível. É esse mundo que lhe serve de referência para a objectivação do mundo exterior e para a sua ordenação através da linguagem (Berger e Luckmann, 1983, pp. 173-190). Vários estudiosos como Vygotsky, 1987 [1934]; Luria, 1976 e Goody, 1988, 2000), debruçaram-se, de forma que consideramos de grande actualidade para a compreensão das questões da literacia nas sociedades contemporâneas, sobre a importância da aprendizagem da linguagem – oral e escrita – durante e através dos processos mais precoces de socialização. Sendo todos estes trabalhos importantes para uma compreensão do processo de construção da identidade social e pessoal do indivíduo, falta-lhes , no entanto, uma abordagem a partir das transformações sofridas no interior das agências tradicionais da educação, em consequência dos processos de modernização das sociedades (Giddens, 1995, 1997; Enguita, 2001; Mouzelis,2008; Archer, 2007). Neste sentido, Lahire (1998) chama a atenção para o carácter plural do indivíduo nas sociedades contemporâneas complexas, que torna inoperacional e desadequado o conceito rígido de habitus. Na contemporaneidade complexa, os indivíduos não se confinam a um único grupo social restrito e específico. Interagem em diversos contextos socializadores, interiorizam múltiplos habitus, vivem experiências sociais múltiplas, estão em contacto com pessoas de referência que desempenham diferentes papéis. São o produto de todas estas diferentes e mesmo contraditórias experiências socializadoras. Segundo Lahire, para compreender a socialização nos dias de hoje há que substituir a noção de um habitus rígido pela de disposições para agir, pensar, sentir e crer, que podem coexistir de forma contraditória num mesmo indivíduo. Atribuindo também uma importância fundamental a estas fases iniciais da vida na construção de cada indivíduo, Lahire (2008) chega mesmo a afirmar que urge realizar pesquisas empíricas no âmbito de uma sociologia da infância e adolescência. Essas pesquisas deveriam contemplar, por um lado, o estudo dos processos de socialização/interiorização, por crianças e adolescentes, das relações com a autoridade,
13
das disposições socio-políticas, de disposições culturais-cognitivas e de quadros de valores culturais/morais e, por outro lado, o estudo dos fenómenos de transferabilidade das disposições (mentais e comportamentais) de um universo para outro (da família à escola ou grupo de pares, da escola à família) ou da tensão entre disposições contraditórias resultantes de quadros socializadores parcialmente ou totalmente incompatíveis. Foi isto que, numa pequena escala, nos propusemos fazer na análise das histórias de vida dos indivíduos seleccionados, reflectidas nas entrevistas e nos seus Portefólios Reflexivos de Aprendizagens. Tentar apreender e compreender a forma como estes indivíduos, ao longo dos seus percursos de vida, nos quais a escola teve um tempo (mas não necessariamente um impacto) limitado, interiorizaram, através dos processos de socialização, “muitos dos saberes e saberes-fazer, disposições para agir, pensar, sentir e crer” através “do contacto e na interacção com adultos e com outras crianças ” Lahire (2008), de forma mais ou menos contraditória. Abordagem biográfica Elegeu-se, como componente central da estratégia metodológica, a abordagem biográfica de forma a apreender as experiências e contextos socializadores, a formação de disposições e a aquisição de competências através da análise das histórias de vida contadas pelos próprios sujeitos, de duas formas:
Através do relato efectuado em situação de entrevista biográfica, semi-estruturada;
Através da escrita auto-biográfica, componente-base do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens, instrumento central dos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências.
Selecção dos sujeitos e constituição do corpus A amostra é constituída por 12 indivíduos, com escolaridade inferior ao 9º ano que realizaram com muito sucesso o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, tendo obtido uma certificação de nível secundário e que possuem os seguintes traços de caracterização: 1) Escolaridade de partida inferior ao 9º ano de escolaridade, 2) Conclusão do processo RVCC de nível secundário; sem necessidade de recurso a formação complementar. Análise de conteúdo - Resultados, apresentação e análise interpretativa dos resultados Serão apresentados os resultados obtidos através da análise de conteúdo (assistida por computador – programa MAXQDA) até ao momento de apresentação da comunicação, nomeadamente, como referido, aqueles que dizem respeito às experiências socializadoras dos indivíduos entrevistados. Dar-se-á especial relevo á questão dos grupos de referencia (Merton, 1970) e dos “outros significativos”, pessoas/instituições que não pertencendo à família nuclear dos indivíduos exerceram sobre eles uma influência importante, servindo de modelos socializadores, nalguns casos de forma complementar, noutros de forma contraditória. Estas múltiplas influências contribuíram
14
para a formação de algumas das disposições evidenciadas por este conjunto singular de indivíduos. Exemplo de 2 relatos de “Outros significativos”: Era uma tia da minha mãe (...) Então eu ia lá passar o sábado, embrenhava-me ali na Feira da Ladra e tenho muitas recordações como aquela do homem da banha da cobra (...) Outra coisa que me impressionou muito foi o homem que lia em braille e foi também onde tomei o meu gosto pela história, ele lia em braille e lia a história de Aljubarrota. Eu era miúdo e fixei a Ala do Namorados com ele, o homem contava aquilo de tal maneira... Depois foi também uma professora da 3ª classe que ela contava a história de tal maneira, os Descobrimentos, ela própria também se empolgava a contar e eu ainda hoje gosto de história. Havia lá no bairro de Alfama, todas as semanas ia uma carrinha da biblioteca itinerante que era da Calouste Gulbenkian em que eu ia lá buscar os livros, Os Cinco, Condessa de Ségur, lia muita coisa disso e todas as semanas passava o carro e se por qualquer motivo não tivesse lido, chegava-se lá e fazia-se nova ficha e trazia-se novamente os livros para casa. Eu tinha uma professora que foi a professora da 5ª e 6ª classe que era açoriana e ela gostava muito de mim, tinha uma afeição, apanhou-me uma afeição. Ela chegou a oferecer-se para me pagar os estudos. Referências Bibliográficas ARCHER, Margaret (2007), Making Our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge, Cambridge University Press. ÁVILA, Patrícia (2008), A Literacia dos Adultos: Competências-Chave na Sociedade do Conhecimento, Lisboa, Celta. BERGER, Peter e LUCKMAN, Thomas. (2010), A construção social da realidade. Tratado de sociologia do Conhecimento, Dinalivro. BOURDIEU, Pierre (1994, 2001), Le Sens Pratique, Paris, Les Éditions Minuit. ENGUITA, Mariano F. (2001), Educar en Tiempos Inciertos, Madrid, Morata. GIDDENS, Anthony (1995), As Consequências da Modernidade, Lisboa, Celta Editora. GIDDENS, Anthony (1997), Modernidade e Identidade Pessoal, Lisboa, Celta Editora. GOODY, John (1988), A Domesticação do Pensamento Selvagem, Lisboa, Editorial Presença. GOODY, John (2000), The Power of Written Tradition, Washington/Londres, Smithsonian Institution Press. LAHIRE, Bernard (1998), L’Homme Pluriel: Les Ressorts de l’Action, Paris, Éditions Nathan. LAHIRE, Bernard (2004), La Culture des Individus: Dissonances Culturelles et Distinction de Soi, Paris, Éditions La Découverte. LAHIRE, Bernard (2005), “Patrimónios individuais de disposições: para uma sociologia à escala individual”, Sociologia, Problemas e Práticas, 49, pp. 11-42. LAHIRE, Bernard (2008b), La Raison Scolaire: École et Pratiques d’Écriture, entre Savoir et Pouvoir, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. LAHIRE, Bernard e ROSENTHAL Claude (2008), La Cognition au Prisme des Sciences Sociales, Paris, Éditions des Archives Contemporaines.
15
LURIA, Alexander (1976), Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations, Harvard University Press. MERTON, Robert (1970), Sociologia. Teoria e Estrutura, São Paulo, Editora Mestre Jou MOUZELIS, Nicos (2008), Modern and Postmodern Theorizing: Bridging the Divide, Cambridge, Cambridge University Press. VYGOTSKY, Lev S. (1934, 1987), Pensamento e Linguagem, São Paulo, Martins Fontes.
16
Aprender a viver num mundo em mudança: a socialização dos avós pelos netos na perspectiva dos adolescentes Alice Delerue Matos [email protected] Rita Borges Neves [email protected] Patrícia Silva [email protected] CICS - Universidade do Minho Resumo: As relações entre avós e netos têm sido objeto de estudo em Ciências Sociais há mais de meio século. Predominam as pesquisas que enfatizam a importância dos avós como agentes de socialização dos netos (Neugarten and Weinstein, 1964; Denham and Smith, 1989) e que adoptam a perspectiva dos avós, negligenciando a visão da geração mais nova (Dellmann-Jenkins et al, 1987; Attar-Schwartz et al, 2009). Contudo, considerando a reciprocidade inerente ao processo de influência durante a interação (Tomlin, 1998) não podemos descurar a relevância dos mais novos enquanto agentes de socialização e de integração social dos idosos, nem tão pouco deixar de dar voz aos adolescentes enquanto atores sociais. Nesta pesquisa qualitativa foram entrevistados 34 adolescentes, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos sobre diferentes aspectos da sua relação com os avós. Os resultados evidenciam que a socialização dos avós pelos netos inclui, nomeadamente, a aprendizagem de uma diversidade de competências e conhecimentos sobre novas tecnologias informáticas (ex. internet) e de comunicação (ex. telemóveis), bem como a adopção de novas expressões de linguagem e estilos de vida contemporâneos. Os netos desempenham também um papel importante na motivação dos seus avós para a interação social, em actividades de lazer ou participação em eventos familiares e sociais. Concluiu-se ainda que os mais novos representam um suporte emocional para os seus avós e um recurso potencial para uma melhor integração dos idosos na sociedade contemporânea. Apprendre à vivre dans un monde en mutation. La socialisation des grands-parents par les petits-enfants du point de vue des adolescents
Résumé : Les relations entre les petits-enfants et les grands-parents font l’objet d’étude en Sciences Sociales depuis plus d’un demi-siècle. Les recherches prédominantes soulignent l’importance des grands-parents comme agents de socialisation des petits-enfants (Neugarten and Weinstein, 1964; Denham and Smith, 1989) et adoptent la perspective des grands-parents, négligeant celle des petits-enfants (Dellmann-Jenkins et al, 1987; Attar-Schwartz et al, 2009). Toutefois, compte tenu de la réciprocité qui caractérise le processus d’influence lors de l’interaction (Tomlin, 1998), on ne peut pas négliger l’importance des plus jeunes comme agents de socialisation et d’intégration sociale des personnes âgées ni ne pas leur donner une voix en tant qu’acteurs sociaux.
17
Dans cette recherche qualitative, on a interrogé 34 adolescents, âgés de 12 à 18 ans sur les différents aspects de leur relation avec les grands-parents. Les résultats montrent que la socialisation de ceux-ci par la jeune génération comprend l’apprentissage d’un grand nombre de compétences et de connaissances sur les nouvelles technologies, notamment, informatiques (Internet, par exemple) et de communication (téléphones mobiles), aussi bien que les influences qui déterminent l’adoption de nouvelles expressions au niveau de la langue parlée ainsi que de styles de vie contemporains. Les petits-enfants jouent également un rôle important quand ils motivent leurs grands-parents à interagir socialement et à participer à des événements familiaux et sociaux. Finalement, on a conclu que la jeune génération représente une ressource potentielle pour une meilleure intégration des personnes âgées dans la société. A reciprocidade das influências entre avós e netos A influência pode ser entendida como a sujeição às expectativas de outros significativos (influência normativa) ou a adopção da perspectiva de outros em questões importantes quando persuadidos da sua validade (influência informacional) (Turner, 1991). As perspectivas tradicionais sobre as influências no seio da família têm-se focado na socialização e na interiorização de papéis e normas culturais por parte das crianças. A socialização tem sido frequentemente utilizada para descrever um processo de aprendizagem unilateral que serve a continuidade de um dado sistema social (Parsons, 1955). Esta abordagem enfatiza a forma como os adultos influenciam os mais novos, centrando-se a pesquisa sobre avós e netos sobretudo nos mais velhos, como agentes de socialização. Quer através de interacção directa com os netos, quer pela influência que exercem sobre as práticas de parentalidade, os avós podem afetar direta, ou indiretamente, o desenvolvimento das crianças (Denham and Smith, 1989; Franks et al, 1993; Roberto and Skogland, 1996; Tomlin, 1998). Os estudos têm mostrado que os avós influenciam os seus netos em áreas tão díspares como a moral, a religião, a política, a educação, a ética no trabalho, os valores e modelos de família, a sexualidade e a identidade pessoal (Franks et al, 1993; Lawton et al, 1994; Tomlin, 1998). A partir da 2ª metade do séc. XX, a transformação das relações familiares inscreveu as interações entre avós e netos numa lógica relacional assente na individualização e sentimentalização. A crise das relações baseadas em princípios hierárquicos rígidos ou, por outras palavras, a “deslegitimação da autoridade como fundamento da família” deu origem ao estabelecimento de relações entre avós e netos mais igualitárias (Gourdon, 2001), criando condições para que as gerações mais novas passassem a exercer maior influência nas gerações que as precederam. Num estudo realizado na Nova Zelândia, Armstrong (2005) pôs em evidência mudanças ao nível das percepções, atitudes e comportamentos dos avós por ação da geração mais jovem. A partir de entrevistas a avós do sexo feminino, com idades relativamente jovens, a autora destaca as influências exercidas pelos netos na aquisição de conhecimentos, competências e vivência de experiências pela geração mais velha, em áreas que vão desde as tecnologias de informação à língua nativa. Nas sociedades hodiernas, as tecnologias de informação contribuíram também para a transformação das relações intergeracionais, maximizando frequentemente os contactos e potenciando a reciprocidade de influências. Com base num estudo sobre o impacto das TIC nas relações avós-netos Douarin e Caradec (2009) concluem que estas contribuem
18
para estreitar as relações entre as duas gerações, o que as torna mais permeáveis a influências mútuas. Deste modo, contrapõe aos autores que consideram que os conceitos de “socialização ascendente” ou de “retrosocialização” são particularmente adequados à caracterização da interação entre avós-netos mediadas pelas TIC, por evidenciarem a predominância das influências exercidas pela geração mais jovem, a complexidade das trocas tecnológicas intergeracionais e o facto destas transferências assumirem, frequentemente, algum equilíbrio entre as partes envolvidas. Para Douarin e Caradec, a tónica que alguns autores colocam na predominância da influência dos netos nos avós nas relações mediadas pelas TIC assenta em pressupostos errados de que a geração mais velha é necessariamente incompetente em termos tecnológicos e de que apenas a socialização precoce nas tecnologias permite a familiarização com as mesmas. O autor afirma ainda que, se os jovens intervêm junto dos avós sobretudo na resolução de problemas técnicos e na aprendizagem, contribuindo para alargar as competências informáticas dos mais velhos, não raras vezes, cabe aos avós introduzir os netos nas novas tecnologias sobretudo aqueles que são mais novos. Tal como mencionado anteriormente, em contexto de interacção social, os indivíduos aprendem uns com os outros, já que ambas as partes são susceptíveis de sofrerem influências (Tomlin, 1998; Putney and Bengtson, 2002). Esta reciprocidade aplica-se também, evidentemente, às relações avós-netos mas tem sido pouco estudada na literatura científica que destaca o papel dos avós como agentes de socialização dos netos, desvalorizando o facto daqueles se ajustarem às expectativas destes últimos e moldarem os seus comportamentos ou atitudes em resultado de informação fornecida pelos mais novos. Metodologia Este estudo qualitativo teve por base a realização de 34 entrevistas a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade (idade média=15 anos; 16 rapazes e 18 raparigas), residentes na Região Norte de Portugal. Inicialmente 130 estudantes responderam a um curto questionário que reuniu informações sobre o género, idade, número de avós vivos e distância geográfica entre a residência do jovem e a dos seus avós. Num segundo momento, foram entrevistados 34 adolescentes selecionados em função das respostas ao referido questionário, de acordo com os seguintes critérios: 1) terem pelo menos dois avós vivos, de modo a permitir a indicação do avô/avó de que o jovem se sentia afetivamente mais próximo, 2) não co-residir com nenhum dos avós, e 3) residir a uma curta distância (menos de 15 km) de pelo menos um deles de forma a possibilitar um contacto pessoal regular. As entrevistas semi-estruturadas centraram-se em diversos aspectos da relação entre o jovem e o avô/avó identificado como aquele de que o adolescente se sentia afetivamente mais próximo. Nas entrevistas procurou-se compreender o grau de envolvimento afetivo, a assistência eventualmente prestada a esse avô/avó, a partilha de valores e crenças, a amplitude e tipo de interação e, finalmente, as mudanças ao nível dos comportamentos e atitudes do avô/avó, em resultado da interação com o neto. As entrevistas gravadas com o consentimento dos jovens, foram realizadas sem a presença dos avós ou pais e tiveram uma duração que oscilou entre os 30 e os 120 minutos. Os dados recolhidos foram estruturados e interpretados de acordo com a orientação geral da análise de conteúdo temática (Bardin, 1977), ou seja, os conteúdos
19
foram organizados a partir da identificação de categorias temáticas de análise subjacentes ao guião de entrevista ou inerentes ao próprio discurso dos entrevistados. A organização da informação e a sua interpretação foi alvo de processo de análise comparativa e discussão entre os autores. Para preservar o anonimato dos entrevistados foram utilizados pseudónimos. As interações entre netos e avós A maioria dos entrevistados morava com os pais e irmãos, um número reduzido vivia apenas com um dos progenitores. Quase metade dos adolescentes indicou a avó materna como o avô/avó afetivamente mais próxima, os restantes jovens mencionaram a avó paterna ou o avô materno. Esta preferência parece ser mediada pela proximidade geográfica das residências que permite maior frequência de contactos: “Esta avó é muito especial porque eu passo muito mais tempo com ela do que com os outros. Ela mora próximo de mim.” (Carla, 18 anos). A idade dos avós de que os jovens se sentem mais próximos varia de 63 a 86 anos. Quase todos têm uma baixa escolaridade tendo sido, durante a sua vida ativa, operários, trabalhadores agrícolas ou donas de casa, o que é coerente com a caracterização sócio-demográfica dos idosos considerados noutros estudos sobre a Região Norte de Portugal (Delerue Matos, 2007). Regra geral, estes idosos não necessitam de apoio nas atividades da vida quotidiana. Os adolescentes consideraram que tinham responsabilidades para com os avós, sentindo que tinham a obrigação de manter com eles contacto frequente e de os ajudar quando necessário. Todos afirmaram fazer-lhes companhia, mimá-los e passar algum tempo juntos. Mais de metade participou em passeios com os avós de que se sentem mais próximos e mencionou auxiliá-los fazendo recados ou indo às compras a seu pedido. Um pequeno número acompanhou os avós nas suas saídas, nomeadamente, em consultas médicas, idas ao cabeleireiro ou ao banco. Consideram que, ao fazê-lo, estão a retribuir o amor e carinho que os avós lhes manifestaram ao longo dos anos: “Eu faço-lhe companhia, ajudo-o com a alimentação. Ele passa o dia na cama, não faz refeições adequadas e eu sinto que devo estar por perto para o ajudar. Eu sinto que agora é minha vez de ajudar, de lhe fazer companhia e de o visitar para que não se sinta só.” (Júlia, 16 anos) A interação gerou influências dos netos nos avós, tendo sido reportadas mudanças ao nível dos comportamentos ou mesmo das atitudes destes últimos. De acordo com os netos, os avós mostraram maior predisposição para a utilização das tecnologias e aprenderam a usá-las. Os adolescentes ajudaram os seus avós a tornarem-se mais autónomos no uso de telemóveis, pequenos electrodomésticos (como micro-ondas) e controlos remotos de televisão. Insistem com muita frequência para que recorram à tecnologia, persuadindo-os das suas vantagens. Por outro lado, quando a geração mais jovem se encontra ciente da importância de assumir um comportamento ecologicamente correto, tenta mudar a conduta dos avós. Alguns netos afirmaram que os seus avós passaram a adoptar novas atitudes ambientais, uma vez que se tornaram, por sua influência, mais conscientes do valor da proteção ambiental, nomeadamente, através da reciclagem de materiais.
20
Alguns jovens também influenciaram as dietas alimentares dos seus avós. Fizeram-no conscientes dos benefícios destes adoptarem uma alimentação saudável, informando-os sobre a nutrição e auxiliando-os a preparar algumas refeições. Os netos foram particularmente zelosos quando os seus avós tiveram de cumprir dietas alimentares rigorosas devido a problemas de saúde. No entanto, apesar de todos os esforços, nem sempre foram bem-sucedidos pois, frequentemente, confrontam-se com grande resistência à mudança dos hábitos alimentares, por parte dos avós: “Eu costumo dizer-lhe “Avó tenha calma, não precisa de comer isso tudo;; pode deixar para amanhã” mas sei que só funciona quando eu estou lá. Quando eu não estou, ela come demais” (Ana, 14 anos) Os netos também encorajam os avós a participar em eventos sociais e atividades de lazer pois estão cientes da importância da interação social para o seu bem-estar. Alguns avós também se tornaram menos críticos em relação à geração mais jovem, passando a compreender os seus estilos de vida e preferências: “Ela estava sempre a dizer-me para cortar o cabelo mas, como eu continuei a defender o meu ponto de vista, ela está cada vez mais convencida de que um rapaz também pode usar o cabelo comprido.” (Daniel, 17 anos) Os netos também se mostraram uma relevante fonte de actualização e correcção da expressão oral. Especialmente no caso de avós com baixas qualificações, os netos dizem ajudar e corrigir a oralidade dos avós, bem como contribuir para a expansão do seu domínio de vocabulário: “Eu ajudei mesmo na forma como ela fala. Ela agora já não tem vergonha de falar com gente da minha idade e com os meus amigos” (Olívia, 13). Alguns netos influenciaram os seus avós no sentido de se tornarem mais tolerantes e capazes de discutir assuntos "tabu", como o divórcio, as uniões de facto e a homossexualidade. No entanto, os jovens sublinham que, apesar do diálogo, a geração mais velha não se mostra muito propensa a mudar de opinião sobretudo relativamente à homossexualidade. Mas, se os idosos se mostram resistentes à mudança de algumas percepções e atitudes, as influências dos netos nos comportamentos dos avós podem ser importantes ainda que variem em função das características das díades e dos domínios de influência. A influência dos netos nos avós A maioria dos estudos que abordam as relações avós-netos usam um enfoque mais tradicional, entendendo os netos como a única parte que sofre influências. No presente artigo defende-se uma outra abordagem que sublinha a reciprocidade do processo de influência, tal como Tomlin (1998) e Putney e Bengtson (2002) sugerem. Assim, propusemo-nos verificar se os netos adolescentes portugueses têm a capacidade de exercer influências benéficas sobre o avô/avó emocionalmente mais próximo, bem como compreender alguns dos mecanismos através dos quais um neto adolescente é capaz de mudar os comportamentos e/ou atitudes dos seus avós.
21
Constatamos que os netos são capazes de afectar o modo como os avós mais próximos se relacionam com a tecnologia (informática, telemóveis, e pequenos aparelhos domésticos). Esta evidência corrobora as conclusões de Armstrong (2005) que constatou que os netos neozelandeses transmitiam conhecimentos e apoiavam as avós na utilização das TIC, influenciando-as ainda nas atividades de lazer e participação em eventos sociais. Verificámos também os efeitos benéficos dos netos nos comportamentos ecológicos dos avós, bem como nas suas dietas alimentares, atividades sociais e na percepção das mudanças sociais (como o divórcio e a co-habitação antes do casamento). Os adolescentes entrevistados zelam pelos interesses dos mais velhos e procuram potenciar mudanças comportamentais em áreas que consideram importantes para o bem-estar geral dos idosos. Portanto, as influências exercidas podem ser classificadas de informacionais, sendo que as mudanças surgiram do reconhecimento da validade do ponto de vista do neto (Turner, 1991). No entanto, a influência dos netos parece estar intencionalmente limitada a questões mais práticas. Os adolescentes não tinham interesse em intervir em assuntos mais controversos sobre religião, política e sexualidade (por exemplo, em relação à homossexualidade). Mesmo tendo opiniões diferentes, consideravam os avós mais próximos como uma referência moral, educacional, ao nível dos ideais da família e da ética de trabalho (também evidenciado por Franks et al, 1993; Lawton et al, 1994) e respeitavam as opiniões dos mais velhos, procurando minimizar as divergências. Ainda, reconhecendo as diferentes origens culturais, sociais e materiais dos avós, percebiam fracas possibilidades de alterar valores e crenças fundamentais dos avós, pelo que se abstinham de debater questões polémicas. Vala e Monteiro (2002) defendem que as relações estreitas que envolvem algum grau de dependência emocional ou mesmo física são fundamentais para que se exerça influência. O indivíduo está também mais permeável a ser influenciado em áreas em que não tem uma opinião muito vincada (Vala e Monteiro, 2002). De facto, constatou-se que, nos temas com os quais o idoso não está muito familiarizado (por exemplo TIC, informações recentes sobre saúde e comportamentos de vida saudáveis) é mais provável que as suas perspectivas sejam impressionadas por um neto com o qual interage frequentemente e tem um vínculo emocional forte. Quanto aos valores e crenças mais consolidados no idoso, parece serem difíceis de mudar, ainda que possam constituir tema de conversa entre os elementos das duas gerações. Para que se possa compreender a influência do neto é necessário ainda considerar fatores como o género e a linha materna/paterna (que estrutura oportunidades para a interação e para o estabelecimento de laços afetivos), expectativas relativamente ao papel dos netos, natureza da mediação exercida pela geração intermédia (os pais), bem como o contexto histórico/cultural (Silverstein et al, 1998). Cada um desses factores será brevemente discutido de seguida. Em quase metade dos casos da amostra deste estudo, a escolha do avô/avó favorita recaiu sobre a avó materna. Estes resultados são coerentes com pesquisas anteriores que referem que as relações de maior proximidade emocional se estabelecem com as avós (Eisenberg, 1988; Spitze e Ward, 1998) e que apontam a linha materna como a preferencial (Creasey e Koblewski, 1991). Por um lado, as mulheres são as intervenientes mais influentes na relação avós/netos. Por outro, em Portugal, a tradição matrilocal constrange os jovens casais a formar família a uma distância menor dos pais da mulher o que pode explicar, em parte, as relações preferenciais com os avós da linha materna. De facto na generalidade dos casos
22
o aspecto que parece determinar a intensidade emocional é a proximidade geográfica. Os jovens sentem-se mais próximos do avô/avó que habita mais próximo deles e com o qual interagem com mais frequência. Estes resultados são congruentes com as propostas teóricas que apontam o género e a distância geográfica como os vectores que estabelecem as oportunidades para a interação e a consistência do laço de solidariedade intergeracional (Bengtson and Roberts, 1991; Silverstein et al, 1997; Hammarström, 2005). Ainda, contactos frequentes e a diversidade de atividades partilhadas favorecem a proximidade emocional. O significado que estes adolescentes atribuem ao papel de neto, ou as suas expectativas de papéis, está claramente associado a um forte sentido de responsabilidade filial, sentimento que foi, aliás, encontrado também entre netos adultos (Robertson, 1976; Even-Zohar e Sharlin, 2009). Contudo, independentemente deste sentimento de dever, o propulsor da prestação de cuidados é o laço de afecto associado à necessidade de cuidados dos idosos, sempre que os netos tenham idade suficiente para lhes prestar este tipo de apoio. Outros netos, apesar de um forte sentido de obrigação, estabelecem relacionamentos menos íntimos com o seus avós, resultando num apoio emocional pouco expressivo. A centralidade dos afectos nas relações netos-avós contemporâneos é também uma conclusão de Barranti (1985) e de Kivett (1985). No entanto, no grupo de netos com menor potencial de influência, a obrigação motiva as interações da geração mais jovem, ao contrário do que acontece nos outros grupos. Isso leva-nos a inferir que os relacionamentos apenas sustentados por um sentimento de obrigação não são necessariamente de influência. Finalmente, constatámos que a ausência de consenso sobre valores fundamentais não prejudicou sentimentos de afecto, nem de influência. Bengtson e Roberts (1991) explicam que o afecto não está necessariamente comprometido com o consenso sobre valores. Conclusões Este trabalho contribuiu não apenas para o conhecimento das áreas de influência dos netos, como também dos canais através dos quais essa influência é exercida. Os netos são realmente capazes de afectar as atitudes dos avós como informantes e como indutores de mudança, sobretudo em questões práticas, como tecnologia, comportamentos ecologicamente corretos e dietas alimentares, mas também em atividades e mudanças sociais. Os idosos mostram-se susceptíveis a essas influências, apesar de alguma resistência no que concerne a valores e crenças. Este vínculo entre netos adolescentes e avós, pode representar uma fonte de informação "descodificada", uma ponte para superar um fosso geracional que facilita a adaptação a mudanças sociais e que minimiza o risco de exclusão social dos mais velhos. O potencial dos netos como agentes de socialização deve ser considerado aquando da concepção de políticas para a integração social das pessoas idosas. Esta pesquisa contribuiu para o conhecimento das duas gerações não adjacentes, tendo identificado diferentes tipos e intensidades de influência que os netos adolescentes exercem nos avós. Os jovens são mais influentes sobre os avós com os quais têm relações emocionalmente mais próximas, e com os quais interagem amiúde, partilhando atividades. Netos adolescentes podem ajudar os avós a interpretar mudanças sociais, encorajar o envolvimento social e comportamentos mais saudáveis, bem como reforçar os seus laços com outros membros da família, nomeadamente os pais. As relações avós-
23
netos são melhor compreendidas quando perspectivadas do ponto de vista da mutualidade de influências e também, eventualmente, se as dinâmicas familiares forem entendidas de forma mais lata em pesquisas futuras, ou seja, se forem tidas em consideração as perspectivas das três gerações. Bibliografia Armstrong, M. (2005) ‘Grandchildren’s influences on grandparents: a resource for integration of older people in New Zealand's aging society’, Journal of Intergenerational Relationships, vol 3, no 2, pp 7-21. Attar-Schwartz, S., Tan, J.-P. and Buchanan, A. (2009) ‘Adolescents’ perspectives on relationships with grandparents: The contribution of adolescent, grandparent, and parent – grandparent relationship variables’, Children and Youth Services Review, vol 31, no 9, pp 1057-1066. Bardin, L. (1977), Análise de Conteúdo, Lisboa, Edições 70. Barranti, C. (1985) ‘The grandparent / grandchild relationship: Family resource in an era of voluntary bonds’, Family Relations, vol 34, no 3, pp 343-352. Bengtson, V. and Roberts, R. (1991) ‘Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction’, Journal of Marriage and Family, vol 53, no 4, pp 856-870. Creasy, G. and Koblewski, J. (1991) ‘Adolescent grandchildren’s relationships with maternal and paternal grandmothers and grandfathers’, Journal of Adolescence, vol 14, no 4, pp 373-387. Delerue Matos A. (2007) ‘Cohabitation, “intimité à distance” ou isolement familial? Les rapports familiaux intergénérationnels aux âges élevés dans la société portugaise’, thesis presented for the title of Docteur en Sciences Sociales (Démographie), UCL, Louvain-la-Neuve. Dellmann-Jenkins, M., Papalia, D. and Lopez, M. (1987) ‘Teenagers’ reported interaction with grandparents: Exploring the extent of alienation’, Journal of Family and Economic Issues, vol 8, no 3-4, pp 35-46. Denham, T. and Smith, C. (1989) ‘The influence of grandparents on grandchildren: A review of the literature and resources’, Family Relations, vol 38, no 3, pp 345-350. Douarin, L. e Caradec, V. (2009), Les grands-parents, leurs petits-enfants et les “nouvelles” technologies…de communication, in Dialogue 2009/4 nº186: 25-35 Eisenberg, A. (1988) ‘Grandchildren’s perspectives on relationships with grandparents: The influence of gender across generations’, Sex Roles, vol 19, no 3-4, pp 205-217. Even-Zohar, A. and Sharlin, S. (2009) ‘Grandchildhood: Adult grandchildrenʼs perception of their role towards their grandparents from an intergenerational perspective’, Journal of Comparative Family Studies, vol. 40, no 2, pp 167-185. Franks, L., Hughes, J., Phelps, L. and Williams, D. (1993) ‘Intergenerational influences on midwest college students by their grandparents and significant elders’, Educational Gerontology, vol 19, no 3, pp 265-271. Hammarström, G. (2005) ‘The construct of intergenerational solidarity in a lineage perspective: A discussion on underlying theoretical assumptions’, Journal of Aging Studies, vol 19, no 1, pp 33-51. Gourdon, V. (2001), Histoire des grands-parents, Perrin, Ed. Yves Manhès. Kivett, V. (1985) ‘Grandfathers and grandchildren: Patterns of association, helping, and psychological closeness’, Family Relations, vol 34, no 4, pp 565-571.
24
Lawton, L., Silverstein, M. and Bengtson, V. (1994) ‘Affection, social contact, and geographic distance between parents and their adult children’, Journal of Marriage and the Family, vol 56, no 1, pp 57–68. Neugarten, B. and Weinstein, K. (1964) ‘The changing American grandparent’, Family Relations, vol 26, no 2, pp 199-204. Parsons, T. (1955) ‘Family structures and the socialization of the child’, in T. Putney, N. and Bengtson, V. (2002) ‘Socialization and the family revisited’, in R. A. Settersten, Jr. and T. J. Owens (eds) New frontiers in socialization: Advances in life course research, London: Elsevier, pp 165-194. Roberto, K. and Skogland, R. (1996) ‘Interactions with grandparents and greatgrandparents: A comparison of activities, influences, and relationships’, International Journal of Aging and Human Development, vol 43, no 2, pp 107-117. Robertson, J. (1976) ‘Significance of grandparents perceptions of young adult grandchildren’, The Gerontologist, vol 16, no 2, pp 137-140. Silverstein, M. and Bengtson, V. (1997) ‘Intergenerational solidarity and the structure of adult child – parent relationships in American families’, American Journal of Sociology, vol 103, no 2, pp 429-460. Silverstein, M., Giarrusso, R. and Bengtson, V. (1998) ‘Intergenerational solidarity and the grandparent role’, in M. Szinovacz (ed) Handbook on grandparenthood, Westport: Greenwood, pp 144–158. Spitze, G. and Ward, R. (1998) ‘Gender variations’, in M. Szinovacz (ed) Handbook on grandparenthood, Westport: Greenwood, pp 113-127. Tomlin, A. (1998) ‘Grandparents’ influences on grandchildren’, in M. Szinovacz (ed.) Handbook on grandparenthood, Westport: Greenwood, pp 144-158. Turner, J. (1991) Social influence, Buckingham: Open University Press. Vala, J. and Monteiro, M. B. (2002), Psicologia social, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
25
Discussão teórica acerca da relação entre fotografia e escola Amanda Nogueira Cordeiro Mestranda (UM) - Sociologia da Infância [email protected]
Robert Doisneau - 1956
Ao olhar para a fotografia acima apresentada, é difícil não pensar que se Doisneau fosse à uma escola nos dias de hoje, seria necessário que tivesse a autorização de pelo menos seis pais, além da direção da escola para que pudesse fazer a mesma fotografia. Meio século passou e a relação da sociedade com a fotografia é completamente outra. Houve a evolução tecnológica que permitiu a democratização do registro fotográfico (Martins, 2008). Antes com as máquinas portáteis de rolo, e hoje em dia a tecnologia digital muito mais acessível à população. Já em 1986, Sontag indicava que a chance de uma família com crianças ter uma máquina fotográfica era o dobro daquelas que não tinham crianças, apontando para um imaginário popular em que não fotografar crianças (principalmente as pequenas) era considerado como indiferença dos pais. Entretanto com a maior facilidade em fotografar surgiu um problema que paira no imaginário social que é a relação entre a fotografia e a pedofilia. Fortemente influenciado por esta questão e somando ainda questões relativas a utilização das imagens e a permissão para registro (existem leis no Cóg. Civil) a relação entre a fotografia e a escola também foi drasticamente alterada. É freqüente nos dias de hoje a escola não permitir a fotografia das crianças sem autorização dos pais. E é freqüente também que estes não autorizem. A partir desta questão, é possível evoluir dois pensamentos: o primeiro deles é apontar para tal medida afetar a criação de um registro visual que possibilita a construção de uma memória escolar; o segundo é que a democratização do registro fotográfico também está disponível para as crianças e adolescentes que possuem muitas vezes esta tecnologia em aparelhos como tele móveis. Se passarmos a uma posição radical, possivelmente dentro de algum tempo, o registro visual da escola será realizado apenas pelas crianças, enquanto estas não forem proibidas de realizá-lo.
27
A ponte e a porta. A formação das identidades como processo de socialização e de dessocialização Ana Leite CECS, Universidade do Minho [email protected]
Resumo: Uma sociedade nunca é um bloco monolítico, o resultado de um plano, de uma harmonia preconcebida, de uma organização racional. É composta por comunidades emocionais (Tönnies, Weber), por grupos secundários (Durkheim) que se ajustam uns aos outros, numa relação de empenhamento e de distanciamento (Elias). A metáfora Simmeliana “da ponte e da porta” traduz bem o movimento de conjunção e de disjunção que caracteriza as relações que os grupos travam entre si. Grupos esses que podem ser efémeros ou duráveis, abertos ou fechados, que se formam, se consolidam e se separam em função das afinidades (musicais, religiosas, desportivas, e outras) que os seus membros partilham. Não há identidade cultural sem uma relação antagónica para com outrem. Mostraremos que é difícil falar de uma crise das socializações. É verdade que determinados autores, como Lipovetsky, anunciam um crescente individualismo que se opera em detrimento da das socializações tradicionais. É verdade, também, que outros autores, à semelhança de Régis Debray, encaram o declínio do contrato de obediência republicana como um processo de dessocialização. Mas a socialização é um processo em permanente construção e recomposição, como no-lo testemunham a formação de tribos urbanas, de correntes estéticos e éticos, de religiosidades difusas, ou ainda de movimentos que se exprimem por meio da Internet. A socialização é assim encarada como a causa e o efeito de uma fusão que une os indivíduos na base de uma identificação afectiva.
28
Penser la crise de la socialisation professionnelle des enseignants français : un changement de modèle ? Benjamin Gesson Doctorant en sociologie, Université Bordeaux 2/Centre Emile Durkheim [email protected] Notre proposition de communication consiste à analyser le processus de socialisation d’un groupe professionnel, celui des enseignants. La socialisation de cette population, définie comme un processus d’apprentissage des normes, valeurs et croyances d’un groupe social, peut être considérée comme problématique dans la mesure où le « déclin » de l’institution scolaire (Dubar, 2000 ; Dubet, 2002) ne permet plus aux enseignants d’acquérir les dispositions professionnelles nécessaires pour faire face à un métier qui ne cesse de se complexifier (Tardif & Lessard, 1999). Dans ce contexte, on peut bel et bien parler de « crise de la socialisation professionnelle », et nous proposons ici de montrer les manifestations de cette crise au sein du système de formation des enseignants français, puis d’envisager les perspectives de réflexion que cela ouvre pour interroger le concept de socialisation. Pour mener à bien notre réflexion, nous nous appuyons sur un travail empirique réalisé au sein de l’institution de formation des enseignants français ; nous y avons mené une observation durant un mois, et réalisé 25 entretiens avec de jeunes enseignants en formation. Cette méthodologie nous a permis d’aboutir à deux résultats principaux. Sur le plan empirique d’une part, nous avons pu observer que la socialisation professionnelle des enseignants se réalise principalement par un travail de traduction et d’appropriation des normes transmises par l’institution. Sur le plan théorique d’autre part, il apparaît que le concept de socialisation n’est pas toujours heuristique pour décrire la réalité sociale que nous avons observé ; en effet, on ne peut qualifier la socialisation des enseignants uniquement comme l’acquisition d’un habitus (Bourdieu, 1980), ni comme le résultat d’interactions où les individus adoptent un certain nombre de stratégies (Goffman, 1991). Il s’agit bien davantage d’une intrication de ces deux logiques, que les enseignants mobilisent tour à tour selon les situations, concevant ainsi leur formation professionnelle comme une expérience sociale qui les contraint, mais sur laquelle ils possèdent une marge d’action où s’exprime leur subjectivité (Dubet, 1994).
29
A sociedade nos indivíduos, os indivíduos em sociedade: a construção de elos entre imigrantes peruanos no Brasil Camila Daniel Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro [email protected] Resumo: O presente trabalho refletirá sobre os elos construídos por um grupo de imigrantes peruanos na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O fluxo de pessoas pelo mundo tem aberto um espaço importante de reflexão sobre as novas formas de se posicionar num mundo em mudança. Este trabalho discutirá como estes imigrantes constroem laços entre si, sem, no entanto, negar a ligação que hoje possuem com o Brasil. Assim, seguimos o debate de Elias, sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Por outro, incluímos no debate autores como Geertz e Sahlins que discutem como as sociedades nunca foram homogêneas, mas as diferenças antes pareciam ordenadas. Hoje, presenciamos uma erosão dos modelos de ordenação e explicação das diferenças, o que não significa o fim da sociedade e da cultura, mas a abertura de novas formas de se sentir parte do mundo. Este artigo se baseia no trabalho etnográfico que vem sendo realizado com imigrantes peruanos no Rio de Janeiro desde julho de 2011. Como resultado, observamos que os peruanos articulam múltiplas formas de socialização, que incluiem tanto integrar-se à sociedade brasileira como aprofundar os laços com seus compatriotas.
O indivído é, ao mesmo tempo, moeda e matriz
(Elias, 1994:52)
La société dans les individus, les individus en société : la construction de liens entre les immigrants péruviens au Brésil Résumé : Ce travail renvoie aux les liens construits par un groupe d’immigrants péruviens à Rio de Janeiro au Brésil. La circulation des personnes dans le monde a ouvert un espace important à la réflexion sur les nouvelles façons de se positionner dans un monde en mutation. Cet article examine comment ces immigrants nouent des liens étroits entre eux, sans, toutefois, refuser la connexion qu’ils ont aujourd'hui avec le Brésil. Ainsi, nous suivons le débat d’Elias sur la relation entre l’individu et la société. D’autre part, nous incluons des auteurs comme Geertz et Sahlins pour qui les sociétés n’ont jamais été homogènes, cependant, auparavant les différences semblaient être ordonnées. Aujourd’hui, nous assistons à une érosion des modèles organisationnels et explicatifs des différences, cela ne signifie pas la fin de la société et de la culture, mais l’ouverture de nouvelles façons de se sentir dans le monde. Cet article est basé sur le travail ethnographique qui a été accompli avec les immigrés péruviens à Rio de Janeiro depuis juillet 2011. En conséquence, nous observons que les péruviens articulent multiples formes de socialisation qui incluent l’intégration à la société brésilienne tout comme l’approfondissement des liens avec leurs compatriotes.
30
Introdução O deslocamento de pessoas por diferentes lugares é um fenômeno que caracteriza a história humana, mas que vem ganhando uma amplitude jamais vista. A compressão espaço-tempo, os avanços nas tecnologias de transporte e a difusão de meios de comunicação mais eficientes e velozes tem permitido que cada vez mais pessoas de diferentes localidades entrem em contato com outras e, muitas vezes, identifiquem na imigração uma alternativa de vida para alcançar seus objetivos e seus projetos pessoais ou familiares. A imigração é hoje um fenômeno que se complexifica, assumindo as mais diversas formas, características e periodicidade, se tornando accessível para pessoas das mais variadas classes sociais, com os mais distintos níveis de escolaridades que circulam para uma ampla gama de destinos. Se a circulação de pessoas em si não se configura uma novidade na história da humanidade, sua complexificação na atualidade aquece o debate sobre sua relação com temas como o desenvolvimento econômico, a dinâmica populacional, o Estado e as comunidades nacionais. Se, em muitos casos a imigração é tratada como um elemento estratégico, como por exemplo, para suprir a carência de mão-de-obra de um mercado de trabalho pujante; ela também é tratada como uma ameaça – real ou iminente – aos nacionais, seja na esfera do trabalho, das políticas públicas ou da própria nacionalidade, quando entendida como um conjunto de aspectos homogêneos, fechados e estanques, relacionados à uma dita cultura nacional. No caso brasileiro, a imigração ocupou um lugar estratégico na construção do Brasil como nação. No seu projeto nacional pós-independente, no século XIX, a imigração – de brancos europeus – foi estimulada para, primeiramente, desenvolver no país formas livres de trabalho agrícola e, décadas mais tarde, garantir que o país se tornasse um país branco, através da miscigenação dos imigrantes com os brasileiros. Ambas as medidas tinham como intenção modernizar o Brasil. Apesar de historicamente ter privilegiado um determinado tipo de imigração – brancos, europeus – o Brasil não foi capaz de impedir que outros imigrantes chegassem no país e aqui construíssem suas vidas, se tornando também parte do Brasil. Sobretudo a partir da segunda guerra, o movimento de imigrantes que escolhem o Brasil como destino tem se diversificado significativamente. E o encontro entre brasileiros e estrangeiros das mais diferentes nacionalidades se configura como um espaço privilegiado de reflexão sobre a sociedade de maneira mais ampla. Assim, este trabalho parte do princípio que os movimentos migratórios trazem como grande contribuição a possibilidade de refletirmos sobre a sociedade na contemporaneidade, em que cada mais pessoas circulam pelo globo e estabelecem comunicação para além das distâncias geográficas. Neste trabalho, lançaremos nosso olhar sobre a imigração peruana no Rio de Janeiro, Brasil, para compreendermos como os imigrantes peruanos constroem laços entre si e os brasileiros, a partir do encontro com as diferenças culturais do Brasil. Apoiados no referencial teórico de Nobert Elias, refletiremos como um grupo de peruanos constroem laços entre si, a partir da experiência de estarem longe do Peru. Apesar de compartilharem da mesma origem nacional, se aproximar de outros peruanos não é algo natural e inevitável, mas sim fruto do desejo de peruanos e peruanas que se identificam com outros compatriotas por diversos motivos. A construção de laços entre um grupo de peruanos que vivem no Rio de Janeiro nos ajuda a pensar, por um lado, o papel que cada indivíduo exerce num pequeno grupo, em cada parte é fundamental para compor o todo. Por outro, a formação de grupos de afinidades entre os peruanos também nos permite analisar a importância do grupo para os indivíduos, uma vez que a partir do
31
momento em que os indivíduos passam a fazer parte dele, eles são acolhidos e integrados à dinâmica do grupo. Como fios que se entrelaçam numa rede, mesmo na rede não deixam de ser fios, mas se tornam fios diferentes de quando estavam isolados, cada indivíduo participando do grupo de modo sui generis. Este trabalho se baseia no trabalho de campo de cunho etnográfico que venho realizando entre imigrantes peruanos no Rio de Janeiro desde Julho de 2011 ainda em andamento e integra as reflexões que comporão a minha tese de doutoramento. As Ciências Sociais num mundo em mudanças Transformações e mudanças são as molas propulsoras que levam a construção de novas formas de pensar e entender a realidade. Ao que tudo indica, estamos num desses momentos. Se as ciências sociais nasceram em meados do século XIX com anseio de compreender o crescimento das cidades, a expansão do mundo de produção capitalista, a formação dos Estados nacionais modernos, hoje elas se deparam com fenômenos de tamanha grandiosidade, como as migrações transnacionais, as políticas neoliberais e o multiculturalismo. Com escopo e abrangência distinta das mudanças nos séculos passados, os fenômenos que hoje mapeiam todo o globo parecem abalar as estruturas que sustentaram a modernidade e deslocarem seu centro de ação. Quando declaramos que o mundo de hoje não é como o mundo de ontem estamos-nos referindo a uma severa transformação na forma de entendê-lo, se posicionar e agir nele. Na modernidade, vamos chamá-la de clássica para distingui-la da modernidade de hoje, persistia na mente e nos corações dos indivíduos que o mundo estava ordenado. Esta ordem era unívoca e racional: cada um – indivíduos e sociedades – teria um lugar neste mundo logicamente organizado. Este, por sua vez, estava subdividido em microesferas sociais – por exemplo, trabalho ou Estado-naçã,– que comporiam esta ordem, atuando como base para os indivíduos construiriam suas identidades e eles próprios encontrarem seu lugar na sociedade. Autores como Geertz e Sahlins trouxeram grandes contribuições para o campo da Antropologia e também para o pensamento social mais amplo, ao discutirem os limites dos modelos explicativos desenvolvidos pela disciplina – que em certa medida é compartilhados por outras ciências sociais – que abordavam a cultura como uma totalidade, com uma lógica particular compartilhada por todos os indivíduos dentro de determinada sociedade. Tal perspectiva entendia a cultura e a sociedade como estáveis, resistentes à mudanças. Sahlins (2004) coloca em debate a influência do pensamento iluminista ocidental na produção de conhecimento em antropologia. O autor critica o que chamou de iluminismo antropológico, que seria a avaliação de todas as sociedades a partir de padrões ocidentais. Nesta perspectiva, as sociedades não-ocidentais seriam como uma espécie de subproduto da sociedade ocidental. Quando o antropólogo, que até meados do século XX era exclusivamente um ocidental, pensava as sociedades não-ocidentais, ele a avaliava em dois sentidos: se fosse uma sociedade que não tivesse tido contato com o Ocidente antes de sua chegada, ele a considerava como intocada, autêntica representante da natureza humana antes de ser corrompida pelas luzes do iluminismo – aos moldes do hipotético ‘bom selvagem’ de Rousseau. Se, por outro lado, a sociedade estudada tivesse tido contato com ocidentais, ela era considerada como corrompida e degradada, uma sobrevivente, não sem feridas, do ávido e destrutivo homem branco. E como a avidez do branco o levaria a buscar terras cada vez mais distantes para dominar
32
e explorar, as sociedades tradicionais, que seria o objeto privilegiado da antropologia, estariam fadadas ao desaparecimento. Para Sahlins, ambas perspectivas ignoram o fato de que nenhuma cultura se constrói isoladamente e mesmo antes dos ocidentais atracarem em terras do além-mar, aquelas pessoas já haviam vivido processos de mudanças históricas e de contatos culturais. Ou seja, estas sociedades não são ahistóricas: elas constroem sua cultura historicamente e em relação a outras sociedades, assim como os ocidentais. Geertz (2001) explica que as mudanças no mundo político provocaram grandes repercussões na maneira de se pensar e viver a cultura. O autor discute que a queda do muro de Berlim marcou a história política, ao abrir caminho para que o mundo se conectasse superando suas fronteiras nacionais ou regionais. O contato mais intenso e veloz entre diferentes pessoas pelo globo, ao invés de provocar uma homogeneizição do mundo, como se temia, ampliou as possibilidades de se sentir parte da sociedade e da cultura. Isso acontece porque a cultura não se constitui numa totalidade fechada, coerente e autônoma e nenhuma sociedade está isolada, mas ambas – a cultura e a sociedade – estão em constante construção, apresentam múltiplas variações internas e ligações externas e se colocam sempre em relação à outras. Esta noção de que a cultura não é uma entidade autonôma começou a se insinuar na antropologia quando, no pós-segunda guerra, os antropólogo deixaram de estudar as chamadas sociedades primitivas para estudar sociedades nacionais. A complexidade destas sociedades se confrontou com os modelos de análises antropólogicos até então em voga. Geertz levanta a questão que a fragmentação do mundo político, a emergência de alternativas de construção de identidades mais uma vez coloca em xeque a forma que se entende a cultura, uma vez que estas mudanças se confrontam com as formas tradicionais de fazer política e de se sentir parte da sociedade, que pressuponham ambas como unidades indissolúveis. As reflexões de Geertz e Shalins sobre o caráter plural da cultura tem muito a contribuir para nossa reflexão sobre a imigração como um campo privilegiado em que os indivíduos se entendem parte de uma sociedade diferente daquela onde nasceram, mas ao mesmo tempo se sentem indivíduos singulares, sentimento construído no bojo da experiência migratória. A expansão e complexificação dos movimentos migratórios questiona a suposta unidade cultural que fundamentaria a nação e a identidade nacional, possibilitando a construção de laços transnacionais, através dos quais os indivíduos podem se sentir parte de diferentes comunidades ao mesmo tempo. A imigração muitas vezes representa a diferença e interpela a ordem estabelecida na vida cotidiana do Estado-nacional. A relação entre indivíduo e sociedade Uma vez que a intensificação da imigração é um fenômeno que se encontra no centro das transformações que caracterizam o mundo de hoje, ela não pode deixar de ser pensada como um elemento importante na teoria social. Enquanto a Antropologia e os antropólogos dedicaram seus esforços para repensar a disciplina e elaborar formas alternativas de refletir sobre as mudanças atuais, a partir da ideia de cultura, a Sociologia se depara com a necessidade de repensar um dos seus temas fundamentais, desde os seus primeiros esforços de compreender a realidade social, até os dias atuais, que é a relação entre indivíduo e sociedade.
33
Neste sentido, o sociólogo alemão Nobert Elias (1994-2011) desenvolve uma abordagem teórica que pretende redefinir a relação entre indivíduo e sociedade, a partir da ideia de mudança e movimento. O autor explica que em Sociologia, os conceitos assumem a tarefa de descrever fenômenos que, ao serem conceitualizados, parecem assumir certa fixidez e estabilidade. Esses conceitos podem dar ao pesquisador a sensação de que está se aproximando de uma explicação da realidade, mas eles deixam escapar o caráter dinâmico do fenômeno estudado. Isto se deve, em partes, à crença difundida nas ciências sociais de que toda ciência trabalha com leis e, por isso, a construção de conceitos estáveis as tornaria mais cientificamente confiáveis. Elias então explica que a principal característica do ser humano é o fato de estarem sempre mudando. A mudança é constitutiva da natureza humana e, portanto, não pode ser ignorada quando se estuda o indivíduo e a sociedade, tampouco quando são construídos conceitos sobre os fenômenos sociais. A noção de indivíduo tal qual fundamentou as ciências sociais partem do pressuposto de que ele seria formado por um núcleo central, um ‘eu’, que se manteria intacto às mudanças. Hall (2002) explica a modernidade inaugura o conceito de indivíduo, primeiramente inspirada no Iluminismo, e mais tarde influenciada pela Sociologia. Na concepção iluminista, o sujeito é compreendido como portador de um núcleo central, regido pela razão. A Sociologia questiona tal perspectiva, e parte do princípio que o sujeito não é possuidor de uma essência imutável, mas ele se constrói na sua interação com a sociedade. Por isso, a identidade não é auto-suficiente e auto-gerada. Ela é construída na relação entre o sujeito e a sociedade, preenchendo o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’. “A identidade então costura (...) o sujeito à estrutura” (ibidem, p.12). No entanto, mesmo a concepção sociológica do sujeito previa certa estabilidade na construção da identidade. Hall afirma que estamos hoje diante de mudanças profundas nas condições de construções das identidades que é possível que um mesmo sujeito se identifique com várias identidades, que podem ser contraditórias entre si. Este é o sujeito pós-moderno: o sujeito já não tem mais um centro que unifique sua identidade. Sua identidade é múltipla, variada e fragmentada. Num mundo de múltiplas identidades, “... a identidade é um lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, e não uma essência ou substância a ser examinada” (idem, 2003, p. 16). Apesar de Nobert Elias criticar uma definição de indivíduo que lhe atribua uma essência, ele também reflete sobre os limites da Sociologia em compreender o indivíduo e sociedade. O autor discute que a construção das análises que tomam indivíduo e sociedade como elementos antagônicos obscurece a compreensão da realidade social. Elas tratam o indivíduo e a sociedade como se fossem objetos isolados e estáticos (idem, 2011: 128) e, por isso, não conseguem escapar do que Elias chama de “ratoreira intelectual”, que tenta definir o que vem primeiro: o indivíduo ou a sociedade. O problema que se coloca na perspectiva sociológica é sua incapacidade de entender que a mudança é um elemento constitutivo dos indivíduos e, por isso, eles nunca são algo substantivo e pronto, mas um contínuo processo que teve início no seu nascimento e assim permanecerá incluso até a sua morte. Ou seja, “... uma pessoa está em constante movimento: ela não só atravessa um processo, ela é um processo” (idem:129). E este constante movimento só ocorre uma vez que o indivíduo faça parte da sociedade. Neste sentido, Elias defende que indivíduo e sociedade não estão em oposição, mas em relação um ao outro: não é possível se referir a um sem que o outro se faça presente. Em outras palavras, o que Elias busca mostrar é que não existe indivíduo sem sociedade, tampouco sociedade sem indivíduos. Mesmo quando sozinho, o indivíduo se
34
mantém em contato com a sociedade por ele incorporou, desde a sua tenra infância. Além disso, a sociedade nada mais é do que uma estrutura de indivíduos interdependentes que se ligam através das mudanças que vivem ao longo de suas vidas. Como numa rede composta por fios, cada indivíduo ocupa um lugar particular na trama da sociedade, sem o qual ela não seria a mesma. E sem estar em sociedade, o indivíduo não poderia desenvolver suas potencialidades mais humanas. Assim, seguiremos o artigo para discutir como a experiência migratória se torna um marco na vida dos imigrantes que se deparam com uma reflexão sobre seu lugar nas sociedades, no caso que vamos estudar, brasileira e peruana. A imigração peruana no Rio de Janeiro Apesar da imigração ocupar um lugar de extrema relevância na história da construção do Brasil como nação e do Brasil compartilhar alguns quilômetros de fronteiras com o Peru, poucos são os que se dedicaram à estudar a imigração peruana no Brasil. O Rio de Janeiro, uma das principais cidades do Brasil a receber imigrantes no passado e no presente, nas últimas décadas tem recebido peruanos que o escolhem para construir outras alternativas de vidas. De acordo com o Consulado do Peru no Rio de Janeiro, até o ano de 2011, cerca de 3.000 peruanos estavam registrados no estado. Deste total, havia um equilíbrio no número de homens e mulheres. A população era relativamente jovem, a sua maioria estando entre a faixa etária de 25 a 40 anos. Em 2006, o número de peruanos registrados era de cerca de 1.200 e ainda estimava-se que cerca de 200 peruanos vivem no Rio de Janeiro em situação irregular (Consejo de Consulta do Rio de Janeiro, 2010). Apesar de ainda reduzido, o número de peruanos no Rio de Janeiro apresentou um aumento significativo num período de 5 anos, como indicam os dados acima. Além disso, a imigração peruana não só no Rio de Janeiro, mas por todo o mundo, apresenta como uma de suas mais marcantes características sua diversidade na sua composição social, econômica e regional. Desde os anos 1980, a imigração se tornou uma fenômeno socialmente difundido entre peruanos de todas classes, de todas as regiões do país, dos mais diversos níveis de escolaridade (Altamirano, 2000). No Rio de Janeiro, a imigração peruana se difundiu nos anos 1990, através de três movimentos: de profissionais qualificados, como médicos e técnicos; de estudantes universitários, de graduação e pós-graduação e de trabalhadores, principalmente dedicados à venda de artesanatos e bijuterias. Muitos destes peruanos continuam a residir no Rio de Janeiro, casaram e tiveram filhos no Brasil. Entrentanto, eles não deixam de manter contato com seus familiares e amigos no Peru, nem deixam de se sentir peruanos, mesmo que hoje também se sintam um tanto brasileiros. Assim, a imigração peruana no Rio de Janeiro traz elementos importantes para pensarmos as diversas formas de identificação que os indivíduos constroem num contexto em que se deparam com uma sociedade diferente daquela em que vivia. Podemos, então, repensar a relação entre indíviduo e sociedade, assim como proposto por Norbet Elias, a partir da construção de laços entre um grupo de peruanos no Rio de Janeiro.
A sociedade nos indivíduos, os indivíduos em sociedade Como discutimos no ponto anterior, uma característica da imigração peruana no Rio de Janiero é sua diversidade. Por isso, é muito dificíl analisarmos uma população que,
35
apesar de pequena em termos numéricos, apresenta formas muito variadas de organização e de construção de laços. Durante o trabalho de campo que venho realizando desde julho de 2011, tenho observado que entre os peruanos existem muitas maneiras diferentes de se unir a outros peruanos no Brasil e, ao mesmo tempo, manter-se conectados a brasileiros também no Brasil e a peruanos no Peru. Alguns costumam manter contato mais próximo com outros peruanos: no dia-a-dia no Rio de Janeiro, seus amigos mais próximos são peruanos, seus cônjuges também são peruanos. Outros possuem muitas amizades com peruanos, mas também com brasileiros e outros estrangeiros. Há ainda aqueles que preferem evitar conviver com peruanos e preferem estar mais envolvidos com brasileiros. O grupo de peruanos no qual centrarei esta reflexão vieram para o Rio de Janeiro como estudantes universitários e, durante sua trajetória estudantil, decidiram prolongar sua estadia e morar na cidade. Eles chegaram no Rio de Janeiro a partir de meados dos anos 1990 a meados dos anos 2000 – quase todos estavam em idade inferior a 30 anos – e estão entre os peruanos que buscam manter contato com outros peruanos no Brasil, sem deixar de construir laços com brasileiros. Um elemento que perpassa a experiência migratória destes peruanos é que, uma vez no Brasil, eles encontram um terreno fértil para repensar o sentido para eles do que é ser peruano, dentro de uma sociedade diferente daquela em que estavam habituados a viver. Esta experiência representa um marco na história de vida desses indivíduos que vivenciam na prática e na pele, uma desnaturalização do seu modo de vida. Uma das características da imigração amplamente discutida por pesquisadores da área é o processo de transformação identitária pela qual os indivíduos passam quando deixam seus países para viver em outro. O encontro da cultura que cada imigrante entende como sua com as culturas e modos de viver da sociedade para onde ele vai exige que ele desenvolva estratégias para se adaptar a sua nova realidade, longe de suas antigas referências. Por outro lado, essas referências não deixam de atuar como guia para os indivíduos encontrarem seu lugar na sociedade receptora, como fio que se integrará à rede. Neste processo de sair de uma sociedade onde aprendeu suas primeira referências de si mesmo e dos outros para ingressar numa outra sociedade, os imigrantes peruanos entendem na prática o que significa ser um indivíduo em constante processo de construção, numa contínua relação com a sociedade. Este processo não nega seu passado, nem tudo o que foi por ele vivido até à chegada no Brasil, mas é a partir desta rede estruturada no Peru que os imigrantes se integram à rede a qual ele ajudará a formar no Brasil. No caso do grupo de peruanos aqui analisado, a construção de laços entre eles foi-se definindo ao longo dos anos, motivado não apenas por sua nacionalidade, mas também por compartilharem outras afinidades, como serem jovens, universitários, de classe média e estrangeiros no Brasil. Muitos desses laços se institucionalizaram a tal ponto que contribuem para a formação de um espaço público peruano no Rio de Janeiro. Exemplos disso podem ser observados na participação destes ex-estudantes em gestões passadas do Consejo de Consulta – instância consultiva dos Consulados peruanos no exterior-; na organização de festas peruanas e latinas (como a festa Noches de Sol); na composição dos dois grupos de dança de peruana (grupo Sayari e grupo Hijos del Sol) existentes no Rio de Janeiro; na publicação de uma revista virtual voltada para a comunidade peruana no Brasil (a Revista Virtual Nativos); e na formação do grupo Negro Mendes, grupo de música afroperuana formado no Rio de Janeiro.
36
Em todos os eventos organizados por estes peruanos, seus amigos – peruanos ou não – são convidados a participarem, tendo sempre ressaltado a importância de sua presença. Um espaço muito importante neste processo de mobilizar o grupo a participar nos eventos organizados pelos seus colegas peruanos são as redes sociais virtuais, entre elas, o facebook. Por ele, os organizadores dos eventos enviam convites para sua lista de contato e através dele, os amigos se colocam em comunicação uns com outros para motivar que todos vão aos eventos. É muito comum os amigos celebrarem seus aniversários nos eventos organizados por outros peruanos. Nestas ocasiões, eles costumam convidar outros peruanos e brasileiros, que em muitos casos não iriam ao evento se não fosse pelo convite do seu amigo mais próximo. Um particularidade dos eventos peruanos é que neles as músicas tocadas são quase todas em castelhano, e os ritmos pouco escutados no Rio de Janeiro, como a salsa, a cumbia e o merengue. Estes eventos públicos deixam muito nítido como os indivíduos estão em processo contínuo de crescimento – como um criança – dentro da sociedade, enquanto ele mesmo integra e influencia esta sociedade na qual outros indíviduos se inserirão e serão transformados. Apesar de valorizarem as influências brasileiras adquiridas ao longo dos anos vividos no Rio de Janeiro, os peruanos também sentem falta de suas referências peruanas e latino-americanas, por isso, frequentam os eventos em que podem ouvir músicas em castelhano e dançar ritmos latinos. Estes eventos não estão fechados a este grupo de peruanos, mas recebe frequentadores brasileiros, outros peruanos e estrangeiros que também apreciam os ritmos latino-americanos. Em muitos casos, como acontece com muitos brasileiros, os convidados não sabem o que vão encontrar e quando chegam ao evento gostam e se tornam frequentadores assíduos, como aconteceu comigo. Uma vez que um indivíduo se torna um frequentador assíduo, sua presença é reconhecida e sua ausência notada, sendo, assim, integrado à rede. Considerações Finais Assim como Elias analisa a natureza humana como caracterizada pela mudança, esta característica humana aparece de forma mais latente quando observamos as experiências dos peruanos que vivem no Rio de Janeiro. Muitos deles, chegaram na cidade decididos que voltariam para o Peru assim que possível e acreditavam ser possível viver no Brasil sem estabelecer vínculos com o país e as pessoas com quem encontravam ao longo do caminho. Outros não sabiam ao certo o que esperar da experiência de sair do seu país e assumiram uma posição mais aberta para lidar com os inesperados que a experiência migratória viria a lhes propiciar. Em ambos os casos, todos viveram na pele a experiência de se depararem com uma realidade muito diferente da que viviam em sua terra natal, tiveram que se adaptar a novos hábitos alimentares, a outras maneiras de se relacionar. Neste encontro com as diferenças, cada um deles descobriu o sentido de ser peruano no Brasil, em contato com brasileiros, outros estrangeiros e peruanos na sua vida cotidiana no Rio de Janeiro. Nesta dinâmica, o significado e o sentimento de ser peruano foi atualizado fora Peru, no dia-a-dia neste país para eles estrangeiro, que é o Brasil. O caso dos imigrantes peruanos no Rio de Janeiro é muito emblemático para refletirmos sobre o caráter mutável da natureza humana, como Elias bem nota. A saída de um país e a entrada em outro deixa latente que diferentes sociedades desenvolvem diferentes maneiras de dar sentido aos indivíduos que delam fazem parte. Por isso, quando saem do Peru para o Brasil, os peruanos se deparam com o fato de precisarem de aprender
37
como de se posicionar na sociedade brasileira e, assim, integrar-se a ela. Como um principiante, ele terá que aprender as regras do jogo que regem as relações sociais no Brasil para, então, poder jogar. Este processo de aprender as regras e participar do jogo, através da socialização, exige necessariamente a capacidade de adaptar-se e mudar-se de um peruano no Peru, para um peruano no Brasil. Sem dúvidas, não existe apenas uma maneira de considerar-se peruano, seja no Peru ou no Brasil. No entanto, todas as mais distintas formas de sê-lo são permeadas pela inevitável e irreversível capacidade humana de estar em constante mudança, se fazendo indivíduo a partir da relação com a sociedade, neste caso, brasileira e peruana. Elias discute que um dos pontos frágeis da teoria sociológica é teorizar o indivíduo como um adulto, que se encontra ‘pronto’: já fala, anda, pensa, toma decisões e parece ser independente da sociedade. O autor nos lembra que todos, antes de chegar na idade adulta, foram crianças, e como tais, precisamos de adultos que cuidaram de nós e nos ensinaram habilidades fundamentais para nos tornamos os adultos que hoje somos. Neste processo, a criança incorpora a sociedade, passa a integrá-la e se torna um dos muitos fios que se entrelaçam na rede que faz a sociedade possível. Quando adultos, os indivíduos continuam a fazer parte da sociedade que, por sua vez, é parte do indivíduo, num contínuo processo de intercâmbio e interação. O caso que aqui discutimos, o de um grupo de imigrantes peruanos no Rio de Janeiro, é exemplar ao mostrar como a experiência de sair do Peru e vir para o Brasil marca suas vidas a tal ponto que muitos sentem como se voltassem a ser crianças, uma vez que neste país estrangeiro eles precisam aprender regras básicas cotidianas que se chocam com aquelas que praticavam no Peru. Estas últimas pareciam-lhes naturais. Um exemplo disso é narrado por um peruanoque que chegou ao Brasil com 16 anos, para cursar a faculdade. Naquela época, seu plano era voltar para o Peru. Hoje, passados mais de 15 anos em que vive no Brasil, ele conta que aqui, ele se criou. Ele explica que vir para o Brasil foi um processo tão intenso que ele sente como se tivesse voltado a ser criança e tivesse aprendido a andar, falar, se comportar como um brasileiro. Apesar disso, ele mesmo analisa que esta aprendizagem não se deu num vazio, mas na base do que ele já tinha como referência dos 16 anos que viveu no Peru. Concluímos, assim, chamando a atenção para a contribuição que os estudos sobre imigração pode trazer para a teoria social mais ampla, ao discutir temas tão caros às ciências sociais, que se deparam hoje com um mundo em que as mudanças acontecem num ritmo mais acelaredo, numa dimensão cada vez mais abrangente. Referências Bibliográficas ALTAMIRANO, Teófilo (2000). Liderezgo y organizaciones de peruanos en el exterior. Vol. 1. Lima: PUCPeru, PromPerú. ELIAS, Nobert (2011). Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70. _________ (1994). A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. GEERTZ, Cliffornd (2001). Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. HALL, Stuart (2002). A identidade cultural na pós-modernidade. 7ed. Rio de Janeiro: DP&A. SAHLINS, Marshall (1997). “O “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um “objeto” em via de extinção (parte I)”. Mana. Rio de Janeiro: Museu Nacional. 41-73. ____________ (2004). Cultura na prática. Rio de Janeiro: UFRJ.
38
“De pequenino/a se socializa o/a menino/a”: O Orçamento Participativo enquanto processo de socialização para a cidadania Catarina Tomás Escola Superior de Educação de Lisboa e CICS, Universidade do Minho [email protected] Ana Raquel Matos Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra [email protected] Resumo: A participação cidadã é o grande corolário dos processos de deliberação, de capacitação ou empowerment e da própria democratização da democracia. Mas à medida que o direito a participar diretamente na vida pública vai ganhando contornos definidos a partir de novos mecanismos em funcionamento, quando confrontado com a realidade da infância e juventude, esse pressuposto perde o seu cunho universal. Os processos de socialização espartilham, à partida, essa possibilidade, desacreditando-a a partir de argumentos baseados numa pretensa irracionalidade etária para as decisões, associada a características como a imaturidade e a vulnerabilidade inerente das crianças. Neste trabalho confrontam-se as principais linhas teóricas que sustentam os debates sobre a participação cidadã com as práticas participativas de crianças e jovens nos processos de Orçamento Participativo (OP), dando conta dos desajustes entre discursos e práticas, assim como entre os limites e as potencialidades desse mecanismo de socialização para a cidadania. ‘Dès petit on sociabilise l’enfant’ : Le Budget Participatif comme procès de socialisation pour la citoyenneté Résumée: Participation citoyenne est le grand corolaire des processus de délibération, capacitation ou empowerment et de la propre démocratisation de la démocratie. Comme le droit a participer directement dans la vie publique gagne nouveaux contours définies a partir des mécanismes à l’échelle globale, quand on le confronte avec la réalité de l’enfance et jeunesse, elle perd son timbre universel. Les processus de socialisation casse, au départ, cette possibilité, justement puis que elle est décrédité sur arguments d’une alléguée irrationalité d’âge pour faire des décisions, associé à des caractéristiques comme immaturité et vulnérabilité inhérent à l’enfant. Dans ce travail on confronte les principales lignes théoriques qui soutiennent les débats sur la participation citoyenne avec les pratiques participatifs d’enfants et jeunes dans les processus des Budget Participatif (BP) et on rende compte des contradictions entre discours et pratiques et des limites et potentialités de cette mécanisme de socialisation pour la citoyenneté.
39
Introdução Assistimos a um tempo que se caracteriza por uma nova dinâmica, nomeadamente pela pressão para a constituição de experiências assentes em novas práticas que enformem o que se tem designado por democracia participativa, a qual é protagonizada por comunidades e grupos sociais usualmente excluídos da esfera pública, sobretudo dos processos de decisão. Desenha-se, desta forma, a possibilidade de instituir uma democracia mais democrática, de alta intensidade, que se mostre compatível com a inclusão de grupos convencionalmente não elegíveis neste domínio da vida pública, dentre os quais as crianças na sua relação com a política e a cidadania. É, portanto, por demais evidente a necessidade de envolver a infância na ação pública, promovendo diálogos e processos democráticos, onde cidadãos mais novos possam expressar as suas necessidades e ajudar a formular soluções para os seus problemas, reforçando, assim, a participação da/na comunidade e elevando o espírito comunitário para além das barreiras da idade. O presente artigo versa, assim, sobre a questão da participação das crianças ao abrigo de um novo paradigma de democracia assente em mais e melhor participação. Para tal, adota-se a definição de participação das crianças considerando vários elementos: primeiro, a partilha de poderes entre adultos e crianças; segundo, a introdução de métodos e técnicas que permitam as crianças participar, na esteira da tradição da democracia participativa; terceiro, a consideração de que a formulação de regras, direitos e deveres é feita por todos os participantes nesses processos; quarto, o condicionamento efetivo dos meios, métodos e resultados do processo de participação; e, quinto, a participação enquanto ação influente com impacto na vida coletiva. O artigo estrutura-se em quatro pontos essenciais. Num primeiro momento, abordam-se as principais questões que atravessam os debates atuais da teoria democrática, designadamente a crise da democracia representativa e as potencialidades da participação como o seu antídoto. Num segundo momento, enquadram-se as questões centrais que derivam da relação entre participação cidadã e infância. Segue-se uma abordagem ao Orçamento Participativo (OP) enquanto ferramenta de participação cidadã, suas potencialidades e limites para, posteriormente, enquadrar a participação das crianças nestes processos, discutindo os limites que definem discursos e práticas, assim como as consequências que resultam desse envolvimento para uma redefinição de cidadania e democracia com novos alcances etários. Democracia, democracia participativa e participação cidadã A democracia é um conceito demasiado complexo. A história da humidade tem demonstrado que esta é uma ideia em permanente processo de reinvenção (Rosanvallon, 2006; Visvanthan, 2012). A sua definição depende do tipo de relações estabelecidas entre cidadãos e seus governos, comummente definidas a partir de pilares como igualdade e liberdade. Compreende uma dimensão legal, baseada na realização de eleições regulares, constituição de instituições representativas, garantias formais desses princípios entre cidadãos. Mas talvez umas das dimensões mais relevantes, muitas vezes negligenciada, seja a da qualidade da relação que se estabelece entre os políticos e os cidadãos que os elegem (Tilly, 2002: 26). Essa relação parece depender, cada vez mais, de novos mecanismos de inclusão dos cidadãos na política, ou seja, da capacidade das
40
instituições eleitas os considerarem o foco das políticas públicas, tanto na sua conceção como nos resultados que visam atingir. Nas últimas décadas, a democracia eleitoralista ou representativa tem, assim, vindo a gerar ondas de descontentamento crescentes. Esse movimento de insatisfação, porém, tem motivado a procura de alternativas credíveis ao modo como a representação política tem funcionado na condução do bem comum. De facto, o principal problema que sustenta a reivindicação por uma outra democracia parece residir na forma como se tem atentado contra princípios elementares como o da soberania popular e o da garantia da sua participação na condução dos destinos públicos, ambos sequestrados e apropriados por formas elitistas de governos. A teoria democrática há muito que dá conta do declínio progressivo da confiança nas instituições representativas, agravando-se a distância e o desinteresse da esfera cívica na vida pública (Dalton, 2008, Putnam, 2000), bem como a descrença dos cidadãos na política em geral (Pierce, 2010; Cook et al., 2007; Rosenberg, 2007; Stoker, 2006; Mouffe, 2000). Tais indicadores são reveladores do défice democrático que carateriza as sociedades atuais, fundamentado no desprezo que a política representativa tem na capacidade que os cidadãos possuem de intervir eficazmente nos processos de tomada de decisão, o que torna esses modelos inflexíveis e até disfuncionais (Kitschelt, 2002: 101). O desencanto cívico em relação a uma democracia superficial, doente, desinformada, alienada, mais baseada em personalidades do que em políticas públicas efetivas tem tido o mérito, embora a partir de dinâmicas muito distintas, de transformar o descontentamento em reivindicação por mais participação (Fishkin, 2009). Este tem sido, aliás, o ponto de partida na procura de alternativas democráticas mais credíveis. Assim, tem-se elevado a necessidade de transformação democrática a prioridade: é necessário transformar os modelos democráticos representativos em algo novo, dotá-los de mais e melhor democracia e aprofundá-la, em suma, democratizá-la (Font, 1998; Santos; 1998 e 2005; Fung and Wright, 2003; Dagnino, 2004; Fishman, 2011). A reversão do quadro de crise que acomete a democracia tem passado, portanto, por mais participação direta dos cidadãos na política, numa tentativa de criar alternativas sólidas e credíveis capazes de efetivar um novo conceito de democracia onde as pessoas sejam o foco da governação, ou seja, uma forma de governação democrática enquanto exercício levado a cabo pelos cidadãos e para os cidadãos: a democracia participativa. A participação cidadã é, sem dúvida, o elemento central que fundamenta esta alternativa democrática (Rosenberg, 2007; Rosanvallon, 2006; Putnam, 2000; Santos, 1998). Mas a proposta da democracia participativa investe ainda na necessidade de trazer à luz processos obscuros de tomada de decisão, significando também responsabilizar os cidadãos pelas soluções a encontrar para os principais problemas da vida coletiva, sendo eles quem melhor os conhece do contacto direto com a realidade. Começam também a emergir movimentos de democratização da democracia ancorados em projetos de práticas participativas que efetivam verdadeiras possibilidade de articulação entre a esfera política representativa e a sociedade civil. Esta é uma abordagem possível que dá vida a essa nova conceção de democracia onde Estado e Sociedade Civil trabalham em conjunto e em sintonia a partir desse vínculo a práticas participativas. Tal possibilidade não se apresenta como intenção de substituir a participação pela representação, apenas de as articular em prol do benefício democrático. Mas não tem sido simples a aplicação deste remédio às patologias da representatividade política e, sobretudo, não tem sido fácil transpor essa possibilidade para práticas reais,
41
concretas e duradouras. Neste domínio, aliás, parece inegável a paralisia de que se revestem muitas dessas tentativas, ou seja, a dificuldade de transpor os discursos e efetivar a participação na vida dos cidadãos e das suas comunidades, fenómeno que Evelina Dagnino designa de crise discursiva (2004). São também bastante heterógenos os mecanismos que sustentam essas práticas, tanto nos valores que defendem, como nos objetivos que promovem, nos formatos que assumem e no grau de institucionalização que chegam a alcançar, levantando sérias preocupações quanto ao potencial transformador da democracia. Mas não obstante muitas das preocupações legítimas que este universo de análise possa suscitar, há práticas participativas no terreno um pouco por todo o mundo, capazes de demostrar que os modelos de democracia participativa existem e são viáveis de poder ser combinados com as estruturas de representação política. Tal sugere possibilidades concretas de transformar a utopia da participação no corolário de que outro mundo é possível (Navarro, 2010: 79). Infância e participação na vida pública Esse outro mundo devia, no entanto, considerar a participação das crianças, que continuam afastadas do acesso a direitos políticos, nomeadamente o direito a participar em (co) decisões sobre assuntos que lhes dizem respeito. Esse afastamento tem raízes sociais históricas e culturais. Durante séculos, as crianças foram pensadas como seres passivos, destinatários da socialização e ação dos adultos, sem voz. Apenas no século passado as ações e movimentos pela defesa dos direitos das crianças adquiriram estatuto universal. Esse movimento começou com Ellen Key, quando em 1909 publicou aquele que é, ainda hoje, considerado um dos principais marcos da visão transformadora da infância – o Século da Criança – assumindo o seu apogeu, pelo menos do ponto de vista simbólico, em 1989, com a adoção, pelas Nações Unidas, da Convenção Internacional relativa aos Direitos da Criança (CDC), transformada em Lei Internacional em 1990. A importância da Convenção advém (i) do facto de ter potenciado a desconstrução de um paradigma claramente protecionista, promovendo um novo paradigma da participação infantil; (ii) do reconhecimento de que as crianças são atores sociais, ou seja, sujeitos com capacidade de ação e de interpretação do que fazem e que, por isso, têm o direito a participar na vida coletiva; e (iii) do desenvolvimento de uma reflexão intensa, política e académica, em torno da necessidade de promover esses direitos. Esta rápida referência aos direitos da criança permite-nos perceber quão importante foi o século passado para o enquadramento da infância e para os direitos das crianças. No entanto, no início deste novo século são ainda vários os desassossegos e os desafios que se colocam em matéria de direitos da criança. Primeiro, manter e assegurar os direitos já conquistados e, segundo fortalecer as práticas sociais nesta matéria, sobretudo no que diz respeito ao direito de participação. A participação infantil tornou-se, assim, um princípio amplamente reconhecido pelas organizações internacionais (a ONU, por exemplo) e por diversas ONG (UNICEF, Save The Children, entre outras), direta ou indiretamente implicadas na luta pelos direitos da criança. É hoje mais frequente assistir a iniciativas que promovem espaços para e com as crianças apresentarem os seus pontos de vista, preocupações e sugestões sobre assuntos que lhes digam respeito. Tal instiga-nos a reconhecer estas vozes, como instrumento de conhecimento e participação, que rara e dificilmente conseguem ser
42
audíveis. Não obstante, continuamos a assistir, em paralelo, a todo um conjunto de resistências e constrangimentos à participação das crianças.1 Se por um lado, a participação das crianças é defendida e promovida ao nível dos discursos, continuam a persistir fatores de desigualdade, baseados em condições estruturais e em representações sociais, culturais, simbólicas e ideológicas subjacentes à idade/geração que limitam a expressão da participação efetiva das crianças.Há, portanto, um conjunto de questões importantes sobre a participação das crianças, enquadradas, sobretudo, pela Sociologia da Infância, a merecer reflexão e debate: a diversidade de definições sobre participação, os contextos onde ocorre, os atores envolvidos, os processos que considera e metodologias que utilizada; os procedimentos éticos considerados; a importância dos fatores socioculturais e políticos exógenos à participação; as dimensões individuais, entre outros. Assim, sempre que discutamos a participação das crianças teremos que considerar vários eixos de diferenciação social como a idade, o género, a raça, a etnia, a classe social, a deficiência, já que influenciam a qualidade e, inclusive, os efeitos da sua participação. Pensar, acima de tudo, nas próprias características das crianças, como a idade e os seus interesses (Cockburn, 2005; Fernandes, 2009). Uma outra dimensão fundamental a considerar na discussão sobre a participação refere-se à multiplicidade de definições que o conceito adota, reportando-se a inúmeras experiências a acontecer no mundo, embora muitas delas não passem de falsa participação. Muitos processos e iniciativas denominadas de “participação infantil” são catalogados como se de uma nova forma de democracia (participativa) se tratasse, contudo, fundamentam-se no modelo tradicional de democracia. Replicam modelos de democracia adequados a adultos, ainda que assumindo uma forma de adultocentrismo não hegemónico, originado uma diminuição da responsabilidade e do interesse das crianças nestes processos. É o que Cooke e Kothari (2001) criticam e definem como ortodoxia da participação e tirania da participação2. O OP como ferramenta de participação cidadã na gestão e planeamento urbano São várias as possibilidades de envolvimento dos cidadãos em experiências governativas que possibilitam o seu envolvimento nas decisões. O OP é uma delas, talvez aquela com mais projeção e reconhecimento no plano internacional. O ímpeto original do OP remonta ao Brasil, mais concretamente a 1989, ano em que pela primeira vez um processo deste tipo foi implementado na cidade de Porto Alegre. O seu surgimento derivou da necessidade de incorporar as classes populares nos processos de decisão política, como forma de reverter as prioridades de alocação de recursos públicos que tendiam a ser desproporcionalmente favoráveis às classes urbanas média e média alta.
1 Os paradigmas, imagens e conceções de infância vigentes nas sociedades contemporâneas; a defesa dos direitos de participação das crianças não emana do Estado, deve-se à ação das ONG e a movimentos sociais; a localização da participação; conceções de participação estreitas e um défice em práticas participativas; dificuldade em promover espaços de participação face a interesses político-económicos (Tomás, 2008). 2 Os autores consideram três tipos de tirania da participação: tirania da decisão e do controlo, tirania do grupo e tirania do método. Para saber mais sobre este assunto cf. Cooke e Kothari (2001).
43
Desde então, este mecanismo tem proliferado um pouco por toda a parte, tornando-se, aliás, numa das mais reconhecidas experiências participativas1, galardoada como exemplo de boas práticas. De facto, o OP depressa se expandiu da América Latina à Europa (concretamente a Espanha, Itália, Alemanha, Portugal, França e Reino Unido), África e Ásia, constituindo-se como um fenómeno moldável, tanto na forma como prevê a participação dos cidadãos, como na possibilidade de pôr em marcha processos distintos de acordo com projetos políticos e respetivas orientações. Dada a sua capacidade de se ajustar a realidades e projetos político-sociais distintos, torna-se difícil definir univocamente este mecanismo. Não obstante, Boaventura de Sousa Santos define o processo a partir de três princípios fundamentais:
1) Todos os cidadãos têm direito a participar e as organizações comunitárias não detêm nesse processo um estatuto ou prerrogativa especiais;
2) A articulação com a democracia representativa confere aos participantes um papel essencial na definição das regras do processo;
3) A definição das prioridades de investimento público processada de acordo com critérios técnicos, financeiros e outros, de caráter mais geral, associam-se às reais necessidades sentidas pelas pessoas (Santos, 2002: 25 e 26).
Falar do OP é, portanto, falar de um dos instrumentos mais disseminados a partir do Sul, capaz de transformar espaços fragmentados em verdadeiras unidades territoriais, coesas e funcionais do ponto de vista da participação e da diversidade (Cabannes, 2007). Trata-se de uma inovação institucional em expansão que visa democratizar a gestão pública e ampliar a cidadania (Azevedo e Gomes, 2008; Santos, 2002). Enquanto ferramenta política, inscreve-se no âmbito das práticas da democracia participativa ou direta, instrumento auxiliar da democracia representativa que pretende, para além de consagrar o princípio privilegiado da participação cidadã, funcionar como bloqueio a formas obscuras e centralizadas de decisão pública, de promoção da transparência e de cogestão das decisões mais prementes que afetam a vida das comunidades que a adotam como prática (Azevedo e Gomes, 2008; Matos, 2011). O OP constitui-se ainda como uma nova forma de governação que funciona a partir tanto de modelos assentes na consulta dos cidadãos, como de processos de deliberação vinculativos, decorrentes da reflexão e do debate conjunto dos problemas do território que habitam. Neste âmbito, protagoniza um projeto político assente na corresponsabilização entre políticos eleitos, a esfera técnico-administrativa, e os cidadãos e cidadãs, numa lógica alternativa ao que certos autores designam por dupla-delegação, legitimada pela democracia representativa (Callon, Lascoumes e Barthe, 2001), contribuindo para o progresso económico e político (Gastil, 2008). O OP tem demonstrado essa capacidade de servir projetos políticos da esquerda à direita, cumprindo objetivos diversos, que vão do controle e coresponsabilização cidadã na gestão de parcos orçamentos municipais – geralmente através de propostas de abertura à participação cidadã proporcionadas pela classe política –, à luta contra a corrupção e à exigência de transparência, dando conta de situações que advêm da pressão cidadã por mais participação na vida política. Desta forma, funciona ainda como mecanismo de controlo social e de redistribuição de poder entre todos os atores que intervêm na cena política (Avritzer, 2009; Dias, 2008). 1 Publicações recentes mencionam a existência de cerca de 2000 OP em funcionamento no mundo. A maior parte refere-se a experiências situadas na América Latina (Dias, 2008).
44
Os cidadãos são considerados atores privilegiados deste processo. Aliás, a forma como a generalidade dos processos de OP projeta o envolvimento dos cidadãos constitui-se como um dos mais sólidos exemplos de democracia de alta intensidade (Santos, 1998 e 2005; Santos e Avritzer, 2002). Pela aposta na participação individual dos diferentes atores de um determinado território, geralmente os que aí residem ou são eleitores, o OP tem vindo a promover a inclusão de camadas sociais que em regra permaneciam excluídas ou sub-representadas nos centros de decisão. Em alguns destes projetos, as crianças e jovens constituem-se um desses grupos. Desta forma, para as camadas etárias mais jovens, o OP pode funcionar como projeto de socialização na política, capacitando-os tanto no exercício dos seus direitos, como na plena realização da sua condição de cidadãos/as. O OP apresenta-se como processo de capacitação da pessoa no seu papel de cidadão/ã, um amplo projeto de fortalecimento do diálogo e da participação na vida da cidade, na constituição de um espaço público heterogéneo de decisão coletiva e de afirmação do direito a ter e a exercer direitos. Assim, apesar de incipientes e não isentos de tensões, o OP é também um dos espaços capazes de promover a participação infantil. Estes processos conduzem a um conjunto de questionamentos importantes e significativos, mais ainda quando as crianças, tradicionalmente afastadas das questões políticas e do Estado, encontram aqui oportunidade para participar na comunidade onde estão inseridas, numa tradução contra-hegemónica da infância, ativa e participativa. Ao promovem a participação das crianças, certos OP reconfiguram possibilidades para as comunidades se tornarem espaços mais democráticos, sem condicionalismos etários. As crianças e o OP A participação das crianças nos OP promove e institucionaliza a sua participação no quadro político e simbólico dos direitos da criança, nomeadamente o direito de participação contemplado na CDC (art.º 12); encoraja a participação cívica e reconhece o papel e a importância das crianças como indivíduos com ação política. Com efeito, o OP é considerado um espaço efetivo de socialização e de exercício da cidadania. A experiência da participação das crianças nos OP é reveladora da possibilidade de levar a cabo o planeamento urbano com as crianças, em vez de para as crianças (Knowles-Yánez, 2005). À escala mundial são já consideráveis os processos de OP que contemplam a participação das crianças: Canadá (Vancouver); Equador (Cotacachi); Venezuela (Ciudad Guayana); África do Sul (Joanesburgo); Brasil (Recife, Barra Mansa, Icapuí, São Paulo, Goiânia); Portugal (São Brás de Alportel, Carnide, Aveiro); Espanha (Sevilha), entre outros (Tomás, 2008). Apesar de enquadrados em contextos e processos distintos, identifica-se um princípio comum entre essas experiências: todas consideram a importância de incluir as necessidades das crianças e jovens e de promover espaços adequados à sua participação, partilhando, desta forma, o poder com a infância. Da diversidade de experiências de OP, de modelos e caminhos seguidos, e apesar de algumas não terem tido continuidade, podemos enunciar algumas das vantagens da participação das crianças no OP: educar para a cidadania e na cidadania, sobretudo na vertente de efetiva participação e filiação numa comunidade; fortalecer a cooperação e a solidariedade; fomentar uma cultura de diálogo intra e intergeracional; ampliar a esfera pública a grupos sociais tradicionalmente excluídos; promover uma conceção
45
multidimensional de socialização onde a criança é considerada como um parceiro, um agente de sua própria formação. O processo de socialização passa a ser entendido como um processo contínuo, múltiplo quanto à sua direção e fins que preconiza, tanto os mais imediatamente visados e, portanto, visíveis, quanto os menos percetíveis, porque comumente não reconhecidos pela visão tradicional de socialização (Marchi, 2010: 195). Identificam-se duas experiências de monitorização e duas metodologias de OP que consideram as crianças: o orçamento de criança senso estrito, que se refere a programas focalizados exclusivamente nas crianças e o orçamento de criança ampliado, em que a parcela de recursos não é exclusiva das crianças mas que as afeta na definição de recursos a alocar. Na maioria das vezes, estas experiências desenvolvem-se em contexto escolar (sentido amplo), no âmbito do paradigma de uma educação política transformadora e do reconhecimento que família, escola e grupo de pares são, por excelência, espaços de socialização política das crianças (Sarmento et al., 2005 e 2006). Os processos de OP tentam, assim, contrariar o paradigma de que a socialização escolar atua na base de um princípio de separação, não só das crianças face ao mundo adulto, mas igualmente dos saberes face à sua aplicação prática. A importância que os OP assumem radica na aprendizagem da cidadania, que, mais do que uma interiorização de princípios teóricos, supõe a formação de uma experiência em que intervêm uma multiplicidade de instituições sociais e de atores. Neste caso, pensar numa perspetiva de cidadania para a infância implicará sempre um esforço na promoção da participação infantil, considerando as crianças atores participativos nas relações sociais. Assim, a cidadania ativa não significa apenas conformismo perante a estrutura social ou cumprimento de comportamento cívicos, mas a possibilidade do exercício do direito de contribuir para a transformação da sociedade. Como afirmou Paulo Freire: “ninguém é autónomo primeiro para depois decidir (…) é decidindo que se aprende a decidir” (1996: 66). Educar na cidadania e na democracia, considerando as crianças como sujeitos ativos neste processo, implica a criação de espaços e de oportunidades que promovam competências e conceções elas próprias democráticas e cidadãs, assentes na participação ativa em processos como o OP, acedendo às informações e procedimentos necessários à participação, ter formação, adquirir conhecimentos e saberes sobre direitos, participação, cidadania e democracia. Só assim será dado um passo adiante na formação de cidadãos ativos e implicados. Conclusões A insatisfação provocada pelas atuais práticas democráticas são por demais evidentes. O antídoto da entropia desses sistemas tem recaído na participação direta dos cidadãos na vida política. Este cenário transformador tem, no entanto, dilatado possibilidades de participação que rompem os limites convencionais de inclusão. A participação das crianças nos OP é um sintoma claro nesse sentido. Cada vez mais, a participação infantil na organização pública é afirmada como caminho incontornável na reversão de cenários de défice democrático e os processos de OP em funcionamento no mundo, sobretudo os que contemplam formatos de participação adaptados aos mais novos, ilustram claramente esta realidade. Dessa forma, podemos afirmar que esse tipo de programas, desenhados e implementados para a infância e que
46
tentam responder às suas necessidades, são tão mais eficazes quanto mais a participação das crianças for promovida e conquistada. A cidadania na infância, afirmada no quadro da consagração jurídica dos direitos da criança, encontra nos processos de OP uma possibilidade concreta e potencialmente eficaz de materializar o direito de participação no espaço público através da sua implicação direta na construção coletiva desse espaço. Mas nem sempre, ou nem todos os processos realizam eficazmente este corolário da participação. Inegável, porém, é a crescente pressão para a abertura do político a uma condição de cidadania sem fronteiras etárias, capaz de dilatar ainda mais uma conceção de democracia de alta intensidade, onde passem a ser incluídas as crianças, cidadãos/as, ainda que apenas de baixa estatura. Referências Bibliográficas AVRITZER, Leonardo (2009) Participatory Institutions in Democratic Brazil. Baltimore: Johns Hopkins University Press. AZEVEDO, Neimar Duarte;; GOMES, Maria Auxiliadora (2008) “Um balanço da literatura sobre o Orçamento Participativo de Belo Horizonte: Avanços e desafios”, in Sérgio Azevedo e Ana Luiza Nabuco (org.), Democracia participativa. A Experiência de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Editora Leitura e Prefeitura BH, pp. 67-88. CABANNES, Yves (2007) Instrumentos de Articulación entre Presupuesto Participativo y Ordenamiento Territorial. Belo Horizonte: URB-AL. CALLON, Michel; LASCOUMES, Pierre, BARTHE, Yannick Barthe (2001) Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique. Paris: Seuil. COCKBURN, Tom (2005) Children as participative citizens: a radical pluralist case for ‘child-friendly’ public communication, Journal of Social Sciences. Special Issue. 9, pp.19:29. COOKE, Bill; Kothari, UMA (2001) Participation: The New Tyranny?. London, Zed Books. DAGNINO, Evelina (2002) Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra. DAGNINO, Evelina (2004) “¿Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?”, in Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 95-110. DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto; PANFICHI, Aldo (2006) A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e Terra. DALTON, Russel (1988) Citizen Politics in Western Democracies. Chatham, NJ: Chatham House. DIAS, Nelson (2008) Orçamento Participativo. Animação cidadã para a participação política. Lisboa: Associação in Loco. FERNANDES, Natália (2009) Infância, Direitos e Participação. Representações, Práticas e Poderes. Porto: Edições Afrontamento. FISHKIN, James (2009) When the People Speak. Oxford: Oxford University Press. FISHMAN, Robert (2011) “Democratic Practice after the Revolution: The Case of Portugal and Beyond”, Politics and Society, XX(X), 1-35. FONT, Núria (1998) “New Instruments of Citizen Participation”, Working Papers, 152, 1-19. FREIRE, Paulo (1996) Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra.
47
FUNG, Archon; WRIGHT, Erik Olin (Eds.) (2003) Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance. London: Verso. GASTIL, John (2008) “Cultivating Deliberative Development: Public Deliberation as a Means of Improving Local, State, and Federal Governance”, in Sina Odugbemi and Thomas Jacobson, Governance Reform Under Real-World Conditions. Washington DC: The World Bank, pp. 303-316. KITSCHELT, Herbert (2002) “Landscapes of Political Interest Intermediation. Social Movements, Interest Groups, and Parties in the Early Twenty-First Century”, in Pedro Ibarra (ed.), Social Movements and Democracy. New York: Palgrave Macmillan, pp. 81-103. KNOWLES-YÁNEZ, Kimberley (2005) “Children’s Participation in Planning Processes”, Journal of Planning Literature, 20 (3), pp. 3-14. MARCHI, Rita (2010) O “ofício de aluno” e o “ofício de criança”: articulações entre a sociologia da educação e a sociologia da infância. Revista Portuguesa de Educação, 23 (1), pp. 183-202. MATOS, Ana Raquel (2011) "«Porque o sol, quando nasce, é para todos.» O Orçamento Participativo como instrumento de governação da cidade: um olhar a partir de Sevilha e de Belo Horizonte, Chão Urbano, Ano XI, Nº 1 Jan/Fev. MOUFFE, Chantal (2000) “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism”, Reihe Politikwissenschaft/Political Science Series, 72. Disponível em: http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_72.pdf. Acesso a 26 março de 2010. NAVARRO, Zander (2010) “Porto Alegre: From Municipal Innovations to the Culturally Embedded Micro-Politics of (Un)Emancipated Citizens: The Case of Rubbish Recyclers”, in Jenny Pearce (Ed.), Participation and Democracy in the Twenty-First Century City. New York: Palgrave Mcmillan, pp. 76-99. PEARCE, Jenny (2010) “Introduction”, in Jenny Pearce (ed.), Participation and Democracy in the Twenty-First Century City. New York: Palgrave Mcmillan: pp. 1-33. PUTNAM, Robert (2000) Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community. Nova Iorque: Simon & Schuster. ROSANVALLON, Pierre (2006) La contre-démocratie. Paris: Éditions du Seuil. ROSENBERG, Shawn (2007) “An introduction: Theoretical Perspectives and Empirical Research on Deliberative Democracy”, In Shawn Rosenberg (Ed.) Deliberation, Participation and Democracy. Can the People Govern? New York: Palgrave Macmillan, pp. 3-22. SANTOS, Boaventura de Sousa (1998) Reinventar a democracia. Lisboa: Gradiva. SANTOS, Boaventura de Sousa (2002) Democracia e participação. Coimbra: Afrontamento. SANTOS, Boaventura de Sousa (2005) “Crítica da Governação Neoliberal: O Fórum Social Mundial como legalidade Cosmopolita subalterna”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 72, pp. 7-44. SANTOS, Boaventura de Sousa;; AVRITZER, Leonardo (2002) “Para ampliar o cânone democrático”, in Boaventura de Sousa Santos (Org.), Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pp.39-83. SARMENTO, Manuel Jacinto ; FERNANDES, Natália ; TOMÁS, Catarina (2006). Participação social e cidadania ativa das crianças. In David Rodrigues Inclusão e Educação. Doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus Editorial, pp. 141-159
48
SARMENTO, Manuel Jacinto; ABRUNHOSA, Albertina ; SOARES, Natália Fernandes (2005). “Participação infantil na organização escola”. Administração Escolar, 5, pp. 72: 87 STOKER, Gerry (2006) Why Politics Matters: Making Democracy Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. TILLY, Charles (2002) “When do (and Don’t) Social Movements Promote Democratization?”, in Pedro Ibarra (ed.), Social Movements and Democracy, New York: Palgrave Macmillan, pp. 21-45. TOMÁS, Catarina (2008) Contra os silêncios, a invisibilidade e a afonia: A Participação das Crianças nos Orçamentos Participativos. Atas do VI Congresso da Associação Portuguesa de Sociologia. Lisboa: APS. TOMÁS, Catarina (2011) Há muitos mundos no mundo. Cosmopolitismo, participação e direitos das crianças. Porto: Edições Afrontamento. TOMÁS, Catarina; SOARES, Natália Fernandes (2004) Da emergência da participação à necessidade de consolidação da cidadania da infância... os intrincados trilhos da acção, participação e protagonismo social e político das crianças, Revista Fórum Sociológico, 11/12, pp. 349-361. VISVANATHAN, Shiv (2012) Friday, “Issues regarding growth, innovation need new public spaces by emerging groups in society”, Deccan Chronicle, Mar 09 http://www.deccanchronicle.com/columnists/shiv-visvanathan/power-dissent.
49
Processos de Socialização Online: Novos Entraves e Desafios à Luta pela Igualdade de Género
Custódia Rocha Prof. Auxiliar Universidade do Minho [email protected]
Resumo: Ao longo da história da humanidade foi-se consolidando um conjunto de crenças, quantas vezes convertidas em teorias e modelos cientificamente validados, que contribuíram para uma diferenciação hierárquica entre o feminino e o masculino. Estas crenças engendraram vários processos de socialização que hoje são multiplicados através de uma tecnologia revolucionária: A internet. Nas redes sociais, vistas como comunidades de partilha de ideologias, comportamentos, interesses comuns, de interacções e loci de várias socializações, circulam conteúdos associados ao sexo e ao género de uma forma tão acelerada quanto ilimitada. Tendo percorrido várias páginas criadas no Facebook – uma rede que pôs em comunicação quase 600 milhões de pessoas em todo o mundo – neste texto fazemos uma reflexão sobre o poder que esta rede pode adquirir na reconsolidação de processos de socialização generizada. É que os conteúdos digitais não são vazios de sentido. Pelo contrário, quando associados ao sexo e ao género, reafirmam velhas crenças numa rede global de novas socializações. Na era da revolução tecnológica, há grupos hegemónicos que encontram uma fonte de lucros na reconstrução e na difusão da ideia de que o feminino e o masculino são identidades natural e socialmente diferentes e que, desta feita, exercem um grande poder na manutenção de uma ordem social eminentemente desigualitária. Processus de socialisation on-line: Nouveaux obstacles et défis de la lute pour l´égalité du genre Résumé : Tout au long de l’Histoire de l’humanité on a construit un ensemble de croyances, bien souvent converties en forme de théories et de modèles scientifiquement validés, qui ont contribué à une différenciation hiérarchique entre le féminin et le masculin. Ces croyances ont permis la construction de divers processus de socialisation qui aujourd'hui se multiplient grâce à une technologie révolutionnaire: l'internet. Sur les réseaux sociaux, vus comme des communautés de partage d’idéologies, de comportements, d’intérêts communs, d’interactions et loci de plusieurs socialisations, circulent des contenus liés au sexe et au genre d’une forme aussi rapide qu’illimitée. Ayant parcouru plusieurs pages créées sur Facebook – un réseau qui a mis en communication presque 600 millions de personnes dans le monde entier – dans ce texte nous réfléchissons sur le pouvoir que ce réseau peut acquérir dans la reconsolidation des processus de socialisation générée. Les contenus digitaux ne sont pas vides de sens. Au contraire, lorsqu’ils sont associés au sexe et au genre ils réaffirment de vieilles croyances dans un réseau global de nouvelles socialisations. À l'ère de la révolution technologique, il y a des groupes hégémoniques qui trouvent une source de revenus monétaires dans la reconstruction et dans la diffusion de l'idée que le féminin et le
50
masculin sont naturel et socialement différents et qui, de ce fait, font l’exercice d’un grand pouvoir sur la manutention d’un ordre social éminemment non égalitaire. Introdução Com o estudo de caso que neste trabalho apresentamos, após ter procedido a uma reflexão sociológica em torno do conceito de socialização, temos como principal intuito problematizar uma série de conteúdos digitais e de discursos constitutivos de uma socialização generizada1. Estes conteúdos e discursos circulam nas redes sociais, nomeadamente no facebook – uma das redes que pôs em comunicação quase 600 milhões de pessoas em todo o mundo – e permitem-nos questionar a possibilidade e a capacidade que os actores sociais, rapazes e raparigas, homens e mulheres têm de, num contexto social marcado pela era digital, delimitar e questionar os processos e as formas de segregação de género que se lhes apresentam nesta rede global de discussão, partilha e convivência, em suma de socialização. As seguintes questões orientam este nosso estudo e é sobre elas que pretendemos refletir com a elaboração do mesmo. Que contributos sociológicos afirmam a socialização generizada? Que instituições e grupos (hegemónicos) têm instituído processos de socialização generizada? Que manifestações imagéticas e discursivas suportam formas e processos de socialização generizada? E que outras os desconstroem? Que possibilidades existem na era das socializações em rede de se configurar processos de socialização que não sejam eminentemente generizados? Para a efetivação deste estudo, foram percorridas várias páginas às quais se pode aceder livremente através de um motor de busca (Google) sem qualquer inscrição prévia na rede social facebook. Das páginas percorridas somente retivemos algumas “fotos do mural” (imagens), mostrando o nº de “gostos” sinalizados, o nº de “partilhas” e alguns dos “comentários” (discursos) sobre as mesmas. Não tratamos confidencialmente os nomes das “comunidades” nem dos seus aderentes uma vez que se tratam de páginas de acesso livre2. A análise de conteúdo, que assiste a este estudo, exigiu que se construísse categorias analíticas, tais como: “A diferenciação entre o feminino e o masculino”;; “A alocação das mulheres ao desenvolvimento de tarefas domésticas”;; “A sexualização das mulheres no âmbito do público/masculino”;; “A reconstrução do “perfil tradicional” das mulheres”;; “A inversão dos papéis tradicionais”;; “A reconstrução do perfil tradicional dos homens”;; “A desconstrução dos estereótipos de género”. Na delimitação de uma hipótese geral, as imagens e os discursos, teoricamente suportados, são aqui tidos na sua dualidade significativa – as imagens e os discursos, na sua correlação, não são somente conteúdos de produção e reprodução que constrangem e obrigam a uma socialização generizada mas podem adquirir, também, feições de desconstrução que capacitam para a igualdade de género e, até, para a degenerização do social.
1 Os neologismos generizada(s), generizado(s) são assumidos neste trabalho enquanto tradução do termo anglo-saxónico genderized. Prevalece na literatura a utilização do neologismo “generificado” ou “genderizado” quando autoras e autores se querem referir a um processo ou uma prática social que é constituída e constituinte dos géneros ou para se referir a algo que está relacionado com o género. A opção pela utilização do neologismo generizada(s), generizado(s), neste trabalho, deve-se ao facto deste neologismo constituir, em si, um particípio verbal simultaneamente activo e causativo que implica fundamentalmente a ideia de que algo/alguém provoca e/ou é causa de acções e contextos que resultam e/ou se manifestam marcados por concepções (muitas vezes estereotipadas) relativas às relações sociais de género. 2 Escolhemos as páginas que tinham (têm) aderentes/amigos que pertencem ao nosso próprio grupo de amigos no facebook.
51
O seguinte quadro esclarece sucintamente a natureza e composição das páginas percorridas e analisadas (tal como sinalizado nas mesmas) em março de 2012. Recomenda-se a sua consulta sempre que a análise em desenvolvimento o exigir. Quadro 1 – Breve descrição do panorama de investigação Nome da Página
Descrição Formal do Conteúdo da Página
Género do/a Proprietário/a
País de Proveniência
Nº. Aderentes
“Comunidades de entretenimento” Altas Risadas Comediante Não explícito
Não explícito
2.505.553
Humor no Face Entretenimento Masculino: Matheus Quintãs de Castro
Não explícito
2.243.267
Pânico na Internet Comediante Masculino: Raiphy Pinheiro
Não explícito
1.366.493
Cenasmaradas Comunidade Não explícito
Não explícito
315.036
Tá Feio Entretenimento Não explícito
Não explícito
260.983
O Humor em Pânico Entretenimento – Página Generalista
Neutro
Não explícito
244.486
Adoro coisas que me façam rir
Site – Artes e Entretenimento
Não explícito
Não explícito
15.307
Poder Feminino Comunidade Net Não explícito
Não explícito
3.148
Chistes Feministas Comunidade Não explícito
Não explícito
643
I'm not saying it was feminists, but it was feminists.
Personagem Fictícia Não explícito
Não explícito
154
Nº Total de Aderentes 6.955.070
Desenvolvimento 1. Institucionalização Sociológica dos Processos de Socialização Generizada
A diferenciação assimétrica entre a concepção de pessoa masculina e de pessoa feminina, e a sua permanente construção e reconstrução social, ancora-se num longo e amplo processo cultural e civilizacional. No mundo ocidental muitos pensadores, filósofos, teóricos e académicos encarregaram-se de explicitamente produzir e
52
reproduzir ideologias associadas ao sexo e ao género, no âmbito das mais variadas ciências, incluindo as ciências humanas e sociais. Muito particularmente no âmbito da sociologia da educação, esta diferenciação assimétrica foi suportada por um programa teórico em torno do conceito de socialização. Na sociologia moderna, e muito particularmente com os teóricos do funcionalismo, a socialização foi concebida como um processo de necessária imposição de valores e normas de atuação, ao serviço de um “Estado Educador” que tinha como propósito assegurar a coesão social numa sociedade homogénea e isenta de conflitos. Os agentes de socialização privilegiados eram a família nuclear, a escola e as organizações de trabalho. Émile Durkheim (1929: 34-63) considera que “não podemos, nem devemos nos dedicar todos ao mesmo género de vida; temos, segundo nossas aptidões diferentes funções a preencher, e será preciso que nos coloquemos em harmonia com o trabalho que nos incumbe”, pois “cada profissão constitui um meio sui-generis que reclama aptidões particulares e conhecimentos especiais” [...]. E, porque “todo o futuro do indivíduo se acha fixado de antemão”, considera ainda o autor, “a educação não pode aí fazer muito”, pois “a criança”, pelos constrangimentos da educação, “fica, por condição natural, num estado de passividade perfeitamente comparável àquele em que o hipnotizado é artificialmente colocado”. Por isso, a grande função da educação é “conduzir-nos a ultrapassar a natureza individual: só sob esta condição, a criança tornar-se-á um homem”. A obra de Durkheim parece consolidar a ideia de que “as diferenças entre os sexos e a divisão do trabalho sexual caracterizam o estádio civilizado das sociedades” e que “a inferioridade das mulheres é uma condição necessária”. Por isso, o autor “não hesita em recorrer à ‘evidência’ sobre os volumes dos cérebros para mostrar que a perda de capacidades intelectuais é indispensável para que as mulheres desenvolvam os atributos que distinguem a feminilidade e lhes permitem a especialização em funções afectivas, enquanto as funções intelectuais ficam reservadas aos homens” (Amâncio, 1994: 19). É n’ O Suicídio (1989b: 352, original de 1897) que Durkheim estabelece com maior rigor a diferença entre o privado como âmbito de actuação das mulheres e o público como âmbito de actuação dos homens. Diz o autor: “A sua sensibilidade [da mulher] é muito mais rudimentar que desenvolvida. Como vive mais que o homem fora da vida comum, a vida comum penetra-a menos: a sociedade é lhe menos necessária porque está menos impregnada pela sociabilidade. Tem poucas necessidades que precisam de ser satisfeitas por este lado, e contenta-as com pouco custo. Com algumas práticas de devoção, alguns animais de que cuidar, a velha menina tem a sua vida preenchida [...]. É um ser social mais complexo [...], a sua estabilidade moral depende de mais condições” [e, é por isso] que se perturba tão mais facilmente”. Talcott Parsons, no seu estudo La Clase como Sistema Social: Algumas de sus Funciones en la Sociedad Americana (1985: 53 – 60), define a educação como uma instância de socialização para valores, normas e saberes que conduzam à integração social. A socialização da criança é efectuada em primeiro lugar com a família, em segundo com o grupo de pares, em terceiro com a escola, através da figura da professora. A educação é também uma instância de selecção social devendo satisfazer na ordem e na harmonia uma divisão do trabalho cada vez mais complexa. Parsons e Bales, na obra Family, Socialization and Interaction Processses (1956), na linha dos estudos anteriores de Talcott Parsons, fizeram a distinção entre as orientações dos papéis sociais dos homens (carácter instrumental – autonomia individual,
53
independência, competição, rendimento e produtividade nas tarefas) e das mulheres (carácter expressivo – assimilação ao grupo, integração, estabilidade, coesão). Todas as instâncias de socialização, entre as quais a família, a escola, e o grupo de pares consolidam as diferenças da valorização ou desvalorização social dos papéis sociais masculinos e femininos. A análise destes sociólogos ao recair “numa perspectiva claramente sociológica no bom sentido do termo: os lugares e as actividades dos indivíduos não são consideradas como derivando da sua natureza ou das suas capacidades próprias mas sim da organização social [...] e ao falar em ‘papéis’ das mulheres e dos homens dá um grande passo em direcção à desnaturalização das posições e das ocupações respectivas dos sexos” (Delphy, 1991: 90). Mas, simultaneamente, esta análise, ao delimitar o papel dos pais (homens) essencialmente ligado às tarefas instrumentais do papel diferente e expressivo das mães centrado nas emoções, parece em muito ter contribuído para “fundamentar a necessidade das diferenças nos perfis de personalidade de homens e mulheres e na desejabilidade social dos seus respectivos padrões comportamentais” e é indicadora de que há uma “distinção nos papéis sexuais que, embora complementares no seio da família, são quantitativa e qualitativamente assimétricos”. E isto porque “o equilíbrio da personalidade masculina resulta, precisamente, da diversidade de papéis, enquanto o da personalidade feminina se restringe ao desempenho do papel familiar”. Há, assim, na análise de Parsons e Bales “uma conceptualização que diferencia assimetricamente e hierarquicamente os papéis sociais desempenhados pelos homens e pelas mulheres” (Amâncio, 1994: 21). A este propósito, não poderíamos deixar de referenciar a análise efectuada, nos finais dos anos sessenta, por Amitai Etzioni (1969) sobre o ensino, o trabalho social, a enfermagem e o trabalho bibliotecário e a delimitação destas profissões enquanto semiprofissões. A razão evocada pelo autor para esta delimitação assenta no facto de estas serem “altamente feminizadas”. Veja-se, também, a análise que Richard Simpson e Ida Simpson (1969) fazem sobre a presença das mulheres nas organizações escolares, defendendo, explicitamente, que esta presença é o factor responsável pelo reforço do controlo burocrático e pela ênfase colocada na autoridade hierárquica e nas regras. Para além disso, esta presença, em si, seria o factor responsável pela pouca autonomia dos trabalhadores nas organizações escolares. As perspectivas sociológicas clássicas, e muitas perspectivas do âmbito da sociologia da educação, consolidaram a ideia da (necessária) divisão entre o público (masculino/racional) e o privado (feminino/emotivo) e ainda a ideia de que as desigualdades entre os géneros são algo de inevitável porque inscritas na natureza humana. Daí, também, nada mais natural do que mobilizar os indivíduos e integrá-los na estratificação social através de um trabalho eficaz de socialização. A socialização é uma poderosa força integrativa dos indivíduos na sociedade e visa a harmonia social. Deste modo, há que procurar, mesmo que de forma subtil, que as mulheres e os homens interiorizem a racionalidade desigualitária e aceitem as regras da competição próprias de uma dada estrutura social e económica. Como se sabe, estas perspectivas foram violentamente criticadas. Nos seus conhecidos escritos sobre A Dominação masculina, Bourdieu (1999: 71) defende ser necessário “reedificar a história do trabalho histórico de deshistoricização ou, se se preferir, a história da (re)criação continuada das estruturas objectivas e subjectivas da dominação masculina que se realizou de modo permanente, desde que há homens e mulheres, e através da qual a ordem masculina se viu continuamente
54
reproduzida de época em época”. As contribuições da reprodução permitem falar da escola e dos processos educativos enquanto espaços de socialização primária e secundária conducentes à diferenciação em que regras explícitas e/ou invisíveis moldam as identidades dos actores (sujeitos) e que evidenciam a reprodução da masculinidade hegemónica. Nesta linha de análise, os grupos dominantes na sociedade têm o poder e o estatuto para impor o sistema de valores de referência e a ideologia que serve para legitimar e perpetuar a dominação masculina. Pierre Bourdieu (1999: 74-80) reconhecendo, embora, que é no contexto do sistema de ensino que se operam os maiores desafios à dominação masculina, não deixa de defender que a escola “continua a transmitir os pressupostos da representação patriarcal baseada na homologia da relação homem/mulher e adulto/criança”. O autor constata que as mulheres tendem a proliferar, por oposição aos homens, entre as fileiras de ensino “mais analíticas, mais práticas e menos privilegiadas”, que os cargos de maior responsabilidade desempenhados pelas mulheres tendem a situar-se, sobretudo, em “regiões diminutas do campo do poder” e que “as funções que convêm às mulheres situam-se no prolongamento das funções domésticas – ensino, prestação de cuidados, serviço”. De facto, “as ciências sociais têm procurado evidenciar a forma como a área do trabalho, incluindo a do sector estatal, se organiza de forma estratificada, conduzindo as mulheres, que em períodos determinados acedem ao mercado de trabalho, para postos subalternos, de pior remuneração, maior instabilidade e exigindo menores qualificações. Assim, a força de trabalho feminina é sistematicamente afastada de posições de chefia” (Araújo, 1990: 81) mesmo que as mulheres sejam maioritárias em determinados contextos de trabalho, como é o caso da educação formal. Contudo, “[...] a questão não se situa [...] ao nível da actividade desenvolvida, mas sim ao nível do significado social que lhe é atribuído e da posição do indivíduo no sistema social associada a esse significado, tal como mostra a análise sociológica da construção social do género” (Amâncio, 1994: 26). A análise sociológica da construção social do género e da (re)criação continuada das estruturas objectivas e subjectivas da diferenciação assimétrica entre o feminino e o masculino tem abarcado diversas dimensões e tem-se estendido, principalmente no âmbito da sociologia, à relação existente entre género(s) e processos de socialização. Tem vindo a mostrar-se como os rapazes e as raparigas, os homens e as mulheres vivem as experiências dos seus mundos através de relações sociais de género contextualizadas e têm expectativas sobre si a partir de uma série de elementos constitutivos do social. Num sistema social em que ao longo dos tempos se foi instituindo uma ideologia largamente consensual que diferencia o masculino e o feminino através da desejabilidade social das suas características, os processos de socialização primária e secundária vão contribuindo para a interiorização das “identidades de género” socialmente aceitáveis (Amâncio, 1994). Há, pois, a nível social “formas objectivas de discriminação” que, tal como a “expressão subjectiva das mesmas [...] têm a sua origem numa forma de pensamento social que diferencia valorativamente os modelos de pessoa masculina e feminina e as funções sociais dos dois sexos na sociedade”. E, se é certo que não se pode “transformar o processo de socialização numa espécie de marcação natural das diferenças entre os sexos, que uma vez estabelecida na infância e na adolescência acompanha, irreversivelmente, toda a vida adulta” (Amâncio, 1994: 15-27), também é certo que se exige um repensar sobre as tradicionais delimitações da atuação predominante dos
55
“processo de socialização”, sobretudo quando pensamos nas novas formas de socialização/socializações que se vivenciam na chamada era da revolução tecnológica e das redes sociais. Em alguns estudos sobre as relações sociais de género, na sua relação com a problemática das socializações, tem-se falado em processos de “socialização de género” ou de “socialização generizada” e tem-se mostrado como estes processos se desenvolvem em diversos contextos sociais e organizacionais. Nesses estudos concebe-se a socialização como um processo permanente que se inicia na infância e se desenvolve na idade adulta, presta-se atenção aos processos de socialização primária (tais como a família, a escola, os grupos de pares, os media) e aos processos de socialização secundária (tais como os sindicatos, as associações, os contextos de trabalho) e analisam-se as dinâmicas pessoais (identitárias) que se formam sob influência de todos estes processos, ora de forma separada, ora na sua correlação. Nesta sequência, não se tem descurado a redefinição plural dos processos de socialização alertando-se para o facto de que não existe uma mas várias e plurais socializações, desde a pequena infância à idade adulta, defendendo-se que, nas diversas socializações ao longo da vida, “o indivíduo não está reduzido a uma postura passiva ou reativa perante as influências de que é alvo”, como defendia Durkheim, mas que o mesmo, pelo contrário, enquanto sujeito-actor social, é capaz de dar sentido e de (re)orientar as suas diferentes experiências de vida nos seus diferentes tempos e lugares de socialização. “É a conceção de um sujeito actor da sua socialização” (Rouyer et. al., 2010). Esta conceção, se bem que mostre como os processos de socialização se devem explicar por via do social, tende a diluir a força impositiva, embora muitas vezes dissimulada, com que determinados processos de socialização são instituídos por uma série de grupos hegemónicos (de que a análise de Bourdieu dá conta) e que, na era digital, têm como intuito principal auferir lucros através da produção de conteúdos digitais com os quais se reinstitui a ideia de que as masculinidades e as feminilidades devem ser vistas como naturalmente diferentes, mesmo quando desenvolvem funções no âmbito do público. 2. A Construção Hegemónica dos Conteúdos Digitais Generizados Tem vindo a dizer-se que existem várias modalidades de apropriação dos conteúdos digitais acessíveis na rede por parte dos utilizadores, não sendo de excluir que a apropriação contempla, entre outras, possibilidades de desvios, de contornos, de reinvenção ou mesmo de participação direta dos utilizadores na conceção das inovações (Breton e Proulx, 2002). Perante isto, perguntamos: Que possibilidades têm os adolescentes, raparigas e rapazes, e mesmo os adultos, mulheres e homens, de participar diretamente na “conceção das inovações” ou de, pelo menos, contornar o digitalmente imposto por grupos sociais que dominam as TIC e que as utilizam para reforçar a sua influência na organização da sociedade? Esta questão tem vindo a merecer reflexão por parte de algumas correntes da estruturação do pensamento sociológico atual com base nos trabalhos de Anthony Giddens sobre o interacionismo simbólico: os comunicadores criam sistemas sociais que respondem aos seus próprios objetivos e ligam-se entre eles através das suas próprias criações. Outros autores, através da designada “teoria da estruturação adaptativa” têm vindo a mostrar como “os grupos que melhor conseguem apropriar-se dos novos recursos de informação – neste caso a Internet – são capazes de influenciar de
56
forma decisiva a sociedade e as suas regras. São capazes de contornar a tecnologia para a adaptar aos seus objetivos, o que não é o caso dos grupos que posteriormente adoptam a inovação”. Desta feita, o “digital divide”, e nomeadamente o “gender digital divide” não se reporta somente a uma questão de desigual acesso e uso da tecnologia, mas constitui, essencialmente, “um fosso entre os que têm a capacidade de utilizar as TIC para influenciar o desenvolvimento da sociedade e os outros” (Valenduc e Vendramin, 2004: 14). Há que referir que pese embora algumas diferenças de país para país, persistem fatores culturais que reforçam a imagem masculina das TIC: “os estereótipos relativos à cultura profissional da informática são uma mistura da cultura de dominação do programador e da cultura alternativa do utilizador” (Valenduc e Vendramin, 2007: 2-3). Nesta sequência, há que sinalizar que os inovadores são a pequena minoria dos pioneiros da Internet nas universidades, centros de investigação e empresas. As suas inovações são rapidamente apropriadas nomeadamente por parte daqueles que têm uma boa intuição das potencialidades da inovação e dos benefícios que dela podem retirar. Delimitam a agenda do desenvolvimento das tecnologias e dos serviços e criam um efeito de demonstração que é essencial para proceder à difusão em grande escala. Influenciam o modelo económico de difusão e dão forma a diversas clivagens (Valenduc e Vendramin, 2004). De entre essas clivagens encontram-se as relacionadas com as relações sociais de género. Pois, “em muitos aspectos, a Internet reproduz o status quo de género predominante na sociedade. Atividades relacionadas com o controlo de nível superior do conteúdo, da infra-estrutura e dos recursos online são exercidas principalmente pelos homens” (Herring, 2001) que de aqui retiram proveitos financeiros. De tal forma assim é que “hoje, a ideia de comunidade na Internet é incarnada pelas redes sociais da Web 2.0. Não é um sonho nem um pesadelo mas um comércio que transforma as ligações hipertexto e as ligações humanas em produtos de moeda”. Assim acontece com o “Facebook, Twitter e afins que capitalizam os recursos dos utilizadores” (Lechner, 2012). A este propósito, “convém não esquecer que o batalhão de advogados de Mark Zuckerberg (criador do Facebook) trabalha diariamente para um objetivo: conseguir maximizar o uso comercial que dá aos dados dos utilizadores minimizando o impato da ilegalidade daí resultante. Zuckerberg não está rico à toa, faz fortuna em cima dos seus dados, sim, do que você coloca nesta rede social” (Falar Global, janeiro 2012). Na era tecnológica e das ligações que trazem proveito monetário para os que concebem conteúdos digitais e para os comercializam os dados dos utilizadores, o universo das socializações dos adolescentes deslocou-se “dos pais para os pares”. Agora, por força das redes sociais, os pares, mais do que os pais, ou em paralelismo com estes, ocupam um lugar essencial na escolha das suas sociabilidades. Assim acontece pelo número de horas passadas online em casa (muitas vezes sem controlo parental) e na escola (dotada cada vez mais de equipamentos), pela multiplicação dos modos de troca, partilha e comunicação com um cada vez maior número de “amigos”, mesmo que virtuais. Desta forma se propicia a “autonomia relacional” dos adolescentes na construção das suas identidades. Trata-se, para todos os efeitos, de uma “geração conetada” (Metton, 2004). A título de exemplo veja-se que em França, hoje, há cerca de 33 milhões de internautas, ou seja, 60% da população. Mais de 10 milhões tem uma conta no facebook, 75% dos adolescentes franceses considera que “ter Internet é importante para se sentir integrado na sociedade”. 89% dos adolescentes na União Europeia já não consegue conceber a
57
vida sem redes sociais por estas contribuírem em larga medida para a sua socialização entre pares (Lefret, 2011). E, “há mais 4 milhões e 173 mil portugueses que têm conta no Facebook. Um total que aumenta quase todos os dias. E porquê? Porque é tão fácil entrar nesta rede social como é impossível sair. Mesmo quando se exige isso à empresa de Mark Zuckerberg […]” (Falar Global, janeiro 2012). 3. Online: Conteúdos Digitais Generizados As “comunidades de entretenimento”, tal como elas próprias se classificam em diversas páginas do Facebook, têm a particularidade de serem frequentadas particularmente por jovens, rapazes e raparigas, isto se atendermos aos perfis que os utilizadores nos apresentam e que podem, como sabemos, ser falsos perfis. De qualquer forma, nestes perfis constam dados pessoais e fotografias que revelam a inscrição explícita dos seus aderentes no género masculino ou no género feminino. A busca por nós efetuada permite-nos analisar os conteúdos digitais das páginas destas comunidades inscrevendo-os em várias categorias de análise, tal como de seguida elas se apresentam:
a) A diferenciação (assimétrica) entre o feminino e o masculino Diferenças nos hábitos quotidianos:
Diferenças na utilização dos espaços pessoais:
58
Diferenças na utilização dos espaços conjuntos:
Diferenças nos comportamentos e perceções das relações amorosas sexuais:
60
Diferenças nas formas de comunicação:
Diferenças na escolha de soluções digitais:
b) A alocação das mulheres ao desenvolvimento de tarefas domésticas:
61
c) A reconstrução do “perfil tradicional” das mulheres:
Mulheres essencialmente emotivas:
Mulheres ansiosas:
78
4. Online: Processos de Socialização Generizados
As “comunidades de entretenimento”, quando comparadas com outras comunidades, tais como as “comunidades feministas”, as “comunidades da sociedade civil”, as “comunidades governamentais” – que postam conteúdos com os quais se alerta para as situações de desigualdade e violência entre os géneros e se divulgam ações de sensibilização e informação sobre as mesmas – são as que, no Facebook, têm maior número de aderentes. Há mesmo uma diferença abismal entre o número de aderentes às comunidades que tratam a problemática das relações sociais de género de forma risível e as que as tentam tratar com a seriedade que elas merecem. Os adolescentes integram-se nestas “comunidades de entretenimento” e comentam os seus conteúdos. Estes são sinalizados com o símbolo “Gosto” e são partilhados milhentas vezes. Constantemente nos deparamos com esses conteúdos transferidos das páginas destas comunidades para as páginas pessoais dos seus aderentes e daí para as páginas dos seus “amigos”, num número e numa sucessão que não seríamos capazes de contabilizar. Neste processo de partilha participam também os adultos, homens e mulheres, mesmo aqueles e aquelas que se dizem a favor da igualdade de género. Questionados publicamente, ou de forma confidencial, sobre o facto, a sua grande maioria responde: “isto dá vontade de rir!”, “isto é verdade!” Numa análise mais apurada das imagens e dos comentários que nos aparecem nas páginas de acesso livre, verificamos que os que são postados, sinalizados com o símbolo “gosto”, comentados e partilhados1, em maior número, são os que se relacionam com as categorias: “A diferenciação entre o feminino e o masculino” e “A reconstrução do ‘perfil tradicional’ das mulheres”. Os aderentes destas comunidades, rapazes e raparigas, homens e mulheres, ao mesmo tempo que riem das diferenças (quantas vezes assimétricas) entre os homens e as mulheres, assim como das perceções e comportamentos ditos femininos, renaturalizam e reconsolidam a desvalorização social dos papéis e das “identidades” femininas. E, se tivermos em consideração que a categoria “A reconstrução do perfil tradicional dos homens” merece menor número de sinalizações face às anteriores, ficamos em condições de dizer que o Facebook é uma instância onde se desenvolvem processos de 1 Em alguns casos, o número de partilhas é superior ao número das sinalizações “gosto”, o que nos leva a crer que há quem partilhe (uma vez que o Facebook dá essa opção) sem revelar a fonte de origem.
79
socialização generizada. Estes processos, em constante reativação, têm a particularidade de, uma vez mais, estamos em crer, reconsolidar as ideologias de género assentes nos pressupostos do naturalismo, do essencialismo, do diferencialismo. Pois, os critérios que enformam a diferença biológica e a consequente diferenciação social entre os homens e as mulheres são encarados, na maior parte dos discursos/comentários, como “a pura verdade”. “É mesmo assim!” Esta “pura verdade” é apregoada tanto por rapazes como por raparigas, tanto por homens como por mulheres, sendo escritos em muito menor número, por parte destes actores, comentários com os quais se tenta desfazer esta “verdade universal”. Conquanto assim seja, o certo é que em menor número de vezes se procede, nas “comunidades de entretenimento” analisadas, à “alocação das mulheres ao desenvolvimento de tarefas domésticas”. No entanto, quando isto se faz, as imagens postadas são reveladoras de formas de machismo extremo. Estamos em condições de dizer que na era das socializações online se operou a uma mudança significativa nas formas como se institui a desigualdade. A ideologia do cuidado e do maternalismo público com as quais, durante muito tempo, se procedeu à inserção estratégica das mulheres nas atividades da esfera pública têm sido substituídas pela racionalidade da hipersexualização. Assim acontece porque no contexto da economia capitalista do século XXI a hipersexualização está ao serviço das grandes indústrias que de aqui retiram grandes lucros. “A hypersexualização funda-se numa licitação sexual que se opera tanto nos meios de comunicação como nas relações entre as pessoas” (Goldfarb et al., 2007). A hipersexualização, a par da pornografia, modela os comportamentos sexuais e, para lá do sexo, os comportamentos sociais das mulheres e dos homens. Em suma, tende a mostrar o que os seus produtores consideram ser a própria essência do feminino e do masculino (Poulin e Laprade, 2006). Vemos, nas páginas das “comunidades de entretenimento” analisadas, inúmeros conteúdos digitais onde a hipersexualização faz furor e com os quais a sexualidade é banalizada. Esta hipersexualização é, também ela, generizada. São os corpos das mulheres que aí são apresentados como mercadoria desejável e que permitem a difusão do estereótipo mulher-objeto/homem-dominador. Definitivamente, a imagem da mulher na cozinha, com o cabelo preso e de avental, a enunciar os benefícios de uma margarina (pese embora os esforços das políticas neoliberais mais conservadoras e a formatação de um Estado como agência de socialização que fomenta o regresso ao natural), não vende tanto quanto a imagem de uma mulher hipersexy no escritório ou na escola. E, quando se trata de conteúdos que fazem referência à “inversão dos papéis tradicionais”, o mais certo é que estes, tal como muitos outros, se apresentem sob forma de imagens caricaturais e cómicas que provocam o riso. Papéis sociais invertidos? LOL… Aliás um dos truques é precisamente esse: fazer rir, fazer com que o acrónimo LOL (laugh out loud – rindo muito) seja escrito o maior número de vezes possível e que, na sua consequência, o conteúdo seja partilhado. LOL, por si só, serve para mostrar que o conteúdo foi aprovado pelo aderente, sendo que este não precisa de acrescentar mais nada, nem um simples comentário, muito menos um comentário crítico com o qual se ponha em causa, se questione, se desaprove o dito conteúdo. Assim, mesmo que haja curtas manifestações discursivas com as quais as pessoas, raparigas e rapazes, homens e mulheres, manifestam a sua discordância de opinião face às opiniões gerais: “Não é bem assim!”, estas opiniões pontuais são ofuscadas por uma série de LOL – KKKKKKK – rsrsrsrsrsr. O símbolo “Não Gosto” não existe no Facebook.
80
E quanto aos conteúdos que permitem a desconstrução dos estereótipos de género? São raríssimos nestas páginas por nós alisadas. E, assim se vão formando “identidades”, assim se vão afirmando novos processos de socialização generizada no Facebook… Conclusão Uma sociologia crítica não pode alhear-se da apresentação, discussão e análise destes novos processos de socialização – a que chamamos processos de socialização online – até porque os mesmos dão uma força substantiva aos tradicionais processos de socialização primários e secundários, reforçando-os, mesmo que sob formas ditas virtuais mas que, estamos em crer, com impatos significativos na construção e reconstrução, ao longo da vida, de práticas generizadas, isto é práticas advindas e/ou sendo causa de modelos, processos e contextos de socialização que resultam e/ou se manifestam marcadas por concepções estereotipadas no que se refere às relações sociais de género. O conceito de socialização continuará a ser um porto seguro na análise sociológica se com o mesmo se considerar que as socializações não estão em crise, elas circulam em redes virtuais e ainda não se sabe se estas redes serão suficientemente elásticas para permitir a fuga, a resistência, a crítica à dominação através de conteúdos digitais que forneçam as bases de possibilidade de auto-emancipação e emancipação social – ou não serão essas as finalidades últimas da tecnologia? Bibliografia AMÂNCIO, Lígia (1994) Masculino e Feminino - A Construção Social da Diferença. Porto: Edições Afrontamento. BOURDIEU, Pierre (1999) A Dominação Masculina. Oeiras: Celta Editora. BRETON, Philippe et PROULX, Serge (2002). L’explosion de la communication à l’aube du 21e siècle. Paris: La Découverte. Falar Global (Janeiro 2012) Facebook é pior do que CIA. Disponível em http://www.falarglobal.com/final/videos.htm?id=331&cat=global_net&tipologia=rubricas (Consultado a 29 de Março de 2012). GOLDFARB, L. ; DUQUET, F. ; COULOMBE, D. ; PLAMANDON, G. (2007) Hypersexualisation des jeunes filles: conséquences et pistes d’action. RQASF – Actes Le marché de la beauté… Un enjeu de santé publique. Disponível em http://rqasf.qc.ca/files/actes-colloque_hypersexualisation_0.pdf (Consultado a 25 de Março de 2012). HERRING, Susan C. (2001) Gender and Power in Online Communication. Center for Social Informatics Working Paper, Nº. WP- pp. 01-05. Disponível em https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/1024/WP01-05B.html (Consultado a 26 de Março de 2012). LECHNER, Marie (2012) Le Systaime attise le trash. Libération (24 mars 2012) Disponível em http://www.ecrans.fr/Le-Systaime-attise-le-trash,12474.html (Consultado a 30 de Março de 2012). LEFRET, Frédéric (2011) Les Loisirs des Jeunes Franciliens de 15 A 25 ans à L’Ere Numérique. Disponível em http://www.cesr-ile-de-france.fr/cesr_doc/rapport_pdf/rapport09_cult_loisirsjeunes.pdf (Consultado a 30 de Março de 2012).
81
METTON, Céline (2004) Les usages de l'Internet par les collégiens. Réseaux 1/2004, Nº. 123, pp. 59-84. Disponível em www.cairn.info/revue-reseaux-2004-1-page-59.htm. (Consultado a 25 de Março de 2012). ROUYER, Véronique et. al., (2010) Introduction. Socialisation de genre: le point de vue du sujet. In Genre et socialisation de l’enfance à l’âge adulte. Toulouse: érès, pp. 7-13. Disponível em http://www.cairn.info/genre-et-socialisation--9782749212937-page-7.htm (Consultado a 20 de Março de 2012). VALENDUC, Gérard e VENDRAMIN, Patricia (2004) Fractures numériques, inégalités sociales et processus d’appropriation des innovations (2004). Intervention au Colloque international TIC et inégalités: les fractures numériques, 18-19 novembre 2004, Paris. Disponível em http://irene.asso.free.fr/digitaldivides/papers/vendramin.pdf (Consultado a 25 de Março de 2012). VALENDUC, Gérard e VENDRAMIN, Patricia (2007) La Technologie et le Genre (I). Une question sociale récurrente. Notes Éducation Permanente. N° 2007-10, pp. 1-3 Disponível em http://www.ftu.be/documents/ep/EP10-07.pdf (Consultado a 25 de Março de 2012). POULIN, Richard et Laprade, Amélie (2006) Hypersexualisation, érotisation et pornographie chez les jeunes. Disponível em Sisyphe.org. 7mars 2006. http://sisyphe.org/article.php3?id_article=2268 (Consultado a 25 de Março de 2012).
82
Socialização e sustentabilidade: ruídos de uma comunicação mediatizada Denise Hosana de Sousa Moreira Universidade Estadual do Piauí - Uespi Universidade do Minho – UM [email protected]
Resumo: Na busca por sustentabilidade da produção uma comunidade pesqueira artesanal brasileira, uniu-se em adesão a uma proposta de institucionalização de transmissão de conhecimento à distância. Esta comunicação objetiva expor um estudo acerca uma política de educação ancorada no argumento da sustentabilidade. Tem por base teórica o materialismo histórico na reflexão sobre condicionantes materiais e simbólicos simplificadores dos impactos do crescimento econômico introdutor de qualificação para a competição. Os resultados iniciais da abordagem longitudinal da população pesquisada, iniciada no ano de 2010, revelam que: o princípio contemporâneo da pluralidade de visões de mundo não os isenta da categoria de desviantes; a políticas públicas adotadas não só os exclui, como também aos dependentes de sua provisão, e põe em causa o discurso da sustentabilidade; a desqualificação da pesca artesanal e a socialização mediatizada do trabalho comum tende a afetar a comunicação de seus valores, saberes e, por conseguinte, laços sociais. Na era da socialização para o individual, cabe fomentar a reflexão dessa comunidade que se imagina mover para a organização coletiva de sua produção. Palavras-chave: Socialização; Sustentabilidade; Institucionalização; Educação à distância; Comunidade pesqueira. La socialisation et le développement durable: les bruits d’une communication médiatisée Résumé : A la recherche d'une production durable, une communauté de pêcheurs du Brésil s’est unie dans le but de l'enseignement à distance. Cet article vise à présenter une étude sur la politique éducative basée sur la durabilité. Elle est basée sur le matérialisme historique qui réfléchit sur les conditions matérielles et symboliques qui simplifient les impacts de la croissance économique et la concurrence. Les premiers résultats d'une étude longitudinale de la population, qui a commencé en 2010, montrent que: le principe de la pluralité des opinions dans le monde contemporain ne dispense pas de la catégorie des déviants; les politiques publiques adoptées non seulement excluent les pêcheurs, mais elles excluent également les personnes à leur charge; elles remettent en question le discours du développement durable; la disqualification de la pêche. La socialisation médiatisée du travail a tendance à affecter la communication de leurs valeurs, des connaissances, et donc les liens sociaux. Dans l'ère de la socialisation et l'individu, il est nécessaire de stimuler la réflexion de la communauté. Mots-clés: Socialisation; Développement durable; Institutionnalisation; Enseignement à distance; Pêche communautaire.
83
Introdução Entre a socialização e a sustentabilidade ha um ruído de comunicação mediatizada por uma política pública de cursos técnicos, onde os cursos promoveriam socialização de conhecimentos sobre a pesca, ou seja, educação para a sustentabilidade dessa atividade. Entretanto, o caráter institucionalizado e, por sua natureza, excludente de transmissão de conhecimento não foi claramente compreendido. A proposta implicou na exclusão dos tidos como incapazes de o serem, correspondente à quase totalidade dos pescadores artesanais, em decorrência de pouca ou nenhuma escolaridade. Outro ruído decorre da mediatização dos conhecimentos apresentados nos cursos, por sua forma de transmissão à distância, e por sua própria natureza, descontextualizada. São conhecimentos que se revelam não apenas divergentes da forma de transmissão e do conteúdo aplicado na pesca artesanal, como didaticamente inadequado à parcela da comunidade local assistida. O texto desta comunicação tem o objetivo de apresentar leituras e releituras sobre o processo de implantação e implementação de um programa de cursos de formação profissional em Pesca e Aquicultura promovido pelo Governo Federal para todas as colônias de pesca do Brasil. O campo de investigação compreende uma comunidade pesqueira artesanal e se apresenta, aqui, a partir de alguns estudos exploratórios. Condicionantes da pesca artesanal na comunidade em estudo Em uma primeira apreensão da comunidade pesqueira investigada foi possível identificar os elementos constitutivos da reflexividade descrita por Beck (1997). A interpretação decorreu da ideia de que a decisão de implantar os cursos técnicos resultasse uma decisão politizada dos representantes da colônia de pescadores em busca da sustentabilidade em um contexto de degradação ambiental. A decisão decorreria da tomada de consciência das ameaças produzidas com a expansão do agronegócio e a pesca predatória na região. Num segundo momento, emergiu o a percepção de uma ação não refletida na comunidade, mas no Estado em um contexto globalizado. A aplicação de um programa de formação técnica aplicada de modo uniforme em todas as colônias de pescadores do país, com a consequente individualização e fragmentação das comunidades pesqueiras. Na base deste entendimento estaria a reflexividade descrita por Giddens (1997). Num terceiro momento encontramos explicação para a adesão da comunidade pesqueira ao programa de formação técnica estaria no movimento em torno das inovações difundidas nas estruturas de comunicação e informação que tendem a uniformizar os comportamentos sociais. O fundamento desta explicação reside na reflexividade defendida por Last (1997). Num um quarto momento, aproximamo-nos da ideia de que a reflexividade não daria conta de superar os riscos, mas apenas da tomada de consciência de sua existência. Uma consciência, entretanto, limitada e socialmente diferenciada também defendida por Giddens (ibidem) e Last (ibidem). Pata dar conta das bases desse entendimento, optamos por apoiar o estudo no entendimento de Engels (1986) de que o homem constrói dia a dia seus conhecimentos sobre a natureza e prevê seus efeitos imediatos até às suas conseqüências mais remotas, mas demora muito mais tempo para calcular suas longínquas consequências sociais. Ente contributo teórico é tomado, aqui, como fundamental para a compreensão de comunidades como esta que faz parte deste estudo.
84
A condução deste estudo decorre da compreensão do materialismo histórico-dialético como base teórica para a busca de superação da fragmentação dominante na construção do conhecimento reflexivo que leve em conta a complexidade dialética das relações humanas (Marx, 1999). Uma dialética que se reflete na inclusão de uns e exclusão de outros, como condição natural do capitalismo alimentado pela competição que tende para as desigualdades. A escolha do materialismo histórico-dialético, como referencial teórico, justifica-se na percepção do interesse do capital que orienta os impactos gerados pelo modelo de crescimento económico adotado no município considerado. Um interesse que tende a incutir novos valores e comportamentos à população nativa, por meio da criação de condicionantes materiais e simbólicos simplificadores dos problemas gerados por meio desse crescimento. Queremos sublinhar que não se entende no texto a comunidade local como vítima da exploração do capital, mas como parte que tende a valorizar os benefícios imediatos e individuais dessa exploração, enquanto condicionada pelo modo de produção material de sua existência. Método de investigação Conforme Demo (1987), o objeto das ciências sociais é socialmente condicionado. Em outras palavras, não há como compreender os sujeitos fora do contexto da inter-relação social. Acrescenta-se a essa perspectiva, os condicionantes historicamente produzidos que justificam o entendimento da realidade como se apresente. A investigação compreende um estudo de caso, uma vez que preenche os requisitos descritos por Yin (2005) de envolver um fenómeno contemporaneo inserido num contexto da vida real, se dar no nível explanatório e lidar com evidências como documentos, entrevistas e observações. Trata-se de estudo sobre os cursos técnicos de Pesca e Aquicultura, na modalidade de educação à distância, em uma colônia de pescadores profissionais artesanais. O estudo busca compreender como se desenvolve o programa neste contexto e os motivos dos entraves no seu processo de realização. Para tanto, recorre à aplicação de entrevistas, observações, e análise de documentos, onde inclui os registros do processo de implantação e implementação dos cursos, o programa curricular, o material didático e de avaliação dos alunos em um percurso longitudinal, iniciado em setembro de 2010. Trajetória da institucionalização da pesca Constituída por pescadores artesanais, organizados em uma associação, a população em estudo tem seus pescadores devidamente cadastrados no Registro Geral da Pesca (RGP) e é regida por um estatuto, onde entre as atribuições previstas estão as de promover: treinamento e qualificação profissional; atividades que estimulem a produção de pescado; atividades educacionais. Com base nestas atribuições previstas no seu estatuto, e na busca por meios que contribuam para garantir a sustentabilidade da sua atividade pesqueira, a colônia atendeu ao edital público 08/2008, do Ministério da Pesca e Aquicultura e implantou um telecentro destinado a cursos de formação técnica para os pescadores, extensivo à comunidade. Os cursos técnicos do telecentro têm o objetivo de fornecer qualificação técnica e contribuir na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o setor. São estes cursos que constituem o objeto deste estudo, sendo analisados neste
85
texto ao nível do contexto em que se inserem, bem como da estrutura e do funcionamento do seu programa. Sobre a comunidade pesqueira artesanal De acordo com dados recolhidos na colônia em estudo, a pesca artesanal é uma atividade realizada por homens e mulheres, em geral, na companhia de suas crianças desde muito pequenas. São grupos de famílias que definem a pesca como uma tarefa que exige extremo esforço físico em decorrência do tempo dedicado, sobretudo dos que se lançam para águas mais profundas, da precariedade dos recursos disponibilizados para o manejo das espécies aquáticas em captura, da exposição ao Sol e à chuva e da pouca recompensa na negociação do produto no mercado. Soma-se a estas dificuldades, o fato de ser uma profissão autónoma, apesar de mantida no período do defeso1, por meio do seguro defeso, correspondente a quatro parcelas mensais de um salário mínimo vigente, pago pelo Estado aos pescadores cadastrados no RGP. Apesar dessa proteção do Estado, o cadastramento no RGP é rejeitado por muitos pescadores, pelo fato de que, para recebê-lo, o pescador fica impedido de realizar outra atividade econômica, em qualquer tempo. A preferência por permanecer na clandestinidade é justificada na maior liberdade que esses pescadores julgam possuir. Associar-se à colônia implica decidir entre a pesca e o cultivo na vazante, onde plantam melancia, abóbora, feijão e etc., uma vez que o Ministério da Pesca e Aqüicultura proíbe essa prática aos associados. Estar na clandestinidade significa sentir-se livre para praticar as duas atividades ao mesmo tempo, de acordo com os testemunhos recolhidos e observados. Outra exigência ao cadastrado, no RGP, é a de provar o exercício da atividade. Primeiro, para associar-se, o pescador deve apresentar dois associados à colônia, como testemunhas do seu trabalho. Para manter-se como associado precisa, ainda, pesar seu pescado na balança da Associação. O peso mínimo do pescado não é considerado. Considera-se apenas a regularidade da atividade pela pesagem do pescado, ao menos uma vez por mês, por seis meses consecutivos (período de intervalo entre os defesos). O fato de não haver peso mínimo a ser colocado na balança da Associação não gera oportunismo para indivíduos interessados apenas nos incentivos dados pelo Governo, uma vez que os pescadores da região se conhecem o bastante para identificar os que exercem ou não a atividade. A associação de pescadores clandestinos à colônia é importante para a sustentabilidade da atividade pesqueira. Pescadores não associados tendem a desrespeitar leis estabelecidas para o controle da pesca predatória, como o exercício da atividade em períodos de defeso, a prática do arrastão, o uso de malhas finas, de relas e de bombas. Desprovidos de equipamentos ecologicamente corretos, por falta de recursos e ou de conhecimento, estes agem movidos pelo imediatismo, sem qualquer compromisso com a comunidade, pois não se sentem pertencentes a nenhum grupo e nem obrigados ou ameaçados por nenhum sistema social. A adesão ao projeto dos cursos técnicos, promovidos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, significa para os pescadores muito mais do que o aprimoramento da 1 Este período compreende o tempo natural de reprodução de peixes e os crustáceos. No Brasil, é estabelecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e compreende à proibição em um período de quatro meses da atividade pesqueira com vistas à preservação das espécies marinhas e a sustentabilidade desses recursos.
86
técnica. Representa a busca de conhecimentos que promovam conscientização quanto à necessidade de vincular a técnica à ética profissional e à responsabilidade social de cada um para com a comunidade pesqueira artesanal. Entretanto, o modelo de implantação dos cursos técnicos na colônia, não só se constituiu em empecilho aos propósitos da comunidade de difundir conhecimento para garantir a preservação da atividade, como expôs uma realidade ofuscada pelo seu caráter artesanal, calcado na oralidade: o analfabetismo. Os cursos destinam-se aos pescadores, sendo extensivos à comunidade. Em relação aos pescadores, apesar do expresso interesse em fazê-los, apenas 5 dos interessados se mostraram aptos, ficando os demais associados excluídos, devido à falta de escolaridade mínima exigida. Com efeito, as vagas foram preenchidas, em sua quase totalidade, pelos seus parentes e membros da comunidade, muitos dos quais sem relação direta com a atividade pesqueira. A exclusão contrasta com duas condições específicas do projeto. Primeiro, contrasta com a natureza da criação dos cursos destinados à qualificação de pescadores, indivíduos já inseridos na atividade e, segundo, com o perfil dos alunos ingressantes nos cursos, em sua maioria em processo de formação escolar ou recém-saídos do curso médio. A compreensão da gravidade do contraste é percebida por alguns pescadores como perda progressiva de espaço no contexto da produção, uma vez que outros podem se qualificar tecnicamente em uma atividade da qual os pescadores possuem um conjunto de conhecimentos empíricos que lhes permite compreender a biologia faunística em sua totalidade. Uma abordagem divergente da linguagem científica, fragmentada e dificilmente compreensível por meio dos códigos de comunicação utilizados no mundo oralizado da pesca artesanal, mas com potencial da produção claramente ameaçador. A exclusão observada confirma o processo histórico dialético decorrente das desigualdades produzidas no contexto da dominação e da exploração. Uma exclusão iniciada muito antes, no impedimento do acesso dos hoje pescadores aos espaços escolares de sua infância e que lhes rende inferiorização, perda de laços sociais, políticos e familiares com desqualificação, insustentabilidade e insegurança, entre outros impactos listados por Faleiros (2006). Quando se faz a articulação dos cursos com o contexto, conclui-se que há um desfasamento objetivo entre o que se pretendia e o que realmente se atingiu, pois uma elevada percentagem de pescadores acaba por não frequentar os cursos, sobretudo porque não preenchem os pré-requisitos da escolaridade exigida, sendo necessário reformular a sua contextualização. Contudo, uma observação mais aproximada do desenvolvimento dos cursos possibilita dizer que a ameaça aos pescadores por meio de sua exclusão ainda não está tão próxima quanto parece, pois a linguagem aplicada nos cursos técnicos também não se coloca tão facilmente compreensível para os alunos que a eles têm acesso. Organização curricular dos cursos na colônia Os cursos de Aquicultura e de Pesca foram implantados, na colônia em estudo, com base no Projeto Maré, desenvolvido, em 2004, por iniciativa do Ministério da Agricultura, através da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca (SEAP), em parceria com o Banco do Brasil e o Ministério das Comunicações. O objetivo do projeto é de, por meio de telecentros da Pesca Maré, capacitar comunidades pesqueiras no uso das tecnologias de informação e comunicação, com vista a potencializar a organização de
87
colónias e associações e sua inserção no mundo digital, democratizando o acesso à informação. A plataforma dos telecentros foi desenvolvida em software livre, incluindo o sistema operacional Linux, o serviço de rede por transmissão via satélite, aplicativos, serviços de segurança e de gerenciamento dos sinais de transmissão. Igualmente ao preestabelecido para os demais telecentros, o laboratório de ensino à distância, implantado na colônia, conta com dez computadores conectados à internet, com sistema de som e vídeo. Para atender aos 25 alunos, previstos para cada curso, as aulas ocorrem em um dia por semana para cada curso, com três horas de aula por dia. Com atividades iniciadas em novembro de 2010, os cursos de formação em Aquicultura e em Pesca têm previsão de conclusão das primeiras turmas em março de 2013. Do Instituto são transmitidas as vídeo conferências, aulas em tempo real, onde os alunos interagem com o professor através do chat, as atividades on-line de supervisão, de autoinstrução, os fóruns e as enquetes. Fazem, assim, parte dos conteúdos do curso quer saberes ligados à profissão de pescador, quer saberes ligados ao meio, quer ainda saberes sobre a literacia informática. Observa-se pela análise curricular dos cursos que a estrutura obedece a uma lógica de objetivos, traduzidos em comportamentos, e de competências. Neste sentido, para Pacheco (2012), objetivo, competência, resultados e metas da aprendizagem são instrumentos de uma racionalidade curricular técnica com a função de compendiar o conhecimento em comportamentos, ou em saberes ligados à ação, ligando-se ao que Moore & Young (2001), chamam instrumentalismo técnico e Silva (2007) neotecnicismo. A busca por uma competência digital para o acesso à informação sobre uma atividade produtiva que constitua meio de vida de uma comunidade não pode prescindir do entendimento das implicações de uma proposta curricular eminentemente técnica e instrumental, distinta dos seus tradicionais modos de conhecer e compreender o mundo. Perfil dos alunos A exigibilidade de nível de escolarização para pescadores artesanais se constitui em uma medida determinante de sua exclusão do acesso a novas tecnologias aplicáveis em sua atividade produtiva. Tecnologias por eles buscadas e a eles negadas por mecanismos de seleção socialmente aceitos ao longo do processo de institucionalização dos conhecimentos. Das 41 vagas ocupadas nos cursos de formação técnica na colônia em estudo, entre as 50 ofertadas e não preenchidas, apenas 5 o são por pescadores artesanais profissionais. Há 26 alunos no curso de Pesca, entre os quais quatro são pescadores, contra 15 em Aquicultura, onde apenas um é pescador. A presença de pescador em Aquicultura é justificada pelo aluno na impossibilidade e acesso ao curso de Pesca, devido à exigência por maior escolaridade. É em torno da pesca que surgem demandas por atualização e aprimoramento profissional. Além do mais, a aplicação de conhecimentos em Aquicultura requer investimentos em infraestrutura ou, na falta desta, a busca por emprego em uma área de atuação ainda incipiente na região. Por concentrar maior número de pescadores, o curso de Pesca comporta alunos mais velhos, com 20 a 58 anos de idade, estando o limite máximo em Aquicultura nos 35 anos. A concentração de alunos em idade mais avançada nos cursos de Pesca reflete a realidade dessa atividade profissional, expressas nos depoimentos da comunidade como realizada por aqueles que não conseguem outra melhor. A pesca é caracterizada, portanto, como a atividade que inclui os socialmente excluídos em decorrência de pouca
88
ou nenhuma escolaridade e ou da inocorrência ou perda de melhor oportunidade profissional. A falta de atrativo da atividade pesqueira também justifica o número de filhos de pescadores nos cursos, correspondente a apenas 14. Os dados revelam que quanto maior o nível de escolaridade, menor é o interesse por essa atividade. O menor interesse justifica, também, a motivação para o curso decorrer da busca por título revelada nos depoimentos de mais de um terço dos alunos, em detrimento da aplicação dos conhecimentos adquiridos. Acrescenta-se à justificativa para a inscrição nos cursos, a pouca oferta de qualificação profissional no município e a maior facilidade de acesso aos mesmos, para os que possuem o mínimo da escolaridade exigida. Outro dado relevante, relativamente ao perfil dos alunos, está na questão de género. Dos 41 cursantes, há 26 mulheres contra quinze homens. Conforme descrita por pescadores, a atividade pesqueira exige esforço físico e dedicação em período de tempo maior que o naturalmente exigido em outras atividades, visto que o pescador costuma passar dias fora de casa, envolvido na pesca. Esta característica da profissão tende a reduzir o número de mulheres na função e a direcioná-las para outras onde haja maior flexibilidade para cuidar da família, o que lhes confere maiores possibilidades de continuidade nos estudos. O conteúdo dos cursos: relação entre ensino e aprendizagem As maiores dificuldades observadas em termos de aprendizagem dos conteúdos está concentrada no curso de Aquicultura, onde o nível de escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental. Como a idade mínima para acesso aos cursos é 18 anos, os matriculados em Aquicultura, em sua maioria, já o concluíram há mais de três sem ter dado continuidade aos estudos no ensino regular ou mesmo na modalidade de Educação de Adultos. Apesar de as maiores dificuldades estarem concentradas no curso de Aquicultura, a linguagem utilizada no material didático é um empecilho à compreensão de todos os alunos, o que revela o resultado de suas avaliações. Além das dificuldades observadas na compreensão dos módulos impressos, mais da metade dos alunos contesta as vídeo conferências, as quais consideram cansativas e demasiado monótonas. Como consequência, verifica-se dispersão recorrente na maior parte do tempo de exposição dos conteúdos. A atenção é somente retomada quando os alunos são convidados a interagir no computador por meio dos fóruns e chats em tempo real. Para Pereira (1992:146), “possíveis formas de entender o mundo, compreender a ciência, trazem significativas implicações para o campo do currículo. (…) O currículo se constrói no seio das relações sociais concretas, em lugares historicamente datados, por autores/atrizes com saberes, desejos, culturas, opções e representações.”. Em outras palavras, quando se pensa na construção de um programa curricular sem o estabelecimento de diálogo com o grupo a ser envolvido em sua realização, corre-se o risco de comprometer o alcance dos objetivos de aprendizagem propostos. Segundo Burnham (1998), citada por Pereira (1992), a definição de currículo está ligada ao processo social realizado no espaço escolar cujo objetivo visa contribuir para a interação dos sujeitos com esse mundo proporcionando-lhe não só conhecimento e vivências, mas tornando-o parte da história bem como autores participativos da construção e da instituição historico-social de sua sociedade. O processo de realização
89
concreta do currículo comporta sua adequação às demandas sociais e inserção dos individuos em suas problemáticas de modo reflexivo, ao ponto dar sentido aos conteúdos trabalhados, situando-os em seu contexto. Os cursos foram programados para uma carga horária de 2 400 horas, divididas em 60% de teoria e 40% de prática. Entretanto, o mesmo não oferece campo para as atividades de prática em Aquicultura, o que dificulta o cumprimento das 960 horas previstas no currículo. Para realizá-las, os alunos são obrigados a buscar apoio em propriedades particulares da redondeza, com atendimento em apenas uma, a cerca de 100 quilômetros de distância da colônia, onde está instalado o telecentro Pesca Maré. Além da distância, os alunos prescindem da oferta de transporte para seu deslocamento. Uma questão importante trazida por Pacheco (2000:75) e que merece reflexão é “Como se flexibiliza o currículo, se as práticas curriculares são definidas e reguladas pela administração?”, ou seja, o currículo não comporta as necessidades locais, pois “Apesar das ideias inovadoras, a administração continua e continuará a ser centralista nos aspectos mais substantivos do currículo, mantendo o controlo técnico no seu conteúdo e na sua forma.” (ibidem: 75). A forma de aplicação do currículo requer conhecimento dos meios disponíveis para a sua realização adquiridos a partir do conhecimento das necessidades e possibilidades locais. Avaliação da aprendizagem As avaliações da aprendizagem do telecentro envolvem:
a) prova ordinária, correspondente à primeira prova para avaliação de cada disciplina;
b) prova de segunda chamada, para os que faltarem à prova ordinária; c) prova de recuperação, para os que ficarem abaixo do mínimo exigido para
aprovação; d) prova de dependência, para os que perdem a recuperação; e e) prova final para os que ficaram em dependência.
Apesar das várias estratégias aplicadas para a obtenção de aprovação dos alunos, a evasão por desistência ou reprovação é de 18%, em menos de 50% da carga horária comprida. Os resultados das avaliações confirmam as dificuldades observadas e reveladas pelos alunos relativas à utilização dos recursos didáticos. Apesar de a pontuação mínima exigida para aprovação nas disciplinas ser de 60 pontos, a média alcançada, nas primeiras avaliações, estabiliza-se em torno de 38 e 44 pontos. As pontuações mais baixas são obtidas nas provas impressas, compostas de questões objetivas. Para alcançarem a nota mínima exigida, os alunos são submetidos a provas de recuperação. Trata-se, com efeito, de uma avaliação muito formal e escolarizada. Para Pacheco (1995: 47), “uma avaliação adequada dos alunos só se concretizará quando existir uma avaliação qualitativa do currículo (planos curriculares, programas, materiais curriculares, actividades didácticas, escola, professores...) e uma discussão sobre a relação de parceria entre escola e sociedade.”. A aplicação unilateral da avaliação expressa imposição de um programa curricular uniformizante, descomprometido com especificidades, como limitações e potencialidades locais.
90
Considerações finais O estudo revela que é preciso estar alerta para o fato de que novas tecnologias introduzidas em comunidades devem ser revestidas de visão crítica por parte dos envolvidos. As comunidades devem refletir sobre o sentido de sua implantação e utilidade para a melhoria de suas condições gerais de vida e a sustentabilidade de sua atividade produtiva. Os programas e projetos de cunho social devem servir como fonte de conhecimento para todos os envolvidos desde a sua concepção e não resultar em processos de exclusão e legitimação de instrumentos de controle impostos de cima para baixo. É preciso apropria-se do conhecimento para torná-lo útil às necessidades que motivaram sua aquisição. A apropriação requer, antes de tudo, contextualização. Programas comunitários devem ser enriquecidos de linguagem local, para que, então revestidos da identidade e autoestima das comunidades, transcendam às limitações espaço-temporais do materialismo que historicamente as condiciona, domina e submete. Os cursos de formação necessitam de ser repensados em função do contexto e dos seus potenciais formandos, funcionando em lógicas que não se resumem a alfabetização e que fazem sentido na perspetiva da aprendizagem profissional. Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí - Fapepi Referências Bibliográficas BECK, Ulrich (1997) “A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva”. In Beck, U.; Giddens, A.; Lash, S. (orgs). Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Editora da Unesp, cap.1, pp. 11-68. DEMO, Pedro (1987) Introdução à metodologia da ciência (2ª Ed.). São Paulo: Atlas. ENGELS, Friedrich (1986) O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. (3 ed.) São Paulo: Global Editora. FALEIROS, Vicente de Paula (2006) “Inclusão Social e Cidadania”. In Debates Sociais. Rio de Janeiro: CBCISS, 12 (65/66), pp. 107-120. GIDDENS, Anthony (1991) As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp. LASH, S. (1997) “A reflexividade e seus duplos: estrutura, estética, comunidade”. In: BECK, U.; GIDDENS, A. ; LASH, S. (orgs). Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Editora da Unesp. MARX, Karl (1983) O capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, v.1. PACHECO, José A. (1995) “Análise curricular da avaliação”. In J. A. Pacheco & M. Zabalza (org.), A avaliação dos alunos dos ensinos básico e secundário. Actas do I Colóquio sobre Questões Curriculares. Braga: Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho. PACHECO, José A. (2000) A flexibilização das políticas curriculares. Actas do Seminário O papel dos diversos actores educativos na construção de uma escola democrática. Guimarães: Centro de Formação Francisco de Holanda. PACHECO, José A. (2012) Educação e Conhecimento escolar. Porto: Porto Editora (em publicação).
91
PACHECO, José A., & PEREIRA, Nancy (2007) “Globalização e identidade no contexto da escola e do currículo”. Cadernos de Pesquisa, 37 (131), pp. 371-398. PEREIRA, Graça dos Santos Costa (1992) “Currículo e multiculturalismo: reflexões em torno da formação do(a) professor(a)”. Revista da FAEEBA, 1 (1). YIN, Robert. (2005) Estudo de caso: planejamento e métodos (3 ed.). Porto Alegre: Bookman.
92
Quando as palavras não chegam... Esmeralda Cristina Tauber, Universidade do Minho1 [email protected] Luzia de Oliveira Pinheiro Universidade do Minho2 [email protected] Resumo: Num mundo mediatizado pelo objecto técnico o ser humano enquanto ser social, comunicacional e emocional sentiu uma punção vital em exprimir as emoções do corpo num novo código escrito. A forma de simbologia escrita “das cavernas” usada para expressar por escrito uma fala ou uma emoção, é reconstruída agora na interactividade do ecrã onde emoticons e símbolos personalizados se espalham virilmente pelas redes sociais, quebrando barreiras linguísticas e convertendo-se numa linguagem digital. Estaremos a criar uma nova forma de linguagem corporal escrita? O que transmitimos com a forma como escrevemos utilizando os emoticons que escolhemos? Esta extensão do corpo a partir do ecrã é como que se o homem não pudesse viver sem expressar as suas emoções. Como se o facto de expressar emoções fosse um facto necessário para poder pertencer ao social. Para levar a cabo esta investigação construímos uma base de dados constituída de emoticons e símbolos que povoam as redes socias da qual foi efectuada uma análise de conteúdo qualitativa. Palavras-chave: emoticons; corpo; linguagem simbólica; ecrã; interactividade. Quand les mots ne suffisent pas… Résumé : Dans un monde médiatisé par l’objet technique, l’être humain comme un être social, communicatif et émotionnel a ressenti une pulsion vitale à exprimer les émotions corporelles dans un nouveau code écrit. La forme symbolique de l’écriture dans les « grottes », utilisée pour exprimer un discours ou une émotion par écrit, est maintenant reconstruite dans l’interactivité de l’écran où des émoticônes et des symboles personnalisés se répandent virulemment dans les réseaux sociaux en brisant les barrières linguistiques et en se convertissant en un langage numérique. Sommes-nous en train de créer une nouvelle forme d’écriture du langage du corps ? Que transmettons-nous avec la façon dont nous écrivons, avec les émoticônes que nous choisissons? Cette extension du corps à partir de l’écran c’est comme si l’homme ne pouvait pas vivre sans exprimer ses émotions. Comme si le fait d’exprimer les émotions était une nécessité pour appartenir à la société. Pour mener à bien cette enquête, nous avons construit une base de données constituée d’émoticônes et de symboles qui peuplent les réseaux sociaux à partir de laquelle nous avons effectué une analyse qualitative du contenu. Mots-clés : émoticônes, le corps, le langage symbolique, l'écran, et l'interactivité.
1 Estudante de Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho com MBA , Recursos Humanos e Licenciatura em Sociologia das Organizações. 2 Estudante de Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho com Mestrado em Sociologia do Desenvolvimento e Políticas Sociais e Licenciatura em Sociologia.
93
O ser humano sempre demonstrou, desde tempos primordiais, sentir necessidade de se expressar e comunicar com os outros. Sendo um ser social é também individual pelo que além de comunicar com outros seres humanos, também exprime os sentimentos, as emoções e os pensamentos que o atravessam interiormente das mais variadas formas, como, por exemplo, através da pintura. Nesse sentido, desde os tempos das cavernas que o homem vai criando e recriando formas e ferramentas para comunicar. Desde as pinturas rupestres e primeiros sons vocais até hoje, houve sobretudo um marco evolucionista que viria a revolucionar completamente o nosso modo de vida: a invenção do telégrafo em 1837 por Samuel Morse. A partir daí nunca foi tão fácil de rápidamente comunicar uns com os outros. Com a evolução tecnológica, as tecnologias destinadas à comunicação conheceram grandes melhorias e muito rapidamente. Afinal comunicar sempre foi uma das grandes prioridades do ser humano. O telefone, a televisão, o computador e a internet são o resultado disso. Começando a modificar o nosso quotidiano até nos seus aspectos mais microssociais, as tecnologias da comunicação e informação, que há uns anos atrás eram um bem escasso, têm-se enraizado de tal forma no nosso quotidiano que hoje em dia são, além de um bem comum, um bem essencial ao nosso estilo de vida ocidental (Castells et al., 2009; Pinheiro, 2010: 257). Num mundo mediatizado pelo objecto técnico que veio abolir as distâncias espácio-temporais o ser humano enquanto ser social, comunicacional e emocional sentiu uma punção vital em exprimir as emoções do corpo num novo código escrito. Tal como argumenta Moisés de Lemos Martins (2011: 18) “a experiência tecnológica das redes (…), colocar-nos-ia, de um modo radical, fora da possibilidade táctil, embora o humano não possa existir fora do regime sensível.” Pelo que, os emoticons são uma resposta à inexistência do táctil e à necessidade de transmitir a linguagem do corpo e dos sentimentos através do ecrã. O que transmitimos com a forma como escrevemos, com os emoticons que escolhemos? Esta simbologia corporal criada pelo utilizador das redes sociais é como uma extensão do seu sorriso, do seu ar triste, etc., um prolongamento do corpo encontrado numa simbologia, criada pelos indivíduos, face a uma nova forma de estar no social em que o olhar direto não existe, só palavras, fotografias, símbolos e emoticons. A forma de simbologia escrita “das cavernas” usada para expressar por escrito uma fala, mas também uma emoção é reconstruída agora na interatividade do ecrã onde emoticons e símbolos personalizados se espalham virilmente pelas redes sociais, quebrando barreiras linguísticas e convertendo-se numa linguagem digital. Os hieróglifos surgiram como uma linguagem escrita que teria a possibilidade de ser interpretada por todos. O mesmo acontece com os emoticons: a simbologia de símbolos é criada a partir destes. A origem dos emoticons surge com informações divergentes. Existem autores que afirmam que foi criado por Scott E. Fallman que ao rever comunicações colocaria ao lado do texto um para indicar que esse não seria relevante ou sério (Desy: 2004), outros referem que os emoticons foram criados por Harvey Ball. Será que estamos a criar uma nova forma de linguagem corporal escrita? Em que medida a simbologia criada para abreviar ou para criar uma mensagem código é um retomar o sentido tribal de grupo? Stefan Rosentrager (2008) alega no seu estudo que existem diferenças culturais na frequência do uso dos emoticons entre alemães e italianos. O autor afirma que, por exemplo, os italianos fazem muito mais uso dos emoticons do que os alemães. O que se pode dizer face a este estudo é que as quantidades de utilização dos emoticons poderão ter-se transformado com o uso mais intenso das redes sociais e do vício pelo Facebook.
94
Por outro lado poderá existir uma diferencia de frequência de uso mas o sentido e significado dado aos emoticons é o mesmo. Na maior parte da literatura existe uma confusão entre dois conceitos ou duas áreas de estudo. Uma área é a dos emoticons enquanto figuras animadas e uma outra é a dos símbolos que levam à criação dos emoticons nas variadas culturas. Neste último caso é entendível que, por exemplo e de acordo com o estudo de Margo de Mello (2012), os símbolos usados para construir os emoticons por parte dos japoneses são culturalmente distintos de outras sociedades e difíceis de decifrar. Embora fosse interessante verificar e analisar nas redes sociais até que ponto a globalização dos símbolos não se está a dar. Porque a linguagem simbólica criada a partir dos emoticons é muito voltada para os adolescentes. A realidade virtual construída nas redes sociais é, como Derrick Kerckhove (1999) denomina, de imaginação artificial onde o corpo e os seus sentidos como a visão e o tacto são estendidos no uso do ecrã. “O ecrã é uma superfície sobre o qual se projetam pensamentos, sentimentos e tudo o que sentimos necessidade de transmitir, quer por meio de imagens, texto escrito...” (Pinheiro: 2012). No ecrã o individuo projeta e vê projetadas as suas emoções, os seus sentimentos, o ser social ou anti-social que o faz viver. Esta imaginação artificial expande-se aos símbolos construídos individualmente ou por um grupo e que se tornam como virais nas redes sociais e numa espécie de segunda linguagem global ao ponto de, por vezes, ser necessário um tradutor para alguns dos adultos que ainda não estão habituados a esta nova forma de linguagem do ecrã. Este ecrã que nos faz perder tempo, ou a sua utilidade, surge porque temos excesso de tempo (Shirky: 2010). Os signos que são usados para transmitir informação e que fazem parte do processo de comunicação (Eco: 1990) são usados ora como uma forma preguiçosa para não escrever uma palavra completa, ora como uma linguagem do ecrã, ora como uma forma de demonstrar emoções da face e do corpo quando a presença deste não é visualizada. Esta linguagem das redes sociais expressa a necessidade do ser humano revelar a sua experiência interior. Existência interior como uma relação do eu consigo próprio (Bataille: 2009) em que essa consciência do ser só é ser enquanto expressa as suas emoções de medo, raiva, amor, felicidade a partir dos seus gestos faciais. Quando isso não é possível, ou não é desejado, num diálogo mediático, são construídos prolongamentos da expressão facial a partir dos emoticons e dos símbolos. O facto de os emoticons oferecerem a possibilidade de substituir o uso da Webcam pode significar a existência e a criação de máscaras com as quais o indivíduo evita mostrar a sua face encontrando-se numa posição mais cómoda porque não tem que representar um papel nem gastar energia para criar uma aparência do corpo e da face. A face não é mostrada e não tem que ser transmitida. Desta forma, ao usar a escrita para interagir, o indivíduo pode criar falsas impressões (Goffman: 1989) ou impressões que ele modela de acordo com a sua imaginação. Como numa peça de teatro, protegido por uma máscara, o actor encena aquilo que quer expressar, de acordo com a necessidade do momento, sem correr o risco que as suas expressões faciais, expressas em emoticons, revelem a realidade sentida e vivida pelo indivíduo no outro lado da ecrã. Num emoticon pode-se, por exemplo, sorrir e na face pode-se expressar uma careta. Para além de se estar a falar de uma nova linguagem, de uma robotização das expressões faciais e da criação de máscaras que escondem o eu corporal e o eu vivido ou real. Aqui a realidade pode tomar outras formas que não expressem o que é real, mas apenas virtual. Uma espécie de ilusão do bom samaritano ou do satanás criado na personagem que se vive nas redes sociais. Em que o eu é construído para o bem ou para o mal e em
95
que as expressões do corpo e a linguagem escrita expressam em símbolos e emoticons tomando uma forma universal. A representação da aparência (Goffman: 1989) a partir dos emoticons em formas de figuras ou símbolos elimina a expressão facial do indivíduo. Como Erving Goffman (1989) refere, o equipamento expressivo ou fachada pessoal é o que permite identificar o indivíduo e distingui-lo de outros. Ao usar os emoticons o indivíduo torna as suas expressões iguais às dos outros. Nesse sentido as características faciais que identificam o indivíduo e o distinguem face aos outros desaparecem. O indivíduo é neste caso o social imaginário criado nas redes e a sua identidade é social e não individual. O uso da escrita associada ao uso dos emoticons e símbolos cria uma identidade manipulada do indivíduo. Porque este manipula a impressão que fornece ao interlocutor ou interlocutores, numa espécie de teatralização do sentido. O embaraço, a dissonância e sentimentos adversos ou não sentidos são manipulados e tentam ser transfigurados para uma forma politicamente correcta. O indivíduo pode estar a viver um processo de dissonância enquanto está num chat mas como controla o que transmite, pode manipular até os microgestos, que são criados nos emoticons. Mascarar emoções, sentidos e intenções é possível através de vários emoticons, como por exemplo, o “X-D” ou “xD” que significa “rebolar a rir” mas que não significa necessariamente que estejamos mesmo a “rebolar a rir”, podendo estar a utilizá-lo de forma irónica. O discurso é repensado, ponderado e expresso, mas sempre tendo em conta que a resposta e o feedback verdadeiro ou falso é neste caso uma espécie de manipulação do discurso e da reação em que a verdade ou o real não é transmitido no instante. É uma espécie de robotização das expressões faciais e uma globalização das mesmas, uma artificialidade criada e recriada no instante da imagem interior que se pretende transmitir. É uma linguagem universal porque todos sabem o que é positivo ou o que é negativo . Estes dois emoticons são decerto os mais usados no processo de interação das redes. Por vezes nem são expressas palavras, mas apenas só um símbolo para dar início a uma conversa ou para pôr fim à mesma. Neste caso os emoticons assumem na interacção social, vivida no mundo virtual, uma espécie de ritual da iniciação ou finalização de um discurso interativo. São usados para iniciar uma conversação ou para a provocar. Os símbolos usados para as mensagens assumiram com o tempo um significado universal e são usados globalmente a cada segundo através do ecrã. Esta extensão do corpo a partir do ecrã é como se o homem não pudesse viver sem expressar as suas emoções, sejam estas reais ou fictícias. Como dizia Fernando Pessoa: “Um poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente” (Pessoa, 1986 [1932]). Como se a necessidade de expressar emoções fosse um facto prioritário ou mesmo vital para se integrar, pertencer e permanecer no social. Os emoticons, enquanto extensões dos olhos, dos lábios, das mãos, do corpo, permitem uma espécie de segurança nas relações sociais no sociasoftware. Desta forma os emoticons desde a sua forma provocativa como “:-P” até a sua forma mais usada para expressar gosto e não gosto podem ser extensões de um sorriso pretendido, mas não executado ou mesmo encenado. Emoticons pretendem dar o feedback de falsas ou verdadeiras impressões sentidas ou pensadas mas que na realidade não quer dizer que estejam a ser vividas pelo indivíduo no momento. Emoticons são modelados e expõe a necessidade intrínseca de criar interacção social, sejam estas face a face ou em rede, com o intuito de mostrar agrado ou desagrado, gosto ou não gosto, triste ou alegre, hilariante ou zangado, furioso ou pacífico, neutro ou emocionado, etc. Estas dicotomias do sentir e do ser que fazem parte
96
do homem no seu dia-a-dia. Quando o homem não as exprime com o seu corpo e a sua face também pode significar um acumular de energia e sentimento que fica retida num corpo que se torna a pouco e pouco um buraco de emoções que não saem, mas se acumulam. Michelle Maffesolli refere “A máscara (a pessoa) permite representar o terror e a angústia, a cólera (...) em afectos que não valem mais porque são colectivos” (Maffesolli 2007:133). Assim se pode afirmar que o colectivismo dos emoticons são afectos superficiais que perdem os seus valores entram num mundo de teatralidade em que a mentira e a verdade vivem juntos. Como que as naturais reações faciais se tornassem cada vez mais superficiais e mais homem-máquina. Em que o próprio homem deixa de ser natural nas suas reações e expõe-as num conjunto de símbolos como uma extensão de si e esquecendo-se de si. Não só se encontram expressões do corpo na linguagem das redes sociais mas também signos que visam demonstrar o silêncio e a respiração em : “...”, “uhm”, “-.-“, etc... Como que se o silêncio que é vivido no olhar e o ouvir a respiração do outro, também faz parte do homem e do seu processo comunicativo. Como Georges Bataille (2009) argumenta: “O silêncio é uma palavra que não é silêncio e a respiração é um objecto o qual não é objecto...” (Bataille, 2009: 29). Os silêncios expressados em símbolos visam substituir a reação de silêncio que se tem na interação face a face. No caso das reticências ou da expressão “Uhmm” não é mais que tentar indicar ao receptor do outro lado do ecrã que se esta presente na interação que se esta receptivo a ouvir e disposto a ouvir e dar tempo ao outro para “falar”. É como que o homem não conseguisse interaccionar sem demonstrar o seu silêncio, como se esse tivesse intrínseco a interação social que envolve a expressão facial e verbal e que tem que ser estendido para além do ecrã no contacto robotizado do mundo virtual. Expressões traduzidas em símbolos e em emoticons revelam como o homem na sua interação diária sem o contacto face a face, tem saudade dos seus gestos, das reações que emanam da sua boca, face e corpo. Esta adaptação que o homem fez com o ecrã e o mundo criado nas redes sociais fez com que ele identifica-se e criasse subterfúgios para recriar as suas reações faciais, os seus silêncios e suas emoções. Esta recriação de expressões e emoções nas redes sociais revela como o homem se adapta ao ecrã e faz o ecrã se adaptar ao homem. Além de que os emoticons se tornam uma espécie de prótese da face para transmitir emoções. As tecnologias têm sido adaptadas ao bel-prazer das “necessidades, valores, interesses e desejos” (Castells et al., 2009: 162) dos indivíduos. Tal como refere Pio de Abreu (2010: 38), “dentro do ecrã aparecem os nossos contactos, memória e pensamentos, talvez mesmo os segredos, e ainda a informação que quisermos explorar.” O ecrã é transfigurante e adaptável. Podemos concluir que, em termos investigativos, o tema emoticons tem sido alvo de estudos superficiais e exploratórios pelo que se assume como necessário uma exploração mas profunda acerca da forma como os emoticons afectam a nossa identidade, assim como a forma de estar do homem utilizador destas “próteses” para expressar as suas emoções e sentimentos. Referências Bibliográficas: ABREU, P. (2010). Estranho quotidiano. Lisboa: Dom Quixote BARTHES, R. (1988). Mitologias. Lisboa: Edições 70 BATAILLE, G. (2009). L’ experience interieure. S.l.: Gallimard BAUDRILLARD, J. (1969). El sistema de los objetos. Paris: Éditions Gallimard
97
DAMÁSIO, A. (2003). Ao Encontro de Espinosa: as emoções sociais e a neurologia. Mem Martins: Publicações Europa América DESY, P. (2004). The everything reiki book. Avon: Adams Media ECO, U. (1990). O Signo.Lisboa: Editorial Presença FAUST, J. (1986). A linguagem do Corpo. Porto: Edições 70 Gallimard GOFFMAN, E. (1989). A representação do eu na vida quotidiana. Petropolis: Brasil GREEN, R. (2001).The Art of Seduction. London: Penguins Books HALL, E. T (1971). La dimension cache. s.l.: Editions du Seuil KERCKCHOVE, D. (1999). La Piel de la Cultura. Barcelona: Editorial Gedisa S.A LE BRETON, D. (2008). La Sociología del Cuerpo. Buenos Aires: Nueva Visión LE BRETON, D. (1995). Antropología del Cuerpo y Modernidad. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC MAFFESOLI, M. (2007). En el crisol de las apariencias: para uma ética de la estética. Madrid: Siglo XXI de Espana Editores Buenos MAFFESOLI, M. (2005). El Instante Eterno: el retorno de lo trágico en las sociedades pos modernas. Buenos Aires: Editorial Paídos MARTINS, M. de L. (2011). Crise no Castelo da Cultura. Das estrelas para os Ecrãs. Coimbra: Grácio Editor MELLO, M. D. (2012). Faces around the world: a cultural ecyclopedia of human face. Santa Bárbara: ABC-CLIO, LLC PESSOA, F. (1986 [1932]). Autopsicografia. In QUADROS, António (1986). Obra poética e em prosa. Porto: Lello & Irmão PINHEIRO, L. de O. (2010). Manuel Castells, Mireia Fèrnandez-Ardèvol, Jack Linchuan Qiu, Araba Sey. Comunicação móvel e sociedade. Uma Perspectiva Global. In Gonçalves, Albertino; Rabot, Jean-Martin (coord) (2010). Comunicação e Sociedade. Braga: CECS e Húmus PINHEIRO, L. de O. (2012). Ecrã. [Retrived] http://sociologicamentefalando.blogspot.pt/ [Março 2012] ROSENTRAGER, S. (2008). Emoticons as new means of communication in Italy and in Germany. Wordestedt: Grin Verlag SHIRKY, C. (2010). Cognitive Surplus: how technology makes consumers into collaborators. New York: Penguin Books
98
Proposta de comunicação Francisco Pinheiro Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra [email protected] Ao longo do século XX, um dos mais importantes campos de construção de laços sociais e familiares foi o desporto, em especial o futebol. O sociólogo Desmond Morris, em A tribo do futebol, afirmou categoricamente que o homem é uma «espécie extraordinária», uma vez que de todos os acontecimentos da história humana contemporânea, aquele que atraiu maior audiência não foi um grande momento político, artístico ou científico, mas sim «um simples jogo de bola, um desafio de futebol» – referia-se à final do Campeonato do Mundo de Futebol de 1978, em que mais de mil milhões de espetadores viram a Argentina vencer a Holanda. Décadas depois, o futebol continua a dominar as audiências e os discursos. Em Portugal, 17 dos 20 programas televisivos mais vistos em 2011 foram de futebol, sendo que os 12 primeiros lugares foram ocupados por jogos de futebol. Olhar historicamente para o fenómeno futebolístico em Portugal e como a sua popularidade se foi construindo no seio familiar é o principal objetivo desta comunicação, que terá por base a investigação feita para a obra A Paixão do Povo – História do Futebol em Portugal (Coelho & Pinheiro, 2002). Através da fotografia desportiva e da análise discursiva da imprensa desportiva, ao longo do século XX, tentarei identificar as narrativas fundadoras da popularidade do futebol (e do desporto) e perceber melhor as suas dinâmicas familiares e sociais, questões levantadas na obra História da Imprensa Desportiva em Portugal (Pinheiro, 2011).
99
Socialização e aprendizagem colectiva Irene Santos Instituto de Educação da Universidade de Lisboa [email protected] A comunicação que se vai apresentar tem como finalidade pensar o conceito de socialização no âmbito da formação de adultos. Far-se-á uma abordagem que privilegia o cruzamento entre a dimensão individual e colectiva do processo formativo, reportando-se, concretamente, a colectivos de pessoas concebidos de modo a se constituírem enquanto espaços de formação. Neste sentido, procura-se pensar a socialização não apenas ligada à interacção promotora de aprendizagens múltiplas, mas procurar-se-á atender a contextos de acção colectiva onde experiência, aprendizagem e obra (criação) se confundem. As propostas de formação de autores como Paulo Freire e Ivan Illich ou as propostas associadas aos novos movimentos sociais serão referências importantes para uma leitura do conceito centrada na partilha e na construção (colectiva) de conhecimento. Em complemento a uma breve exposição teórica deste enquadramento, será feita uma ponte para um estudo de caso de natureza compreensiva, em contexto associativo, no âmbito de um doutoramento em curso, em Ciências da Educação.
100
A socialização em contextos educativos não-escolares José Augusto Branco Palhares Instituto de Educação, Universidade do Minho [email protected] Resumo : A problemática da educação não-escolar de jovens tem constituído uma preocupação central no quadro dos nossos interesses investigativos (e.g.. Palhares, 2008, 2009). Nestes trabalhos temos sublinhado a importância crescente dos contextos e processos educativos não-formais e informais, da disseminação dos sítios de socialização e educação juvenis, assim como da redefinição do papel e do lugar da escola face às distintas aprendizagens e face às distintas periferias educativas. Exploramos, então, o sentido da experiência social de jovens no âmbito da sua participação no movimento escutista, não ignorando a multilogicidade da sua condição juvenil em confronto com as dinâmicas de ação e as propostas pedagógicas e educativas do escutismo. O quadro representacional destes jovens, apreendido a partir da administração de um inquérito por questionário em dois momentos distintos (2001 e 2007), pôs em relevo o papel deste movimento aos níveis ético-morais e relacionais (e mesmo ao nível cognitivo) quando comparado com a família, o grupo de amigos, a escola, a igreja católica, o clube/associação, entre outros. Mesmo reconhecendo a importância da escola como local de aquisição de conhecimentos úteis para o desempenho profissional, os jovens inquiridos fizeram transparecer esta instituição em défice nas dimensões cívicas e cidadãs, bem como na sua função democratizadora. Numa altura em que se vem observando a transformação da escola quanto à sua natureza (Dubet & Martuccelli, 1996; Dubet, 2002) e funções sociais, em que se problematiza a ideia de futuro (Pais, 2001) impressa na matriz das principais instituições sociais, interessa-nos compreender o modo como os jovens constroem a sua subjetividade e gerem as distintas inscrições sociais, sobretudo tendo em conta que o escutismo ainda faz prevalecer uma metodologia educativa contrária às lógicas de individualização. Para além do debate sobre o papel atual das dimensões não-formais e informais na educação e socialização de crianças e de jovens, tentaremos também refletir sobre o significado que estes processos têm na construção da autonomia do sujeito. Referências Dubet, F. & Martuccelli, D. (1996). A l’école. Sociologie de l’experience scolaire. Paris: Seuil. Dubet, F. (2002). Le déclin de l’instituition. Paris: Seuil. Pais, J. M. (2001). Ganchos, tachos e biscates. Jovens, trabalho e futuro. Porto: Âmbar. Palhares, J. A. (2008). Os sítios de educação e socialização juvenis. Experiências e representações num contexto não-escolar. Educação, Sociedade & Culturas, 27, 109-130. Palhares, J. A. (2008). Reflexões sobre o não-escolar na escola e para além dela. Revista Portuguesa de Educação, 22(2), 53-84.
101
Confeccionar o comum na escola a partir da individuação: a socialização política à prova nas formas de habitar a escola José Manuel Resende Sociólogo, Professor Associado com Agregação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL Departamento de Sociologia da FCSH [email protected] De que se fala quando o centro do questionamento sociológico são as formas de socialização (Simmel, 1999), (Resende, 2010) reconhecidas socialmente, isto é, formas que emergem e são constitutivas dos quadros de interacção (Goffman, 1991) que se estruturam sequencialmente, por sobreposição ou por intersecção num dado espaço que apresenta uma determinada configuração? Desta questão retira-se a atenção dada ao conceito de formas de socialização. Focar a socialização a partir das formas exige uma articulação entre aquele processo e os modos de actuação de uns com os outros em determinados quadros de interacção. Por outro lado, insistir na relação entre formas de socializar e formas de actuar implica que se dê atenção, quer ao vitalismo do conflito, quer ao vitalismo do compromisso (Vandenberghe, 2001) que são decorrentes de qualidades social e politicamente reconhecidas pelas suas ordens de grandeza (Boltanski, Thévenot, 1991) (Thévenot, 2006, 2009). Nesta comunicação é nosso propósito explorar estas questões a partir das figuras do hóspede e do estranho que emergem das formas de habitar a escola secundária. No sentido, de se compreender as relações entre as figuras e as formas actuantes de socialização, a análise vai ser baseada num conjunto de dados recolhidos (entrevistas e inquéritos por questionário) de dois projectos de investigação (o primeiro em 4 o segundo em 6 escolas) realizados sobre a mobilização dos investimentos de forma (Thévenot, 1986, 2009) produzidos por professores e alunos quando estão em causa os seus juízos sobre os actos (in) justos (humilhação, discriminação, desigualdade escolar e de tratamento) reconhecidos na escola através das interacções ocorridas em diferentes cenários escolares.
102
A invisibilidade social, uma construção teórica Júlia Tomás CECS – Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade Universidade do Minho [email protected] Resumo: O presente artigo apresenta uma construção teórica do conceito de “invisibilidade social”. Esta construção é edificada em três esquemas de inteligibilidade: na Fenomenologia (Husserl, Sartre, Ricoeur), na Hermenêutica (Gadamer, Ricoeur) e na Teoria Crítica (Escola de Frankfurt). Utilizando esta construção, podemos observar o “desprezo social” (Honneth) – a invisibilidade social – das minorias, dos estigmatizados, em suma, do Outro. O sentimento de invisibilidade é, paradoxalmente, particular à época contemporânea da hiper-visualização na qual ser visível é quase uma obrigatoriedade. Neste contexto, a ocultação do Outro constitui uma alteridade invisível. A construção teórica conduziu a uma investigação em dois terrenos sociais: a prostituição (no qual existe, pelo menos em França, uma luta visível pelo reconhecimento social e jurídico) e a vagabundagem juvenil urbana (onde a busca quotidiana do anonimato é intercalada por momentos de extrema visibilidade como as festas techno, as raves). Os métodos de investigação foram qualitativos com entrevistas e observação direta por vezes participante, o que permitiu um estudo comparativo pondo em relevo alguns aspetos comuns aos dois grupos como, por exemplo, o secretismo ou a desvalorização do Eu e do Outro. Palavras-chave: Invisibilidade social, Fenomenologia, Hermenêutica, Teoria Crítica L’invisibilité sociale, une construction théorique Résumé: Cet article présente une construction théorique du concept d’invisibilité sociale laquelle est édifiée sur trois schèmes d’intelligibilité : la Phénoménologie (Husserl, Sartre, Ricœur), l’Herméneutique (Gadamer, Ricœur) et la Théorie Critique (l’École de Francfort). À travers cette construction, nous pouvons observer le “mépris social” (Honneth) – l’invisibilité sociale – des minorités, des stigmatisés, bref, de l’Autre. Le sentiment d’invisibilité est, paradoxalement, particulier à l’époque contemporaine où l’on constate une hyper-visualité dans laquelle être visible est presque une obligation. Dans ce contexte, l’occultation de l’Autre constitue une altérité invisible. La construction théorique a conduit à une enquête sur deux terrains : la prostitution (qui démontre, au moins en France, une lute visible pour la reconnaissance sociale et juridique) et le vagabondage juvénile, en particulier les zonards, (où la recherche de l’anonymat est marquée par des moments d’extrême visibilité comme les fêtes techno, les raves). Les méthodes de recherche ont été qualitatifs avec des entretiens et de l’observation directe, parfois participative. L’observation a permit une étude comparative en mettant en évidence quelques aspects communs aux deux groupes comme, par exemple, le secret ou la dévalorisation du Moi et de l’Autre. Mots-clés : Invisibilité sociale, Phénoménologie, Herméneutique, Théorie Critique.
103
A desconsideração da alteridade invisível: uma análise fenomenológica O primeiro passo de uma investigação metódica é analisar os nossos próprios preconceitos porque estes obstruem a compreensão do fenómeno. Ao esclarecer a subjetividade constituinte pessoal revelamos a intuição primordial, ou seja o dado imediato da consciência que precede o conhecimento objetivo. Esta abordagem autorreflexiva opõe-se naturalmente às ideias holistas do mundo social que consistem em considerar o objeto observado exterior ao sujeito observador. Ora não podemos ignorar que o sujeito que pensa pensa-se a si mesmo de uma forma reflexiva. O vivido da consciência tem uma importância irrefutável para a sociologia sendo esta o estudo do mundo vivido. Por esta razão, parece-nos necessário sublinhar a primordialidade da intencionalidade (no sentido de Husserl ou seja como a consciência de qualquer coisa) e da reflexividade do investigador. Para estudar os feitos sociais é imprescindível ter uma ideia prévia, ter a consciência da existência, do dito feito social. É este aspeto que une indubitavelmente o investigador ao objeto investigado. A intencionalidade da investigação cria uma relação íntima entre o observado e o observador sendo esta ligação particularmente cativante quando o observado é invisível. Isto conduz-nos a um paradoxo: como ver o invisível? Porque ver o invisível (ou imaginá-lo) é torná-lo visível, da mesma forma que a revelação de um segredo aniquila o dito. Todavia a consciência do invisível é o que o torna possível. A resposta a este paradoxo é que, na realidade, não podemos ver o invisível, apenas podemos pensá-lo dentro de uma estrutura pertinente de pensamento. O segundo passo do método fenomenológico é a redução eidética que se traduz por um procedimento da variação imaginária que revela a essência do objeto. A essência do objeto é a invariante que permanece idêntica durante a evolução das variações. O objeto é, neste sentido, constituído pela sedimentação das significações, ou seja pela crença numa realidade, a crença sendo compreendida como uma certeza. Husserl chamou-lhe Glaube (fé, crença) para sublinhar o facto de se tratar de um pré-saber. Propomos assim, seguindo esta teoria, que a invisibilidade social nasce da consciência constituinte do ato de “não ver outrem”. Por conseguinte, este fenómeno é puramente subjetivo. Ao reduzir eideticamente o conceito da invisibilidade social surge a sua essência: a intersubjetividade. Ao considerar a intersubjetividade como a estrutura essencial da invisibilidade social observamos uma correlação entre o “não visto” e os outros indivíduos, o “não visto” sendo compreendido como aquele que é invisível aos olhos dos que o rodeiam e os indivíduos sendo entendidos como consciência constituinte. É evidente que uma filosofia do elo social não deve simplesmente reduzir os fenómenos ao Eu. A intersubjetividade, ao abrir um espaço para o discurso filosófico na análise social, implica uma dialética sobre o conhecimento dos feitos sociais. Sendo esta investigação um estudo sociológico, o que nos interessa aqui é o facto de a alteridade invisível não o ser somente para Mim, mas também o ser para Nós. A intersubjetividade é constituinte e operante a diversos níveis. Existe, por um lado, intersubjetividade entre mim e aquele que eu não vejo: o outro partilha mutualmente o sentido do mundo comigo e sabe que eu não o vejo. Por outro, existe uma intersubjetividade coletiva: nós não vemos o outro. O presente estudo tem em conta uma certa abstração que pertence ao mundo quotidiano no qual, devido à natureza do fenómeno analisado, apenas podemos propor uma concetualização teórica. Como exemplo da apropriação do pensamento fenomenológico para analisar o nosso conceito propomos o seguinte parágrafo na primeira pessoa:
104
Eu sou invisível mas não sei o que é a invisibilidade. Apenas sei que sou invisível porque os outros desviam o olhar da minha pessoa. Podemos desenhar um paralelo com Merleau-Ponty (1945: IV) quando este afirma que “o conhecimento de mim por mim próprio é indireto, é uma construção, tenho de decifrar a minha atitude como decifro a do outro.” A invisibilidade social vai depender (entre outras coisas) da perceção que os outros têm de mim. Se o outro não me vê é certamente porque eu não existo para o outro, no entanto existo fisicamente, logo sou visível. A não-perceção do outro é o resultado da sua vida da qual eu não faço parte. Para compreender o significado do comportamento social do “não ver outrem” é necessário perceber a compreensão do ator, ou seja é fundamental conhecer as sedimentações da história individual e da história comum. Seguindo esta lógica e empregando a sociologia fenomenológica de Alfred Schütz (1987) é possível constituir uma rede de experiências relacionadas com a invisibilidade sendo esta uma das múltiplas fachadas do Lebenswelt1. Com efeito, as redes de experiências incluem o não-reconhecimento. Consequentemente, este sentimento faz parte da “província limitada de sentido”2 (“finite province of meaning”) no qual o estilo cognitivo próprio gravita em torno do “não ver”. Deste ponto de vista, a invisibilidade social segue claramente a trajetória espácio-temporal da consciência. Por exemplo, com o tempo, algumas pessoas que cruzaram a minha vida tornaram-se invisíveis para a minha consciência, e eu esqueci-as, apaguei-as da minha vida pessoal. Da mesma forma, posso não ver um indivíduo apesar da sua proximidade no espaço, como ver claramente aqueles que não estão no meu campo percetivo. Isto explica a presença ainda viva dos mortos, dos seres desaparecidos que continuam porém visíveis para a consciência. Em suma, se considerarmos a ação social de “não ver outrem”, podemos afirmar que o motor desta relação é a intersubjetividade. O “não ver” aparece sob esta luz como uma prática coletiva, comum, quotidiana, mas no fundo a sua significação social conduz-nos a uma sedimentação de certas tipificações. Seguindo esta lógica, assumimos que o ato de “não ver” é uma atividade orientada significativamente. Se agir implica escolher, então o não-reconhecimento de outrem torna-se num ato intencional, sem porém querer dizer que é voluntário. Para compreender a existência de uma alteridade invisível é necessário analisar a coerência do sistema de conhecimento quotidiano, ou seja as sequências e relações típicas que contribuem para a constituição deste fenómeno social.
1 Alfred Schütz (1998) traduz este termo de Husserl por “mundo-da-vida”: a realidade do quotidiano que se caracteriza pela “dimensão de proximidade e de distância no espaço e no tempo” e pela “dimensão de intimidade e de anonimato”. É no Lebenswelt que a experiência de outrem é elaborada. Husserl explica: outrem é um ser que se constitui no meu ego como um alter-ego e com o qual eu posso ter uma relação recíproca. Este pensamento pressupõe a existência de um Lebenswelt, ou seja de uma esfera essencial de pertença que representa o mundo comum da perceção e da cultura. 2 Schütz desenvolve o seu conceito das múltiplas realidades sendo estas tipos diferentes de atitude face ao mundo, definidas por um certo tipo de disposição que o homem assume em situações diversas. Entre as múltiplas realidades, Schütz destaca o mundo quotidiano do trabalho, dos sonhos, da experiência da arte ou das experiências religiosas, ou ainda o mundo da teoria científica. Cada realidade é definida como sendo uma província limitada de significados. Uma fração das nossas experiências compatíveis entre elas e ligadas a um estilo cognitivo forma um conjunto específico chamado província limitada de sentido.
105
A recusa de reconhecimento: uma análise hermenêutica A questão da visão como instrumento principal do conhecimento é uma constante epistemológica desde os tempos helénicos. Ora a crença tem um papel central para a visão. Por conseguinte, a perceção de outrem é edificada sobre uma visão suposta. Podemos mesmo afirmar, seguindo a teoria freudiana da “inquietante estranheza” (Freud, 1919), que o indivíduo procede geralmente, depois da inversão e da comparação, à “satanização” (Tacussel, 1998: 298) do Outro. Assim, a imagem que Nós construímos dos Outros procede a um “encaixamento de plataformas mentais” (ibid.) que organiza a consciência. Se Sartre tinha razão ao dizer que “é o antissemitismo que faz o judeu” (Sartre, 1946: 84), então é o racismo que faz o preto e é o machismo que faz a mulher. Seguindo esta ordem, e de acordo com o argumento da secção precedente, podemos constatar que é a recusa de ver que constitui a alteridade invisível. Esta rejeição pode ser definida pela recusa de reconhecimento e pelo desprezo. Tocamos aqui na questão da identidade e do reconhecimento de outrem na sua alteridade porque o desejo de ser reconhecido tem um papel central na socialização. Paul Ricoeur na sua obra Parcours de la Reconnaissance expõe três estudos: o reconhecimento como identificação do Outro (objeto ou pessoa), o reconhecimento do Eu e o reconhecimento mútuo. Para o filósofo reconhecer é, antes de tudo, distinguir (sobretudo distinguir o verdadeiro do falso). Ora distinguir é identificar. Estes dois termos são “um par verbal indissociável” (Ricoeur, 2004: 50). Relativamente à invisibilidade podemos dizer que não reconhecer é não identificar. Ou seja, o in-visível é o in-distinguivel. Este argumento implica que o sujeito que não é reconhecido, ou des-conhecido irá sempre procurar ser reconhecido. A aplicação existencial do conceito de invisibilidade social é, desta forma, essencial. No segundo estudo, Ricoeur defende que o homem, ao reconhecer que é ator (porque age) e sofredor (porque sente) torna-se capaz de certas realizações. Por outras palavras, o reconhecimento de si mesmo leva ao reconhecimento da responsabilidade e à consciência autorreflexiva. Ou seja, a dialética do autorreconhecimento conduz ao problema do sujeito reconhecido implicado na solicitação de reconhecimento mútuo. O filósofo encara este segundo tipo de reconhecimento como o mediador entre o reconhecimento como identificação e o reconhecimento recíproco cuja base é a conflitualidade porque “é deste tipo de reconhecimento que nascem as ideias de pluralidade, de alteridade, de ação recíproca e de mutualidade” (ibid.: 236). Baseado em Hegel, Ricoeur explica que os três modelos de reconhecimento são o amor, o direito e a estima social. O primeiro modelo, o reconhecimento afetivo, encontra-se nas relações eróticas, familiares e amicais. Este é o nível pré-jurídico do reconhecimento mútuo no qual as primeiras estruturas conflituais são do tipo emocional mãe-filho. A recusa deste reconhecimento provoca a perca do autorrespeito. O segundo modelo, o reconhecimento jurídico, traduz-se pelos direitos civis (a proteção da pessoa), pelos direitos políticos (participação na democracia) e pelos direitos sociais (justa distribuição dos bens elementares). As primeiras lutas pelos direitos civis datam do século XVIII, a instauração dos direitos políticos começaram no século XIX e os direitos sociais são, para Ricoeur, os que deram mais problemas no século XX. A recusa dos direitos civis provoca humilhação, a rejeição dos direitos políticos causa frustração e a recusa dos direitos sociais traduz-se pela exclusão. A luta pelo reconhecimento desponta quando se chega ao estado de indignação. O combate torna-se então numa luta pela dignidade humana.
106
O terceiro modelo, a estima social, refere-se à vida ética. “As pessoas medem a importância das suas qualidades para a vida do outro baseadas nos valores e nos objetivos comuns” (ibid.: 316). A identidade forma-se, assim, pelo reconhecimento ou pela sua ausência. As vítimas desta recusa de reconhecimento interiorizam imagens depreciativas de si próprias. Quando a indignação se transforma na vontade de revindicação adquire uma dimensão coletiva. Os exemplos atuais são os indignados de Madrid, de Wall Street, de Lisboa, de Atenas, etc. Allain Caillé (2007: 12) resume o percurso deste termo polissémico como “o reconhecimento da singularidade do sujeito (pelo amor), da sua universalidade (pelo respeito) e da sua particularidade (pela estima). A invisibilidade social torna-se realidade quando ao menos um destes tipos de reconhecimento é recusado a alguém. Consequentemente, o indivíduo pode ser invisível a nível afetivo e/ou jurídico e/ou social. Assim, a invisibilidade não é uma categoria social mas uma situação ou uma realidade de onde emerge o sentimento de “desprezo social” (Honneth, 2004). Em suma, a imagem que cada um tem de si próprio depende do olhar dos outros. Quando um sujeito se sente invisível tem o sentimento de não ter um valor positivo para os outros e para a sociedade. Todavia, no seu sentido antagonista procurar a invisibilidade pode ser uma afirmação subversiva pessoal em relação à sociedade de controlo. A clandestinidade é, neste sentido, vista como um refúgio. Com efeito, a visibilidade pode ser uma vulnerabilidade. Por exemplo, as prostitutas querem ser visíveis coletivamente a nível jurídico mas desejam ficar individualmente no anonimato. Resumindo, admitir a multiplicidade e a heterogeneidade dos significados obriga-nos a fazer uma crítica do sentido do conceito de invisibilidade social como uma realidade simbólica cujo imaginário nos transporta para lugares sombrios e tristes. Lembremos que o sentido deste conceito não é limitado, pelo contrário conduz a diversos sentimentos como a vulnerabilidade ou a subversão. Podemos igualmente afirmar que a invisibilidade se faz sentir tanto a nível coletivo e social como a nível individual e psicológico. Para compreender melhor a sociedade do desprezo que gera a invisibilidade social dedicamos a secção seguinte à Teoria crítica da Escola de Frankfurt. A invisibilidade sofrida e a invisibilidade desejada Axel Honneth põe em relevo a teoria do reconhecimento intersubjetivo relativamente à construção da identidade. O sociólogo alemão explica (baseado nos estudos de George Herbert Mead) como do reconhecimento emerge, durante a socialização do sujeito, a consciência do ego numa visão intersubjetiva. Durante a sua educação primária, a criança aprende a reconhecer primeiro o outro (a mãe), em seguida os outros (a mãe, o pai, os irmãos, etc.) e, finalmente, outrem. Ao viver o processo de maturação social o sujeito aprende a conhecer-se do ponto de vista de Outro generalizado. O indivíduo insere-se na sociedade como um membro desta maneira. É neste momento que é introduzida a noção de reconhecimento recíproco, porque para ele ser incluído como um membro é necessário não só reconhecer os outros, mas também ser reconhecido pelos outros. O ator compreende-se desta forma como uma pessoa jurídica. Os seus direitos estando garantidos, o sujeito assegura-se do valor social da sua identidade. Esta experiência permite-lhe adotar uma atitude positiva em relação a si próprio porque “os outros, ao serem obrigados a respeitarem os seus direitos, concedem-lhe as qualidades de um ator moralmente responsável” (Honneth, 1986: 98).
107
A satisfação individual é constituída por duas categorias: “a autonomia individual e a autorrealização pessoal” (ibid.: 100). No entanto a autorrealização do sujeito é constituída por pulsões que são contidas face às normas sociais. Segundo Honneth esta situação pode criar um conflito moral no qual as normas intersubjetivas são postas em causa. As exigências individuais, quando são visíveis, contribuem à evolução do mundo social. Relativamente ao materialismo histórico1 podemos constatar, sem dificuldade, a existência contínua de pressões entre o sujeito e os processos da vida social. “Em cada período da história, os esforços dos indivíduos para aumentar as relações de reconhecimento reúnem-se num novo sistema de exigências normativas” (ibid.: 102). Neste sentido, a teoria do reconhecimento intersubjetivo tem por objetivo “explicar os processos de transformação social em função das exigências normativas que estão estruturalmente inscritas na relação de reconhecimento mútuo” (ibid.: 113). Honneth afirma que são as lutas pelo reconhecimento recíproco que possibilitam a transformação social. A distinção entre os vários tipos de reconhecimento conduz à observação das formas negativas correspondentes. Honneth assinala três tipos de desprezo baseado nesta teoria. A violência física representa a forma extrema de desprezo e provoca um desmoronamento psicológico dramático para a vítima resultando na confiança em si e no seu mundo afetivo. O segundo tipo de desprezo é a exclusão jurídica que provoca uma experiência de humilhação moral como, por exemplo, quando os direitos fundamentais são recusados à vítima. Honneth considera estes direitos como “as exigências que uma pessoa pode legitimamente pedir à sociedade na medida em que ela faz parte de uma comunidade e participa à ordem constitucional” (ibidem). A terceira forma de desprezo é a desconsideração cultural de um modo de vida. Esta forma de desdém é avaliativa pois a vítima é julgada pelos seus valores sociais. Estas duas formas de desprezo inscrevem-se num “processo de transformação histórica” (ibid.: 165). Assim, as lutas pelo reconhecimento, sendo motivadas pelas emoções negativas que acompanham a experiência da desconsideração, promovem uma evolução social constante. Neste sentido, as ditas emoções relacionadas ao desprezo contém a possibilidade de ultrapassagem de uma injustiça. A resistência política só é possível quando o sujeito se apercebe da injustiça que lhe é feita. Quando o indivíduo se insere numa resistência coletiva descobre uma forma de se tornar visível. O sujeito pode assim (re)apropriar-se do seu próprio valor moral. Desta análise transparece o facto dos conflitos sociais serem “a instauração das condições intersubjetivas da integridade pessoal” (ibid.: 197). O interesse por este tipo de lutas sociais permite o acesso às experiências morais vividas por certos grupos sociais. A invisibilidade como experiência moral é sofrida porque está relacionada ao sentimento de inexistência social. No capítulo “Invisibilidade: sobre a epistemologia do reconhecimento” (Honneth, 2004: 225-243) o sociólogo propõe uma análise crítica da invisibilidade social claramente influenciada pela fenomenologia. Para Honneth, este 1 O valor científico incontestável do materialismo histórico permite o desenvolvimento da ideia de consciência coletiva. Horkheimer (1947: 63-86) propõe uma teoria materialista da sociedade baseada no tema da dominação da natureza pelo homem. O verdadeiro materialismo é dialético porque implica um processo interativo entre o sujeito e o objeto. O homem, como uma parte da natureza, tem tendência a querer ver além do visível, a explorar infinitamente. Este é o ponto de partida da razão. Todavia é também fonte de “des-razão”, ou seja, onde há um desvio da razão. O terceiro elemento da dialética entre a natureza e o homem é o sujeito cujo objetivo único é a sua própria conservação. O combate entre a razão e a natureza marca toda a história da humanidade
108
tipo de invisibilidade1 é uma situação social particular na qual “os dominantes exprimem a sua superioridade ao não verem aqueles que eles dominam”. Honneth passa em seguida do conceito negativo (a invisibilidade) ao seu correspondente positivo (a visibilidade). Para ele, “a visibilidade física implica uma forma elementar de identificação individual e representa consequentemente uma forma primária, primitiva, do conhecer” (ibid.: 228). Ora, um sujeito não pode tornar o outro invisível, sendo este fisicamente visível, sem ter previamente concretizado a identificação primária do outro. Assim, a invisibilidade no sentido figurado tem como condição a visibilidade no sentido literal. Este argumento confirma a nossa teoria segundo a qual o ato de “não ver” é determinado pela história individual e coletiva num movimento intersubjetivo e cultural entre aquele que não vê e aquele que não é visto. Este movimento intersubjetivo, ao qual também podemos chamar consenso ou conformismo (Adorno), determina as relações de reconhecimento recíproco. Seguindo a lógica dicotómica, se por um lado existe a invisibilidade social como exclusão sofrida pelo ator, por outro existe uma invisibilidade que pode ser desejada. Num mundo embriagado pela visibilidade, onde reina a tirania do visual, a injunção à visibilidade pode ser tida como uma obrigação, como um dever social. Desta forma, a visibilidade é uma forma de alienação profundamente ancorada na indústria cultural. Com efeito, assistimos atualmente a uma massificação da visibilidade. Neste caso ser visível será sempre desejável? A ideia da invisibilidade como tática de rebelião contra a sociedade de controlo (conceito deleuziano) provém de vários autores, dos quais se destaca Michel Foucault e a sua conceção de sociedade de vigilância. Os mecanismos sociais desta estrutura teórica são baseados no “panotismo” onde “cada ator é constantemente visível” (Foucault: 1975:233). Para este filósofo o Poder, comparável à arquitetura do panopticum de Jeremy Bentham, controla os indivíduos pela imposição da sociedade disciplinária, estruturada por um controle omnipresente, repressivo, todavia protetor. Este é o efeito principal do panótico: “induzir um estado consciente e permanente de visibilidade que garante o funcionamento automático do Poder” (Foucault: 1975:234). Gilles Delleuze (1990) continua esta via de exploração do mundo social contemporâneo e propõe uma análise das sociedades de controlo e dos mecanismos do Poder provenientes da globalização. Um dos dispositivos de vigilância/segurança mais importantes é o poder dos mass media, que geram um “sistema sinótico” (Bietlot: 2003) no qual todos vêm a mesma coisa simultaneamente. Os aparatos sinóticos são, no fundo, as táticas usadas pelos media, ou seja a sedução, a aculturação, a distração e a comunicação do medo. Outro trunfo do Poder é o “superpanótico” (Poster: 1996), ou seja, a vigilância e o controle pelas bases de dados que recolhem informações pessoais digitalizadas e que podem atravessar o planeta em apenas alguns segundos. A sociedade de vigilância gera, desta forma, o sentimento de insegurança. No entanto, o que aparece inicialmente como um paradoxo segue, na realidade, uma lógica clara. As desordens sociais criadas por esta situação confirmam e reforçam as mensagens mediáticas. Assim, o diagrama de segurança/vigilância transforma-se numa espiral na qual as novas tecnologias permitem o desenvolvimento de uma civilização sinótica e “superpanótica” pós-moderna. O Poder observa o povo e o povo vê o espetáculo.
1 Axel Honneth reconhece a existência de outro tipo de invisibilidade social ao fazer referência ao panopticum de Jeremy Bentham analisado por Michel Foucault.
109
Na tirania do visual, a visibilidade pode-se transformar rapidamente numa armadilha alienante. Por isso, não é surpreendente pensar que a invisibilidade (anonimato) seja uma manha astuciosa, não só para “viver feliz” – “pour vivre heureux, vivons cachés” como aconselha a fábula de Claris de Florian no século XVIII – como para resistir a esta sociedade sufocante. Neste contexto, a invisibilidade como desejo de clandestinidade é uma forma implícita de contestação. Para melhor visualizar as diferentes formas de invisibilidade apresentadas neste estudo, propomos a seguinte tabela: Invisibilidade
social
Individual Coletiva
Sofrida
- Recusa de reconhecimento afetivo; - Recusa do direito civil; - Sofrimento psíquico.
- Recusa dos direitos jurídicos e sociais; - Desejo de visibilidade.
Desejada
- Evasão da pressão social; - Desejo de passar despercebido a nível jurídico e fiscal.
- Clandestinidade; - Subversão.
Confirmação do argumento com uma breve análise de dois grupos sociais Foram escolhidos dois grupos sociais “problemáticos” para testar a nossa teoria: as prostitutas1 e os jovens vagabundos metropolitanos. Os paradoxos e as contradições que os englobam são fascinantes e permitiram um questionamento não só a nível pessoa mas também a nível social. Um estudo comparativo permitiu realçar alguns aspetos comuns às duas populações relativamente ao nosso conceito chave. É de notar que neste contexto as prostitutas são observadas como aquelas que sofrem a invisibilidade vivendo uma marginalidade por resignação e que os jovens vagabundos são considerados como aqueles que desejam a invisibilidade vivendo uma marginalidade por determinação. Numa desconstrução analítica torna-se rapidamente evidente que a tabela não é fixa pois a realidade é múltipla e complexa. Tentemos, por isso, ultrapassar este “tipo ideal” (Max Weber). A prostituição é um trabalho desprezado a nível jurídico e social. Os comportamentos face a esta atividade estão profundamente enraizados na história das mentalidades e contribuem para uma consciência coletiva desprezadora e estigmatizadora. A prostituição, de acordo com o Código Penal, não é ilegal mas é restringida, é tolerada mas reprovada e situa-se nas fronteiras do lícito, do dizível e do visível. Esta atividade é relegada ao secretismo. Consequentemente, a desconsideração pública prejudica seriamente a integração social e dignidade da prostituta. É ainda necessário ter em conta os diversos mundos da prostituição pois existe a prostituição como opção e a imposta pelos proxenetas. No universo da prostituição livre a esmagadora maioria luta pelo
1 O termo é utilizado no feminino devido ao senso comum. Porém este grupo social inclui igualmente o género masculino.
110
reconhecimento social e jurídico pois a clandestinidade facilita a insegurança e a violência. Todavia, devido à repressão policial e à influência dos proxenetas, a resignação silenciosa prevalece. Notemos contudo que a primeira cantora do fado lisboeta foi Maria Severa, uma prostituta do bairro alto. É interessante pensar como a saudade de uma meretriz marcou a cultura portuguesa – profundamente católica e abolicionista – para a posteridade embora ela seja a personificação da alteridade invisível. Por seu lado, os jovens nómadas urbanos, ou vagabundos metropolitanos, constituem as tribos pós-modernas (Maffesoli,1988). Para Maffesoli, a noção de “tribo” designa de maneira ideal-típica a união de um grupo à volta de imagens que agem como vetores de uma comunidade. Estas imagens podem ser o imaginário de uma música, como por exemplo a música techno que engloba uma socialidade particular baseada na festa, na vagabundagem, na tecnologia e na cultura urbana. Estes grupos de jovens juntam-se em redes informais que, ainda que não sendo políticas, podem manifestar-se como uma expressão política. A incompreensão social alimentada pelo medo vê os jovens das ruas como “selvagens” ou como “bárbaros” pois eles quebram o que Simmel chamou “o rigor extremo da lei moral” (1908:16). A sociabilidade destes microgrupos, por mais variados que sejam – quer sejam os jovens do hip-hop ligados aos grafitis, os adeptos da música tecno, os punks, os góticos ou os emos – tem uma consistência própria e uma postura idêntica. A intersubjetividade partilhada é constituída por uma combinação de valores variados, polimorfos, estilhaçados. O imaginário coletivo que funda estes laços sociais põe em evidência uma constelação de mitos e de símbolos, pedra angular do seu poder invisível de subversão. Depois do estudo e observação destes dois grupos sociais1, um primeiro comentário a nível linguístico em relação ao conceito de invisibilidade social impõe-se. O termo “sofrido” poderia ser acompanhado por “consentido” e o termo “desejado” por “assumido”. A invisibilidade sofrida é muitas vezes consentida pela vítima e a invisibilidade desejada é uma espécie de compromisso assumido. Esta terminologia ajusta-se à noção de invisibilidade social facilitando uma descrição de vidas e uma interpretação de comportamentos marginais. Em seguida, é de notar que as trabalhadoras do sexo podem ser consideradas como uma “minoria ativa” (Moscovici, 1976: 261) porque lutam pelo reconhecimento enquanto os jovens vagabundos são uma minoria inerte. Contudo os dois grupos raramente são visíveis por isso os seus sentimentos e atividades são ignorados: não os vemos, não os ouvimos, não lhes falamos. De acordo com Mark Hatzfeld (2005), consideramos que existem quatro formas de olhar social em relação a estas duas populações. Primeiro, o não olhar (no sentido de ignorar) que torna outrem inexistente. Segundo, o olhar do desprezo, ou de repulsão que reduz o Outro a um dejeto. Terceiro, o olhar compassivo, ou caritativo, que apenas vê a miséria: “virtuoso por proclamação, este olhar dispensa ver” (ibid.: 82). Quarto, o olhar científico, o mais pervertido porque instalado no consenso cultural e numa alta valorização. Este olhar é o que sabe, por conseguinte não precisa de realmente observar. Outro aspeto comum aos dois grupos é a relação ao trabalho. Porque os meios de subsistência não seguem a ordem estabelecida e não são aceites, eles são vistos como improdutivos, assistidos, ou seja como “os inúteis do mundo” (Castel, 1999: 665). Ora a desvalorização e a repressão das suas atividades são obstáculos reais para o 1 A observação participativa foi uma parte da investigação no terreno da tese de doutoramento de 2007 a 2009.
111
reconhecimento social o que demonstra que quando saímos das categorias habituais situamo-nos em territórios impensáveis, em espaços invisíveis. Os dois grupos estão igualmente associados ao segredo porque vivem realidades dissimuladas. Desta forma, a invisibilidade pode ser apreendida como o lado sombrio da sociedade do espetáculo e do controlo. Os “dispositivos visuais” (Peroni, 1999: 92) utilizados nos dois universos são, por exemplo, as campanhas de prevenção e de informação. Com efeito, as associações deste género são por vezes o único elo entre os invisíveis e a sociedade. Outro dispositivo visual empregado são as manifestações pelos direitos das prostitutas e as raves. Conclusão As variações simbólicas sobre a invisibilidade social são múltiplas, contudo a recusa de outrem é o fio condutor permanente no qual o argumento repousa. A nossa noção-chave é pertinente para designar os buracos negros do mundo social sendo estes apreendidos com receio e desconfiança. Todavia, se estas realidades secretas inspiram o imaginário do medo também suscitam fascínio. O caráter sumário da perceção põe em evidência as categorias mentais que impedem a observação da complexidade e da realidade. Ora o inaparente é o mais profundo. A parte invisível da realidade social é, em suma, a que ultrapassa o horizonte da razão, é a realidade que se encontra ou nas margens (marginalidade) ou no poder subterrâneo do social (a sociabilidade). Nota: todas as citações são traduções livres pela autora. Bibliografia BIETLOT Michel (2003) “Du disciplinaire au sécuritaire: de la prison au centre fermé”, Multitudes, 11, [http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id=article103]. CAILLÉ, Alain (dir.) (2007) La Quête de la reconnaissance. Nouveau phénomène social total. Paris : Éditions La Découverte. CASTEL, Robert (1999) Les Métamorphoses des questions sociales, une chronique du salariat. Paris: Gallimard. DELLEUSE, Gilles (1990) “Post-scriptum sur les sociétés de contrôle”, Pourparlers. Paris: Éditions Minuit, pp. 240-247. FOUCAULT, Michel (1975) Surveiller et Punir. Naissance de la Prison. Paris: Gallimard. HONNETH, Axel (2002) [1986] La Lutte pour la reconnaissance, traduzido do alemão para o francês por Pierre Rusch. Paris: Éditions du Cerf. HONNETH, Axel (2006) [2004] La Société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, traduzido do alemão para o francês por Olivier Voirol, Pierre Rusch e Alexandre Dupeyrix. Paris: Éditions La Découverte. HORKHEIMER, Max (1974) [1937] Théorie traditionnelle et Théorie critique, traduzido do alemão para o francês por Claude Maillard e Sibylle Muller. Paris: Gallimar. HORKHEIMER, Max (2004) [1947] Eclypse of reason. Londres: Continuum International Publishing Group,
112
HUSSERL, Edmund (1950) [1913] Idées directrices pour une philosophie et une philosophie phénoménologique, Volume I : Introduction générale à la phénoménologie pure, traduzido do alemão para o francês por Paul Ricœur. Paris: Gallimard. LEVINAS, Emmanuel (2001) [1930] Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl. Paris: Vrin. MAFFESOLI, Michel (1988) Le Temps des Tribus. Le Déclin de l’Individualisme dans les Sociétés de Masse. Paris: Libraire des Méridiens, Klincksieck et Cie. MERLEAU-PONTY, Maurice (1976) [1945] Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard. MOSCOVICI, Serge (1991) [1976] Psychologie des minorités actives. Paris: Presses Universitaires de France. PERONI, Michel (1999) « Épiphanies photographiques. Sur l’apparition publique des entités collectives », Réseaux, vol. 17, n° 94, pp. 87-128, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-7971_1999_num_17_94_2141]. RICHIR, Marc (1995) “Intentionnalité et intersubjectivité” in Dominique Janicaud (dir.), L’intentionnalité en question, entre phénoménologie et recherches cognitives. Paris: Vrin. RICOEUR, Paul (2004) Parcours de la reconnaissance. Trois études. Paris: Folio. SARTRE, Jean-Paul (2000) [1946] Réflexions sur la question juive. Paris: Gallimard. SCHÜTZ, Alfred (1987) Le Chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales. Paris: Méridiens Klincksieck. SCHÜTZ, Alfred (1998) Éléments de sociologie phénoménologique. Paris: L’Harmattan. SIMMEL, Georg (1908) Secret et Sociétés Secrètes. Paris: Circé. TACUSSEL Patrick (1998) “Le Juif imaginé”, Prétentaine, n° 9/10. Montpellier: Université Paul-Valéry, pp. 291-302.
113
Socializações em rede: experiências juvenis do bairro à Internet Juliana Batista dos Reis Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil [email protected] Juarez Dayrell Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil [email protected] Resumo: A partir de uma perspectiva etnográfica este trabalho busca descrever algumas práticas juvenis que supõem a formação de vínculos e relações que implicam em determinadas maneiras de vivenciar bairros de “periferia” da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais/Brasil) no universo on-line. São privilegiados alguns espaços de observação para compreensão de processos de socialização juvenil na Internet: comunidades e plataformas na rede mundial de computadores que identificam territórios de moradia dos sujeitos. Ao conceber a socialização como um processo incessante de “se fazer, de se desfazer e se refazer a partir das relações sociais” (Vicent, 2004 apud Setton, 2010), refletir como se instauram e desdobram-se tais relações na web é tarefa a ser desenvolvida no contexto de ampla vivência on-line. De tal modo, experiências e vivências juvenis bastante atuais, relacionadas ao uso da Internet, centralizam a tematização desse trabalho. A partir de compreensões em torno da noção socialização, alguns autores como Norbert Elias, Danilo Martuccelli e José Machado Pais, auxiliam na construção de um eixo analítico que privilegia o olhar sobre as formas pelas quais se tecem as relações sociais, as maneiras de ser e estar no mundo, no contexto da cibercultura. A pesquisa revela uma intensa interação on-line entre jovens moradores de um mesmo bairro, além de comunidades virtuais criadas em função desse pertencimento territorial. « Socialisations en réseau : expériences juvéniles de la cité à Internet »
Résumé : Ce travail tente de décrire, à partir d’une expérience ethnographique, certaines pratiques juvéniles en supposant la formation de liens et de relations qui impliquent certaines façons de se retrouver dans les quartiers de « périphérie » de la région métropolitaine de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brésil) dans l'univers en ligne. Quelques espaces d’observation sont privilégiés pour la compréhension des processus de socialisation juvénile sur Internet, à savoir les communautés et les plates-formes dans le réseau mondial d’ordinateurs qui identifient les zones de logements des sujets. En comprenant la socialisation comme un processus incessant de « se construire, se défaire et se rétablir à partir des relations sociales » (Vicent, 2004 apud Setton, 2010), nous proposons une réflexion sur la façon dont chacun met en place et déploie ces relations sur le web. Ainsi, les expériences et les vivances de la jeunesse liées à l’utilisation de l’Internet, sont centrales pour le thème de ce travail. Nous nous appuieront sur certains auteurs tels que Norbert Elias, Danilo Martuccelli et José Machado Pais, pour approfondir la compréhension autour de la notion de socialisation aideront et pour construire un axe analytique qui privilégie le regard sur les façons dont on tisse les relations sociales, les façons d'être et d'être dans le monde, dans le contexte de la cyberculture. La recherche révèle une intense interaction en ligne parmi les jeunes
114
habitants du même quartier en plus des communautés virtuelles créées sur la base de cette l’appartenance territoriale. Introdução Neste trabalho, apesar do campo de pesquisa estar fundado em territórios circunscritos, bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte, tantas vezes previamente definidos por diversos atores como periferias, buscou-se pela etnografia online, com os sujeitos moradores, principalmente jovens1, narrativas e construções que elucidassem suas relações e formas de socialização naquela localidade, assim como os significados atribuídos ao bairro. O que inicialmente pode amparar os deslocamento para o campo de pesquisa – um espaço territorial – uma vila, bairro ou aglomerado, pode se ampliar para a Internet, ou o que alguns autores definiriam como ciberespaço, ambiente “desterritorializado” ou “não lugar”2. Ao centralizar os jovens como sujeitos centrais para o desenvolvimento de uma investigação sobre processos de socialização em seus bairros de moradia, é preciso estar atento às formas contemporâneas pelas quais eles se comunicam. É evidente uma intensa sociabilidade juvenil na internet, por isso, a estratégia em percorrer a rede mundial de computadores em busca de sites e redes sociais que fazem referência aos bairros escolhidos para a pesquisa: Nova Contagem e Aglomerado da Serra3. Nesse sentido, a centralização do olhar da investigação para fenômenos atuais – o intenso uso da web entre jovens, práticas com a Internet na periferia, a periferia representada na Internet – viabiliza a descoberta de situações que podem indicar vivências particulares de jovens de “periferias” que talvez não fossem contemplados pelas análises macro sociológicas ou macroestruturais. Por isso, com este texto, almeja-se a aproximação de dimensões dos processos de socialização na cibercultura vivenciadas por jovens “enquanto sujeitos que a experimentam e sentem segundo determinado contexto sociocultural onde se insere” (Dayrell, 2006: 5). De tal modo, experiências e vivências juvenis relacionadas ao uso da Internet, como recurso para compartilhar vivências no bairro de moradia, centralizam a tematização do artigo sobre processos de socialização juvenis contemporâneos.
Uma breve contextualização Análises estatísticas apontam que a proporção de pessoas com acesso à web tem crescido consideravelmente no Brasil. As PNAD’s (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2005 a 2009 mostram que o acesso à internet teve um aumento de 112% 1 Alguns estudos que tematizam a juventude tendem a demarcar uma faixa-etária para definir os sujeitos na investigação, principalmente quando se tratam de estudos quantitativos ou de avaliação das políticas públicas para jovens. Na maioria das definições institucionais, a juventude é considerada o grupo etário particular na faixa dos 15 a 29 anos como indica o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, neste trabalho foi o acesso empírico a certos espaços comunidades virtuais compostas por meninos e meninas “jovens” e não propriamente uma definição das idades deles, que melhor defini os sujeitos que estabeleci relações mais próximas. Nesse sentido, “(...) ser jovem foi tomado menos como uma categoria explicativa do que como um ponto de partida, empírico, para os recortes” (Magnani, 2005: 173) [grifos meus] 2Marc Augé (1994) define como “não lugar” espaços que se caracterizam pela ausência de aspectos identitários, históricos e relacionais (p.73). Há ainda um tipo de compreensão recorrente nos estudos “clássicos” sobre a rede mundial de computadores da construção de certa unidade do ciberespaço. Local com potencial para reunião das diferenças culturais e territoriais. Cf. Marc Augé (1994). 3 Nova Contagem e Algomerado da Serra.
115
em quatro anos1. É fato que os jovens acessam mais a Internet que outras faixas etárias. Conveniente destacar que o percentual de pessoas que utilizaram a Internet em 2009 foi mais elevado entre aqueles com idade entre 15 a 17 anos (71,1% das pessoas nessa faixa etária); seguidos por aqueles com idade entre 18 a 19 anos (68,7% das pessoas nessa faixa etária). Além disso, cabe enfatizar que a grande maioria das pessoas (83,2%) apontam que “comunicar com outras pessoas” é o principal motivo para o uso da Internet, segundo a PNAD 2009. Porém, em 2005, a principal razão apontada era educação ou aprendizado, que caiu para o terceiro lugar em 2009, entre os objetivos do uso da rede. São diversas as plataformas ou meios de comunicação e interação na rede mundial de computadores. Das chamadas redes sociais aquelas mais populares no Brasil são o Orkut, Facebook, Twitter, Myspace, Fotologs, além de outros recursos como os Blogs, o Youtube, MSN2. Alguns códigos próprios das redes sociais referenciam e operacionalizam um modo de estar no mundo comum àqueles que se vinculam na experiência on-line. O perfil ou página pessoal, que concebe e incorpora as/os usuárias/os do Orkut e Facebook, por exemplo, é construído através de um procedimento de personalização naquele espaço onde, ao expor suas preferências, vídeos, imagens e outros recursos, a/o usuária/o passa a existir enquanto pessoa no contexto da plataforma, adensando sua presença (Almeida; Eugênio, 2006). Parece haver uma maximização das pessoas através de ferramentas on-line que possibilitam uma exposição elevada de atributos pessoais e corriqueiros e de suas vivências na escola, no trabalho, em seus grupos. Essa produção expandida da pessoa é possibilitada pelas ferramentas tecnológicas disponíveis. Os ambientes e recursos do ciberespaço notabilizam os indivíduos por elementos que estão compromissados com suas personalidades, inscritas no próprio corpo ou nas apreciações subjetivas de cada um. No diálogo que se trava na internet é possível dar visibilidade a características detalhadas das personalidades dos usuários da rede ou de distintos grupos juvenis3.
1 Segundo os dados, em 2009, 67,9 milhões de pessoas com 10 ou mais anos de idade declararam ter usado a internet, o que representa um aumento de 12 milhões (21,5%) sobre 2008. Em 2005, a internet tinha 31,9 milhões de usuários; o aumento no período foi de 112,9%. 2 O Orkut é o site de relacionamentos mais popular no Brasil. Apesar do constante crescimento de outras redes sociais como o Facebook e o Twitter, pesquisa recente do ‘IBOPE mídia’revela que o Orkut ainda é a rede social preferida e mais acessada pelos brasileiros. (http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=BE9D1A37541BCDDD832577D10042BEB9). Em definição do próprio site: “O orkut.com é um website de comunidade on-line projetado para amigos. O principal objetivo do nosso serviço é tornar a sua vida social, e dos seus amigos, mais ativa e estimulante”. O Facebook tem o mesmo tipo de configuração e é a rede mais popular mundialmente. O Twitter é um serviço de microblog onde os usuários costumam compartilhar links, bem como registrar e publicar acontecimentos e opiniões com o limite de 140 caracteres. Já o Myspace é um espaço predominantemente usado por grupos musicais e cantores que possibilita além da rede social a disponibilização de músicas, agenda de shows, etc. Os Fotologs se constituem num local de exibição de fotos, diariamente. O youtube é um site que permite o compartilhamento de vídeos e por fim, Messenger ou MSN é um programa de mensagens instantâneas que permite conversas em tempo real. Pelas caixas de diálogo os usuários podem se comunicar teclando, além de compartilhar e visualizar fotos, trocar arquivos, conversar por voz (por microfone e câmera), dentre outros recursos. 3 Em diferentes condições sócio-econômicas e geo-espaciais, grupos juvenis bastante distintos estão interligados e integrados numa fórmula bastante comum referenciada em elementos da web. Os cosplayers - amantes de mangás (histórias em quadrinhos) e animes (desenhos animados), grupos góticos, jogadores, rappers, forrozeiros, entre tantos outros grupos têm na internet a possibilidade de construção de ambientes particulares e intrínseco no processo de fabricação de subjetividades e identidades coletivas.
116
Tomando como referência os dados da rede social mais popular do Brasil, o site do Orkut aponta que 61,48% do total de membros têm entre 18 e 25 anos, e 12,03% entre 26 e 30 anos. Na plataforma há um link denominado “Dados demográficos” com porcentagens de algumas informações preenchidas pelos usuários: faixa etária, tipo de relacionamento, interesses no Orkut e país de origem. Não há a opção de identificação de idade inferior aos 18 anos, fazendo com que tais porcentagens não sejam fidedignas com a real faixa etária dos usuários, já que muitos deles têm idade inferior, além da possibilidade de falsear. Decerto, na conjuntura contemporânea de crescente conexão com a rede, edificam-se novas formas de sociabilidade e socialização. Faz-se necessário compreender como os sujeitos recorrem ao uso da tecnologia de forma particular ou inovadora nas construções de relações com outros e de si próprio. Deste modo, avistar as costuras nos entrelaçamentos dos modos de interação humanos em contexto on e off-line faz-se indispensável. Importante pontuar que algumas produções acadêmicas tratam a sociabilidade mediada por computadores e aquelas ocorrida em co-presença usando os pares on/off-line ao invés de vitual/real já que,
“(...) o par real/virtual coloca em oposição esses termos, e o que se constata é que as interações ocorridas no universo dito virtual são bastante reais, e muitas vezes se pautam nas ocorridas na sociabilidade off-line e vice-versa” (Guimarães Jr. 1999 e 2004, Thomsen et al. 1998 e Dornelles, 2004 apud Pelucio, 2005: 10).
Por outro lado, usar on/offline, para além do sentido de indicar o formato da interação (mediado ou não por computadores), pode acabar contribuindo com uma dicotomização que se mostra bastante diluída nas experiências já observadas. Usar tal binário pode cooperar na manutenção da idéia de que há universos inteiramente diferentes, sendo que a os processos de socialização e sociabilidade face a face (ou off-line) são muitas vezes permeados pela sociabilidade/socialização que designamos como on-line. Decompô-las é destinar um olhar para as experiências em cada contexto (on/off) de forma muito distinta. Não é preciso estar com o computador ligado para estar on-line, exposições subjetivas se dão tanto face a face quanto na net. De fato, cada um está sempre ligado a sua rede de relações e falar sobre internet nos encontros face a face é também assunto que mobiliza muito sujeitos. Conseqüentemente, a princípio, não se avista um predomínio de certa autonomia ou exclusividade nas comunicações pela Internet em contraposição às relações face a face nos processos de socialização juvenis contemporâneos. Redes sociais na web como espaços de socialização Algumas problematizações fundamentais se fazem ainda pouco presente quando desconsideramos as apropriações juvenis e (re)significações dadas às tecnologias de informação e comunicação. Considerando que a juventude se constitui como uma condição social e, ao mesmo tempo, um tipo de representação (Peralva, 1997), talvez haja uma tendência atual em representá-la socialmente como isolada e egocêntrica em vistas da intensa vivência online. Mais uma vez, Nobert Elias contribui com a ponderação que “o repertório completo de padrões sociais de auto-regulação que o indivíduo tem que desenvolver dentro de si, ao crescer e se transformar num indivíduo único, é específico de cada geração (...)” (Elias, 1994: 8), por isso a necessidade de
117
compreensão das práticas e relações no contexto do ciberespaço, do ponto de vista dos jovens. Perante a escolha metodológica em se fazer uma etnografia de vivências juvenis na Internet o desafio que estava colocado nesta conjuntura era a etnografia no contexto on-line. Como observar o ciberespaço e ali encontrar fenômenos, interações que poderiam favorecer a investigação? A Internet se configura como espaço invisível de territorialidades onde há apagamento de distâncias geográficas e ou sociais? Como apreender formas de socialização e relações de proximidade e distância na rede mundial de computadores? O recorte de investigação foi marcado pela procura de comunidades em redes sociais que tematizam os bairros de moradia dos usuários. “É nóis no Orkut – PERIFERIA” é a nomeação da maior comunidade no site Orkut, com cerca de 5000 membros, que faz menção em seu nome a periferia. Na definição desta comunidade lê-se:
“Se você é o tipo de pessoa que admira a cultura da periferia, sabe que é de lá que saem grandes gênios de muitas artes, admira o povo sofrido e batalhador e que, apesar de tantas dificuldades, nunca perde a esperança de uma vida melhor. Se você mora, morou na periferia ou apenas gosta ou respeita as pessoas que moram, este é o seu espaço prá trocar experiências e saber um pouco mais sobre a arte e a ciência de viver na periferia. E é claro que na maior comunidade virtual do mundo, também haveria periferia!” Diante disso, depressa poder-se-ia ultimar que a web, universo comumente definido sem fronteiras, faz transparecer demarcações sócio-culturais. Por outro lado, “Maldita inclusão digital” é o nome de algumas comunidades no Orkut que de maneira geral compreendem e associam a popularização da internet a um empobrecimento da rede, ou seja, o uso cada vez mais maciço de usuários descaracteriza o ambiente, o transformado em um espaço de menos prestígio em função do que alguns identificam como analfabetismo digital. A título de exemplo, parte da descrição da comunidade “Malditas lan houses”: “(...)foi só surgir as Malditas Lan Houses pra começar o desgosto! Orkut e MSN foram invadidos e transformados em verdadeiras FAVELAS!” 1 Consequentemente, a ideia de inclusão digital tão correntemente empregada, pode ser alvo de problematizações já que condiciona dualidades e uma compreensão homogeneizante, que polariza situações e acaba por (re)produzir discursos midiáticos e do imaginário social. “Pois essa é uma das principais características das sociedades de controle: a inexistência de processos de exclusão e inclusão em espaços extensivos. Já não é possível estar fora, à margem do que quer que seja. Estamos todos na ‘terceira margem do rio’ [Guimarães Rosa, 1981], derivando, sem sair do lugar. [E daí a ambigüidade que marca os discursos sobre comunidades pobres – ‘inclusão pela exclusão’]” (Rafael, 2006: 14). Para encontrar comunidades e discussões que privilegiam os bairro em questão - Nova Contagem e Aglomerado da Serra - basta realizar uma busca nas redes sociais mais 1As lans house são apontadas como o 2º local de maior acesso à internet no Brasil segundo Suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2008 sobre Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal.
118
populares ultimamente: o Orkut e o Facebook. Existem, atualmente mais de 60 comunidades referenciadas ao bairro Nova Conatagem e mais de 30 sobre o Alglomerado da Serra, que fazem em seus títulos referências às escolas, igrejas, torcidas de futebol, grupos de dança, etc. distribuídas nas mais diversas categorias1. Em destaque duas que chamam atenção pelo título e descrição: “Nova Contagem Sim e Daí!!!!!!!!!” e “AGLOMERADO DA SERRRA BH” onde se vê escrito respectivamente: “Não admitimos que ninguém fale mal de Nova Contagem, boa parte das gatinhas moram lá, e tem muito sangue bom, por isso ao falar mal do nosso bairro pense bem, tem gente te vigiando falô!!!!!!!!!!!!!!”
“Brasil, Minas gerais, Belo Horizonte, Aglomerado da Serra. 2° maior conjunto de favelas da América Latina. 80 mil pessoas subindo e descendo os morros da Serra todos os dias. Comunidade Feita para todos que moram e admiram o aglomerado da serra.”
Sobre o conteúdo das comunidades e a participação dos membros poderíamos dividir os tópicos de discussão em três tipos: 1) sobre o bairro (“Qual o melhor lugar de contagem ou do bairro?”, “Qual o lugar mais bonito do bairro?”, “O que você mais gosta em Nova Contagem?”, “O que você mais gosta na Serra?”, etc.) 2) sobre venda de produtos, informes sobre eventos locais, divulgação de outras comunidades. (“Nova locadora de DVD”, “divulgação de festas”, “participe da comunidade da escola”, etc.) 3) interativos, com brincadeiras, jogos, (“beija ou não beija?” ou “qual nota que você dá para a pessoa acima?”, “eu pergunto, você responde”) É perceptível que os tópicos desse terceiro tipo (que geralmente devem ser respondidos levando em consideração o último respondente) se configuram por um tom de descontração, eles são os mais constantes, movimentados, e com um maior número de respondentes. Os tópicos sobre os bairros, de maneira geral, direcionam perguntas sobre as qualidades das localidades, os espaços mais visitados. São perguntas lançadas por qualquer membro aos outros participantes. Em resposta ao “qual o lugar que você mais gosta?” há tipos mais comuns de respostas com destaque para as praças existentes nos locais. Dentre outras respostas aparecem algumas igrejas e as escolas. É bastante corriqueiro perceber nos fóruns de discussão uma ênfase na “positividade” dos bairros. Em perguntas que abrem discussões como: “O que aqui tem de bom?” as respostas giravam em torno das amizades, das boas pessoas, da vizinhança, etc. O que há em comum em muitas falas é um tipo de narrativa com marcas afetivas, consolidadas na solidariedade entre a vizinhança, fortes relações de amizade e que reafirma um caráter “positivo” à região de moradia. Com essa breve apresentação vemos revelado um campo de abordagem que exige atenção para a junção entre o que pode parecer antagônico, tecnologia e periferia, se não escapamos de versões dominantes no senso comum marcadas por estereótipos das 1 As comunidades do Orkut estão distribuídas em 28 categorias: “Alunos e escolas”, “animais”, “entretenimento”, “família e lar”, “esportes e lazer”, “cidades e bairros”, dentre outras.
119
ausência(s) e miséria de bairros populares. Por isso, a necessidade de compreender as continuidades e descontinuidades entre os processos de socialização face a face, em torno de um território de vivência comum, assim como essas relações são construídas na web. Contudo, é preciso enfatizar que: “O Ciberespaço, da mesma forma que o ‘espaço’ social, longe de ser um contínuo homogêneo, é territorializado e fragmentado em diferentes espaços simbólicos, constituídos e operacionalizados pelas práticas de sociabilidade que ocorrem em seu interior. Estas práticas constituem culturas locais, específicas e eminentemente heterogêneas, cuja interpretação e mapeamento é uma tarefa ainda incipiente a ser realizada pela Antropologia” (Guimarães Jr. 1999: 2) Revisitando teorias da socialização a partir da web Na perspectiva de desenvolver uma sociologia dos processos, Norbert Elias [1897-1990] demonstra a importância de compreender, ao longo do tempo, as mudanças no comportamento humano, atentando para os hábitos, costumes, gestos, posturas, afetos, emoções e códigos de conduta que se transformam nos ambientes público e privado, na extensão do processo civilizador. Elias desenvolve uma sociologia histórica dos processos sociais, apresentando e analisando o extenso percurso civilizador, ao longo dos séculos, no ocidente1. Partindo da hipótese de que - “o homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que estamos acostumados a considerar como típica ou como sinal característico de homem ‘civilizado’” (Elias, 1994: 13) – o autor tem como fontes de pesquisa os manuais de cortesia e civilidade para compreender a construção dos comportamentos dos sujeitos em diferentes espaços sociais. Na perspectiva da sociologia eliasiana, os universos do público e do privado vão, em certa medida, sendo reconfigurados, na medida em que acontecem alterações tanto na estrutura social como no comportamento e nas emoções dos indivíduos. Novos códigos de conduta, expressos principalmente pelo autocontrole das emoções, revelam modos de comportamento próprios do processo civilizatório. Decerto, inspirados nessa perspectiva, a partir do adensamento de relações humanas construídas e mantidas na rede mundial de computadores convém também problematizar em que medida intimidade, privacidade, exposição, segredo, confidência e controle assumem outros contornos. O atual processo de crescente digitalização é “caracterizado, sobretudo, por uma ampliação dos lugares em que nos informamos, em que, de alguma forma, aprendemos a viver, a sentir e a pensar sobre nós mesmos” (Fischer, 1997: 62). Decerto novos processos de socialização vão se delineando nesse contexto. Como vimos, as comunidades virtuais tornam-se espaços de troca e compartilhar entre os sujeitos. Além disso, deve-se enfatizar que os jovens se destacam como sujeitos habilitados e inseridos mais densamente na cultura digital. Se, para muitos de nós, a iniciação e vivência no ciberespaço é uma grande novidade nas formas de nos constituir, relacionar, conhecer e aprender, para as gerações que nascem em meio a essa “tecnologia”, o tom de inovação parece menos presente e a rotina na rede é vivenciada. A fala de um jovem em minha
1 A sociedade de corte e O processo civiilizador são dois importante livros do autor em que desenvolve um extenso estudo sobre a nobreza, a realeza e a sociedade de corte na França e o processo civilizador em curso no ocidente a partir do século XVI.
120
pesquisa de mestrado1 aponta a inerência dos computadores e internet com o cotidiano, ao dizer: “estar na net é obrigatório... é igual ter geladeira, fogão! Uma coisa que num tempo atrás era luxo...”. Ele classifica os computadores como tão populares quantos outros eletrodomésticos, talvez não funcionando como marca de distinção. A afirmação está em consonância com algumas teorizações sobre uso do termo tecnologia para identificar computadores e a rede mundial. Alan Kay, um dos pioneiros da ciência da computação diz: “Tecnologia é tecnologia somente para aqueles nascidos antes de ela ser inventada.”. Diga-se a propósito, nativos digitais tem sido uma expressão bastante utilizada em compreensões acadêmicas acerca dos usos da web por crianças e jovens, indicando uma geração já nascida na era da internet.2 Para apontar possíveis interconexões entre conceitos e teorizações sobre a socialização no contexto do ciberespaço é necessário descrever minimamente a experiência on-line. Pode-se dizer que os ambientes virtuais se configuram como locais em que diferentes sujeitos, a maioria jovens, constroem representações de si mesmos. Composições que combinam a participação em uma variedade de comunidades que auxiliam na identificação dos gostos dos usuários e publicam atributos, vontades, desejos pessoais e minimamente os compartilham com outros. Uma premissa em diferentes plataformas na web parece ser a personalização. Em outras palavras, para fazer parte das redes sociais é necessário se construir on-line, ou seja, desenvolver na rede um ‘perfil’ – termo nativo entre usuários do Orkut. Nesse sentido, interessa, portanto compreender a “construção de pessoa” desses jovens que na construção de um perfil ou avatar3 se amparam por novos elementos definidores de si, apresentam formas de ser e estar no mundo através das redes digitais de comunicação. A noção de pessoa, inicialmente formulada por Marcel Mauss [1938] (1974) é uma categoria construída coletivamente que precisa, por isso, ser apreendida aqui em sua constituição social e cultural, visto que não tem uma validade universal. As páginas ou perfis sociais estão em constante e diária construção. O imperativo da visibilidade operados através da narração do eu e a construção de si (Sibila, 2004) fazem parte do cotidiano daqueles que se conectam nas redes sociais da Internet. Parafraseando Erving Goffman [1922-1982] há uma constante representação do eu na vida cotidiana online. Cabe destacar que muitos trabalhos de pesquisa com grupos juvenis apresentam o espaço público como uma dimensão socializadora para muitos jovens. Nas cidades e nas ruas se extrapolam as figurações das relações dadas exclusivamente no abrigo do parentesco e da família. Podemos apontar estudos das dinâmicas socioculturais das cidades realizados pela Escola de Chicago a partir dos anos 20. Por exemplo, W. Foote Whyte (2005)[1943] em Sociedade de Esquina, apresenta as figurações de gangues que cresceram nas esquinas de Cornerville. O espaço é condição fundante e intrínseca às relações entre aqueles rapazes. Nem todos os jovens pertencem às esquinas daquele
1 “A periferia está online? Vivências e sociabilidade(s) juvenis em um bairro da região metropolitana de Belo Horizonte. (Reis, 2009) Universidade Federal de São Carlos. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Trabalho etnográfico realizado em Contagem com jovens usuários de lan house sob orientação de Luiz Henrique de Toledo e Juarez Dayrell. 2 Outras expressões como ‘geração x, y e z’ operacionalizam pesquisas em diferentes áreas do conhecimento acadêmico que buscam compreensões sobre o universo digital. Apesar da não existência de um consenso, geralmente se nomeia as pessoas nascidas entre os anos de 1980 e 1990 como pertencentes à geração x e y, respecetivamente. Enquanto aqueles nascidos a partir dos anos 2000 como geração z. 3 Representação gráfica de um usuário digital.
121
bairro italiano, por isso a sociabilidade geograficamente estabelecida tem relações inseparáveis com a estrutura do grupo. Estudos da sociologia da juventude no Brasil também mostram que os jovens se apropriam das ruas, combinando encontros, circulando em grupos, conversando (Sposito, 1993), ao mesmo tempo, o espaço público é local de visibilidade, servindo como palco para que eventualmente apresentem suas danças e músicas.
“Com efeito, designadamente entre jovens das camadas médias e inferiores; a rua fornece formas simbólicas de afirmação da cultura juvenil. (...) A rua é encarada como espaço mais “livre”, tanto em termos comerciais, tanto em termos de controle social” (Pais, 2003: 117).
Diante de um modelo que configura uma maneira de ser visto na internet, vale alcançar como nesse universo os jovens compartilham maneiras de ser. Seria a internet uma nova configuração da rua como espaço mais aberto e acessível para as manifestações jovens? Há uma espécie de espetacularização do senso comum e da vida cotidiana? Os jovens se apropriam das ferramentas informáticas e da web, aprofundando e valorizando suas vivências rotineiras no espaço da cidade? Questionamentos que permanecem como importantes eixos de investigação sobre os atuais processos socializadores da juventude contemporânea.
Referências Bibliográficas ALMEIDA, Maria Isabel & EUGÊNIO, Fernanda (orgs). Culturas Jovens. Novos mapas do afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. CALDEIRA, Tereza P. R. A política dos outros: o cotidiano dos moradores da periferia e o que pensam do poder e dos poderosos. São Paulo, Brasiliense, 1984. DAYRELL, Juarez. O rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. _______________ & LEÃO, Geraldo, REIS, Juliana B. “Juventude, pobreza e ações educativas no Brasil”. In: SPOSITO, M.P. (Org.). Espaços públicos e tempos juvenis: um estudo de ações do poder publico em cidades e regiões metropolitanas brasileiras. São Paulo: Fapesp, 2007. DORNELLES, Jonatas. Antropologia e Internet: quando o "campo" é a cidade e o computador é a "rede". Horiz. antropol. [online]. Jan./June 2004, vol.10, no.21 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010471832004000100011&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0104-7183. DUBAR, Claude. A socialização. Construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins Fontes, 2005. DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 4. Ed. Tradução de Lourenço Filho. São Paulo: Melhoramentos, 1955. ELIAS, Norbert, O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. ____________. Introdução à sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980. _____________. “A sociedade dos indivíduos”. In: A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. p.11-60. GUIMARAES JR., Mário J. L. Sociabilidade no Ciberespaço: Distinção entre Plataformas e Ambientes <http://www.cfh.ufsc.br/~guima/papers/plat_amb.html>. Trabalho apresentado na 51a Reunião Anual da SBPC – PUC/RS, julho de 1999
122
___________________. De pés descalços no ciberespaço: tecnologia e cultura no cotidiano de um grupo social on-line. Horiz. antropol. [online]. jan./jun. 2004, vol.10, no.21,p.123-154.Disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832004000100006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0104-7183. MAGNANI, José Guilherme. Festa no Pedaço: cultura popular e lazer na cidade. São Paulo, Brasiliense, 1984. _____________. Os circuitos dos jovens urbanos. In: Tempo Social. Vol.17, n.2, pp. 173-205, 2005. MARTINS, Carlos Benedito. “Notas sobre a noção de prática em Pierre Bourdieu”. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n.62, p. 163-181, mar. 2002. MARTUCCELLI, Danilo. Por una sociologia de los suportes. In: Cambio de Rumbo: La sociedad a escala del individuo. Santiago: LOM Ediciones, 2007. MAUSS, Marcel. “Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia” e “Uma categoria do Espírito Humano: a noção de ‘pessoa’, a noção do ‘eu’”. In Sociologia e Antropologia volume I. São Paulo: Edusp, 1974. MILLER, Daniel;; SLATER, Don. “Etnografia on e off-line: cibercafés em Trinidad”. In: Horizontes antropológicos. Porto Alegre, v. 10, n. 21, 2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010471832004000100002&lng=pt&nrm=iso>. PAIS, José Machado. Vida Cotidiana, Enigmas e Revelações, São Paulo, Cortez, 2003. _________________. Ganchos, Tachos e Biscates. Jovens, Trabalho e Futuro. Porto: Ambar, 2005. RAFAEL, Antônio. “Humanidade por excesso e as linhas de fuga que se abrem para o gueto.” In: Sexta Feira 8/Periferia. São Paulo: Ed. 34, 2006 REIS, Juliana Batista. A periferia está online? Vivências e sociabilidade(s) juvenis na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais. UFSCar, São Carlos, 2009. RUA, Maria das Graças. “As políticas públicas e a juventude dos anos 90”. In: M. G. Rua, Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas. 2v. Brasília: CNPD, pp. 731-752, 1998. SETTON, Maria da Graça Jacintho. “A socialização como fato social total: notas introdutórias sobre a teoria do habitus”. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, Aug. 2009 . SPOSITO, Marília P.A sociabilidade juvenil e a rua; novos conflitos e ação coletiva na cidade. Tempo Social. Revista Sociologia da USP. São Paulo, v.5 n. 1 e 2, p.161-178., 1993.
123
Qual é a cor da cultura na educação infantil?1 Leni Vieira Dornelles Professora Associada da Faculdade de Educação/UFRGS [email protected] Gládis Elise Pereira da Silva Kaercher Professora Adjunta da Faculdade de Educação/UFRGS [email protected] Resumo: A pesquisa aqui apresentada intitulada: “Qual é a cor a cultura na Educação Infantil?”, é realizada com crianças de 3 a 5 anos, em escolas públicas de Porto Alegre/RS, Brasil. Trata de estudos sobre a relação das crianças com seus corpos e destes com os corpos dos bonecos negros. Investigamos também, como funcionam as representações sobre negros circulantes nas histórias dos livros de literatura infantil afro-brasileira. Analisamos como se produz o conceito de “raça” através da introdução dos bonecos e dos livros na sala de aula das crianças e, como tal conceito está atravessado pelas relações de poder/ saber que constituem a infância neste nível de educação. Faz-se uso de uma metodologia de pesquisa com criança, numa triangulação qualitativa entre formação de professores, observação participante, contação de histórias e brincadeiras com os bonecos. Buscamos apoio teórico em Michel Foucault, naquilo que diz respeito às relações poder/saber, governo e produção de subjetividades, bem como nos autores nacionais e internacionais filiados a socioantropologia da infância que refletem sobre os modos de fazer pesquisa com crianças Palavras chaves: pesquisa com crianças, brincar com bonecos/as, literatura afro-brasileira De quelle couleur est la culture à l’école maternelle? Résumé : La présente recherche a été menée avec des enfants entre 3 et 5 ans dans les écoles publiques à Porto Alegre / RS, Brésil. Notre étude porte sur les relations des enfants avec leurs corps et de ceux-ci avec les corps poupées noires. Nous étudions également comment fonctionnent les représentations des Noirs qui circulent dans les histoires des livres de littérature afro-brésilienne pour enfants. Nous analysons la façon dont le concept de «race» est produit par l’introduction des poupées et des livres dans la salle de classe des enfants étant donné que ce terme est traversé par les relations de pouvoir/savoir qui constituent l’éducation des jeunes à ce niveau. Nous employons une méthodologie de recherche avec les enfants dans une triangulation qualitative entre formations d’enseignants, observation participante et lecture d’histoires, combiné avec des jeux avec les poupées. Nous nous appuyons sur Michel Foucault en ce qui concerne les relations pouvoir/savoir, le gouvernement et la production de subjectivités, ainsi que sur des auteurs nationaux et internationaux affiliés à la socio-anthropologie qui réfléchissent sur les façons de conduire une recherche avec des enfants.
1 Este texto é escrito a partir dos dados do projeto “Na escola de educação infantil se produz o sujeito “diferente- anormal”?”, bem como do projeto em andamento: “Qual é a cor da cultura na educação infantil?” Investigação desenvolvida na FACED/UFRGS Conta com o apoio do CNPQ e tem como bolsistas as alunas/UFRGS. Bibiana D. Alves, Natalia Cargnin, Karitha Soares.
124
Mots-clés: recherche avec des enfants, jouer avec des poupées ou que, de la littérature afro-brésiliens Quando trabalhamos com bonecos e livros para as crianças das escolas infantis Interrogar o sentido da(s) socialização(ões) na contemporaneidade. Essa interrogação debruçar-se-á sobre as transformações e mudanças familiares, a escola, as crianças e a sua educação, as relações intra e intergeracionais, as organizações de trabalho e a influência dos média” este é o propósito do Colóquio Internacional “A Crise da(s) Socialização(ões)?”. A partir dessa prerrogativa buscaremos mostrar o quanto a pesquisa “Qual é a cor da cultura na educação infantil?”, nos oferece a possibilidade de entendermos que ao levarmos bonecos negros e livros de literatura afro-brasileira para as crianças das escolas pesquisada em Porto Alegre, no Sul do Brasil, ainda é um desafio para os estudos contemporâneos sobre infância. Mostra-nos que as pesquisas produzidas no âmbito dos programas de pós-graduação das universidades públicas do Brasil, ainda continuam sendo desafiadas frente à crescente necessidade de problematizarmos o modo como as questões étnico-raciais vêm sendo apresentadas às infâncias. Mais particularmente, têm chamado nossa atenção às tentativas de adequação dos currículos da Educação Infantil aos preceitos da lei 10639/2003 que dispõe sobre o ensino de cultura africana nas escolas do Brasil. Ao aprofundarmos nossos estudos acerca das questões de raça que compõe o universo infantil, torna-se importante investigar através da brincadeira com bonecos negros e dos livros de literatura infantil que versam sobre o tema, como é tratada a lei nas escolas de educação infantil; qual a cor da cultura manifesta na sala de aula das crianças pesquisadas; como é possível contribuir para a produção teórico-metodológica do trabalho nas escolas infantis frente à emergência dos discursos sobre raça, racismo e preconceito e como decorrem as discussões sobre a inclusão e as diferenças; colaborar com as investigações acerca do brincar, da literatura e da produção de subjetividades infantis; investigar como as crianças manifestam-se frente às questões de raça e preconceito; por fim e não encerrando, observar como as crianças de turmas de educação infantil acolhem os diferentes de si, governam a si mesmas no que diz respeito às suas diferenças e tratam dos valores civilizatórios afro-brasileiros como modos de construir na educação infantil uma educação antirracista. Através de pesquisas anteriores (Dornelles, 2005/2010; Kaercher, 2007/2010) se pode perceber a importância de aprofundarmos o debate sobre os modos como a etnicidade e a negritude vem sendo construídas, através de artefatos diversificados, aqui especialmente os brinquedos e livros, dentre outros. Tais pesquisas, além do trabalho e inserção investigativa com crianças, nos levam a interrogar a necessidade de atuarmos na dimensão formativa dos profissionais da Educação Infantil. Buscamos com isso, capacitá-los para uma ação pedagógica que mantenha a dimensão investigativa (pesquisa), mas que também se proponha a ser interventiva no sentido de transformação da realidade étnico-racial conflitiva, na qual as crianças, negras ou não, vêm sendo educadas. Neste sentido, esta pesquisa se propõe a mostrar como ainda se faz necessário estranhar os efeitos produzidos pelas práticas discursivas e não discursivas na constituição do conceito de raça das crianças brasileiras. Para tanto, pretendemos atentar para a tecitura de tais efeitos em meio às práticas culturais, imersas nas relações de poder.
125
Consideramos que tal prerrogativa mostra que ainda é preciso dar visibilidade aos discursos que produzem efeitos e formam um determinado tipo de sujeito étnico-racial e que, portanto, produzem determinadas práticas e não outras. Queremos estranhar o que habitualmente acontece nas brincadeiras com bonecos negros e leituras de histórias infantis afro-brasileira. Observamos neste trabalho que a maioria dos professores que atuam com as crianças continuam vendo-as com os olhos da modernidade, onde todas elas são únicas, naturais, ingênuas, puras, sem preconceito ou racismo. Literatura infantil: estratégia de discussão sobre racismo com as crianças Pensar sobre o modo como as crianças interpretam e se mobilizam frente às questões sobre raça presentes na literatura infantil, dentre outros aspectos, parece-nos um caminho teórico-metodológico fecundo. Em primeiro lugar, porque podemos aprender muito sobre a diversidade de experiências construídas por elas em múltiplos contextos de vida. Em segundo, porque, através dessa “escuta” interessada, sensível e compreensiva, podemos conhecer alguns efeitos importantes das significações presentes nas brincadeiras e histórias infantis, considerando, evidentemente, que tais significações e seus efeitos sobre as crianças também são atravessados pelas práticas constituídas em outras instâncias socioculturais. Como aponta Meyer (2003: 25), refletir sobre esses processos produzidos social e culturalmente, “e nossa participação neles, no âmbito da escola, ou em qualquer outro espaço, é fazer também uma discussão política.” Podemos ainda analisar como as questões de raça e etnia vêm sendo apresentadas para a infância, através de um artefato, muito especialmente aqui estudado – o livro de literatura infantil, que está presente na escola, mas que transcende seus muros, atuando como uma estratégia poderosa que compõem o estatuto pedagógico. O debate sobre a maneira como os artefatos culturais educam – neste caso, as infâncias étnico-raciais – é uma demanda contemporânea no Brasil, e a literatura não escapa a essa exigência crescente, advinda, entre outros fatores, das avaliações promovidas pelo MEC (Ministério da Educação) para compra de acervo. Tais avaliações visam não só à distribuição de acervo qualificado nas escolas públicas (PNBE – Programa Nacional Biblioteca da Escola), mas também à sistemática análise de obras para aquisição e à inserção de representações das chamadas minorias. Vimos, também, o surgimento de programas voltados para a valorização da raça negra. Dentre esses, destaca-se o programa “A cor da cultura”1, que foi ampliado através de diversas ações pedagógicas em diferentes escolas e redes de ensino no país. Assim sendo pensamos ser pertinente na pesquisa desenvolvida sobre a cor da cultura na educação infantil, não só mostrar a diferença étnico-racial para os professores atuantes na Educação Infantil, mas também de mobilizar leituras que coloquem em pauta essa discussão junto aos educadores e, através destes e de suas práticas pedagógicas, junto às crianças. Tendo como foco o contexto acima descrito, nosso objetivo está sendo no desenrolar da pesquisa o de identificar as representações de raça e o modo como as crianças negociam os significados implicados nessas representações. Os estudos contemporâneos sobre literatura infantil e diferença (Dalla Zen, 2010, Colomer, 2005; Kaercher, 2009, 2010) atentam para o fato de que as diferenças identitárias vêm sendo, cada vez mais, alvo de um importante investimento por parte da Literatura Infantil. Mostram, ainda, que este investimento não tem significado, todavia, 1 Ver o site: WWW.acordacultura.br
126
a percepção destas diferenças por parte das crianças ou, mais ainda, não tem apontado necessariamente para a emergência de novas e/ou mais valorizadas significações para a criança negra nos discursos (verbais ou imagéticos) produzidos por elas nas escolas. Neste sentido, ampliar o repertório de narrativas circulantes nas escolas, com livros que veiculem representações mais positivas e posicionadas sobre a raça negra, possibilita-nos aferir como tais representações tensionam os discursos infantis e promovem, ou não, deslocamentos significativos nas práticas interraciais das crianças.
Bonecos e bonecas: estratégias de produção do corpo negro Vimos estudando que o corpo representado em cada boneco ou boneca é também o meio através do qual se ensinam às crianças a agirem sobre si e sobre outro. Nesse incidem determinadas práticas discursivas e estas práticas, de algum modo, produzem um corpo de menino ou de menina, marcados pela história. Uma das ‘verdades’ apresentadas historicamente nos corpos dos bonecos brasileiros mostra que este precisa ser magro e esguio como o da Barbie, ou branco e belo como o das “princesas”. Este é o tipo de corpo/ brinquedo (boneca loira, longos cabelos, magra, branca) consumido através da mídia e da publicidade pelas crianças. Os brinquedos, em especial os bonecos, vêm se constituindo como uma forma de governo e autogoverno das crianças. As estratégias de poder neles apresentadas produzem efeitos, e fabricam modos de subjetivação que aprisionam os infantis a ‘verdades’ sobre como deva ser seu corpo, seu comportamento, suas atitudes, sua ética. De algum modo, os efeitos dessas verdades apresentados nos corpos dos bonecos produzem uma criança preocupada em investir em si, o que é “ditado”, “ensinado” pela mídia e pela publicidade, por seu grupo de pares. São ditos que, de alguma forma, impõem que as crianças precisam, por exemplo, não só possuir o boneco e o seu tipo de corpo, mas todos os acessórios para eles fabricados. Os corpos de bonecos/as apresentados na mídia vêm se impondo de tal forma que, as crianças passam a consumir, não só as imagens que a mídia produz e, que pertencem a cada boneco, mas, também, aquilo que elas deverão usar: roupas, acessórios, e tudo aquilo que tornará possível “ser e existir” no mundo das crianças. E nisso se misturam e mesclam o real e o imaginário, o que é do sujeito, o que é e o que é do boneco. A criança passa a ter inscrito em si o que é do corpo do boneco, o que ele deve ter ou a ele pertencer. Ao mesmo tempo em que ele tem em seu corpo as inscrições do boneco, isso significa pertencer a um espaço perpassado pelo poder, a um espaço que o distingue e, do mesmo modo o homogeneíza. As meninas e os meninos que os possuem ocupam um espaço no brincar e são definidos por sua posição nele. Desse modo, a pesquisa em curso e outras pesquisas realizadas (Dornelles, 2007 a 2010; Kaercher, 2006, 2010) mostram o quanto ainda se faz necessário investir nas pesquisas com crianças no que se refere às questões sobre como se constituem corpos, sujeitos racista e preconceituosos. Investir no trabalho com as crianças, ouvi-las no que tem a nos dizer quando tratam do diferente de si requer, segundo Sirota (2012):
“[...] levar a criança a sério;; de a criança falar diretamente, e não simplesmente os adultos, considerando-a como informador credível e pertinente; de não nos interessarmos apenas em quadros institucionais, mas também na vida quotidiana das crianças multiplicando os cenários legítimos e ilegítimos; de fazer aparecer os universos sociais e culturais específicos da infância, nos seus pontos comuns e na sua
127
diversidade; de multiplicar dispositivos metodológicos para captar a palavra e as perspectivas das crianças; de nos interrogarmos eticamente sobre esses modos de captar suas palavras.” A pesquisa nos mostra como as crianças se posicionam e a forma como participam, o como vem se estudando sobre a relação das crianças com seus corpos e desses com os corpos dos bonecos. As pesquisas acerca do corpo de bonecos e bonecas e as crianças apontam que, quando um corpo sai dos parâmetros tidos como ‘normais’, tornam-se o ‘infame’ e passam a não ser aceito. Daí perguntarmos onde, em nossas salas de aula, estão os bonecos ou os livros com personagens negros, gordos, velhos, de óculos, cadeirantes, downs etc.? Estes corpos “anormais” não compõem o universo de brinquedos encontrados nas escolas ou em nossas casas. Tampouco aparecem na maioria dos livros infantis aos quais as crianças têm acesso na escola. De diferentes lugares as crianças aprendem sobre a necessidade de modificarem seus corpos, com o objetivo de parecer o mais possível com os tidos “normais e bonitos”. Assim, ao serem consumidas as imagens e os discursos da mídia sobre corpos “certos” se consome, também, os seus significados, a sua pedagogia de beleza e os modos de ser um tipo de sujeito. Entende-se a partir dos estudos já realizado acerca desse tema que, ainda se faz importante que pais e professores possam desconstruir, reinventar, pluralizar, apresentar diferentes repertórios de brinquedos a serem utilizados nas atividades com bonecos e bonecas. Busca-se com isso colocar em questão os tipos de corpos tidos como “melhores”, tendo em vista que, são nos corpos que se inscrevem nossos modos de ser sujeito. Quando se trata sobre o conceito de raça com as crianças, não se deixa de observar que mesmo que o Brasil seja um país multiracial, as crianças ainda mantém em suas brincadeiras aquilo que aprendem culturalmente e, de algum modo, é através dessas aprendizagens que manifestam seu entendimento acerca dos conceitos de raça, etnia e cor. Mostram-nos o entendimento de que existe uma hierarquia nessa relação entre os sujeitos negros e brancos. Em muitas atividades, no que se referia à divisão de papéis que os bonecos deveriam ocupar nas brincadeiras, esses também tinham funções específicas que historicamente vêm sendo difundidas como as únicas que devam ser ocupadas por homens, mulheres e crianças negras na sociedade brasileira. Melhor dizendo, nas brincadeiras com bonecos brancos e negros, a empregada doméstica, a babá, o chofer, a cozinheira, o menino descalço é sempre um papel ocupado pelos bonecos negros. É interessante salientar nos estudos sobre raça que a maioria das bonecas fabricadas para as crianças brasileiras são “quase” negras, (Souza, 2010), ou seja, são pintadas de marrom ou preto esmaecido, permanecendo, principalmente em seus rostos, as características fenotípicas das pessoas de raça branca. Ou melhor, apenas se tem a preocupação de colorir a pele do boneco, tornando-os um pouco mais escuros para mantê-los o mais possível do normal, do vendável. Quando se trata de brinquedos bonecos e bonecas, a lógica do mercado funciona também dentro da lógica dos corpos vendáveis e os bonecos com corpos diferentes - os bonecos negros acompanham tal lógica. O que se constata quando um boneco “com corpo diferente” surge no mercado, é que ele aparece por sua excentricidade ou como um boneco de coleção, contudo, todos confeccionados com uma produção bem restrita.
128
Tal prerrogativa nos faz constatar como as crianças e seus brinquedos também estão imersas em um jogo de poder em que não somos todos iguais. Observa-se que o público negro, nos últimos anos no Brasil, também passa a ser um de consumidor em potencial. Da atmosfera emocional do ser afrodescendente surge o movimento da valorização estética do biotipo do negro brasileiro. Disso também se aproveita a mídia quando apresenta desde o final da década de 1990, em sua publicidade no cinema e nas revistas, nas telenovelas, imagens voltadas para a valorização do negro brasileiro. Como afirma Sodré (1999), estas se dirigem ao indivíduo negro consumidor em processo de ascensão social. Contudo, tudo isso é expresso pelas crianças em suas brincadeiras com bonecos negros, e em muitas situações, ao se referirem às bonecas negras, as crianças fizeram emergir “marcadores de feiura”, como: “Eu não gosto da cor dela! Se fosse mais clara podia ser bonita!”. Os “marcadores de beleza” ficavam centrados na cor da pele e no tipo de cabelo dos bonecos, como dizia uma menina: “Ele é feio, porque o cabelo dele é duro!”. Ou ainda como fala outra menina: “Ela é feia, porque que ela está com uma pele toda preta.” As falas das crianças demonstram aquilo que lhes é socialmente constituído, ou seja, de que o indivíduo negro tem seu espaço na sociedade circunscrito aos conceitos de não belo, marginal, jocoso, pobre ou excêntrico (Souza, 2010). Pergunta-se: como as crianças vêm sendo constituídas como sujeitos com um tipo de raça? Tomam-se, por exemplo, as histórias infantis européias nórdicas que nossas crianças ouvem sempre, ou mesmo, as histórias das Princesas Disney tão comuns nos filmes, nos produtos de higiene, nos materiais escolares, etc., todas elas mostram fadas e princesas brancas, loiras, com longas madeixas e olhos azuis. Talvez por isso, quando na sala de aula, as meninas entraram num impasse acerca de a fada negra ser ou não uma fada e para que terminassem com o “estranhamento” gerado na brincadeira com uma fada diferente, logo deixaram de lado o problema sobre a cor de seu corpo, resolvendo esta questão trocando imediatamente sua roupa de fada para a boneca branca. Ou seja, as crianças cumpriram a norma daquilo que é comum em seu cotidiano, o “normal”, o “corpo adequado”, que é a fada ter o seu corpo branco. No entanto, podemos afirmar que não somos sujeitos produzidos por um único lugar, observamos que todas as crianças participantes da pesquisa, em algum momento, tiveram contato com outros artefatos culturais como filmes, desenhos, superproduções da Disney, da Pixel ou outra grande corporação cinematográfica, ou de entretenimento infantil. Tais empresas de entretenimento comumente evidenciam a branquidade em seus personagens. Com exceção da princesa negra da comédia de animação “A princesa e o sapo”, na qual a personagem principal é a bela Tiana uma linda e delicada princesa negra. No Brasil, a negatividade atrelada aos corpos negros e seus marcadores, muitas vezes, são tratados de modo a passarem por um processo de “embelezamento”, ou melhor, por um processo de embranquecimento. De algum modo, isso colabora e colaborou para que fosse ratificado um padrão de beleza que exclui tudo aquilo que não remeta ao claro, ao branco. Pensar a questão da raça na pesquisa está a possibilitar um modo de olhar para os conceitos hegemônicos que ditam a “brancura” como símbolo de superioridade da cor da pele branca frente à negra. Ao ouvir, ler e pensar sobre os discursos das crianças a partir das atividades realizadas na sala de aula passa-se a refletir como, num país como o nosso, que foi constituído através de uma miscigenação de raças, se pode continuar
129
colaborando para que as crianças negras continuem sonhando em ter em seus corpos as marcas de uma “normalidade” branca. Agir sobre a ação do outro, é isto que Foucault (1995) nos ensina, quando trata do poder, e é agindo com as bonecas e bonecos que se torna possível às crianças agirem com corpos de cor diferente ou igual aos seus, pensarem seus pensamentos acerca da cor das pessoas e seus bonecos e bonecas. Os saberes que perpassam as questões que se estuda sobre as subjetividades fazem-nos afirmar que estas não são um produto acabado, senão um processo contínuo que nunca se completa, subjetivando-se em seu espaço e tempo. Os sujeitos são, portanto, fluídos e se inventam no transcurso de complexas histórias, fundadas num sentimento de pertença que torna possível o funcionamento da vida, embora estejam sempre afetos a mudanças e revisões, ou seja, são constituídos no interior de jogos de poder. Observa-se que, ao se tentar desconstruir com as crianças, os modos de se brincar com bonecos diferentes, pode-se problematizar, examinar, olhar de modo diferente àqueles que delas diferem. Em nossas pesquisas anteriores ao observarmos as brincadeiras das crianças com bonecos “diferentes” da sua raça, percebemos que elas diziam: ‘tu és a empregada”, “tu não podes ser a princesa”. Essas brincadeiras nos mostram o quanto as crianças vivem cotidianamente um paradoxo de atitudes e sentimentos no que diz respeito a raça, pois em alguns momentos, mostram-se racistas, preconceituosas e, em outros, solidárias, afetivas e corteses com as crianças de raça diferente da sua. Isso exemplifica o modo como nossas subjetividades são produzidas no interior dos jogos de poder. Ao levar para sala de aula de Educação Infantil um saco surpresa que continha uma “Barbie Negra vestida de Fada” se pôde observar como as crianças falavam de si, de sua raça e da raça do outro. Em relação aos bonecos negros se discutiu com as crianças a naturalização da branquidade e do embranquecimento e seu efeito na inferiorização da negritude das crianças negras1. Esta experiência pode servir como sugestão de atividade para os professores, pois a partir dela se conseguiu entender que ao trazer esta Barbie negra para o maternal, propiciou que algumas crianças dissessem: – ela é do mal, ela não podia ser fada porque a pele dela é negra e a gente tinha que se tirar a pele dela e trocar por uma pele branca (Souza, 2010, Dornelles, 2007). Vimos também outra menina falar: – Eu gosto de boneca negra, mas não quero ela para mim porque a mãe fica braba. Eu não posso brincar com ninguém assim, ela não deixa e os desse jeito, ela me contou que são sujos. Cabe indagar quais efeitos estas representações produzem no discurso de meninas e meninos sobre raça? É um tipo de poder que se materializa no momento em que se classifica um determinado sujeito como “o normal” ou de uma etnia, ou raça “melhor”. Daí buscar entender na pesquisa como ao se normatizar, se elege um modo de subjetivação. Entende-se aqui a subjetivação a partir de Foucault “A subjetivação sequer tem a ver com a ‘pessoa’: [...] é uma individuação particular ou coletiva, que caracteriza um acontecimento [...]. É um modo intensivo e não um sujeito pessoal. É uma dimensão específica sem a qual não se poderia ultrapassar o saber nem resistir ao poder” (Deleuze, 1992: 123-124). O que se observa na mídia, na publicidade dos brinquedos que as crianças têm tido oportunidade de brincar, a divulgação e propagação somente dos bonecos brancos. Assim se continua questionando: há na escola infantil a possibilidade de criar um outro estilo de brincar? 1 Ver http://escolaportoalegre.blogspot.com
130
Qual o efeito desta naturalização e generalização do sujeito branco que é ou não, elencado como “o mais belo”, o “melhor”. Como as crianças se posicionam frente ao que é diferente de sua raça? Como historicamente a criança negra vem se tornando “o negativo”, “o diferente”, “o outro”, aquele que precisa viver com e através de sua diferença? Os enunciados até aqui manifestados pelas crianças, o eco que emerge de suas vozes na pesquisa, mostram o quanto as crianças estão sendo constantemente submetidas à normalização de uma etnia ou raça – o branco. Entretanto, as subjetividades étnicas ou raciais referidas pelas brincadeiras com bonecos ou pelo uso dos livros de literatura afro-brasileiras, pela publicidade na mídia, pela sociedade brasileira em geral, apontam que as mesmas não são produtos acabado, fixo, paralisado, senão um processo contínuo que nunca se completa. Isto possibilita que também os sujeitos sejam fluidos e se inventem no transcurso de complexas histórias, fundadas num sentimento de pertença que torna possível o funcionamento da vida, embora estejam sempre afeitos a mudanças e revisões, ou seja, são constituídos no interior de jogos de poder. Mas, entende-se a partir de tais investigações que as diferenças precisam ser compreendidas e analisadas para além da tolerância com a pluralidade, diferenças culturais, raciais ou étnicas, tendo em vista que uma diferença é sempre uma diferença, ou seja, são políticas, permeáveis, que existem independentemente de serem ou não aceitas ou que algum poder as nomeie como aceitáveis ou “normais”. Certamente, esse único modo de se viver a infância através dos seus artefatos culturais, produz efeitos na constituição dos sujeitos infantis desse tempo. De algum modo, as crianças vivem cotidianamente um paradoxo de atitudes e sentimentos no que diz respeito à etnia ou raça e, como já afirmamos anteriormente, em alguns momentos, mostram-se racistas, preconceituosas e, em outros, solidárias, afetivas e corteses com as crianças de raça diferente da sua. Isso exemplifica o modo como nossas subjetividades são produzidas no interior dos jogos de poder e saber. Pois, “Não há saber neutro. Todo saber é político. [...] todo saber tem sua gênese em relações de poder” (Machado, 1998: XXI). Pesquisa com crianças: uma questão metodológica A metodologia utilizada se caracteriza como a de uma pesquisa de triangulação qualitativa entre formação de professores, observação participante, contação de histórias e brincadeiras com os bonecos, expressa através dos seguintes procedimentos: primeiro, fazendo um levantamento de dados sobre a quantidade e número de bonecos que representam os “diferentes” existentes nas salas de aula de Educação Infantil e nas maiores lojas de brinquedos de Porto Alegre/RS/Brasil; segundo, introduzindo os bonecos no cotidiano da ação pedagógica escolar; terceiro, observando e intervindo nas atividades com os livros de literatura afro-brasileira na rotina da sala de aula de educação infantil. A metodologia também se caracteriza por um cunho pós-estruralista. Neste caso particular, recorreremos mais especificamente a Michel Foucault, naquilo que diz respeito às relações poder/saber, governo e produção de subjetividades. Busca-se embasamento nos estudos sobre raça, racismo e preconceito das crianças no Brasil em autores nacionais e estrangeiros, tais como Nilma Gomes, Michel Banton, dentre outros a fim de melhor fundamentar como este processo se produz na Educação Infantil. Ao fazer uso do referencial foucaultiano tratamos de analisar as práticas discursivas e não
131
discursivas que operam para a produção da subjetividade das crianças de 3 a 5 anos. Como e onde se identificam e em que verdades e saberes as crianças se apóiam e como essas ‘verdades’ produzem, regulam controlam e governam as subjetividades raciais infantis. Ao encerrar, sem concluir este artigo que trata da pesquisa com bonecos e livros com crianças, entendemos que ainda é necessário continuar problematizando: por que as crianças muitas vezes se negam a participar de atividades que envolvem bonecos e livros que apresentam corpos diferentes do seu? Talvez tendo a possibilidade de brincar com bonecos e bonecas, manusear livros que fogem ao estilo imposto pelas normas e pelo poder vigente, se venha a construir modos artistas de se brincar. Talvez a produção de um novo estilo de brincar na infância, possibilite a fabricação de sujeitos mais generosos e menos preconceituosos. Que a pesquisa com crianças nos possa mostrar dessa forma que, as crianças, como nos ensina Sarmento (2011: 27), “têm sido silenciadas na afirmação da sua diferença ante os adultos, e na expressão autónoma dos seus modos de compreensão e interpretação do mundo”. E, para um tema ainda tão espinhoso para os brasileiros, elas têm a dizer, basta que a escutemos. Referências: DELEUZE, Gilles (1992) Conversações. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. DORNELLES, Leni Vieira (2007) Infância e subjetividade negra na Educação Infantil. In: “Relatório de Pesquisa” Programa de Pós-graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. DORNELLES, Leni Vieira (2005) Infâncias que nos Escapam: da criança na rua à criança cyber. Petrópolis: Vozes. DORNELLES, Leni Vieira e KAERCHER, Gladis (2011) Projeto de Pesquisa: Qual é a cor da cultura na educação infantil?. Faculdade de Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apoio CNPq FOUCAULT, Michel (1995) Michel Foucault, uma Trajetória Filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica In: DREYFUS, Paul & RABINOW, Hubert. Rio de Janeiro: Forense. FOUCAULT, Michel (1998a) Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes. FOUCAULT, Michel (1998b) Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal. KAERCHER, G. E. P. S. ; DALLA ZEN, Maria Isabel H. (2010) Leituras de crianças sobre a diferença étnico-racial. In: Leituras de crianças sobre a diferença étnico-racial, Caxambu, MG. Educação no Brasil: o balanço de uma década. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro : ANPEd, pp. 1-12. KIRCHOF, E. ; KAERCHER, G. E. P. S. ; BONIN, I. T. ; DALLA ZEN, Maria Isabel H. Literatura infantil e diferenças. Pedagogia para uma sociedade democrática?. In: 16th European Conference on Reading, 2009, Braga, Portugal. 16th European Conference on Reading. Braga, Portugal : IDEC. MACHADO, Roberto (1988) In: Foucault, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal. MEYER, Dagmar Elisabeth Estermann (2003) “Gênero e educação: teoria e política” In: GOELLNER, Silvana V.; LOURO, Guacira; NECKEL, Jane (orgs.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes.
132
PINTO, Manuel (1997) “A Infância como Construção Social”. In: PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel Jacinto (org.). As Crianças: contextos e identidades. Portugal: Uminho/Centro de Estudos da Criança, p. 33-73. SARMENTO, Manuel (2011) “Conhecer a infância: os desenhos das crianças como produções simbólicas” In MARTINS FILHO, Altino e PRADO, Patrícia. Das pesquisas com crianças: complexidades da infância. São Paulo: Autores Associados. SODRÉ, Muniz (199) Claros e Escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Vozes. SOUZA, Fernanda Morais (2010) Revirando malas: entre histórias de bonecas e crianças. (Dissertação de Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade federal do Rio Grande do Sul.
133
A socialização para a excelência na escola pública portuguesa Leonor Lima Torres & José Augusto Palhares Docentes/investigadores do Instituto de Educação da Universidade do Minho [email protected] & [email protected] Resumo: A investigação sociológica realizada sobre a escola tem demonstrado a perda de importância do seu projeto institucional, designadamente na consolidação do ideário que presidiu à construção dos modernos Estados-Nação (Dubet, 2002). No que respeita à sociedade portuguesa, assistimos hoje ao agudizar de uma tensão entre dois pólos de difícil conciliação: por um lado, a necessidade de realizar o projeto da escola de massas conducente à democratização da educação; por outro lado, a pressão política e social para a produção de resultados e para o desenvolvimento do pólo meritocrático (Magalhães & Stoer, 2002; Torres, 2011; Torres & Palhares, 2011). Embaladas por valores de natureza macroestrutural e por orientações de política educativa, muitas escolas públicas têm pendido para este último pólo, reatualizando práticas de distinção académica e convergindo para a afirmação de uma narrativa de excelência, de competitividade e de performatividade. Paulatinamente vêm-se substituindo as preocupações com a cidadania democrática pelas metas de desempenho individual. O objetivo central desta comunicação passa, por conseguinte, pela compreensão das especificidades do processo de socialização resultante da articulação entre as culturas de escola quotidianamente vivenciadas e as disposições inerentes aos distintos percursos escolares dos alunos enquanto jovens. Os dados empíricos que nos propomos discutir resultam de um projecto de investigação em curso numa escola secundária do litoral-norte de Portugal, que desde 2003 instituiu o quadro de excelência e onde já figuraram mais de quatro centenas de estudantes, cujas classificações finais se situaram acima dos 18 valores (numa escala de 0 a 20 valores). Foi realizada uma pesquisa documental aos registos biográficos de todos os alunos laureados, o que permitiu a sua caraterização sociográfica e a reconstrução dos seus percursos escolares, tendo-se inclusive acompanhado o seu ingresso no ensino superior. Realizaram-se entrevistas a alunos e professores e administrou-se um inquérito por questionário a 210 alunos que integraram o quadro de excelência. Será, pois, pela triangulação desta informação empírica que pretendemos problematizar os sentidos actuais da socialização escolar (Dubet & Martuccelli, 1997), jogando aqui a transversalidade das condições sociais dos alunos distinguidos um papel relevante na consolidação da ideologia meritocrática. Referências bibliográficas Dubet, F. (2002). Le déclin de l’institution. Paris: Seuil. Dubet, F.; Martuccelli, D. (1997). A socialização e a formação escolar. Lua Nova, 40-41, 241-328. Magalhães, A.; Stoer, S. (2002). A escola para todos e a excelência académica. Maia: Profedições. Torres, L. L. (2011). A construção da autonomia num contexto de dependências: limitações e possibilidades nos processos de (in)decisão na escola pública, Educação, Sociedade & Culturas, 32, 91-109 Torres, L. L.; Palhares, J. A. (2011). A excelência escolar na escola pública portuguesa: actores, experiências e transições. Roteiro, 36(2), 225-246
134
Conceito de infância pelas crianças: as socializações
Luciana Ponce Bellido Giraldi Doutoranda do curso de Pós-Graduação em Educação Escolar na Universidade Estadual Paulista – Unesp, Campus Araraquara. Bolsista de doutorado-sanduíche pela CAPES e Bolsista Doutorado FAPESP, Grupo de estudos: GEPIFE (Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Infância, Família e Escolarização [email protected]
Resumo: A literatura que trata da relação entre a infância e a sociedade aponta que há um processo de aproximação entre ser criança e ser adulto que pode ser chamado de crise social da infância. De tal modo, foi organizada uma pesquisa qualitativa que utilizou como procedimentos de coleta de dados entrevistas com professores, familiares e alunos, assim como, contou com observações do dia-a-dia escolar. Neste momento os dados apresentados se referem somente às perspectivas dos alunos/crianças sobre o conceito de infância na atualidade com enfoque nas socializações e na individualização dos sujeitos. Portanto, este texto tem como objetivo analisar as concepções de infâncias, tidas pelos próprios alunos-crianças que vivenciam esta fase da vida num determinado contexto social e, pontuar as socializações experienciadas por eles. Os dados apresentados aqui foram obtidos por meio de entrevistas lúdicas realizadas com alunos de um 2º e de um 5º ano. Conclui-se que os discursos das crianças, que participaram deste estudo, se pautaram nas brincadeiras como fonte principal de sua caracterização. As socializações ocorreram na família e na escola não apenas enquanto instituições tradicionais, mas nas relações estabelecidas entre os sujeitos. Também foi possível perceber a comunicação de valores e a separação entre ser adulto e ser criança. Palavras-chave: Infância. Socialização. Crise do conceito de infância. Le concept d’enfance par les enfants : les socialisations
Résumé : La littérature traitant de la relation entre l'enfance et de la société montre qu'il ya un processus de rapprochement entre être un enfant et un adulte qui peut être appelé une crise sociale de l'enfance. De cette façon, a été organisée une recherche qualitative qui a utilisé les procédures de collecte de données provenant d'entrevues avec les enseignants, les familles et les étudiants, ainsi que des observations avaient un jour à l'école de jour. À ce stade, les données présentées se rapportent uniquement aux points de vue des étudiants et des enfants sur le concept de l'enfance d'aujourd'hui, en se concentrant sur la socialisation et l'individualisation des sujets. Par conséquent, cet article vise à analyser les conceptions de l'enfance, prises par les étudiants eux-mêmes, les enfants qui vivent cette phase de la vie dans un contexte social particulier, et le score de la socialisation vécue par eux. Les données présentées ici ont été obtenues grâce aux entretiens menés avec les élèves jouent un 2e et une 5e année. Il est conclu que les discours des enfants qui ont participé à cette étude sont basées sur le jeu comme la principale source de sa caractérisation. La socialisation a eu lieu dans la famille et à l'école non seulement comme les institutions traditionnelles, mais dans les relations établies entre les sujets. Il était également possible de réaliser la communication des valeurs et de la séparation entre un adulte et d'être un enfant. Mots-clés: la petite enfance. Socialisation. Crise de la notion d'enfance.
135
Introdução
Há dois eixos centrais que perpassam o conceito de infância na modernidade. O primeiro é a socialização, atrelada principalmente as instituições sociais, como a escola e a família, em que adultos ensinam maneiras de ser e agir em sociedade para a manutenção e coesão da mesma. E, o segundo, é a individualização, na qual a criança é um sujeito de direitos e um protagonista social. Marchi (s/d), ao analisar estudiosos que discorrem sobre a infância e a sociedade, considerou que há um processo de enfraquecimento das rígidas distinções entre adultos e crianças, afinal, o conceito que envolve a infância passa por mudanças, conjuntamente com outras transformações sociais. Ela ainda afirma que a idéia posta de crise social da infância, expressa neste caso pela proximidade com a vida adulta, não tem o mesmo significado para todos, pois principalmente junto às crianças pobres a idéia de infância ainda não se concretizou. Conforme Kramer (2007) as crianças são sujeitos sociais e históricos, selados pelas desigualdades sociais, pelas contradições e paradoxos da sociedade na qual estão inseridos. Um relatório produzido pelo UNICEF (2009: 25) apontou que apesar de melhoras já conquistadas no Brasil nos últimos anos e expressos nos índices educacionais. Ainda há muito a ser feito pelas crianças, especialmente as que foram historicamente excluídas, afinal 2,4% ainda permanecem fora da escola e este número porcentual contabiliza, em média, 680 mil indivíduos de 7 a 14 anos de idade. Segundo dados do Plano Nacional de Desenvolvimento percebe-se que 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade trabalham no Brasil. Nesta conjuntura, faz-se necessário compreender as vivencias da infância por meio de dados que possam extrapolar as estatísticas como indicam Ferreira e Sarmento (2008), pois estas apontam as médias e, assim, contribuem para dar visibilidade à infância, mas para compreender a diversidade e a complexidade desse período da vida se torna necessário retomar situações de subjetividade infantil numa sociedade enredada. Portanto, este texto tem como objetivo analisar as concepções de infâncias, tidas pelos próprios sujeitos que vivenciam esta fase da vida num determinado contexto social e, pontuar as socializações experienciadas por eles. Parte-se de Abrantes (2011) ao esclarecer que é equivocado conceber a socialização como uma imposição perversa da sociedade sobre o indivíduo, pois este precisa disto para sobreviver e tornar-se pessoa. De tal modo, define socialização como:
“[...] processo de constituição dos indivíduos e das sociedades, através das interações, atividades e práticas sociais, regulado por emoções, relações de poder e projetos identitários-biográficos, numa dialética entre organismos biológicos e contextos socioculturais. Desta forma, os indivíduos vão produzindo a sociedade e sendo produzidos por ela.” (ABRANTES, 2011:135).
Métodos Numa abordagem qualitativa, foi desenvolvido um estudo que tinha como objetivo analisar os diferenciados desempenhos escolares (Giraldi, 2010) dos alunos e considerar a possibilidade de haver mudanças e estabilidades nas concepções e expectativas sobre os resultados de aprendizagem ao longo do ano letivo.
136
Esta pesquisa ocorreu numa escola de Ensino Básico I, num bairro popular, no Interior do Estado de São Paulo, Brasil, com alunos de um 2º e 5º, selecionados, neste caso, por se localizarem no início e a saída do Ensino Básico I1. Os procedimentos de coleta de dados foram: entrevistas com professores, familiares e alunos e observações do dia-a-dia escolar. Participaram deste estudo, duas professoras (responsáveis pelos 2º e 5º anos), cinco professoras que ministravam aulas de reforço escolar e doze alunos com seus respectivos responsáveis familiares. Neste momento os dados apresentados se referem somente às perspectivas dos alunos/crianças sobre o conceito de infância na atualidade com enfoque nas socializações e na individualização; as quais foram obtidas por meio das entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas em gravador digital Voice Recorder VN-3100PC e transcritas de forma integral posteriormente com o auxílio do software gratuito Express Scribe. Os procedimentos éticos foram seguidos e os responsáveis pelas crianças assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Entrevista parcialmente estruturada é definida por Laville e Dione (1999) como aquela que possui questões abertas, preparadas antecipadamente, com total liberdade para mudar a ordem de alguma pergunta ou a retirá-la, assim como acrescentar itens. O roteiro de entrevista compreendeu a utilização de materiais para formulação de rostos com o intuito de facilitar a conversa com as crianças, para que elas pudessem falar e ao mesmo tempo ilustrar pessoas importantes referentes aos temas gerais tratados. Segundo Laville e Dione (1999: 193) “A pesquisa, [...], é um lugar de imaginação: muitos pesquisadores fazem prova disso elaborando maneiras originais e eficazes de abordar o ser humano, seus caracteres, atitudes e comportamentos.” Os materiais utilizados durante as entrevistas foram incluídos ao dialogar com as crianças para facilitar a obtenção de respostas e romper com o tempo da entrevista, a qual poderia esta ser duradoura ou não, sendo que a utilização de imagens tinha o objetivo de diversificar as atividades realizadas e motivá-los a falar sobre diferentes assuntos. As peças usadas foram compostas pela pesquisadora empregando E.V.A. (Etil Vinil Acetato), lã, moldes e tesoura; e incluiu também as peças de um jogo chamado “Brincando com caretas” Toyster. Informa-se que este jogo foi escolhido unicamente por suas peças/imagens relacionadas a rostos expressando sentimentos diversos. Figura 1: Ilustração da caixa do jogo Figura 2: Materiais utilizados
1 Neste caso o 1º ano estava alocado numa instituição de Educação Infantil, então para os alunos e familiares significava que pertenciam àquela unidade, não se caracterizando como Ensino Básico I.
137
As entrevistas foram realizadas no início do ano letivo e estavam divididas em quatro partes: O eu, Meu amigo, A Escola, A família. Essas partes estavam diretamente ligadas à organização de rostos relacionados a cada fato. Todos os rostos representados foram fotografados por uma câmera digital. Destarte, sendo os alunos, sujeitos deste estudo, se considera importante apresentar uma breve indicação das características contextuais que os envolvem.
Quadro I: Caracterização geral do contexto dos sujeitos deste estudo. Criança1 Idad
e Ano
Hist. Esc.
Anos na escola
Freq. a Educ. Inf.
Const. Familiar
Moradores na casa
Quantas pessoas moram na casa
Nível escolar do responsável
Agenor 12 5º C.R. A.E.
6 SIM Ampliada P. M. I. C. S.
10 M – E.F.I
Aurora 10 5º S.R. 4 SIM Recons. Pd. M. I. 9 M – E.F.I incomp.
Beleno 7 2º S.R. 1 SIM Nuclear P. M. I. 6 M – 2º série E.F.I.
Baucis 7 2º S.R. 1 SIM Recons. Pd. M. I. 3 M – 1º série E.F.I.
Laerte 10 5º S.R. 4 NÃO Ampliada. P. M. I. T. 5 P – E.F.I
Leda 10 5º S.R. 2 NÃO Nuclear Matrifocal
P. M. I. 5 M – E.F.I
Mani 7 2º S.R. 1 SIM Ampliada Avó Avô I. P.
5 Avó – 1º série E.F.I.
Messias 7 2º S.R. 1 SIM Nuclear. P. M. 3 M – E.F.
Vitor 10 5º S.R. 4 SIM Matrifocal
M. I. 3 P – 3º série E.F.I
Vitória 10 5º S.R. 4 SIM Nuclear
P. M. I. 4 M – E.F.I
Zeto 9 2º S.R. 1 SIM Ampliada M. Avó Avô I.
5 Avó – 1º série E.M. 1º série
1 Nomes fictícios, atribuídos aleatoriamente aos alunos.
138
Zulu 7 2º S.R. 1 SIM Ampliada M. Avô T. 4 M – E.M.
C.R.- Com repetência, A.E. – Abandono escolar, S.R. – Sem repetência. P – Pai, Pd. – Padrasto, M – Mãe, I – Irmãos, C- Cunhado(a), S – Sobrinho(a), T - Tio. E.F.I – Ensino Fundamental I, E.M. - Ensino Médio.
Discussão As concepções sobre infância passaram por modificações ao longo do tempo, criança não é mais um ser passivo que apenas obedece. Criança se apresenta como sujeito, como indivíduo de direitos e opiniões, como um ator social (Sarmento, 2005). Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Lei nº 8.069, criança é toda pessoa até os doze anos de idade e goza de todos os direitos fundamentais disponíveis aos homens, o que, é claro, inclui o direito à educação.
Art. 4º “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
Para Gimeno Sacristán (2001) o conceito de infância relacionado à proteção, marcado pela preparação e pelo auxílio continua sendo válido ao olhar para a história e para a atualidade da infância, mas é próprio de uma concepção estática de sociedade. “Moldável, dirigível, corrigível ou digna de proteção, a ideia de infância fixa-se se constituindo como fase da vida que condiciona o futuro do indivíduo e da sociedade, [...].” (GIMENO SACRISTÁN, 2001: 39). Kramer (2007) anuncia a importância da autoridade do adulto e das responsabilidades na constituição dessa fase da vida, afirmando que na sociedade atual, em muitos momentos, tem havido uma distorção de papéis na ordem das relações, perdendo-se o diálogo, o estabelecimento de regras e a capacidade de fazer acordos. Contudo, neste estudo, as crianças, ao falarem sobre suas práticas; não destacaram esta percepção. O discurso delas perpassou a divisão de papéis entre adultos e crianças. Neste sentido, torna-se interessante apontar que duas crianças distinguiram o conceito de aluno e de infância os relacionando a fazer o bem, ter ações socialmente corretas, concepções estas que parecem ter sidos advindas das socializações: “Ser aluno é se dar bem com todo mundo, saber ler, escrever. [...]. Ser criança é uma pessoa mais alegre, vem na escola, faz as coisas mais certinha, obedece em casa.” (Fala de Messias).
“Aluno é quando você escreve, (pausa), quando a tia fala com você, ser um aluno bonzinho, eu faço o que a tia fala. [...] Ser criança é ser bonzinho, obedecer a mãe, quando eu era pequeno eu só desobedecia minha mãe, porque eu não sabia.” (Fala de Zeto).
Neste último depoimento é possível perceber que ao falar sobre infância o faz no contexto familiar e ao falar sobre ser aluno o faz no contexto escolar, contudo em ambos era uma fase em que se fazia necessário e importante obedecer. Além disso, criança
139
pode brincar e ir à escola, aluno deve ir à escola. “Aluno escreve e estuda. [...] Criança fica brincando.” (Fala de Beleno). Para a criança os conceitos se unem para o aluno não, aluno é aluno, não é criança. Assinala-se que isso ocorreu ao serem questionados diretamente sobre tais conceitos – infância e aluno, porém ao falarem sobre a escola em geral, local destinado aos alunos, muitos apontaram o brincar dentro dela, não havendo dessa forma uma barreira entre o brincar, o que caracterizou a infância e, ser aluno. “Ser criança é brincar e estudar.” (Fala de Messias). De forma geral, o foco principal das crianças estava na percepção sobre o brincar. “Criança é brincar, brincar, se divertir.” (Fala de Vitor). Para outros, ser criança estava atrelado a ser aluno também: “Tem que aprender a fazer lição, fazer as pazes e sem brigar. (Fala de Baucis).” Acabavam por focar o conceito de infância no brincar e utilizavam este conceito para comparar a vivência de adultos e crianças, atribuindo uma clara separação entre as ações dos diferentes sujeitos: “Criança brinca, adulto não.” (Fala de Aurora);; “Criança ela brinca mais, ela desenvolve mais, ela (pausa) se diverte mais e o adulto não, o adulto tem que trabalhar, ter preocupação.” (Fala de Leda). Na percepção de Kramer (2007: 15), o que caracteriza a criança, independente do seu nível social, é a brincadeira: “[...] seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura”. Isso pode favorecer o entendimento do mundo infantil, sendo, portanto, relevante tratar os alunos também enquanto crianças, o que “[...] implica ver o pedagógico na sua dimensão cultural, como conhecimento, arte e vida, e não só como algo instrucional, que visa a ensinar coisas”. (KRAMER, 2007: 20). Foi citado ainda pelas crianças o conceito de infância relacionado aos cuidados familiares que corrobora com o exposto por Sarmento (2005: 371): “As crianças, pelo menos nos seus anos iniciais de vida, são incapazes de sobreviver sozinhas, impondo o cuidado dos adultos, os quais, por isso, com elas contraem uma obrigação tendencial e progressivamente regulada de protecção jurídica e de defesa ante a vulnerabilidade constitutiva. As crianças, finalmente, possuem modos diferenciados de interpretação do mundo e de simbolização do real, que são constitutivos das “culturas da infância”, as quais se caracterizam pela articulação complexa de modos e formas de racionalidade e de acção.” Inclusive é preciso pontuar que o conceito de aluno também esteve ligado a relacionamentos interpessoais, a escola foi posta como uma fonte de interações sociais.
Considerações finais Os discursos das crianças, que participaram deste estudo, destacaram as brincadeiras como fonte principal de sua caracterização, sendo algo que as distinguiria dos adultos, juntamente com outras distinções, como o trabalho e as responsabilidades dos adultos. As socializações das crianças ocorreram na família e na escola não apenas enquanto instituições tradicionais, mas nas relações estabelecidas entre os sujeitos. Também foi possível perceber a comunicação de valores e apreensão desses pelas crianças ao reproduzirem ideias de disciplina, como foi exposto ao afirmarem sobre a importância em obedecer aos adultos, o que também reforçou a separação entre as fases da vida.
140
Como lembra Abrantes (2011), na sociedade contemporânea as mudanças ocorrem de forma rápida e, sendo assim, há maior complexidade nas relações e múltiplos polos de socialização, os quais podem ser acompanhados inclusive por negociações das normas e sanções e, aceitação do papel dos mais novos na sua própria socialização, o que não indicaria, necessariamente, a perda de autoridade dos adultos. Assim como Marchi (s/d) e, ao considerar esta complexidade exposta por Abrantes (2011), não é possível afirmar que a ideia de crise da infância tenha o mesmo significado para todos. Entretanto, também não é presumível que ela não se faça presente na sociedade. Os dados obtidos aqui apenas indicam que as vozes das crianças, que participaram deste estudo, reconhecem a separação entre elas e os adultos, assim como apontam as múltiplas formas de socialização. Destaca-se que não há a intenção de generalizar estes dados, porém é preciso considerar que neste contexto, o discurso socializador se faz presente na análise das crianças sobre o que significa a infância e suas atribuições e como ser aluno.
Referências
ABRANTES, Pedro (2011) Para uma teoria da socialização. Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Vol. XXI, pág. 121-139. FERREIA, Manuela; SARMENTO, Jacinto Manuel (2008) Subjectividade e Bem-Estar das Crianças: (In)Visibilidade e Voz. Revista Eletrônica de Educação, v. 2, n. 2. Artigos. ISSN 1982-7199. Programa de Pós-Graduação em Educação GIMENO SACRISTÁN, José (2005) O aluno como Invenção. Porto Alegre: Artmed. GIMENO SACRISTÁN, José (2001) A Educação Obrigatória: seu sentido educativo e social. Porto Alegre: Artmed. GIRALDI, Luciana Ponce Bellido (2010) Os níveis diferenciados do desempenho escolar: Analisando estabilidades e mudanças nas concepções e expectativas de professores, familiares e alunos. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Universidade Estadual Paulista. KRAMER, Sonia (2007) A Infância e sua Singularidade. p. 13-32. In: BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do.(org.) Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. –Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 135: II. LAVILLE, C. DIONNE, J. (1999) A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas.(trad. Heloísa Monteiro e Francisco Settineri). Porto Alegre: Artmed, Belo Horizonte: Editora UFMG. MARCHI, Rita de C (s/d).A radicalização do processo histórico de individualização da criança e a “crise social” da infância. Blumenau, mimeo. SARMENTO, Manuel Jacinto (2005) Gerações e Alteridade: Interrogações a partir da Sociologia da Infância. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 361-378. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br, acessado em 22 de set. de 2009.
141
Novas formas de sociabilização Luzia de Oliveira Pinheiro Universidade do Minho1 [email protected] Maria Odete Coelho Universidade do Minho2 [email protected] Resumo: Na era da comunicação mediada pelo ecrã assistimos à possibilidade de comunicar em tempo real independentemente da distância geográfica em que nos encontramos e independentemente também da existência, ou não, de uma relação face-a-face. São dois indivíduos que comunicam, trocando palavras, construindo e reconstruindo laços e afectos. As redes sociais vieram possibilitar uma sociabilização que de outra forma não seria possível. Nesse sentido questionámo-nos sobre em que medida redes sociais como o Facebook, o Hi5 ou o Orkut contribuem para a sociabilização de jovens, adultos e idosos. A generalização da utilização destas redes sociais possibilitou encontros e reencontros. Amigos distanciados por circunstâncias diversas voltam a encontrar-se e a trocar experiências. Desconhecidos começam a trocar mensagens do nada e ficam amigos para a vida. Nesse sentido foi levado a cabo um trabalho extenso de revisão bibliográfica sobre as investigações e artigos publicados sobre a temática das novas formas de sociabilidade emergentes com a massificação do uso das redes sociais. Palavras-chave: novas formas de sociabilidade; redes sociais; comunicação. Nouvelles formes de sociabilisation Résumé : Dans l’ère de la communication médiatisée par l’écran, nous assistons à la possibilité de communiquer en temps réel indépendamment de la distance géographique, indépendamment de l’existence, ou pas, d’un rapport face-à-face. Ce sont deux individus qui communiquent, qui échangent des mots en construisant et reconstruisant des liens et des engagements. Les réseaux sociaux ont possibilité une socialisation qui, autrement, ne serait pas possible. En ce sens, nous nous sommes questionnées sur la mesure dans laquelle les réseaux sociaux comme Facebook, Hi5 ou Orkut contribuent à la socialisation des jeunes, des adultes et des plus âgés. L’utilisation généralisée de ces réseaux sociaux ont permis des unions et des ré-unions. Des amis distancés par plusieurs raisons peuvent se retrouver et échanger leurs expériences à nouveau. Dans ce sens, nous avons effectué une revue de la littérature sur les recherches sur ce thème ainsi que sur les articles publiés sur les nouvelles formes de sociabilité et sur l’utilisation généralisée des réseaux sociaux. Mots-clés : nouvelles formes de sociabilité, réseaux sociaux, communication.
1 Doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, Mestrado em Sociologia do Desenvolvimento e Políticas Sociais e Licenciatura em Sociologia. 2 Mestranda em Sociologia do Desenvolvimento e Políticas Sociais na Universidade do Minho, Licenciada em Sociologia.
142
Desde sempre o homem sentiu necessidade de comunicar. O Homem não seria homem se não comunicasse. Durante séculos, o tempo e as barreiras geográficas constituíram um dos nossos maiores desafios. Comunicar à distância era um acto de paciência e de sorte. Muitas eram as cartas que não chegavam ao destino ou já demasiado tarde. A mudança de cidade ou de país era sentido como um exílio, uma vez que iriamos perder o contacto com aqueles que até então constituíam o nosso círculo de amizades. No entanto, no que respeita à evolução, o céu é o limite e, tal como Raúl Junqueiro (2002) reflecte, todos os dias a todas as horas um cérebro em alguma parte do mundo está a engendrar articuladamente um plano que, por conseguinte, se poderá transformar numa ideia, ideia essa que tem por base simplificar a vida do ser humano. A Internet veio revolucionar a forma de comunicar, e sobretudo a sua frequência. Pode-se hoje afirmar que as redes sociais poderão ser consideradas imprescindíveis para quem as utiliza. Mas em que medida o Facebook criou uma nova forma de socialização?
A socialização pode ser definida “como o processo pelo qual alguém aprende os caminhos de uma determinada sociedade ou grupo social para que ele possa funcionar nela. A socialização inclui a aprendizagem e a interiorização dos padrões adequados, valores e sentimentos.” (Elkin, 1960: 4).
No Facebook não existe um indivíduo isolado porque este faz parte de um grupo ou grupo de pessoas. Mesmo que não esteja inserido como amigo e se encontre “isolado”, sem amigos, pode sempre controlar a vida dos outros e interrogar. Porque, apesar da privacidade ser um tema crucial, os perfis do Facebook são como pequenos livros para o espectador que se encontra do outro lado do ecrã. Este espectador apreende como os outros vivem, o que comem, com quem estão, que desporto fazem, que religião praticam, que comentários de amizade fazem com outros e no final que fotografias têm no perfil. Sabem ainda se estão casados, solteiros ou à procura de amizade ou de um par. Mesmo que o seu anonimato seja criado por um falso perfil, existe sempre a possibilidade desse anonimato ser desvendado quando se conhece o endereço e-mail de uma suposta pessoa, coloca-se o endereço de e-mail e aparece a personagem fictícia criada no Facebook. Se antigamente o pressuposto de que os mais velhos não se adaptavam aos computadores era um facto, hoje esse pressuposto é varrido quando se pensa no Facebook e no número de idosos que o utilizam activamente, tal como revelou um estudo feito no Brasil (WebConsult, 2010). Pode-se assim dizer que o Facebook pode ter facilitado a integração dos mais idosos no mundo do ecrã e dos computadores, sendo que, segundo a AARP (Associação Americana de Aposentados), isso contribui significativamente como uma forma de diminuir a solidão que muitos sentem (WebConsult, 2010). Esta opinião é partilhada por White et al. (1999) que defende que a utilização da Internet e das redes sociais pelos idosos actua como um antídoto para a solidão e mesmo para a depressão, tendo em conta que permite interagir e comunicar, independentemente de onde se esteja. As redes sociais permitem também conviver com outras pessoas sem se sair do local onde nos encontramos o que, no caso de pessoas com mobilidade reduzida, é significativamente positivo. No entanto, além das visíveis vantagens da utilização do socialsoftware pelos mais idosos, também os jovens e as crianças recorrem a esta ferramenta. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2005, os estudantes que usam as redes sociais fazem-no maioritariamente para fins lúdicos, sendo que, por sua vez, os não-estudantes recorrem a
143
elas principalmente para comunicar (Miranda; Farias, 2009: 389). Mas este estudo vem levantar uma questão importante: entre os estudantes incluem-se crianças a partir dos 6 anos de idade. Apesar de não existirem dados sobre a presença de menores de 12-13 anos nas redes sociais (idade mínima que a maioria das redes aceita para criação de perfil) sabe-se que eles as utilizam. É possível encontrar crianças muito novas a utilizar socialsoftware. Crianças de 6-7 anos escondem-se atrás de perfis falsos com idades fictícias de 17, 18, 20 anos ou mais. Só que quando se olha para a foto do perfil se vê que são crianças. Embora o Facebook diga que é só a partir dos 13 anos que as crianças podem criar um perfil, a verdade é que isso não impede ninguém de inventar uma data de nascimento falsa. Os supervisores do Facebook (e de outras redes sociais) podem fazer olhos cegos a essa situação. Mas de certa forma, a utilização desta rede social por crianças é um tanto cultivada, tendo em vista o tipo de jogos que são colocados: alguns deles são mesmo típicos de crianças e não de adolescentes. Daí, digamos que o convite é feito mas a autorização não é dada formalmente, mas informalmente, ao colocarem jogos infantis. Desta forma, o público é manipulado e aprende desde muito jovem a mentir sobre a sua identidade. Este processo poderá ser maléfico para a sociedade em que as máscaras tendem desde tão jovens a serem cultivadas. Por outro lado as crianças aprendem com esses jogos a partilha e tomar conta na hora, por exemplo, uma certa responsabilidade social que devem ter com os seus animais em jogos como o FarmVille e que devido às cidades de hoje nem todas as crianças conseguem ter um animal de estimação. É certo que o aparecimento do Facebook transformou-se num contágio social. Nele encontram-se indivíduos de todas as idades, religiões e países. Mesmo tendo uma idade limite para se fazer parte dele, existem crianças inseridas dentro dele porque o convite dos jogos é muito elucidativo. Muitos pais vêem o Facebook como algo inofensivo, sendo que as crianças acedem a ele só para jogarem. Desta forma os utilizadores são ilegais nesse mundo social. Ilegais também nas falsas personalidades criadas no seu interior. A sociabilização de crianças tão jovens e mesmo de adolescentes através das redes sociais pode ser problemático sem uma supervisão paterna atenta. Nem sempre o que se aparenta ser é o que se é. Entre os perfis falsos de crianças também os há com o objectivo de permanecerem anónimos ou para mascarar predadores sexuais. As pessoas que querem ser anónimas e criam um falso perfil podem também ter interesse de controlar outras e infiltrarem-se no meio para receberem informações. Os mais velhos devido ao isolamento das cidades de hoje vêem-se convidados a entrarem no Facebook porque este é como um antídoto à solidão e ao isolamento, fazendo com que não se sintam tão sós no meio da multidão anónima. Daí que no Facebook, afinal, até se criem amizades porque quando existe entre duas partes a disponibilidade para dar atenção ao outro a amizade é criada. Assim sendo, podemos ver que o Facebook veio revolucionar a forma como nos relacionamos: a nossa página pessoal está “recheada” de amigos, conhecidos, desconhecidos, amigos dos amigos, entre outros. Estabelecemos conversas, debatemos ideias, trocamos “smiles”, encontramos amigos perdidos no tempo. Sim, isto é uma forma de sociabilização da modernidade. Num momento estamos em nossa casa sozinhos a falar através de um interface com alguém, no momento seguinte estamos num café num processo de sociabilização face-a-face com essa pessoa. Na era da comunicação mediada pelo ecrã assistimos à possibilidade de comunicar em tempo real independentemente da distância geográfica em que nos encontremos. Desta forma, com o desenvolvimento e enraizamento das tecnologias de comunicação e
144
informação no nosso quotidiano, o longe transformou-se em perto, num “não vá: telefone” ou “mande um email que é mais rápido”. À primeira vista isso pode parecer distante ou impessoal mas nem sempre é assim. As redes sociais, como é o caso do Orkut, Hi5 e Facebook foram criadas com a finalidade de serem espaços de comunicação e interacção (Brandtzaeg; Heim, 2007). Tal como Castells (et al., 2009) salienta, as tecnologias são parte do nosso quotidiano, tendo vindo a ser modificadas de forma a responder quer às nossas necessidades mais básicas, quer às mais extravagantes. Como defendem Renato Miguel do Carmo, Daniel Melo e Ruy Blanes (2004), “não estaremos mais sozinhos”. Apesar de haver opiniões divergentes relativamente aos efeitos das novas tecnologias de comunicação no ser humano, é evidente que o telefone, a Internet e as redes sociais foram criados com o objectivo de colmatar as nossas necessidades comunicacionais. Além de nos aproximar, ao permitir contactar em tempo real com alguém muito distante geograficamente, a Internet possibilita manter contactos regulares com amigos e colegas, conhecer pessoas novas com interesses semelhantes aos nossos, ou seja, criam condições para interagirmos. Barabási (2003) considera que a utilização das redes sociais não é aleatória, na medida em que quantas mais conexões, maiores são as oportunidades de novas conexões. O Facebook, é uma rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg e alguns amigos da Universidade de Harvard, “que criaram um site para que pudessem comunicar entre si, partilhar informação académica, enviar mensagens e publicar fotografias” (Patício; Gonçalves, 2010: 6). No domínio das redes sociais o Facebook tornou-se num meio de divulgação, partilha e aprendizagem, onde podemos selecionar temas de interesse, contactar os autores. A sua popularidade reside sobretudo na sua simplicidade e atractividade. Se nos debruçarmos para o exemplo das escolas, existem várias formas de comunicação e interacção disponibilizadas, mas o Facebook cativa de forma impar, aproxima e cria laços. Assim, os alunos têm mais contacto com a informação, conhecem mais de perto os seus professores, sabem quem são, de onde provêm, quais os seus interesses. Tais conhecimentos trazem uma vantagem para os contactos futuros, quando estamos face-a-face. O Facebook possui, assim, algo extraordinário: um poder catalisador, atractivo e essencialmente comunicativo. Vejamos o exemplo do uso do socialsoftware em contextos académicos: cada vez mais assistimos a debates, troca de informações e de ideias, que, de outro modo, não aconteceriam. Manuel Castells (2004) e Pierre Lévy (1997) são dois autores que salientam a importância das tecnologias para a nossa sociedade, uma vez que aproximam pessoas com iguais interesses. Por exemplo, cada utilizador do Facebook escolhe os conteúdos a publicar, os temas, e em fracções de segundos tem um feedback por parte de pessoas com os mesmos interesses, de várias formas, quer por meio de um “like”, um comentário ou mesmo partilhando essa publicação. Daqui poderá resultar uma forma particular de interactividade, que podemos apelidar de interacção por interesse temático, pois sabemos que determinada pessoa gosta de poesia, porque a publicou, e por conseguinte, à partida, terá livros com esta temática, pelo que se intuiu que nos poderá ser útil nessa linha. No entanto, assiste-se cada vez mais no Facebook ao despoletar de vários fenómenos que se caracterizam pela sua complexidade e polémica. Pode-se mesmo dizer que a polémica destes casos não se deve tanto ao uso das redes sociais mas por ser mediático e aberto a um público imprevisível. Por exemplo, 25% dos usuários do Facebook admitem ter alterado o seu estatuto de “comprometido” para “solteiro” sem dar a conhecer esse facto â outra pessoa. Ou seja, a outra pessoa descobriu que o seu relacionamento tinha terminado através do Facebook (OlharDigital, 2011). Outro caso
145
que tem vindo a causar polémica é o facto de 1 em cada 5 divórcios nos EUA ser causado pelo Facebook, após descoberta de casos de traição através do mesmo, sendo ainda o site utilizado como prova (OlharDigital, 2011). As polémicas sobre o uso das redes socias e os relacionamentos têm conhecido também casos atravessados por atitudes possessivas, como é o caso de usuários que se queixam da pressão exercida pelos seus companheiros, no intuito de deixarem de utilizar a rede. Sarchel Necesio (2011) aborda claramente esta questão e refere mesmo que “tudo em excesso faz mal”. Segundo o Jornal SOL (2012), apesar das redes sociais poderem ser usadas tanto de forma negativa como de forma positiva, um estudo feito nos EUA pela PEW INTERNET, revelou que a maioria dos indivíduos têm experiências consideradas positivas. No geral, os inquiridos relatam, conversarem com pessoas descritas como “simpáticas”, porém alguns dos indivíduos revelam que além de contactar com pessoas “simpáticas”, também já tinham assistido a “comportamentos cruéis ou perto disso”. Assim sendo, e em forma de conclusão, as redes sociais permitem-nos comunicar, partilhar, contactar e descobrir pessoas com interesses semelhantes. No entanto, não devemos ser ingénuos ao utilizar o socialsoftware. Nem sempre a comunicação com outra pessoa é uma experiência positiva, como o podemos constatar no caso das experiências de cyberbullying (Pinheiro, 2009). Se as redes possibilitam a interacção e permitem descarregar o stress do dia-a-dia, acarretam também problemas. Seria importante dar atenção aos microgrupos de crianças que se encontram no Facebook a partir dos 5 ou 6 anos de idade, escondidas no seu perfil fictício, mas interagindo com um mundo de adultos que poderá ser mesmo perigoso, sobretudo com pais ou parentes negligentes. Sabe-se que a venda do corpo está também presente no Facebook, com fotos sensuais, onde os corpos não aparecem totalmente desnudados. Desta forma, não existe um filtro para os mais jovens e estes tornam-se tanto vítimas de fotos colocadas por pessoas sem segundas intenções, quanto presas de predadores que se encontram na rede, escondidos por perfis falsos e conversas muito persuasivas que as crianças não têm ainda experiência para identificar. Como podemos constatar, interagir nas redes sociais é uma experiência enriquecedora e positiva tal como interagir face-a-face, no entanto é importante não esquecer que os desafios que enfrentamos no face-a-face também estão presentes nas redes sociais, pelo que devemos fazer uma utilização consciente desta ferramenta que nos veio permitir experiências únicas. Nesse sentido, deixa-se em aberto a importância de aprofundar mais o tema em futuros estudos. Bibliografia BORSA, J. (2007) O papel da escola no processo de socialização infantil. [Retrieved] http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0351.pdf [Fevereiro 2012]. BRANDTZAEG, P. B.; HEIM, J. (2007). Initial context, user and social requirements for the Citizen Media applications: Participation and motivations in off- and online communities. Citizen Media Project . CARMO, R. M.; MELO, D., BLANES, R. L. (2008) A globalização no divã. Lisboa: Tinta da China. COSTA, P. (2011) Fidelidade e Pós-Modernidade. Sítio do Livro: Lisboa. CUERVO, A.H. (2000) "Imágenes de la vejez y nuevas tecnologías". In Rev. Tiempo, n.4. [Retrieved] http://psiconet.com/tiempo/educacion/imagenes.htm [Setembro 2007]
146
ELKIN, F. (1960) The Child and Society: The Process of Socialization. New York: Random House GOMES, L. (2010). Implicações políticas das relações de amizades mediadas pela Internet. Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia: São Paulo, Brasil. IBGE (2005) Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 2005. [Retrived] http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet/default.shtm [Março 2012] JUNQUEIRO, R. (2002) A idade do conhecimento. A nova era digital. Lisboa: Notícias Editora MAGALHÃES, L. (2010) Socialização e formas de sociabilidade. [Retrieved] http://www.slideshare.net/larissamagalhaes/socializaao-e-formas-de-sociabilidade [Fevereiro 2012] MIRANDA, L.M.; FARIAS, S.F. (2009) "Contributions from the internet for elderly people: a review of the literature". In Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.13, n.29, p.383-94, abr./jun. MOLLO-BOUVIER, S. (2005). Transformação dos modos de socialização das crianças: uma abordagem sociológica. [Retrieved] http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a05v2691.pdf [Fevereiro 2012]. NECESIO, S (2011). Não tenho Facebook, Orkut, Hi5, Twitter por medo do namorado. [Retrieved] http://www.platinaline.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3304:nao-tenho-facebook-orkut-hi5-twitter-por-medo-do-namorado&Itemid=5 [Março 2012] OLHAR DIGITAL (2011) 10 coisas que você não sabe (ou não se importa) sobre o Facebook. [Retrieved] http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/noticias/10-coisas-que-voce-nao-sabe-ou-nao-se-importa-sobre-o-facebook/parte/1 [Março 2012]. OLIVEIRA, L. (2008) A socialização na Internet: da convivência pessoal ao relacionamento virtual. [Retrieved] http://www.slideshare.net/LinoOliveira/a-socializacao-da-internet-2583361 [Fevereiro 2012]. PATRÍCIO, M. R.; GONÇALVES, V. (2010) Utilização educativa do Facebook no ensino superior. [Retrieved] http://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/2879 [Março 2012]. PEW INTERNET; AMERICAN LIFE PROJECT. (2000)."Tracking online life: how women use the internet to cultivate relationships with family and friends". In Online Internet Life Report. [Retrieved] http://www.pewinternet.org/PPF/r/3/press_release.asp [Agosto 2007] PINHEIRO, L. (2009) Cyberbullying em Portugal: uma perspectiva sociológica. Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais: Braga [Retrieved] http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9870/1/tese.pdf [Fevereiro 2012]. SANTANA, C. (s/d) Redes sociais na Internet: potencializando interacções sociais. [Retrieved] http://www.hipertextus.net/volume1/ensaio-05-camila.pdf [Fevereiro 2012]. SOL (2012) A maioria dos utilizadores das redes sociais diz ter experiências positivas. [Retrieved] http://sol.sapo.pt/inicio/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=41210 [Março 2012]. WEBCONSULT (2010) Pesquisas revelam que 3ª idade chegou à internet e convívio muda cotidiano. [Retrieved] http://www.webconsult.com.br/blog/pesquisas-revelam-que-3-idade-chegou-a-internet-e-convivio-muda-cotidiano/ [Março 2012].
147
WHITE, H. et al. (2002) "A randomized controlled trial of the psychosocial impact of providing internet training and access to older adults". In Aging Ment. Health, v.6, n.3, pp. 213-221.
148
A Internet como vetor de novas socializações: a dialética do real e do virtual Mafalda Silva Oliveira Universidade do Minho [email protected] Resumo: Considerando que os novos dispositivos tecnológicos, particularmente a Internet, permitiram gerar novos meios de comunicação e, consequentemente, novas formas de socialização, nesta comunicação pretende-se caracterizar as comunidades virtuais, bem como as relações virtuais. Far-se-á a distinção entre as socializações virtuais e as socializações face-a-face. A Internet contribuiu para a diminuição das socializações tradicionais, de que dá conta a noção de “privatização” da socialização. Mas, por outro lado, a Internet conduziu à formação de novas redes pessoais e coletivas. Constatamos que o declínio das relações sociais tradicionais, induzido pelo progresso tecnológico e pelo crescimento económico, é apenas parcial. Pois, não há uma inteira rutura com as interações face-a-face. Uma das questões que interessam ao sociólogo é perceber se, de facto, a convivência que os seres humanos mantêm nas comunidades virtuais, no quadro daquilo que se chama de modernidade tardia, origina novas formas de socialização, ou seja, novos tipos de interação num espaço comum, que é o ciberespaço. Esta comunicação terá como base os resultados da investigação levada a cabo no quadro do doutoramento em Ciências da Comunicação. Serão referenciados autores como Dominique Wolton, Gustavo Cardoso, Manuel Castells, Pierre Lévy, entre outros. Palavras-chave: Real; Virtual; Socializações; Internet L’Internet comme vecteur de nouvelles socialisations : la dialectique du réel et du virtuel Résumé : En considérant que les nouveaux dispositifs technologiques, et en particulier l’Internet, permettent de créer de nouveaux moyens de communication et, par conséquent, de nouvelles formes de socialisation, cette communication a pour but de caractériser les communautés virtuelles, ainsi que les relations virtuelles. Nous ferons une distinction entre les socialisations virtuelles et les socialisations face-à-face. L’Internet a contribué à la baisse des socialisations traditionnelles, dont rend bien compte la notion de “privatisation” de la socialisation. Mais, d’autre part, Internet a également conduit à la formation de nouveaux réseaux personnels et collectifs. Nous notons que le déclin des relations sociales traditionnelles, induites par le progrès technologique et la croissance économique, ne sont que partiels. Par conséquent, il n’y a pas de rupture totale avec les interactions face-à-face. L’une des questions qui intéressent le sociologue est de comprendre si effectivement la sociabilité des personnes au sein des communautés virtuelles, dans le cadre de ce que l’on appelle la modernité tardive, crée de nouvelles formes de socialisation, c’est-à-dire de nouveaux types d’interaction dans un espacé commun, qui est le cyberespace. Cette communication sera basée sur les résultats des recherches entreprises dans le cadre du doctorat en Sciences de la Communication. Des auteurs comme Dominique Wolton, Gustavo Cardoso, Manuel Castells, Pierre Lévy, entre autres, seront mis à contribution. Mots-clé : Réel, Virtuel; Socialisations; Internet
149
1. Introdução Inicialmente, a Internet começou por ser uma rede de computadores, criada pelos E.U.A., com o objetivo de alcançar “a superioridade tecnológica militar sobre a União Soviética” (Castells, 2007a: 26), bem como “repartir o tempo de trabalho on-line dos computadores entre vários centros de informática interactiva1 e grupos de investigação da agência [Advanced Research Projects Agency]” (ibidem). Nos dias que correm, a Internet é já encarada não só como um mero meio de comunicação, mas igualmente de informação, de entretenimento e de partilha. Tal como afirma Manuel Castells, a Internet passou a ser “a espinha dorsal da comunicação global mediada por computador” (Castells, 2007b: 455). Com a evolução das novas tecnologias de comunicação e de informação, e o aumento exponencial do uso da Internet, a interação social modificou-se e entrou num processo de transformação contínuo. Com efeito, a Internet passou a ser um meio através do qual muitos atores sociais estabelecem relações sociais distintas das relações habitualmente estabelecidas, as relações face-a-face. De facto, este meio caracterizado pelos seus elementos terem existência só dentro de um ecrã, contribui para que o Homem estabeleça relações em dois espaços diferentes: o meio real e o meio virtual. Apesar de Pierre Lévy afirmar que o virtual e o real não são dois conceitos opostos (Lévy, 2001: 12), o certo é que o senso comum ainda vê estes dois espaços como distintos. Assim, neste artigo, é pretendido mostrar que cada vez mais há uma indiferenciação entre o que é real e o que é virtual, reforçando a ideia da complementaridade entre ambos, bem como evidenciaremos a importância das comunidades virtuais nas socializações dos tempos pós-modernos. Para tal, tentaremos explorar determinados casos que eliminam a barreira entre o real e o virtual e cujos observamos diretamente online, como por exemplo, as redes sociais e os videojogos, em geral. 2. O Real e o Virtual O virtual, segundo Pierre Lévy, pode ser definido em três sentidos, um sentido técnico, ou seja, aquele que está mais ligado ao meio informático; um sentido corrente, em que o virtual é visto como o oposto à realidade; e, por fim, num sentido mais filosófico, em que o virtual é aquilo que “só existe em potência e não em acto” (Lévy, 2000: 51). Salientamos que o virtual que teremos em conta para esta análise é o virtual associado ao meio digital, ao ciberespaço, ou seja, à vida online, ligado preferencialmente à Internet. Convém deixar clara esta ideia, pois o virtual pode estar associado a outras questões do dia-a-dia como, por exemplo, os colecionadores de selos. De facto, estes formam uma comunidade virtual quando, para além de trocarem selos pessoalmente com membros de associações filatélicas, trocam também correspondências com pessoas anónimas, onde indicam tipos de selos que ainda não possuem nas suas coleções e onde trocam esses mesmos selos. Segundo Pierre Lévy, o virtual não tem um lugar certo, fixo, e os membros que se encontram no virtual constituem uma cultura nómada, na medida em que as relações sociais que praticam são caracterizadas por quase ausência de inércia. Para melhor explicar o virtual, este mesmo autor afirma que uma comunidade virtual é formada por 1 As citações transcritas ipsis verbis mantêm a sua versão original, não tendo sido submetidas às correções decorrentes do novo acordo ortográfico.
150
membros que partilham interesses e problemas comuns e onde não há um “lugar de referência estável” (Lévy, 2001: 18-20). De facto, independentemente do lugar, o cibernauta encontra-se com os seus amigos, nas suas redes sociais, onde partilha ideias e gostos comuns. Assim, Gustavo Cardoso salienta que o virtual não é um mero conjunto de cibernautas como “processadores solitários de informação” (Cardoso, 1998: 25). Estes são seres sociais que, para além de procurarem informação, desejam encontrar um sentimento de pertença a um determinado grupo, a uma comunidade. Grupos e comunidades esses que variam e podem ser mais abertos ou mais fechados, mais efémeros ou mais duráveis, mais frágeis ou mais sólidos. De facto, o mundo virtual é também visto como um lugar de encontro, de partilha, de trocas de experiências, de gostos, de práticas sociais, de ideias, de fantasias, ou seja, tal como afirma Michel Maffesoli, “o virtual das ciberculturas é efectivamente uma maneira de exprimir o desejo de estar-juntos” (Maffesoli, 2009: 192). Assim, na nossa ótica, o virtual pode ser considerado um lugar. De facto, Marc Augé define os lugares em oposição com o conceito de não-lugar. Quando o autor se refere aos não-lugares, dá exemplos como os supermercados, os aeroportos, as autoestradas, as cadeias de hotéis, e outros, ou seja, são lugares de passagem que remetem para a individualização, para a solidão, para o narcisismo (Augé, 2005: 67-68). No não-lugar as relações sociais são de teor mais contratual. Aliás, os não-lugares substituem as relações sociais por textos anónimos ou simplesmente por símbolos, para instruções de uso: tome a fila da direita; é proibido fumar; está a entrar em x região, à semelhança dos painéis que se encontram nas saídas das autoestradas bracarenses: Braga, cidade do Barroco. A autoestrada é precisamente ideal-típica do não-lugar, no sentido em que contorna os lugares históricos e que está repleta de imensas indicações, de textos anónimos. No entanto, a autoestrada comenta e descreve esses lugares e, assim, a área de serviço onde se vendem mapas e panfletos da região pode ser assemelhada às antigas casas da cultura. No hipermercado, as relações são substituídas pelas etiquetas de preços, pelas indicações das diversas áreas alimentares, bem como a própria manipulação do cartão de crédito. Estes textos são os elementos que lembram ao utilizador a sua relação contratual. Como menciona Augé, “o contrato refere-se sempre à identidade daquele que o subscreve”, por exemplo, para aceder à sala de embarque do aeroporto, é necessário primeiramente apresentar o bilhete no check in (Augé, 2005: 86). Os não-lugares são característicos da sobre-modernidade, que se caracteriza por três figuras de excesso: a superabundância de acontecimentos, a superabundância espacial e a individualização das referências (Augé, 2005: 37-38), no sentido em que cada um interpreta as informações de que dispõe em vez de acreditar num sentido comum produzido pelo grupo. Assim, Augé define o não-lugar da seguinte forma: “se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar” (Augé, 2005: 67). Assim, e tendo em conta a definição de lugar e de não-lugar de Marc Augé, o virtual pode ser associado a um lugar. Se, para o autor, o não-lugar remete para a individualização, o virtual, apesar de poder ser acedido no meio físico individualmente, é cada vez mais um lugar de partilha onde se favorecem as relações sociais. Este facto é particularmente notório com as redes sociais e os videojogos. Estes lugares virtuais propiciam tanto a formação de laços fortes tal como nos lugares descritos por Augé. As
151
relações que permanecem atualmente no mundo virtual não são relações contratuais, características dos não-lugares, remetem sim para relações de sociabilidade, para “uma partilha de emoções, para aquilo a que Max Scheler chamou «excitações colectivas» e Maffesoli «narcisismo tribal»” (Rabot, 2009: 435). Esta ideia mostra-nos, com efeito, que os lugares reais estão cada vez mais semelhantes com os lugares virtuais. O virtual pode ser definido como um lugar virtual, se bem que não apresenta, na sua totalidade, as características que Augé confere ao lugar. Para o autor, o conceito de lugar consuma-se “na convivência e na intimidade cúmplice dos locutores” (Augé, 2005: 67), ou seja, prevalece o convívio e é um sítio habitado. Com efeito, a conivência pode coexistir e compor com a ausência, com “a fraternidade das relações directas e recíprocas entre indivíduos” (Weber, 1974: 96). O sucesso do uso da Internet e das consequentes relações virtuais pode ser explicado, segundo Dominique Wolton por três aspetos fundamentais: a autonomia, o domínio e a rapidez (Wolton, 2000: 77). De facto, o uso da Internet significa liberdade e capacidade de dominar o tempo e o espaço. E o facto de ser em tempo real, ou seja, de se poder contactar com alguém do outro lado do mundo em tempo real, é, para Wolton, um dos fatores mais importantes para o grande sucesso das novas tecnologias de comunicação. Para além destes três conceitos enunciados por Dominique Wolton, acreditamos que há um outro aspeto que pode explicar o sucesso do uso da Internet e, consequentemente, da navegação no mundo virtual, a resposta às necessidades. Com efeito, as inovações tecnológicas são cada vez mais pensadas de forma a se moldarem às necessidades pessoais (como a compreensão de si mesma, o escape emocional, etc.), e sociais (como a aquisição de conhecimentos do Mundo, o fortalecimento de ligações com familiares e amigos, entre outras). De facto, o virtual é constituído por uma vasta gama de serviços que permitem ao cibernauta encontrar o que procuram e até mesmo o que não procuram. Desde a pesquisa de informação variada à troca de mensagens ou a discussão em chats e fóruns, passando por questões comerciais, o cibernauta perde-se numa parafernália de serviços que comporta o mundo virtual. São vários os estudos que indicam que, por entre os diversos serviços oferecidos pela Web, o mais requerido é o correio eletrónico, bem como todas as ferramentas vinculadas a ele (Wolton, 2000: 78; Cardoso et al., 2005: 165). A escolha preferencial por este serviço pode ser explicada, tanto pelo facto de possuir várias tarefas, bem como por não ter qualquer tipo de delimitação, quer ao nível do tempo ou do espaço. Mas está longe de ser o único serviço mais requerido. Tal como o telespectador com a Televisão, o cibernauta com o virtual faz zapping por inúmeros sites, sem objetivos concretos (Cardoso, 2005: 166). O meio virtual agregado aos meios tecnológicos, como o computador e a Internet, permitem que os cibernautas estabeleçam contactos com pessoas de culturas diversas, situadas em espaços físicos diferentes, em tempo real, partilhando interesses comuns em comunidades virtuais com que se identificam. Tal como afirma Pierre Lévy, “as tecnologias do digital apareceram então como a infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transacção, mas também novo mercado da informação e do conhecimento” (Lévy, 2000: 35). Após explorar o conceito de virtual, será agora importante mencionar o que consideramos ser o real. O real, na nossa perspetiva, e tendo em conta que nos propomos a analisar a socialização online, o real será todo o envolvente da socialização offline, ou seja, é o espaço físico, habitável onde os cibernautas mantêm as suas relações
152
sociais. Não poderemos definir o real em oposição ao virtual, pois, este é parte integrante do primeiro. 3. Novas formas de socialização: a resposta à evolução tecnológica É explícito que as novas tecnologias vieram modificar as relações sociais e os estilos de vida, isto é, todo o processo de socialização, seja porque em vez de aguardar por novas vindas numa carta que tarda em chegar, é mais cómodo e eficiente pegar no telefone e ligar; seja porque em vez de ir ao quiosque comprar o jornal, é mais acessível ligar a televisão e sintonizar num canal de informação ou aceder à internet e consultar todos os jornais disponíveis online; seja porque é mais simples consultar a definição de uma palavra num dicionário online em vez de se deslocar a uma biblioteca e consultar num dicionário; ou por outras inúmeras razões. Apesar da pesquisa de informação ainda ser uma atividade que prevalece na rotina virtual do cibernauta, tal como refere Gustavo Cardoso no seu estudo sobre a sociedade em rede, o cibernauta procura o virtual como um espaço de lazer, de entretenimento e de sociabilidade (Cardoso et al., 2005: 167). De facto, ao contrário do que diziam alguns estudos de que o virtual provocava isolamento social, desprendimento do real, várias investigações desenvolvidas em diferentes países indicam que o virtual beneficia as relações de sociabilidade, tornando-se um “efeito multiplicador dos contactos estabelecidos com a família e os amigos, independentemente do local do mundo onde estejam, como também é entre os utilizadores que se verificam menores ocorrências da sensação de estar isolado do mundo ou deprimido” (Cardoso et al., 2005: 179). Como vemos, o virtual tem respondido a algumas necessidades essenciais para a vida em sociedade, como é o caso da partilha e da interação social. O cibernauta procura um espaço com o qual se identifica, onde partilha sentimentos, conversas, objetivos, ideias e gostos comuns. Assim que se identifica com o espaço, o cibernauta passa a ter uma frequência mais assídua (Cardoso, 1998: 25). Estes espaços em que se desenvolvem atividades do domínio das sociabilidades, ou seja, espaços de encontros e desencontros podem ser encontrados no virtual sob a forma de chats, de fóruns, de redes sociais, de blogues, e outros, ou seja, as comunidades virtuais. Maffesoli fala em tribos. Desde tribos musicais, desportivas, culturais, sexuais até mesmo religiosas, todas se baseiam na partilha de imagens criadas e vividas em comum (Maffesoli, 2009: 191). De facto, na opinião de Maffesoli, a ideia de tribalismo assenta no desejo de estar-junto, no compartilhar emoções, paixões, gostos comuns. Com base nas ideias de Pierre Lévy, podemos afirmar que as comunidades virtuais são espaços de partilha, assim como as comunidades tradicionais, ou seja, as reais. O conceito de comunidade está associado ao significado de associação, de um conjunto de pessoas que partilham aspetos sociais comuns. Ora, para o autor do conceito, Howard Rheingold, as comunidades virtuais são “(…) agregados sociais surgidos na Rede, quando os intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento suficientes para formarem teias de relações pessoais no ciberespaço" (Rheingold, 1996: 18). Assim, a comunidade virtual pode ser definida como sendo constituída por um aglomerado de pessoas que ao navegarem na Internet e ao estabelecerem contactos, uns com os outros, criam discussões e conversações, de forma a que todos partilhem os seus interesses, gostos, sentimentos. Segundo Sanmya Tajra, as comunidades virtuais são compostas por: componentes físicos, lógicos, humanos e ideológicos. Ou seja, são compostas pelos dispositivos
153
físicos que permitem a ligação ao virtual; pelos softwares que possibilitam o acesso ao virtual, como chats, correio eletrónico, motores de busca; pelos cibernautas que cooperam e colaboram nas atividades em torno das comunidades virtuais; e pelos objetivos, ideologias, que estão em permanente mutação (Tajra, 2002: 53-56). De facto, a formação de comunidades virtuais é sustentada pela sensibilidade emocional, pela identificação afetiva, pela componente passional e pelos sentimentos de atracão e de repulsa. Rabot salienta ainda, citando Michel Maffesoli, que se vai instalando progressivamente uma nova ética, caracterizada pela vivência do presente, pela necessidade de viver, partilhar e sentir comum (Rabot, 1991: 144). Com efeito, as comunidades virtuais, mantendo estas características, idênticas às comunidades ditas tradicionais, mostram-nos que as primeiras são como que uma extensão das segundas. Há como que uma complementaridade entre as comunidades. Os membros de uma comunidade tradicional podem recorrer a comunidades virtuais para mostrarem uma pessoa que não é, que ambicionariam ser, ou até mesmo criarem grupos virtuais que não são mais do que a representatividade virtual de um grupo real. As comunidades virtuais são um exemplo de que está a decorrer um esbatimento da barreira que divide o mundo virtual do mundo real. De facto, o cibernauta transfere as suas gratificações e frustrações do real para a sua comunidade virtual, bem como passa as suas deceções e bonificações virtuais para a sua comunidade real, como poderemos ver nos exemplos a seguir. Relativamente a esta possível fusão do virtual com o real, na nossa dissertação de mestrado (Oliveira, 2009: 97-112), procurou-se conhecer quais são as representações relativamente à ideia do virtual estar a integrar-se, cada vez mais, na nossa realidade social. Para tal, uma das questões que foi colocada no inquérito por questionário foi: Acha que é possível fazer uma distinção linear entre o mundo virtual e o mundo real? Porquê?, tentando assim perceber as conceções e representações que os cibernautas têm de ambos os “mundos”. De facto, fomos surpreendidos por resultados inesperados. A maior parte dos inquiridos afirma que deve ser feita uma distinção entre o mundo real e o mundo virtual. Com efeito, percebemos, através da categorização das respostas dadas, que os inquiridos tiveram alguma dificuldade em perceber esta distinção, principalmente porque o cibernauta tem um certo receio de se tornar um alienado virtual aos olhos da sociedade, ou seja, este facto mostra-nos que os cibernautas ainda se regem muito pela moral, pelo politicamente correto, agarrando-se bastante às relações sociais face-a-face, bem como às comunidades tradicionais. Denota-se uma certa instabilidade, um desconforto perante o virtual, o desconhecido, pelo que estará do outro lado do ecrã. Se por um lado, estes resultados poderão ser explicados pela razão, pelo que é correto aos olhos da sociedade, por outro lado, também podem ser explicados pelo simples facto de que, por muito importante que seja o acesso ao virtual nas práticas sociais diárias, inserido num contexto maior da sua vida, o cibernauta irá sempre dizer que os seus familiares, os seus amigos, etc. serão um bem mais essencial do que propriamente os seus amigos da comunidade virtual. No entanto, isto não quererá dizer, na nossa ótica, que a importância do significado de comunidade ou mesmo do mundo virtual seja baixo em si, mas sim comparativamente com os aspetos do mundo real. São muitas as características associadas ao virtual, uma das quais ainda faz com que muitos cibernautas temam pelo que possam encontrar no outro lado do ecrã: a teatralidade. Ou seja, o uso da máscara por parte dos cibernautas que se refugiam no virtual ou para tentar elevar a sua autoestima, ocultando a sua identidade e exibindo uma aparência que ambicionariam ser. De facto, os cibernautas que recorrem ao uso da
154
“máscara”, como ocultação da sua identidade pessoal, tal como refere Rabot, tendo por base Simmel, estão a “cultivar a arte do segredo” (Rabot, 2009: 439), ou seja, disfarçam, por detrás de uma máscara, os seus desejos íntimos, ao interpretar uma personagem. Para além de propiciar o aumento da autoestima, o mundo virtual pode proporcionar aquilo a que Wolton denomina de solidões interativas (Wolton, 1999: 94), isto é, a necessidade de o cibernauta estar permanentemente a ser contactado, comentado no seio da sua comunidade virtual. Criam-se frustrações por não se ter muitas visitas na sua página pessoal da rede social ou por não ser ajudado em x videojogo. Ou, pelo contrário, surgem gratificações pelo facto de os seus amigos visitarem o seu perfil e até comentarem as suas fotos, ou ainda por contribuírem para alcançar algum patamar no videojogo. Relativamente às alterações a que estamos a assistir no processo de socialização, incentivadas pelo uso da Internet, Howard Rheingold (1996: 26-27) menciona três grandes mudanças sociais: uma primeira que diz respeito às alterações nas necessidades intelectuais, materiais e emocionais, constatável, por exemplo, no uso de um vocabulário próprio utilizado online, na personalização das redes sociais, etc.; uma segunda relativa às alterações nas relações interpessoais, nas amizades e nas comunidades, em que se verificam modificações na comunicação (“de muitos para muitos”); e por fim, uma terceira relacionada com alterações ao nível político, na medida em que a comunicação em rede e as consequentes comunidades virtuais vieram revitalizar a democracia dos cidadãos, havendo uma maior participação, seja por intermédio de um comentário num blogue, seja pela partilha de notícias políticas numa rede social, entre outros aspetos. 4. A constatação: a complementaridade dos mundos As grandes inovações quer a nível de softwares ou de hardwares, como webcams, videojogos, as diferentes redes sociais e afins, têm permitido aos cibernautas esquecerem temporariamente que estão no mundo real. Estes vivem no mundo virtual, mergulham de tal forma nesse meio que chegam a sentir que são parte integrante deste. Pretendemos agora dar alguns exemplos de softwares1 que têm contribuído para a fusão do mundo real com o virtual, ou seja, para a eliminação da “barreira” que existe entre os dois. Convém deixar claro, que não nos referimos à substituição do real pelo virtual. Consideramos que o mundo virtual complementa o processo de socialização no mundo real e vice-versa. Um dos exemplos mais importantes para mostrar esta fusão do real com o virtual são as redes sociais. Estas, caracterizadas por cada cibernauta ter a sua página de perfil, onde podem partilhar ideias, fotografias, vídeos, entre outras situações, apresentam inúmeras características que nos mostram que cada vez mais o mundo virtual, o mundo digital está mais presente na realidade social. Segundo Dannah Boyd, investigadora interessada pela relação entre os jovens e o uso dos novos media, particularmente as redes sociais, afirma numa entrevista que as redes sociais virtuais apresentam características que divergem com as características de uma rede social “real”. Assim, Boyd (2007) caracteriza as redes sociais virtuais como 1 Convém deixar claro que alguns dos conhecimentos transmitidos nesta parte do artigo, das redes sociais e dos videojogos, são baseados na experiência própria, bem como na observação participante prévia que nos permitiu ter conhecimentos suficientes para a explicitação dos mesmos.
155
possuindo as seguintes funções: persistence, ou seja, tudo o que se faz ou se coloca nas redes sociais virtuais tem tendência para permanecer perpetuamente; searchability, os cibernautas ao publicar coisas nas suas redes sociais estão a incitar que os outros cibernautas possuam esta característica; replicability, diz respeito ao facto de se postar alguma ideia e vir a receber reações e comentários; e, por fim, invisible audiences, ou seja, o cibernauta ajusta as suas publicações online consoante o público que irá ler e até comentar, isto é, tem em conta as reações previsíveis, que à partida são dos seus amigos dessa rede social (coisa que não acontece quando se lida com aquilo a que Boyd denomina de mediated environments, porque não há maneira de saber quem poderá ler, ver ou ouvir as ideias publicadas). Um dos aspetos importantes a salientar e que faz com que haja um número elevado de adesões às redes sociais é o facto de os cibernautas terem a possibilidade de se autopromoverem, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, aumentando a sua rede de amigos e, consequentemente, a sua autoestima. Com efeito, a nível pessoal, este aspeto mostra que um indivíduo que até possa ter uma certa dificuldade em manter relações de amizade no mundo real, pode através deste sentir-se parte integrante da sociedade por mais que ela seja virtual. Profissionalmente, um cibernauta pode autopromover-se através da criação de perfis para a sua própria empresa ou até de trabalhos que queira mostrar. Por exemplo, no caso do Facebook, uma das redes sociais mais usadas em Portugal nos últimos tempos (Marktest, 2010), é possível criarem-se páginas onde os cibernautas podem tornar-se fãs desse perfil, dando assim algum prestígio à empresa ou aos trabalhos apresentados. Pessoalmente, o cibernauta pode usar as redes sociais como uma comunidade virtual, ou seja, onde partilha informação que considere pertinente, onde mostra aos amigos situações relacionadas com a sua vida pessoal ou familiar. Para além destes factos, a possibilidade de se conhecer outras culturas e novas gentes sem grandes limitações é um dos aspetos que aliciam muitos cibernautas e que se encontra particularmente mais facilitado nestes tipos de softwares. Tal como afirma Boyd (2007), a forma como é preenchido seu perfil do cibernauta é feita em função dos seus amigos, ou seja, o cibernauta coloca determinadas informações, fotografias, vídeos, comentários, e outros, de maneira a que atraia as atenções dos demais cibernautas. Assim, percebe-se que os ambientes das redes sociais proporcionam outras sensações, por exemplo, como maior protagonismo, elevando a autoestima dos cibernautas, que não se proporcionam nas redes sociais offline. O uso dos videojogos é muitas vezes encarado como um vício, especialmente, nas camadas mais jovens. O certo é que os videojogos são um mundo de interações sociais repleta de sensações e muitas emoções. Para melhor explicar de que forma é que o mundo dos videojogos está a ser envolvido pelo mundo real, utilizaremos dois exemplos: o jogo Farmville e o SecondLife. O jogo Farmville, uma verdadeira comunidade virtual de “camponeses”, mostra-nos, de facto, como é possível aplicar o real à virtualidade. Este jogo consiste na criação de uma quinta, onde o cibernauta pode cultivar, vender as suas colheitas e ganhar dinheiro para ser bem-sucedido na sua vida rural. Nesta vida de camponês, o cibernauta cultiva diversas plantações, árvores, cria animais, constrói estábulos, bem como a sua própria casa e também se dedica à decoração do terreno, utilizando vários elementos como flores, lagos, espantalhos, cercas, e ainda vários ornamentos associados a épocas festivas, como o Natal, o carnaval, etc. Tal como na maior parte dos videojogos, neste também o jogador é figurado por um avatar com o seu nome, tendo a possibilidade de escolher os seus atributos físicos, principalmente faciais.
156
Para que possa evoluir no jogo, o cibernauta-camponês é incitado à sociabilidade, convidando os amigos da sua rede social para serem seus vizinhos. Os camponeses ajudam-se mutuamente, contribuindo com oferendas e fertilizando as suas terras. As várias conquistas podem ser fruto do trabalho individual. No entanto, percebemos que os jogadores que atingem níveis mais elevados são os que possuem mais vizinhos, ou seja, fruto da interação com outros cibernautas, os camponeses enviam e recebem presentes que é um dos aspetos que permitem avançar no jogo. De facto, este jogo envolve várias atividades de cooperação de uns com os outros, mesmo no que diz respeito à competição. A competição é feita num ambiente de solidariedade. De facto, numa primeira impressão parece um simples jogo muito juvenil, o certo é que por detrás deste jogo repleto de imagens associadas ao mundo rural, está uma verdadeira comunidade virtual. O facto deste jogo virtual estar inserido numa rede social, o Facebook, faz com que os cibernautas procurem amigos e mais amigos para poderem ter muitos vizinhos na sua quinta, que os ajudarão a aumenta-la. Torna-se assim patente que este jogo promove a criação de grupos, onde os cibernautas partilham opiniões sobre o que fazem nas suas quintas. Este videojogo é um exemplo da fusão do virtual com o real, precisamente porque as conversas diárias entre amigos, quer no trabalho, na escola ou até em casa envolvem já a temática da Farmville. Mesmo o próprio sentimento de solidariedade é uma das características que se encontram quer nas comunidades virtuais, quer nas comunidades tradicionais. O SecondLife, não como plataforma de educação, por exemplo, como são já os inúmeros casos, mas sim como um meio onde cibernautas trocam experiências e paixões, é um videojogo que nos mostra como o virtual está a envolver-se no real. Sendo um simulador da vida real, o SecondLife permite ao cibernauta experienciar situações que as quais poderia hesitar ou nem sequer concretizar no mundo real, bem como permite mexer com as consciências pessoais, podendo até mudar algumas atitudes sociais. Ao entrar no SecondLife, ao fazer o seu registo, o cibernauta irá criar uma personagem, um avatar. Normalmente, um avatar é uma personagem virtual criada, neste caso num videojogo, para que represente o cibernauta, e onde são depositadas todas as características, quer físicas, quer de personalidade, que o cibernauta deseja. Regularmente, as características são escolhidas em função da pessoa em si, no entanto, há quem opte por usar uma “máscara” e escolhe características de uma personagem que ambicionaria ser ou que gostaria de experimentar ser. Para além disto, como afirma Rabot, o jogador poderá querer “incarnar até às últimas consequências uma personagem que ele não é, nem pode ser na vida real: um justiceiro, um sobrevivente, um guerreiro, um latin lover” (Rabot, 2009: 435). De facto, o SecondLife é o exemplo mais completo para explicar este processo do uso da máscara ou da teatralidade. Dependendo do tipo de jogador, este videojogo pode ser encarado como um simples jogo, um meio para fazer comércio ou negócios, fazer amigos, assistir a espetáculos culturais, como concertos, exposições, desfiles de moda, entre outros aspetos. Ou seja, os cibernautas têm ao seu dispor um mundo em formato virtual. Um mundo criado e imaginado por quem participa nele. A partir do momento, em que se entra nesta segunda vida, nesta vida paralela, segundo Rabot, “opera-se um diálogo contínuo entre o indivíduo e o seu alter-ego fantasiado” (ibidem), onde o cibernauta faz o que deseja, é quem lhe apetece ser, realiza experiências que porventura
157
não seria capaz de concretizar na vida real, tendo muitas vezes necessidades de usar essa máscara e/ou um pseudónimo. Para além do uso do avatar no SecondLife, é importante também lembrar que, dada à diversidade de aspetos reais no mundo do SecondLife, muitos são os aspetos do mundo real que já foram usados nesse mundo virtual. Desde a experiência profissional para ganhar dinheiro na segunda vida, até aos próprios amigos e familiares, o SecondLife é uma transposição dos conhecimentos, práticas sociais para uma verdadeira vida social virtual. Segundo Castells, os cibernautas, tanto nas redes sociais como nos videojogos, para interagirem entre si, criam personagens que lhes transmitem sentimentos agradáveis, partilhando assim um jogo de papéis e de identidades. Ainda assim, Castells garante que esta teatralização está mais presente nas camadas jovens, ocorre mais durante a adolescência, precisamente por ser uma fase de exploração, de experimentação, da busca incessante da identidade (Castells, 2007a: 147). Sucintamente, as pessoas estão interligadas virtualmente pela máquina, mas, simultaneamente, formam comunidades que apesar de serem invisíveis partilham ideias, gostos e interesses comuns, constituindo assim comunidades virtuais. 5. Considerações finais: as socializações virtuais como complemento das socializações face a face De uma forma implícita, este artigo exploratório teve o objetivo de através das redes sociais e dos videojogos, interpretar aquilo que o senso comum não vê à primeira vista, ou seja, as implicações que o uso dos softwares tem na vida social. Para além disso, e de uma forma mais genérica, pretendemos mostrar de que forma é que o processo de socialização se encontra a ser alterado e transformado com a influência das redes sociais, dos videojogos, etc., ou seja, do mundo virtual. De facto, com o desenvolvimento tecnológico, tanto dos dispositivos físicos que permitem o acesso ao virtual, como dos softwares, à semelhança das redes sociais e dos videojogos, novas formas de interação social surgiram, novos modelos de interação social foram implementados. Sucintamente, estes são caracterizados pela falta de contacto físico, por uma possível teatralização por parte de indivíduos que usam este meio como meio de evasão do mundo real, por uma certa desconfiança pelo que estará do outro lado do ecrã. São caracterizados também por uma relação recíproca entre o mundo virtual e o mundo virtual. Relativamente às comunidades virtuais, comparando-as com as comunidades ditas tradicionais, deparamo-nos que, apesar de possuírem regras e dinâmicas específicas e diferentes, elas não são opostas. Desse modo, as comunidades online e offline complementam-se. Com efeito, um indivíduo que pertença a uma comunidade tradicional pertence, simultaneamente, a uma comunidade virtual. Estas comunidades não existem isoladamente. Assim, podemos olhar as comunidades virtuais como uma mais-valia para indivíduos que tenham vidas sociais limitadas e/ou até dificuldades em estabelecer relações sociais físicas, favorecendo a criação de laços sociais quer virtuais, quer reais. Se por um lado, há quem defenda que o mergulho no virtual pode provocar uma certa desumanização das relações sociais (Slouka, cit. em Castells, 2007b: 468), distúrbios na autoestima, isolamento social, incitando progressivamente a que os cibernautas vivam as suas fantasias no mundo virtual; por outro lado, há quem afirme que atividades no
158
domínio da sociabilidade são um resultado certo e benéfico da vivência online, podendo esta ser transposta para a vida social real dos cibernautas e contribuindo assim para uma intensificação das relações sociais. “As redes de conviviabilidade dos utilizadores de Internet são mais alargadas do que as dos não utilizadores, e, frequentemente, mais amplas” (Cardoso, 2005: 196-197). Com efeito, através dos casos acima apresentados, constatamos que o mundo virtual não é um mundo desligado do real. Na realidade, o que leva muitos cibernautas a navegarem no mundo virtual é precisamente a procura do real, ou pelo menos a imitação do real. O virtual recorre ao simbolismo bem presentes no mundo real, como ideias, imagens, vídeos, sons e até mesmo emoções e sentimentos. Tal como se afirma que o virtual não é desligado do real, também se pode afirmar que o virtual não está em oposição com o real porque, por um lado, o virtual complementa e modela o real, por outro lado, os cibernautas procuram o real no virtual. Apesar de ainda se encontrar numa fase de evolução, a sociedade em rede já concilia “espaços reais e virtuais de sociabilidade, acrescentando modos diferentes e intensidades distintas de estabelecer contactos com familiares, amigos e vizinhos” (Cardoso, 2005: 197). Aliás, Cardoso e outros afirmam que há autores que acreditam que “a Internet tem o efeito notável de reunir ou reforçar as relações sociais de dois espaços físicos diferentes – o real e o virtual. (…) A combinação das formas de relacionamento presencial e virtual é uma das grandes mudanças que se fica a dever à Internet, mas no sentido da acumulação e não da substituição de umas pelas outras” (Cardoso, et al. 2005: 179). De facto, o uso do virtual está cada vez mais presente nas relações de sociabilidade das pessoas, bem como a vida pessoal do mundo real encontra-se cada vez mais patente no seio das comunidades virtuais, no seio das tribos dos cibernautas. O cibernauta sente cada vez mais a necessidade de partilhar o seu mundo virtual com o real, de trazer as suas relações de sociabilidades virtuais para o meio físico, para o real. Referências Bibliográficas: AUGÉ, Marc (2005) Não-lugares: introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade. Lisboa: 90 Graus Editora. BOYD, Dannah (2007) “What Adults Should Know About Kids' Online Networking”, AlterNet in [http://www.alternet.org/story/46766 consultado a 25 de Janeiro de 2010]. CARDOSO, Gustavo (1998) Para uma Sociologia do Ciberespaço. Oeiras: Celta Editora. CARDOSO, Gustavo; COSTA, António F.; CONCEIÇÃO, Cristina P.; GOMES, Maria C. (2005) A Sociedade em Rede em Portugal. Porto: Campo das Letras. CASTELLS, Manuel (2007a) A Galáxia Internet. Reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. CASTELLS, Manuel (2007b) A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura – A Sociedade em Rede. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. LÉVY, Pierre (2000) Cibercultura. Lisboa: Instituto Piaget. LÉVY, Pierre (2001) O que é o virtual?. Coimbra: Quarteto Editora.
159
MAFFESOLI, Michel (2009) “Cyberculture: «communion des saints» postmoderne”, in Coelho, Maria Zahra (Org.) Não poupes no semear. Trinta anos de comunicação, Aníbal Alves. Coimbra: Pé de Página Editores, pp. 189-196. MARKTEST (2010) “Facebook cresce em Dezembro”, in [http://www.marktest.pt/produtos_servicos/Netpanel/default.asp?c=1292&n=2112 consultado a 2 de Fevereiro de 2010]. OLIVEIRA, Mafalda (2009) A Internet como meio de Comunicação Socio-virtual: Uma Perspectiva Sociológica, Dissertação de Mestrado em Sociologia. Braga: Universidade do Minho. RABOT, Jean-Martin (1991) “Sociologia e Estética em «Le temps des tribus»”, Comunicação e Linguagens. Lisboa: CECL, 12/13, pp. 143-155. RABOT, Jean-Martin (2009) “Os jogos vídeo entre a absorção labiríntica e a socialidade”, in Actas do VIº Congresso SOPCOM e VIIIº Congresso LUSOCOM. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, pp. 432-445 [http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/vi ew/463/462 consultado a 23 de Maio de 2009]. RHEINGOLD, Howard (1996) A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva. TAJRA, Sanmya Feitosa (2002) Comunidades Virtuais. Um Fenómeno na Sociedade do Conhecimento. São Paulo: Editora Érica. WEBER, Max (1974) Le savant et le politique. Paris: Union Générale d’Éditions. WOLTON, Dominique (2000) E depois da Internet?. Algés: DIFEL.
160
Recompositions familiales et socialisation : le cas de la socialisation politique par les belles-mères Manon Réguer-Petit, Doctorante à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Politiques, Paris) Centre d’Etudes Européennes [email protected] Résumé : La déconnexion entre les mutations de la famille observées en sociologie et les travaux sur la socialisation politique limitant leurs analyses aux familles nucléaires nous conduit à poser une question encore inexplorée : la socialisation politique dans les familles recomposées. Nous nous focalisons sur le rôle des belles-mères dans la socialisation politique des enfants de la recomposition. Une enquête ethnographique au sein de groupes de parole de belles-mères et une enquête par entretiens nous permettent de souligner certaines spécificités de la socialisation politique dans les familles recomposées. Notre étude permet ainsi de rendre compte de la place spécifique des belles-mères dans la multiplicité des agents socialisateurs. Elle met en évidence l’impact de ce nouveau rôle féminin dans le processus de construction du système de valeurs des enfants, en particulier des filles. Elle fournit également des résultats sur la socialisation dans les familles recomposées. Elle souligne la place de la négociation influant sur la conception du lien social et la construction d’un rapport particulier à la société de consommation liée à la budgétisation spécifique et visible dans les familles recomposées. Recomposições familiares e socialização: o caso da socialização política pelas sogras Resumo: A inadequação entre as mutações da família observadas pela sociologia e os trabalhos sobre a socialização política - os quais limitam as suas análisis às famílias nucleares – convida-nos a expor um tema inexplorado: a socialização política nas famílias recompostas. Focalizamo-nos sobre o papel das sogras na socialização política das crianças no seio de famílias recompostas. Uma pesquisa etnográfica dentro dos grupos de diálogo das sogras e uma pesquisa com entrevistas permitem-nos sublinhar algumas das especificidades da socialização política nas famílias recompostas. Assim, o nosso estudo demostra a relevância das sogras na multiplicidade dos agentes socializadores. Esse trabalho evidencia o impacto desse novo papel femenino no processo de construcção do sistema de valores das crianças, em particular das filhas. Esta análise apresenta também resultados quanto à socialização nas famílias recompostas. Ela destaca, por último, a importancia da negociação que influi sobre a concepção do laço social e a construcção de uma relação singular com a sociedade de consumo atada à orçamentização específica e visível nas famílias recompostas.
161
Cette contribution est née du constat d’un décalage entre, d’une part l’avancée des travaux de sociologie faisant acte des mutations de la famille et d’autre part les travaux sur la socialisation politique réduisant la famille à sa forme nucléaire. Le processus de socialisation politique dans les familles recomposées reste inexploré par la sociologie politique alors même qu’une part croissante de la population est concernée par les recompositions familiales (Vivas, 2006). Nous questionnons plus spécifiquement le rôle et l’impact des belles-mères dans la socialisation politique des membres de la recomposition. Cela nous permet d’éclairer, outre le processus de socialisation politique dans les familles recomposées, le rôle des femmes dans la socialisation politique familiale. Après avoir souligné l’absence de réflexion sur la socialisation politique dans les familles recomposées et présenté notre terrain, nous poserons deux questions principales : Quels sont les domaines privilégiés dans lesquels les belles-mères se positionnent comme agents socialisateurs ? Quel est l’impact des différentes configurations du quotidien sur la définition du rôle de belle-mère dans la socialisation politique ? La question oubliée de la socialisation politique dans les familles recomposées En confrontant les résultats obtenus sur les recompositions et les travaux sur la socialisation politique familiale, nous avançons dans une voie encore inexplorée en faisant émerger des premiers éléments de problématisation. A la suite des travaux d’Annick Percheron, nous pensons la socialisation politique, au-delà de la seule transmission des préférences partisanes, comme un « processus formateur de grille de lecture, de prédispositions, d’attitudes profondes » (Percheron, 1985 : 200). Nous nous intéressons ainsi à la transmission de visions du monde, de valeurs, des représentations de la réalité sociale en essayant de « réinsérer la socialisation politique parmi les processus de formation de l’identité sociale du sujet » (Percheron, 1987 : 200). En outre, nous portons un regard sur le quotidien où la socialisation politique « opère de façon non seulement sourde et diffuse, mais aussi à partir d’un registre plus infra politique qu’explicitement politique» (Muxel, 2010 : 75). Si la famille est considérée comme une des instances centrales de la socialisation politique dès les premiers travaux publiés dans ce domaine (Campbell et al., 1960, Hyman, 1959, Easton, Dennis, 1969, Hess, Torney, 1967), c’est un modèle socialement et historiquement situé qui est alors convoqué : la famille nucléaire. L’hypothèse du rôle dominant du père (McClosky, Dahlgreen, 1959), pensé comme responsable de la socialisation politique familiale (Davies, 1965, Langton, 1969, Jaros, 1973) est défendue. Un retard dans les développements des orientations politiques (Hess, Torney, 1967) et l’influence d’agents socialisateurs extra-familiaux sur des enfants éduqués en l’absence d’un père sont soulignés (Jaros, Hirsch, Fleron, 1968). L’augmentation du niveau d’études des femmes et le lien affectif mère-enfant conduisent à nuancer l’idée d’une prééminence du père dans la socialisation politique (Jennings, Langton, 1969). Ces travaux se limitent cependant à l’analyse de l’importance relative de la mère et du père dans des familles nucléaires (Dolan, 1995). Plus récemment, l’influence des mères dans la socialisation politique des enfants a été réhabilitée en raison de l’importance accordée à l’affect dans la transmission (Muxel, 2008, Zuckerman et al. 2007). Cependant, les recompositions familiales et les conséquences sur la transmission du politique que cela engendre ne sont pas analysées.
162
De même, Percheron interrogeait la catégorie « familles » en analysant l’influence de différents types et modèles sur la transmission de valeurs (Percheron, 1985), sans pour autant questionner l’impact de différentes structures familiales. Par ailleurs, il semblerait pertinent de discuter l’idée d’une primauté des mères dans les échanges affectifs. La prééminence du lien mère-enfant, quasi biologique, ne correspond-elle pas à un modèle familial spécifique ? Le regard porté sur les belles-mères permet, de ce point de vue, d’éclairer plus largement le rôle des femmes dans la socialisation politique familiale sans se limiter a priori à la force d’un lien affectif. L’impact de la structure familiale sur la transmission du politique a été questionné par Dolan. Cependant, cette auteure limite son travail à l’effet de l’absence d’une présence masculine dans la famille nucléaire (Dolan, 1995). Au-delà de l’analyse de la moindre réussite scolaire et sociale spécifique aux familles recomposées (Biblarz, Raftery, 1993 ; Duncan, Duncan, 1969), le manque de normes et la faible définition des rôles (Giles-Sims, 1984), « l’institutionnalisation incomplète » (Cherlin, 1978) des familles recomposées sont soulignés. Cela est présenté comme un facteur explicatif de la plus grande conflictualité dans ces familles. On peut interroger l’impact de cette institutionnalisation incomplète sur le rapport à la négociation des membres de la recomposition et sur la façon dont un contexte conflictuel peut influer sur la transmission de valeurs. En France, la question des recompositions familiales est posée au début des années 1990 (Meulders-Klein, Théry, 1993). L’importance du recours aux discussions et à la réflexion quant au positionnement de chacun est soulignée. Les beaux-parents sont « obligés de penser ce qu’ils font plutôt que de se laisser tout simplement aller à la spontanéité des réactions qu’induit la « naturalité » reconnue de la famille biologique » (Théry, Dhavernas, 1991 : 177). La figure du « beau-père » (Théry, 1998), ni parent, ni ami et avec qui il est complexe d’établir une relation apparait d’abord. Pour autant, la place et le rôle des belles-mères, consécutifs d’une division genrée des rôles domestiques (Cadolle, 2001) doivent être étudiés sans les disqualifier a priori en s’appuyant sur un argument uniquement temporel. Surtout, la spécificité du « rôle de confidente » des belles-mères opposée aux relations « dépassionnées » des beaux-pères est mise en évidence (Théry, Dhavernas, 1993). En outre, les logiques de transformation des relations sous-jacentes aux échanges économiques dans les familles recomposées sont soulignées (Martial, 2005, Cadolle, 2005). Cependant, les conséquences de ces transformations sur les valeurs ne sont pas interrogées. Or, on peut penser que le passage d’une forme de don/contre-don et de la comptabilisation implicite (Déchaux, 1994), à une budgétisation de l’éducation des enfants influe sur la transmission d’un rapport particulier à l’argent dans les familles recomposées. Enfin, les rôles juridiques (Segalen, 2008 ; Le Gall, Martin, 1990) et sociaux (Martial, 1996, Cadolle, 2007) des beaux-parents sont questionnés. La « parenté quotidienne » est réhabilitée face aux « liens de sang » pour étudier des structures familiales différentes du modèle nucléaire (Weber, 2005). En effet, s’y «effectue un travail de socialisation, largement inconscient et involontaire qu’il s’agisse de socialisation précoce ou tardive » (Weber, 2005 : 21). Cet état de la littérature permet de poser trois questions : quel est l’impact du conflit et de la négociation, liés à l’institutionnalisation incomplète des rôles, sur la socialisation politique ? Comment la budgétisation influe-t-elle sur le rapport à l’argent et à la société
163
de consommation? En quoi la place des belles-mères au quotidien leur octroie-t-elle un rôle dans la transmission de valeurs et attitudes ? Enquête et terrain Une enquête ethnographique (Beaud, Weber, 2003) au sein d’une association de belles-mères constitue notre premier terrain. Depuis sa création en 2000, le Club des Marâtres a concerné quatre-cent belles-mères. Une dizaine de participantes se réunissent mensuellement durant cinq heures. La tenue régulière d’un journal de terrain a permis d’appréhender la façon dont les belles-mères se représentent leur rôle et de percevoir les points de tensions et spécificités quotidiennes des familles recomposées. Après deux mois d’observation nous avons construit une stratégie d’enquête par entretiens. Nous avons rencontré sept familles parisiennes en lien avec le Club des Marâtres et huit familles de l’agglomération rouennaise. Quarante-six entretiens semi-directifs ont été menés auprès de trente membres de recompositions (neuf enfants, une mère, deux belles-mères, douze mères et belles-mères, deux pères, quatre pères et beaux-pères). Nous avons mené deux vagues d’entretiens semi-directifs. Les premiers entretiens, à visée autobiographique, qui ont été menés auprès des « personnes-contact » (treize belles-mères, une mère et un beau-père) avaient pour but de penser l’enracinement du politique dans la trajectoire familiale. Les entretiens suivant, menés auprès des « personnes-contact » et des membres de leur famille recomposée, visaient à mettre en évidence les tensions, similitudes, nuances des différents membres d’une recomposition. Les domaines spécifiques de la socialisation politique dans les recompositions De la politique dans le quotidien Au-delà de l’analyse de la socialisation politique dans les familles recomposées, porter le regard sur les belles-mères permet de dépasser l’idée d’une influence des mères due uniquement à la force d’un lien naturalisé avec l’enfant. Le lien affectif belle-mère – bel-enfant n’étant pas comparable au lien mère-enfant, nous pouvons voir ce qui se joue au quotidien en termes de socialisation politique. La prise en compte de la « parenté quotidienne », pour penser la socialisation en général et la socialisation politique en particulier, a été négligée (Théry, 1998). La permanence d’une division genrée des tâches dans la sphère privée amène les belles-mères à faire appliquer à leurs beaux-enfants leurs pratiques éducatives. Or, « normes et pratiques éducatives ou domestiques […] reflètent, surtout et d’abord, les valeurs du système culturel de chacun » (Percheron, 1985 : 861). Concernant les règles de vie, les belles-mères enquêtées admettent qu’elles en sont la source. Elles citent notamment les heures de coucher et de repas, le rangement, l’organisation du temps et de l’espace. Surtout, elles distinguent ces règles de ce que leurs beaux-enfants vivent « chez la mère ». L’idée qu’elles apportent un « cadre », des « repères » est souvent présentée comme un moyen de « transmettre là où il y a des carences de l’autre côté », comme l’exprime Cécile1. Les deux systèmes de règles de vie
133 ans, travailleuse sociale, 1 enfant, 1 bel-enfant, Paris
164
rencontrés par les enfants suggèrent une pluralité des modèles, des visions du monde et des choix politiques possibles. De même, les belles-mères sont sujettes à proposer ou à contrôler l’accès à des jeux et activités. Le choix des activités est soutenu par un système de valeurs (Tremel, 2007). Ainsi, Cécile explique qu’elle cherche à offrir une ouverture culturelle à sa belle-fille en l’emmenant dans des musées et monuments historiques. Dans la même logique, Claire1 incite sa belle-fille à faire du piano pour qu’elle acquière une culture musicale et Elena2 encourage ses belles-filles à lire. Valérie3 raconte comment sa propre belle-mère, traductrice dans des instances liées à l’ONU, a fortement influencé ses « visions du monde » en l’incitant à voyager. La découverte de nouvelles activités, la façon dont celles-ci sont présentées pour le bien de l’enfant ne sont pas exemptes de la transmission de visions du monde. C’est moins le choix des activités en lui-même qui est spécifique dans les familles recomposées que la justification qui les accompagne. Entre conflit et négociation : la mise en visibilité des systèmes de valeurs Pour amortir le risque de conflit dans la recomposition, les belles-mères soulignent la place de la négociation, de la justification et du recours à des stratégies de communication, notamment la « politesse ». Cela influe sur la socialisation politique qui « est aussi pour partie emprunt et pour partie élaboration d’un monde de communication avec les membres du groupe d’appartenance et avec tous les autres» (Percheron, Subileau, 1974 : 202). Or, les règles gouvernant les relations dans la famille non recomposée se trouvent formalisées et discutées dans le cadre des recompositions où le positionnement de chacun, parce qu’il est flou, incomplètement institutionnalisé est sujet à contestations et négociations. Cela conduit à adopter un modèle de communication quasi délibératif qui peut influer sur le rapport à la prise de décision. Ces thématiques reviennent très fréquemment dans les discussions observées au Club des Marâtres et dans les entretiens comme point de tension quotidien.
Encadré: négociation et dialogue «Y a une façon de dire les choses posément, doucement(…) la base des familles recomposées c’est parler (…) quand ils se font des idées sur certaines choses et qu’on n’est pas forcément d’accord, encore une fois j’pense qu’il faut pas juger mais leur expliquer que c’est différent » (Mathilde, 36 ans enseignante, 1 enfant, 3 beaux-enfants, Rouen) « J’me rends compte qu’il faut vraiment beaucoup parler, la situation fait qu’il y a des cas de figure où il faut parler » (Nathalie, 40 ans, assistante de direction, 1 enfant, 2 beaux-enfants, Rouen) « Un enfant quand il a 6 ans tu vas pas rentrer dans des conversations à n’en plus finir sur le pourquoi du comment de la vie quoi, faut que ça tourne, et t’as pas à expliquer comme ça pendant 50 ans pourquoi faut dire merci, c’est comme ça et c’est tout. Pourquoi ? Parce que maman l’a dit ! Quand t’es belle-mère et bien c’est plus compliqué » (Claire, cf.p5) « On a établi une charte, une charte de fonctionnement (…) on leur a dit « dans 15 jours on voudrait que chacune de vous rende un document manuscrit sur lequel il y aura toutes les
134 ans, technicienne, 2 enfants, 1 bel-enfant, Rouen 240 ans, enseignante, 2 enfants, 2 beaux-enfants, Paris 335 ans, psychologue, 2 enfants, 1 bel-enfant, Paris
165
idées manuscrites que vous pouvez apporter au fonctionnement » (…) On a beaucoup insisté sur le fait, « apportez des modifications si vous en avez » (…)on leur a passé un exemplaire qu’elles ont signé.(…) En début de charte il y avait un encadré avec les valeurs, bon pas grand-chose, mais les valeurs de tolérance, de respect euh un minimum de solidarité entre les gens de cette maison.» (Elena, cf.p5)
Le désaccord, dans les couples non recomposés « s’inscrit rarement dans des négociations explicites » (Kaufmann, 2003 : 113). En contraste, dans les recompositions familiales, l’importance accordée aux justifications et aux négociations conduit à exprimer et rendre visible ses propres visions du monde. Dans ce cadre, les belles-mères exposent explicitement leur système de valeurs à leur conjoint et à leurs beaux-enfants. La politesse, comprise comme une stratégie de communication, recouvre en outre un enjeu important dans la recomposition car elle engage la reconnaissance de la présence de la belle-mère qui suppose d’être reconnue pour être légitimée. C’est moins une « politesse en héritage », dans laquelle le respect des ainés prévaut qui est à l’œuvre qu’une « politesse par scrupule » relevant de l’inquiétude liée à l’absence de reconnaissance (Duchesne, 1997). Celle-ci « manifeste et, ce faisant, concrétise le lien abstrait, moral mais nécessaire, qui unit les êtres humains conduits à vivre ensemble » (Duchesne, 1997 :62). Duchesne esquisse l’idée que « politesse en héritage » et « politesse par scrupules » sont sous-tendues par des visions du monde différentes. Pour autant, il serait erroné de penser les familles recomposées comme exagérément différentes des familles non recomposées, elles aussi marquées par un lien en partie électif (Singly, 2000). Si l’unité du groupe familial ne peut être postulée a priori (Singly, 2007), l’effort de construction et de reconnaissance de ce groupe va à l’encontre d’un processus univoque d’individualisation. Budgétisation rapport à l’argent La question financière est particulièrement présente dans les discussions observées au Club des Marâtres. La prise en compte des revenus des belles-mères dans le calcul des pensions alimentaires est critiquée mais ce sont aussi les dépenses effectuées au quotidien ou les demandes des enfants relatives par exemple à l’achat de vêtements de marques qui sont pointées du doigt. L’absence de reconnaissance de l’investissement financier quotidien amène les belles-mères du Club des Marâtres à développer un discours remettant en cause les solidarités intrafamiliales, les beaux-enfants n’ayant à termes aucune obligation vis-à-vis de leur beau-parent.
Encadré : précarisation des belles-mères « Si moi je me retrouvais dans une situation à devoir avoir de l’argent, Luca [son bel-enfant] n’a aucune, autant mes enfants je pourrais assigner le juge, autant Luca non. Ca me pose problème un peu parce que la question du partage de la vie fait que il devrait y avoir une petite reconnaissance financière». (Valérie, cf.p5) «Dans les séparations dans les jugements, dans les pensions alimentaires on tient compte du revenu de la belle-mère, mais putain attend mais pourquoi t’en tiens compte ? (…) j’ai participé à la fois financièrement et d’un point de vue parental et éducatif (…) aujourd’hui je suis par exemple handicapée, j’ai plus de revenu, mes enfants sont encore mineurs ou en tout cas très jeunes, je suis pas en droit de demander de l’aide aux ainés. Hep est ce que c’est juste ? » (Marie-Jo, 49 ans, coach, 2 enfants, 2 beaux-enfants, Paris)
166
En outre, les belles-mères subissant une division genrée des rôles persistante, elles s’occupent des achats du quotidiens y compris des vêtements, affaires scolaires, etc. de leurs beaux-enfants. C’est l’occasion d’une remise en cause du budget alloué dans ce domaine et d’un regard critique porté sur la société de consommation. Si dans les familles non recomposées « l’infinité des biens et services échangés (…) rend impossible une évaluation sérieuse de ce qui est donné et reçu » (Kaufmann, 2003 :106), il semble qu’au sein de la recomposition une évaluation ait lieu.
Encadré : rapport à l’argent « Je me souviens que y a eu une discussion, au moment où il est retourné vivre chez sa mère, où moi j’ai dit « écoute Paul, euh faut pas que tu confondes (…) l’argent que ton père donne à ta mère il est pour subvenir à tes besoins à toi et pas les siens ». Jamais on lui avait parlé de fric. » (Véronique, 39 ans, ingénieure, 3 beaux-enfants, Paris) « Leur transmettre un peu plus le sens des économies (…) chez leur mère, je pense justement c’est quelque chose la valeur de l’argent y a moins de limites (…) et si t’as pas à un moment donné une limite éducative, pfff, ça peut faire très mal » (Mathilde, cf.p6)
La budgétisation et la mise en visibilité des flux financiers influent sur le rapport à la société de consommation et à l’argent. Cette question mériterait d’être traitée ultérieurement de façon spécifique pour analyser plus précisément l’impact sur les enfants de la recomposition. Les différentes configurations du quotidien Notre enquête nous amène à souligner les paramètres pouvant influer sur la définition et les contours du rôle de belle-mère comme agent socialisateur. Une enquête quantitative serait nécessaire pour mesurer et hiérarchiser le poids de ces paramètres. On peut cependant les exposer et souligner la façon dont ils interviennent. Le premier paramètre à prendre en compte est le genre des destinataires : les enfants et beaux-enfants. La présentation dans la sphère domestique d’un modèle féminin différent de celui de la mère et qui, dans une certaine mesure s’émancipe d’un rôle strictement maternel peut engendrer un impact sur la conception de la division des rôles. Valérie1, raconte comment l’attitude non maternelle de sa belle-mère a ouvert le champ des possibles, en termes de rôle de femme, en contrastant complètement du modèle de sa mère, centré sur une seule identité maternelle. L’âge des enfants a été évoqué à plusieurs reprises par les belles-mères enquêtées pour spécifier l’impact qu’elles pouvaient exercer auprès de leurs beaux-enfants. L’idée d’un enfant « tout fait », difficile « à modeler » est exprimée. On peut s’interroger sur l’impact que cela possède sur l’attitude de l’agent socialisateur. Le mode de résidence peut influer sur le rôle joué par la belle-mère dans la socialisation politique. Les discussions au Club des Marâtres tendent à souligner la variation du positionnement des belles-mères selon que l’enfant est en résidence complète chez le père, en résidence partagée ou en résidence dite « classique » (un weekend sur deux et la moitié des vacances). Cependant, il serait erroné de conclure à une influence proportionnelle au temps partagé. Ce n’est pas seulement en termes de durée qu’il faut penser cette variation mais aussi en termes de nature. 1 Cf.p5
167
L’attitude de la mère et celle du conjoint, le père des enfants, sont souvent évoquées par les belles-mères pour spécifier la place qu’elles occupent. L’idée que la mère a la possibilité de limiter les marges d’action de la belle-mère ressort de nombreux entretiens. L’analyse de l’influence du rôle du père est plus complexe. Deux dimensions sont exprimées : la façon dont il légitime la place et le rôle de la belle-mère et la façon dont il applique les conseils de sa conjointe. La récurrence, dans les discours des belles-mères, d’une volonté, non pas d’imposer leur mode de fonctionnement mais de conduire le père à le faire appliquer à ses enfants est marquante. En outre, la famille élargie peut jouer un rôle dans le positionnement des belles-mères comme agent de socialisation. Les grands-parents sont souvent évoqués comme source de légitimation ou au contraire de disqualification. Conclusion La persistance d’une division genrée des tâches conduit les belles-mères à faire valoir et appliquer, au sein du foyer recomposé, leur mode de fonctionnement, leurs règles, et à travers eux, leurs visions du monde. Dans le quotidien s’ancre l’impact des belles-mères dans la socialisation politique des enfants de la recomposition. L’étude de l’impact des belles-mères dans la socialisation politique de leurs beaux-enfants a permis d’ouvrir la « boite noire » du quotidien, en se détachant de l’argument biologisant d’un lien unique entre la mère et l’enfant. Cette recherche permet ainsi de participer plus largement à l’étude du rôle des femmes dans la socialisation politique familiale. Le contexte de négociation perpétuelle des rôles, de justification des décisions propres aux familles recomposées conduit en outre à une mise à jour des systèmes de valeurs relativement forte. Par ailleurs, nous avons souligné deux domaines particuliers aux familles recomposées, jouant un rôle dans la socialisation politique : d’une part la budgétisation qui est à l’origine de la construction d’un rapport particulier à la société de consommation et d’autre part, les stratégies de communication qui influent sur la conception du lien social et le rapport à autrui. Ce travail propose une première réflexion sur la socialisation politique dans les familles recomposées et engage dans le même temps des pistes de recherche à suivre notamment autour des questions liées à l’influence des différents types de configuration sur la définition des rôles des agents socialisateurs. Bibliographie BEAUD, Stéphane ; WEBER, Florence (1997) Guide l’enquête de terrain. Paris : La Découverte BIBLARZ, Timothy J.; RAFTERY Adrian (1993) “ The Effects of Family Disruption on Social Mobility ”, American Sociological Review, Washington: ASA, pp. 97-109 CADOLLE, Sylvie (2001) “ Charges éducatives et rôle des femmes dans les familles recomposées ”, Les Cahiers du genre. Paris : L’Harmattan, pp. 27-52 CADOLLE, Sylvie (2005) “ C'est quand même mon père ! La solidarité entre père divorcé, famille paternelle et enfant adultes ”, Terrain. Paris : MSH, pp. 83-96.
168
CADOLLE, Sylvie (2007) “ La place du beau-père dans les familles recomposées : une paternité de substitution ? ” Les Pères en débat. Paris : Erès, pp. 29-47. CAMPBELL, Angus, CONVERSE, Philip, MILLER, Warren, STOKES, Donald (1960) The American voter, New York: John Wiley and Sons CHERLIN, Andrew (1978) “Remarriage as an incomplete institution”, The American Journal of Sociology. Chicago: University of Chicago Press, pp. 634-650 DAVIES, James (1965) “The family’s role in political socialization”, Annals of the American Academy of Political and Social Science. Philadelphia: AAPSS, pp. 11-19. DECHAUX, Jean-Hugues (1994) “ L’économie cachée de la parentée ” Projet. Paris: CERAS, pp. 71-79 DOLAN, Kathleen (1995) “Attitudes, Behaviors, and the influence of Family: A Reexamination of the Role of Family Structure”, Political Behavior. New-York: Springer, pp. 251-264. DUNCAN, Berverly, DUNCAN, OtisDudley (1969) “Family Stability and Occupationnal Success”, Social Problems. Berkeley: University of California Press, pp.273-285 DUCHESNE Sophie (1997) “La politesse entre utilité et plaisir. Modes d’apprentissage de la politesse dans la petite enfance” Esprit. Paris : Transfaire, pp. 60-76. EASTON, David; DENNIS, Jack (1969) Children in the Political system: origins of political legitimacy. New York: Mc Graw-Hill HESS, Robert; TORNEY, Judith (1967) The Development of Political Attitudes in Young Adults. Chicago: Aldine Publishers HYMAN, Herbert (1959) Political socialization. A study in the psychology of political behaviour, Glencoe: The Free Press GILES-SIMS, Jean (1984) “The stepparent role : Expectations, behaviors and sanctions” Journal of Family Issues. Thousand Oaks : Sage, pp. 116-130 JAROS, Dean (1973) Socialization to politics. New York : Prager JAROS, Dean; HIRSCH Herbert; FLERON, Frederic (1968) “The malevolent leader : Political socialization in an American sub-culture” American Political Science Review. New-York: Cambridge University Press, pp. 564-575. JENNINGS, Kent, LANGTON, Kenneth (1969) “Mothers vs. Fathers: The formation of political orientations among young Americans” Journal of Politics. Cambridge University Press, pp. 329-358 KAUFMANN, Jean-Claude (2003) Sociologie du couple. 6è éd. Paris : PUF LANGTON, Kenneth (1969) Political Socialization. New-York : Oxford University Press LE GALL, Didier ; MARTIN, Claude (1990) Recomposition familiale, usages du droit et production normative. Caen : Centre de recherche sur le travail social. MARTIAL, Agnès (1996) S’apparenter, Ethnologie des liens de familles recomposées. Paris : MSH. MARTIAL, Agnès (2005) Comment rester liés ? Terrain. Paris : MSH, pp. 67-82 McCLOSKY, Herbert; DAHLGREEN, Harold (1959) “Primary group influence on party loyalty” American Political Science Review. New-York: Cambridge University Press, pp. 757-766. MEULDERS-KLEIN, Marie-Thérèse ; THERY Irène (1993) Les recompositions familiales aujourd’hui. Paris : Nathan, 1993 MUXEL, Anne (2008) Toi, moi et la politique. Amour et convictions. Paris : Seuil
169
MUXEL, Anne (2010) Avoir 20 ans en politique. Les enfants du désenchantement. Paris : Seuil PERCHERON, Annick ;; SUBILEAU, Françoise (1974) “Mode de transmission des valeurs politiques et sociales : enquête sur des préadolescents français de 10 à 16 ans (suite) ”. Revue Française de Science Politique. Paris : Presses de SciencesPo, pp 189-213 PERCHERON, Annick (1974) L’univers politique des enfants. Paris : Armand Colin PERCHERON, Annick (1985) “ La socialisation politique ;; défense et illustration ”, in GRAWITZ Madeleine ; LECA, Jean (dir.) (1985) Traité de sciences politique, Paris : PUF, pp. 166-235. PERCHERON, Annick (1985) “Le domestique et le politique. Types de familles, modèles d’éducation et transmission des systèmes de normes et d’attitudes entre parents et enfants”. Revue Française de Science Politique. Paris : Presses de SciencesPo, pp. 840-891. PERCHERON, Annick (1987) “La socialisation politique : un domaine de recherche encore à développer”. International Political Science Review. Thousand Oaks : Sage, pp. 199-203 PERCHERON, Annick (1993) La socialisation politique. Paris : Armand Colin. SEGALEN, Martine (2008) Sociologie de la famille. 6e éd. Paris : Armand Colin. SINGLY (de) François (2000) Libres Ensemble. Paris : Nathan SINGLY (de) François (2007) Sociologie de la famille contemporaine. Paris : Armand Colin. THERY, Irène ; DHAVERNAS, Marie-José (1991) Le beau parent dans les familles recomposées. Rôle familial, statut social, statut juridique. Vaucresson : CRIV. THERY, Irène (1998) Couple, filiation et parenté. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée. Paris : Odile Jacob. TREMEL, Laurent (2007) “Jeux, éducation et socialisation politique : contribution au rappel de la permanence d’un processus”. Géographie, Economie, Société. Cachan : Lavoisier, pp. 83-99. VIVAS, Emilie (2009) “1,2 million d’enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée”, Insee Première. Paris : Insee, pp. 1-4. WEBER, Florence (2005) Le sang, le nom, le quotidien. Une sociologie de la parenté pratique. La Courneuve : Aux lieux d’être. ZUCKERMAN, Alan; DASOVIC, Josip; FITZGERALD, Jennifer (2007) Partisan families: The social logic of bounded partisanship in Germany and Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
170
O Homem de negócios contemporâneo: três socializações?1 Marcio Sá UFPE/UMinho [email protected]
Resumo: A investigação na qual toma parte este texto tem como foco o Homem de negócios contemporâneo. Os principais aportes teóricos até então utilizados foram os trabalhos dos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Bernard Lahire, os estudos exploratórios e resultados parciais alcançados já foram publicados (cf. Sá 2010b; Sá et al. 2010a, 2010b). Inserindo-se no conjunto de esforços realizados nesse âmbito, aqui se pretende apresentar aspectos da socialização (de pessoas que atuam como Homem de negócios) sintetizados nos três perfis em construção: (1) O formado para os negócios, (2) O ascendente social por meio dos negócios, e (3) O herdeiro da tradição do comércio. Para o avanço na caracterização destes aspectos foram acessadas e entrevistadas pessoas que trabalham como empresários e/ou executivos em cidades do Nordeste do Brasil. São destacados aspectos principalmente relacionados à origem de classe e familiar, experiência educacional e trajetória de vida. L’homme d’affaires contemporain : trois socialisations? Résumé : La recherche sur laquelle s’appuie ce texte met l’accent sur l’homme d’affaires contemporain. Les principales contributions théoriques jusqu'alors utilisées ont été les travaux des sociologues français Pierre Bourdieu et Bernard Lahire, les études exploratoires et les résultats partiels obtenus ont déjà été publiés (cf. Sá 2010b ; Sá al 2010a, 2010b). S’insérant dans l’ensemble des efforts entrepris dans ce domaine, nous nous proposons de présenter les aspects de la socialisation (des personnes qui agissent comme un homme d'affaires) synthétisés dans les trois profils de construction : (1) L’homme formé pour les affaires ;; (2) l’homme qui monte dans la hiérarchie sociale grâce aux affaires et (3) l’héritier de la tradition du commerce. Dans la caractérisation de ces aspects nous avons consulté et interviewé des personnes du monde de l’entreprise ou des cadres supérieurs dans les villes du nord-est du Brésil. Nous avons soulignés principalement les aspects liés à l’origine sociale et familiale, l’expérience éducative et les trajectoires de vie. Introdução Diversos são os movimentos feitos no transcorrer de uma trajetória investigativa. Aquele que esta percorre faz aproximações e distanciamentos do fenômeno e de seus mais diversos aspectos. Este Colóquio Internacional “A crise da(s) Socialização(ões)” levou-me a dedicar uma maior atenção à dimensão “socialização” numa investigação em curso sobre o Homem de negócios contemporâneo. A principal questão da pesquisa é: Quais são as disposições1 que principalmente caracterizam o homem de negócios contemporâneo? Os principais aportes teóricos até
1 Texto escrito em conformidade com o último acordo ortográfico da língua portuguesa, bem como com a norma culta de seu uso no Brasil, para o Colóquio Internacional “A crise da(s) Socialização(ões)” (19 e 20 de abril de 2012, Braga-Portugal).
171
então utilizados foram os trabalhos de Pierre Bourdieu (1994, 2007[1979]) e Bernard Lahire (2004, 2005, 2006a, 2006b), os estudos exploratórios e resultados parciais foram recentemente publicados (cf. Sá, 2010a, 2010b, 2011b; Sá et al., 2010a, 2010b). Somando-se ao conjunto de esforços já realizados nesse âmbito, e a partir de entrevistas com pessoas que trabalham como empresários e/ou executivos em três cidades do Nordeste do Brasil (Recife, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe), aqui se pretende apresentar aspectos da socialização – principalmente relacionados à origem de classe e familiar, experiência educacional e trajetória de vida – de pessoas que atuam como Homem de negócios no contexto em questão, por meio de três perfis2: (1) O formado para os negócios, (2) O ascendente social por meio dos negócios, e (3) O herdeiro da tradição do comércio. Os critérios, o método e os capitais3 Para seleção dos entrevistados, dois aspectos foram fundamentais e decisivos para a faixa etária escolhida (entre trinta e quarenta anos): (1) Não serem nem jovens entrantes (que, nesta condição, estão bastante sucessíveis a incorporar discursos e práticas demandadas pelo mercado e assim se adaptar às suas exigências) e, ao mesmo tempo, não serem já empresários ou executivos muito bem estabelecidos e assim com seu conjunto de disposições possivelmente mais “estabilizado”. Ou seja, a faixa etária e, consequentemente, o tempo de atuação no “campo” dos negócios foram decisivos para escolha dos indivíduos a serem entrevistados. Outro critério também foi considerado para a seleção e realização de entrevistas foi a acessibilidade. Para tal, foi utilizada a mesma estratégia adotada por Lahire (2004) na qual se buscou uma pessoa não tão próxima que poderia vir a se sentir inibida ou constrangida em revelar “seus segredos” para alguém que vê com frequência, e, por outro lado, não completamente desconhecida ou sem uma indicação de um conhecido, para que assim o entrevistado se sentisse confiante em revelar detalhes de sua história
1 Na pesquisa e neste texto, disposições entendidas como modos de pensar, agir e sentir – não se trata do pensamento, ação ou sentimento em si, mas sim do que está por trás deles, que “não pode ser observado diretamente”, mas que pode ser construído interpretativamente e ser visto como “molas propulsoras” de diversos pensamentos, ações e sentimentos observáveis no cotidiano dos homens de negócios. Esta concepção é apropriada dos trabalhos de dois sociólogos franceses, Pierre Bourdieu (1994, 2007) e Bernard Lahire (2004, 2005, 2006a) (cf. Sá, 2010b). 2 Registro logo de início que estes perfis se encontram em construção. No estágio atual da investigação, venho submetendo-os a críticas dos pares e mesmo a mais rigorosa crítica que eu mesmo posso empreender sobre eles para ver se (e até que ponto) resistem. A concepção dos mesmos se deu sob a influência das ideias de (1) “tipo ideal” (Weber, 1999), (2) “habitus (enquanto sistema de disposições de classe)” (Bourdieu, 2007) e (3) de “variações intra e interindividuais” (Lahire, 2005, 2006a) nas disposições de indivíduos que constituem uma mesma classe. No entanto, neste estágio da pesquisa não segue exatamente nenhum dos procedimentos metodológicos que estes autores utilizaram em seus trabalhos. Denominá-los deste modo é um recurso para que estes não sejam vistos estritamente nem como (1) puras abstrações conceituais do pesquisador a serem confrontadas com a realidade, (2) apresentação de aspectos do habitus de uma fração de classe, ou mesmo (3) tentativas de descrição das características de um indivíduo particular, uma vez que se trata de síntese a partir de algumas entrevistas realizadas com indivíduos que se aproximam/distanciam mais ou menos de cada um dos perfis. Talvez se esteja em busca de um “caminho” a partir destes três autores-referências. Por esta condição contingente do trabalho, termos como “tendem”, “podem”, “de modo geral” são recorrentes já que explicitam o caráter provisório do que é dito. 3 Esta seção recupera trechos anteriormente apresentados em Sá (2010a, 2010b).
172
de vida. Ser um tanto extrovertido, gostar de falar sobre si e sobre sua vida foi outro critério utilizado para a escolha dos entrevistados. O roteiro para a entrevista foi estruturado e adaptado, considerando a metodologia de Lahire (2004) e a partir de roteiro desenvolvido já utilizado em pesquisa anterior (cf. Sá, 2011a). Este foi dividido em nove partes as quais têm como temas: o trabalho, a vida econômica, o consumo e o lazer, as opiniões políticas e convencionais, a vida escolar, a familiar, as relações de gênero, a visão que o entrevistado tem de si mesmo e a religião. As três primeiras entrevistas realizadas foram transcritas, resumidas, apresentadas e analisadas preliminarmente nos capítulos cinco, seis e sete de Sá (2010b). Após a realização dessas primeiras entrevistas foi possível definir de modo mais preciso os perfis de partida para as próximas entrevistas1. Estes perfis são sínteses em construção e avaliação, com fins de vir a serem confrontados e reelaborados a partir de novos casos empíricos agregados no desenvolvimento da investigação. De modo geral, são apontados alguns traços pertinentes em termos de volume e tipos de capitais que seriam mais característicos a cada um deles. Pierre Bourdieu (1994, 2007) compreende o termo capital não somente pelo acúmulo de bens e riquezas econômicas, mas também pelos recursos ou mesmo poder que se manifesta em atividades sociais. Assim, além do capital econômico (renda, salários, imóveis), é decisivo para o sociólogo a compreensão de capital cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos, ou também por meio de inserção e convívio em determinados espaços sociais2), capital social (relações sociais que podem ser convertidas em recursos) e o capital simbólico (aquilo que chamamos de prestígio ou honra e que permite identificar os agentes no espaço social). Nesta perspectiva, as desigualdades sociais não decorreriam somente de desigualdades econômicas, mas sim do volume e da estrutura destes capitais distribuído entre os membros das diferentes classes sociais (Socha, 2008: 46). Aspectos das socializações sintetizados nos perfis Nesta seção são apresentados alguns aspectos destacados das socializações sintetizados nos perfis. No início de cada tópico-perfil são recuperadas e atualizadas as definições básicas de cada um deles apresentadas anteriormente (cf. Sá, 2010b). Antes de prosseguir é importante registrar que aqui não se pretende argumentar que estes perfis são representativos do universo das socializações das pessoas que atuam como Homem de negócios no contexto estudado, mas sim que apresentam traços das diferentes socializações que puderam ser observadas a partir dos esforços investigativos anteriormente mencionados.
1 No total, foram realizadas dezesseis entrevistas em profundidade com oito pessoas, tendo sido seis com homens e duas com mulheres. As entrevistas foram realizadas entre janeiro e outubro de 2010. Todas devidamente ambientadas na região Nordeste do Brasil, no estado Pernambuco e nas cidades anteriormente mencionadas. 2 Afinal, saber bater palmas no momento adequado num concerto de música clássica ou escolher o vinho apropriado à temperatura ou momento do dia exemplificam tipos de conhecimentos também denominados como “capitais culturais” por Bourdieu.
173
Formado para os negócios Tem origem social no que convencionamos denominar de classe média. Estudou em boas escolas particulares na infância, teve acesso ao ensino superior e, em certa medida, faz “bom uso” da língua e demonstra familiaridade com tecnologias de gestão e conceitos/termos de mercado (tais como: segmento de mercado, público-alvo; desempenho; produtividade; efetividade etc.). De modo direto ou indireto acessa a rede social da família (ou mesmo a sua) para se projetar profissional ou socialmente. Usufrui do capital econômico disposto pela família. Tem trajetória de vida e disposições bastante típicas da classe média (Sá, 2010b: 248-9). - Origem, escolaridade e “herança” dos pais: seus pais apresentam ocupações características da classe média, podem ser advogados, engenheiros, executivos, funcionários públicos, bancários etc. Ou seja, tiveram a oportunidade de ingressar e até mesmo concluir o ensino superior, tendo uma formação universitária específica para o desempenho de atividade socialmente reconhecida e valorizada como profissão1. Podem até ter tido algum tipo de dificuldade e limitação econômica quando crianças, mas após adulto o sustento da família nunca foi algo criticamente preocupante, tendo em vista o status socioeconômico que alcançou. Pais com trajetórias como essas tendem a deixar como herança para o perfil a crença de que há uma ampla gama de possibilidades na vida que lhe são viáveis, bem como a convicção de que podem vir a ser “alguém na vida” – algo decisivo para o desenvolvimento da autoestima e autoafirmação do perfil. Tendo “relativa liberdade” (embora esta seja em muitos casos permeada pelas expectativas do que eles próprios desejam e esperam do filho, algo, obviamente, valorado socialmente como um “bom futuro” profissional) para escolha do curso universitário a ingressar, caso escolha bem a sua profissão e apresente uma postura perante ela similar a deles (pais), desenvolve a certeza que terá a capacidade de ter e dar uma vida tranquila para a sua futura família. Além dessa herança-constitutiva do perfil, há também outras nas esferas econômica e social. Este perfil tende a usufruir direta ou indiretamente do capital econômico que os pais acumularam ao longo de sua trajetória de vida (ou mesmo que já o havia herdado dos seus ancestrais...). Ou seja, pode usufruí-lo ou então ter o conforto existencial de saber que, caso atravesse ou tenha problemas neste campo, tem a quem recorrer. Ao longo da infância, adolescência e vida adulta, o filho-perfil é tratado como “um fim em si mesmo”, ou seja, para ele se faz tudo o que estiver ao alcance dos pais, que agem motivados pela expectativa de propiciar a ele as melhores condições para que possa vir a se desenvolver e, futuramente, ser reconhecido, como uma pessoa valorosa e de destaque profissional (sendo assim, detentora de algo similar ao que Bourdieu denominou de “capital simbólico”). É a partir desta origem de classe que surge o perfil formado para os negócios. Um jovem que, ao partir destas condições, direciona sua formação e atividades profissionais para o campo dos negócios.
1 Aqui se entende profissão como sendo a especificação, a especialização e a combinação de competências que permite a uma pessoa se assegurar de chances permanentes de abastecimentos e ganhos (Weber citado em Lahire, 2006b: 43). Em particular, este uso é feito no sentido de um indivíduo ter passado por uma formação específica para tal e ser remunerado pelo que se produz a partir desta. Inclusive, esta formação não precisa ter sido especificamente em gestão, no entanto, a soma desta formação com as experiências profissionais que o perfil vai tendo ao longo de sua trajetória o possibilita ser considerado um indivíduo que hoje tem, nos negócios, uma profissão.
174
- Trajetória escolar e vias de inserção socioprofissional: foi por meio desta condição socioeconômica que seus pais conseguiram arcar com os custos de uma boa escola particular1 para o perfil que cresceu e foi educado no seio da classe média. Uma escola e trajetória de inserção social desse tipo são vistas como sendo algo comum para eles. O estudo escolástico fez parte do seu cotidiano desde cedo, tanto pelas cobranças escolares quanto domésticas. O ambiente doméstico geralmente é composto por espaços que possibilitam o estudo, bem como os pais provavelmente apresentam hábito de leitura (mesmo que seja apenas de jornais ou revistas) e disciplina em termos de horários e atividades a serem realizadas conforme tal2. Outro aspecto. Desde cedo, já na escola – e, obviamente, de modo pré-reflexivo, por ser uma consequência de estar e crescer naquele meio social – constrói amizades ou relações sociais com pessoas que podem vir a lhe possibilitar, quando já jovens ou adultos, o acesso a oportunidades profissionais. Ou seja, o perfil tem, no início de sua vida e em sua adolescência, a oportunidade de, por meio da escola e de um lar minimamente estruturado (pais que dão o exemplo da disciplina do trabalho, da leitura e que separam espaços dentro da casa para atividades intelectuais), desenvolver-se cultural e intelectualmente, bem como inserir-se socialmente. Diante de tudo isso, caso assim o quis (e se preparou para tal), este perfil teve um “fácil acesso” (se comprado com os demais a seguir) às melhores faculdades de sua cidade-região-país. A inserção profissional num determinado campo pôde-se dar por intermédio de uma das pessoas com as quais sua família, ou ele, mantém laços sociais. Este perfil pode dispor tanto de “capital social” que herda da família quanto de rede social que construiu na escola, no clube que frequentou, no curso de línguas que fez, ou mesmo na faculdade, como fontes de possibilidades de estabelecer relacionamentos sociais que viabilizam a inserção profissional. Tudo isso sem falar nas competências que vai incorporando ao longo de sua trajetória de vida e formação universitária-profissional. Afinal, tanto pode estudar nas melhores faculdades quanto ter acesso a oportunidades e experiências profissionais. Estas últimas, inclusive, poderão vir a ser mais significativas em termos de incorporação de conhecimentos práticos do que a própria formação universitária em si. Em síntese, para se projetar profissionalmente, este perfil dispõe daquilo que podemos denominar de “capitais bourdiesianos” em bom volume, pode vir a ter formação teórica e prática em negócios. Na realidade, como apontado anteriormente, estes são, para ele, uma profissão. Ascendente social por meio dos negócios Tem origem social nas classes populares brasileiras. Não estudou em boas escolas particulares na infância e adolescência, com dificuldade e/ou determinação completou o ensino médio ou até mesmo teve acesso ao ensino superior. Somente com esforço pode vir a dominar o correto uso da língua (algo que também pode não acontecer a depender 1 No contexto do Nordeste brasileiro há uma diferença significativa entre o nível do ensino nas melhores escolas particulares e na escola pública em geral, o que leva a maior parte das classes média e alta a pagarem por uma escola privada para seus filhos, sendo este um recurso nem sempre possível aos membros das classes menos abastadas. 2 Acredito que faça uma significativa diferença ter em casa, por exemplo, um escritório ou espaço similar destinado a atividades de estudo e/ou trabalho intelectual (e ver seus pais utilizando-o para tal) e, de outro lado, crescer e viver numa casa apertada, com poucos cômodos, sem a possibilidade de, no lar, usufruir de um ambiente favorável à concentração e desenvolvimento de atividades escolares.
175
do caso e de sua trajetória de vida) e, posteriormente, conhecer os conceitos/termos de mercado. A princípio não dispõe de rede social que lhe seja útil para se projetar profissional e/ou socialmente. É também desprovido de capital econômico familiar ou próprio no início de sua vida adulta. Obteve capital cultural ou por meio de aprendizado prático e/ou cursos técnicos, que o permitiu conhecer bem sua área de atuação, ou então pela realização de curso universitário (superando dificuldades e limitações de partida para isso). Tem trajetória de vida e disposições bastante típicas (disposição para “superação de si” ou autossuperação1, disciplina etc.) de pessoas que precisaram ascender socialmente e assim mudar de classe, ou seja, o que Bourdieu denominou de “trânsfuga de classe”. A determinação e a luta diária para “vir a ser alguém na vida” são marcas dos momentos significativos de sua trajetória. (Sá, 2010b: 249) - Origem, escolaridade e “herança” dos pais: a origem familiar deste perfil está vinculada às classes populares, ou seja, tende a ter como pais pessoas que trabalham como pequenos comerciantes, costureiras, professoras “primárias”, trabalhadores braçais (caminhoneiros, pedreiros, marceneiros etc.) que somente com muita dificuldade e esforço conseguiram chegar a concluir o antigo segundo grau2, havendo obviamente uma alta possibilidade de não tê-lo conseguido. Este perfil tende a apresentar como característica a educação num contexto de limitações materiais, a não herdar dos pais significativo volume de dinheiro ou bens (capital econômico), muito menos ampla rede de conhecidos e contatos (capital social), além dos próprios familiares, aos quais possa vir a recorrer diante dos mais diversos desafios da vida. Recebem como principal ensinamento moral a máxima de “ser honesto e trabalhador”, essa é a honra de uma família pobre que olha para as classes média e alta “de baixo pra cima”, mas que, ao mesmo tempo, se orgulha de ter honestidade e disposição para o trabalho (capitais simbólicos). Nessa realidade, o aprendizado (capital cultural) que recebe da família tende a ser de menor valor (ilegítimo) – obviamente, considerando a hierarquia valorativa vigente na sociedade brasileira contemporânea. De modo geral, podem até vir a hoje apresentar bom domínio da língua, mas este foi obtido por meio de esforço neste sentido, no entanto, em muitos casos, o modo de falar pode ser de alguém de origem humilde que geralmente se coloca numa postura de “inferioridade cultural” diante do entrevistador. - Trajetória escolar e vias de ascensão: estudou em escola pública3, ao menos completou o antigo segundo grau e pôde apresentar, a partir de então, uma das duas trajetórias rumo à ascensão socioeconômica a seguir (detalhe: ambas são influenciadas decisivamente pelo tipo de relação com os estudos que o perfil estabeleceu ao longo de sua trajetória escolar). Na primeira, monta-se um negócio próprio e, caso este requeira conhecimentos específicos ara além dos práticos que incorpora trabalhando, procura-se fazer tantos
1 Estas disposições seriam as inclinações e propensões – que podem ser observadas empiricamente por meio de trechos da história de vida de um indivíduo e que apontam para pensamentos, sentimentos e ações – que visam à superação de uma condição de vida anterior ou atual e, consequentemente, a projeção do indivíduo para uma outra situação de vida vista, por ele, como melhor, tanto para ele quanto para seus familiares. Para que esta superação aconteça é (ou foi) preciso que ele incorpore algumas disposições, reforce algumas outras, ou então “desative” outras que compõem seu “estoque disposicional”, mas que não seriam pertinentes a este tipo de movimento (cf. Sá, 2010b). 2 Equivalente aos três últimos anos de estudos do liceu (antecede aos cursos técnicos ou mesmo à universidade). 3 É claro que há possibilidade de ter estudado numa escola particular, porém muito dificilmente numa das melhores da cidade.
176
cursos técnicos quantos forem necessários. No entanto, quando sua trajetória se encaminha neste sentido, este perfil apresenta uma capacidade diferenciada de aprender na prática, ou seja, de ser autodidata. Na segunda, o caminho é investir bastante nos estudos formais e dar continuidade a estes superando as dificuldades econômicas. Nesta, a formação superior (e uma eventual pós-graduação) geralmente se dá à noite, concomitantemente a alguma atividade laboral durante o dia. Ambas as trajetórias de ascensão cobram do indivíduo alguns traços de personalidade socialmente construídos neste processo. Muita coragem, determinação e disciplina, tendo como foco a “superação de si” e de sua condição social de partida, quer por meio de grande dedicação aos negócios e/ou aos estudos. - Superação da condição de partida: neste percurso, demonstra coragem para investimentos em capacitação e/ou na inserção em novos mercados, mesmo quando implica em ir além dos recursos que dispõe, e disciplina para manter-se ascético nos hábitos de consumo por longos períodos (quando necessário). No caso de ser executivo e precisar andar “mais arrumado”, compra roupas de grifes para transitar no meio, assim atendendo à “norma implícita” e modificando seus hábitos originais de classe, tendendo inclusive a vir a desenvolver um “novo gosto” por grifes em decorrência disso. A boa escola particular, o curso de inglês e a prática de um esporte são exemplos de investimentos feitos na próxima geração para que ela também faça deslocamento social ascendente ou, ao menos, tenha experiências que ele mesmo não teve na infância. Isso é motivo de orgulho e geralmente leva o entrevistado a “encher a boca” para falar das possibilidades que está oferecendo aos filhos. Possibilidades essas que, obviamente, não teve na sua infância. - Foco na empresa-carreira: um aspecto importante para a superação da condição de partida é uma grande determinação no sentido do desenvolvimento da empresa e/ou carreira. Algo que pode ser observado por meio da prioridade que o perfil tende a estabelecer, a depender de sua condição atual, na ascensão profissional por meio da carreira (caso do executivo) ou da estruturação e crescimento da empresa (empresário). É recorrente nas entrevistas realizadas a pretensão de estruturar melhor o negócio e/ou crescer ainda mais na carreira. No entanto, algo que é comum ao perfil anterior, se configura de modo diferente neste por dele requerer maior dedicação para superar suas condições de partida (algo que não tende a acontecer no perfil formado para os negócios). Em síntese, ao começar “do zero” (ou quase disso), quer uma empresa quer uma carreira, foca suas energias bastante nisso, mais até do que na própria família e/ou outras dimensões da vida. - Visão de futuro relacionada aos negócios e/ou carreira: característica também referente ao perfil anterior, no entanto, diferente em termos dos percursos neste sentido. Neste caso, o empresário ascendente social precisa aprender (por meio de cursos técnicos ou por autodidatismo mesmo) para ensinar aos funcionários e, em certa medida, se projetar como modelo a ser seguido por eles. Neste mesmo âmbito, outro aspecto é a visualização de novos negócios e investimentos neles, tais como, mudança de ramo ou busca por inovação com criatividade. Tomando como horizonte de futuro o crescimento profissional, com dedicação aos estudos supera limitações de formação básica ou mesmo econômica para concluí-los. Também aceita empregos “com futuro” mesmo que com baixo salário tendo em vista o desenvolvimento da carreira e um melhor futuro nela mais adiante. Articula-se com possíveis parceiros comerciais ou mesmo colegas de campo de trabalho para criar e fortalecer uma boa rede social (que não tinha inicialmente). De modo geral, acredita em
177
sua capacidade intuitiva para seguir adiante em “projetos para o futuro” do negócio e/ou da carreira mesmo contrariando a opinião dos outros. Herdeiro da tradição do comércio Este perfil pode ser melhor reconhecido não em termos de sua origem social, mas sim por meio das práticas que apresenta, já que é, como o título diz, o herdeiro da tradição do comércio. Podendo até ter estudado em escolas particulares na infância, este perfil pode apoiar a compreensão de casos de pessoas que agem de modo mais concernente aos contextos tradicionais do que modernos. De modo direto ou indireto acessa a rede social da família (ou mesmo a sua) para resolver assuntos profissionais ou sociais. Pode até usufruir de certo capital econômico familiar, mas faz uso deste em termos de reprodução do modelo tradicional-comercial da própria família. Não apresentou ao longo de sua trajetória grandes esforços no sentido da obtenção de conhecimento/capital cultural. Tem trajetória de vida e disposições similares (“herdadas”) aos pais e ao contexto social no qual os pais atuaram (Sá, 2010b: 249-50). - Origem, escolaridade e “herança” dos pais: vejamos duas das possíveis origens deste perfil. Uma primeira bastante comum ao contexto do Agreste pernambucano, ou seja, das cidades de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe1. Um casal de agricultores-comerciantes vem de um interior menor para Caruaru, tendo estudado muito pouco. Ainda pequeno, seguiu os pais ao começar a trabalhar logo cedo no comércio, “as pessoas daqui começam cedo, elas começam logo a aprender a negociar, eu mesmo aprendi muito, eu já fiz roupas, já vendi na feira”. Uma segunda, ambientada em Recife, está vinculada ao fato dos pais serem proprietários de algum tipo de comércio no qual o perfil cresceu e se inseriu ao ponto de um dos entrevistados afirmar que acha “que minha vida no comércio é por causa do meu pai”. É importante frisar aqui que a “herança da tradição do comércio” não se trata apenas ou exclusivamente de uma herança familiar. Um filho de um funcionário público pode também crescer inserido num contexto de negócios, que pode ser caracterizado como tradicional, e assim vir a se desenvolver neste campo no mesmo sentido de alguém que tenha uma das origens acima apresentadas. Deixo claro aqui que não se trata, de modo algum, de “herança genética”, mas sim da reprodução de práticas que caracterizam este tipo de atividade comercial e que pode ser amplamente vista em trabalho anterior (cf. Sá, 2010a). Não é improvável que eles herdem certo capital econômico, principalmente um negócio próprio iniciado pelo pai e que o perfil dá continuidade. A força da tradição do comércio neste tipo de família pode ser representada pela máxima-lição que se mostrou recorrente nos perfis entrevistados: “meus pais ensinaram a comprar e a pagar” (no sentido de serem honestos nas transações comerciais). - Trajetória escolar e incorporação da tradição do comércio: de modo geral, este perfil apresentou desempenho fraco nos estudos escolares e a este foi combinada uma precoce inserção na dinâmica de um comércio familiar no qual, em muitos casos, cresce nele e não em casa estudando. Tanto trechos da entrevista quanto a análise feita anteriormente sobre um dos entrevistados – que “na realidade, seus pais não o cobravam em relação aos estudos na infância e a oficina do pai foi o caminho da adolescência por meio do 1 Ver as histórias de “Justino” e “Neide”, personagens dos capítulos três e quatro de Sá (2011a), pode ilustrar a compreensão desta possível origem do perfil. Outra possível origem pode ser vista no capítulo sete, “Um empresário que se diz comerciante”, em Sá (2010b: 211-39).
178
qual ele pode ‘escapar dos livros’ rumo ao trabalho” (Sá, 2010b: 236) – apoiam tal leitura dos fatos. Não incorporam, ao logo de sua trajetória, significativo volume de conhecimento especializado quer seja por curso técnico ou mesmo na escola. Não desenvolvem competências administrativas específicas e reproduzem um modelo de fazer negócios similar ao que teve contato desde cedo, por meio daquela inserção precoce no comércio. É importante registrar que não se trata de inferioridade intelectual ou algo do tipo, mas sim do privilégio de disposições que se originam no desenvolvimento de sabedoria (argúcia, perspicácia etc.) e habilidade para fazer negócios, em detrimento de uma busca por conhecimentos especializados para tal (como no caso dos perfis anteriores, em particular o primeiro). O crescimento, a adolescência e o início de vida adulta inseridos no contexto comercial e, concomitantemente, fraco desempenho e desinteresse pela escola, faz com que este perfil seja mais facilmente caracterizado pela incorporação de disposições pertinentes a este tipo de atividade do que propriamente por sua origem de classe (muito embora esta, obviamente, seja relevante). - Reprodução do modelo de partida: como os principais conhecimentos que utiliza em seu cotidiano de vida-trabalho são incorporados por meio da observação e da própria prática, este perfil muito frequentemente aprende a trabalhar nos negócios com os familiares mais próximos e incorpora em sua vida este aprendizado da prática comercial. Em decorrência da não incorporação plena da disciplina escolar ou de disciplina ascética por outros meios, não tende a estabelecer uma rotina “profissional e disciplinada” (principalmente se comparado aos outros perfis). Aparenta relativo conforto no modelo herdado, ou seja, em ver e fazer as coisas de modo similar aos seus antecedentes. Muito embora seja bastante comum (mais do que nos outros perfis) a presença de familiares nos negócios, tanto pode ver nos filhos o esteio da continuidade dos seus negócios quanto querer para ele um futuro diferente, a exemplo de cursar uma universidade (algo mais comum). Pode-se conjecturar que se tornam comerciantes por necessidade, reprodução social ou mesmo por não terem sido capazes (ou mesmo não terem tido condições para tal) de enfrentar um curso universitário e vir a ter uma profissão. Considerações Finais A diferença entre os perfis é a princípio uma diferença articulada dos seguintes aspectos: origem familiar/de classe (e heranças de socializações que incorpora ou não), trajetória de vida, contexto social no qual vive (e atua) e tipo de “capital” (Bourdieu) que acumula. O esforço no sentido da construção de perfis de homens de negócios atuantes na sociedade contemporânea, em particular numa região específica do Nordeste do Brasil, o Agreste pernambucano (leia-se: Recife-Caruaru-Santa Cruz do Capibaribe), é mais uma etapa necessária para que uma compreensão-explicação acerca dos seus modos de agir, pensar e sentir (suas disposições) possa vir a ser desenvolvida. Por fim, há uma interdependência cuja explicitação gostaria de fazer. Para que haja mudança de grande impacto social, numa sociedade de mercado como a nossa, é preciso que a sociedade, por meio de políticas públicas estatais, atue no sentido de estimular a mudança na mentalidade e nas práticas nos negócios. Sem interferência educacional societária e estatal creio que seja muito difícil promover mudanças necessárias nos
179
modos de ser fazer negócios e, sem homens de negócios cada vez mais atuantes de modo cada vez mais condizente com valores (retidão, justiça, igualdade, respeito aos funcionários ou subordinados, ao meio ambiente e ao Estado etc.) que viabilizem uma sociedade melhor nestes termos, fica muito difícil realmente melhorá-la. Referências BOURDIEU, Pierre (1994 [1972]) “Esboço de uma teoria da prática”. In: ORTIZ, Renato (1994) Pierre Bourdieu. (org.). São Paulo: Ática, pp. 46-81. BOURDIEU, Pierre (2007 [1979]) A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Editora Zouk. LAHIRE, Bernard (2004) Retratos Sociológicos: disposições e variações individuais. Porto Alegre: Artmed. LAHIRE, Bernard (2005) “Patrimônios individuais de disposições: Para uma sociologia à escala individual”. Sociologia, Problemáticas e Práticas. Lisboa: pp. 11-42. LAHIRE, Bernard (2006a) A cultura dos indivíduos. Porto Alegre: Artmed. LAHIRE, Bernard (2006b) La condition littéraire: la double vie des écrivains. Paris: La Découverte. SÁ, Marcio (2010a) “A sociologia disposicionalista e o homem de negócios contemporâneo”. In: Anais do VI EnEO. Florianópolis: Anpad. SÁ, Marcio (2010b) O homem de negócios contemporâneo. Recife: Editora da UFPE. SÁ, Marcio (2011a) Feirantes: Quem são e como administram seus negócios. Recife: Editora da UFPE. SÁ, Marcio (2011b) “Pesquisa Social em Administração: Uma Trajetória em Retrospectiva”. In: Sá, Marcio (2011b) Frutos do Agreste: sobre ensino e pesquisa em Administração. Recife: Editora da UFPE, pp. 89-110. SÁ, Marcio; et al. (2010a) “Por um lugar no mercado... Ou jovens em luta na TV: O que os fazem perder?” In: Junqueira, L. . (2010a) Cultura e classes sociais pela perspectiva disposicionalista. Recife: Editora da UFPE, pp. 63-88. SÁ, Marcio; et al. (2010b) “O “super-homem” de negócios”. In: Junqueira, L. (2010b) “Cultura e classes sociais pela perspectiva disposicionalista”. Recife: Editora da UFPE, pp. 271-304. SOCHA, Eduardo (2008) “Pequeno glossário da teoria de Bourdieu” (Dossiê Pierre Bourdieu). In: Revista CULT. n. 128, Ano 11, set 2008, pp. 44-65. WEBER, Max (1999) “Objetividade do Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política”. Metodologia das Ciências Sociais (Parte 1). 3ª ed. São Paulo/Campinas: Cortez/Unicamp, pp. 107-54.
180
Universo de programas: a política de educação do campo em Sergipe Marilene Santos Doutoranda do NPGED/UFS/BR e Estágio Sanduiche no IE/UL/PT E-mail: [email protected] Resumo: O presente trabalho é parte da pesquisa de doutorado que estamos desenvolvendo atualmente sobre política pública na área da Educação do Campo no Estado de Sergipe. Este artigo trata dos principais programas dessa política desenvolvida no Estado de Sergipe no período 1997 – 2009 que conta com: o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, programa Nacional de Educação de Jovens integrados com qualificação social e profissional para agricultores familiares – o PROJOVEM Saberes da Terra, o programa Educação nos Quilombos, O projeto Escola Ativa e, o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO. Un univers de programmes : la politique d’éducation des campagnes à Sergipe Résumé : Ce travail s’inscrit dans le cadre de la recherche doctorale que nous sommes en train d’élaborer sur les politiques publiques dans le domaine de l’éducation rurale dans l’État de Sergipe. Cet article traite des principaux programmes de la politique développée dans l’état de Sergipe dans la période 1997 - 2009 qui comprend : le Programme National d’Éducation dans la Réforme Agraire –PRONERA, Programme National de l’Éducation des Jeunes intégrés avec qualification sociale et professionnel pour les agriculteurs – PROJOVEM Savoirs de la Terre, Programme d’Éducation dans le Quilombo, le projet École Active et le Programme d’Appui à l’Enseignement Supérieur en License de l’Éducation de la Campagne – PROCAMPO. O presente texto se constitui numa parte da pesquisa que desenvolvo no doutorado em Educação através do Núcleo de Pós-Graduação em Educação – NPGED da Universidade Federal de Sergipe –UFS. A referida pesquisa tem como questão central compreender se: “Os programas educacionais implementados nas escolas do campo no Estado de Sergipe têm produzido impacto na política educacional camponesa”. Para tal questão temos como objetivo geral: Analisar os impactos produzidos pelas políticas educacionais implementadas nas escolas do campo no período entre 1997 e 2009 no Estado de Sergipe. Dos programas educacionais implementados no campo sergipano no referido período, destacamos: o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, Saberes da Terra - PROJOVEM, Educação Quilombola, Projeto Escola Ativa e Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO, que constitui esse artigo. A educação escolar brasileira, direito de todos os cidadãos, ainda não é uma realidade para muitos/as brasileiros/as. Isto se confirma quando analisamos o índice de analfabetismo existente no país que, conforme dados do último Censo Demográfico de 2010 (IBGE), alcança um percentual de 9,02% da população com mais de dez anos de
181
idade correspondendo a 14.612.183 pessoas, aproximadamente, que afirmam não ter condições de escrever um bilhete ou anotar um recado. Na zona rural os índices de analfabetismo continuam muito elevados considerando o quantitativo populacional da zona urbana e da zona rural. Segundo o mesmo Censo Demográfico, 9,4 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever vivem em áreas urbanas e 5,2 moram em zonas rurais. As condições de funcionamento e a formação dos professores são também mais precárias que as da zona urbana. As escolas rurais apresentam características físicas muito diferenciadas em termos de recursos disponíveis. Considerando o número de salas de aula como um indicador do tamanho da escola, nas escolas urbanas 75% daquelas que oferecem o ensino fundamental têm mais de cinco salas de aula. Para as escolas localizadas na zona rural, o perfil é diferente, 94% têm menos do que cinco salas de aula. Se tomássemos como referência a formação dos professores do ensino fundamental da zona rural, observaríamos que apenas 9% apresentam formação superior, enquanto que, na zona urbana, o contingente representa 38% dos docentes. Por tratar-se de uma política em processo de implementação, a Educação do Campo transita num universo de programas e projetos muito diversos. Esta condição se constitui num dos principais motivos que levam a uma suspeição sobre o caráter de política pública da Educação, visto que, ao término de cada projeto não há nenhuma garantia de continuidade. Por isso a luta dos trabalhadores para garantir à Educação do Campo o status de política pública de Estado. A Educação do Campo já conta com diretrizes especificas aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, entretanto é constituída basicamente de programas e projetos. Entendemos programa como um conjunto de projetos homogêneos, integrados e temporários com uma finalidade precípua. No campo educacional os programas são definidos para traçar o perfil do sujeito que se envolverá com trabalho, comportamento, postura administrativa, diagnosticar a situação, elaborar as ações e medidas que deverão ser tomadas. Os programas dizem respeito às áreas restritas de atuação. Já os projetos referem-se ao como serão executadas as atividades relativas aos programas e planos. Trata especificamente de quem, como, quando e onde os sujeitos envolvidos vão atuar. O projeto é um esforço temporário empreendido para alcançar um objetivo específico e único motivado pela demanda particular de uma comunidade e/ou instituição, entre outros. Quanto a definição do que se entende por Políticas Públicas, não há um conceito fechado ou único que contemple o termo. Sobre os conceitos mais utilizados na área afirmamos que: “Mead (1995) define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Já Lynn (1980) como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos” (SOUZA, 2007, p. 68). Concordamos com o conceito defendido por Souza por considerá-lo abrangente e mais identificado com o tipo de política pública que pretendemos analisar: “Política pública como campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o ‘governo em ação’ e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (Souza, 2006: 69).
182
Este conceito de política pública contribui para uma compreensão dos elementos que produzem a Educação do Campo, por isso consideramos adequado para nossa análise. Há na literatura da área diversas categorizações sobre o assunto, a mais conhecida e disseminada é a elaborada por Theodor Lowi (2011). Ele estabelece quatro formatos de políticas públicas: as políticas distributivas – as decisões são tomadas pelo governo sem considerar os limites orçamentários e seus impactos são mais individuais que universais; as políticas regulatórias – têm mais visibilidade e envolve a burocracia, os políticos e grupos de interesse; as políticas redistributivas - produzem perdas em curto prazo para alguns e ganho nem sempre garantido para outros; as políticas constitutivas – que lidam com procedimentos. Souza apresenta ainda outros tipos de políticas públicas consideradas principais. Destacamos aqui: “Modelos Influenciados pelo Gerencialismo e pelo Ajuste Fiscal”, que entendemos trazer contribuições à nossa análise. Este tipo de política pública tem como objetivo principal a eficiência das políticas públicas, seguido da importância de credibilidade e delegação das políticas às instituições com o mínimo de independência política. Influenciados por este modelo há uma tendência de adotar políticas de caráter participativo: “Impulsionadas, por um lado, pelas propostas dos organismos multilaterais e, por outro, por mandamentos constitucionais e pelos compromissos assumidos por alguns partidos políticos, várias experiências foram implementadas visando à inserção de grupos sociais e/ou de interesses na formulação e acompanhamento de políticas públicas, principalmente nas políticas sociais” (Souza, 2007: 79-80). Neste modelo percebemos grande semelhança não só com os processos que constituíram a Educação do Campo como uma área específica da educação brasileira mas também com todos os instrumentos dos quais a sociedade tem feito uso para consolidação desta educação como uma política pública eficiente no que diz respeito a produzir os benefícios esperados pela população camponesa. Entretanto, para análise da implementação de determinada política pública de massa, como é o caso da Educação do Campo, faz-se necessário considerar alguns aspectos para que possamos ser condizente com a realidade. Consideramos importante questionar, por exemplo, sobre quais elementos devem ser considerados para efeito de análise da Educação do Campo como política pública. Além dos fatores já referidos, entendemos que para se constituir como política pública é imprescindível que congregue um conjunto de elementos como: 1. Atendimento de toda a demanda reprimida, ou seja, a oferta de acesso à escola do campo atende a todas as pessoas que lá vivem e querem estudar? 2. Regulamentação específica que estabeleça e defina as principais formas de implementação, organização, gestão, entre outros. Há na Educação do Campo alguma base legal que a legitime? 3. Constituir um corpo profissional qualificado que garanta o êxito da política pública. Como tem se constituído a formação para os profissionais da Educação do Campo? 4. Criar corpo administrativo (secretarias, departamento, núcleos, etc.) para apoiar e garantir a consolidação das ações da política pública. Constata-se nos sistemas educativos alguma ação neste sentido? Adotando como foco para análise esses questionamento podemos definir os instrumentos adequados para proceder a análise da política pública pretendida, no caso, a Educação do Campo em Sergipe.
183
Na seção seguinte apresentamos, ainda sem análise dos dados, os principais programas e projetos educacionais, que constituem a Educação do Campo e tem sido desenvolvido nos últimos treze anos, objeto de nossa análise na pesquisa do doutorado. PRONERA O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tem a missão de ampliar os níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados. Atua como instrumento de democratização do conhecimento no campo, ao propor e apoiar projetos de educação que utilizam metodologias voltadas para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária. Os jovens e adultos de assentamentos participam de cursos de educação básica (alfabetização, ensino fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível médio e diferentes cursos superiores e de especialização. O Pronera capacita educadores para atuarem nas escolas dos assentamentos e coordenadores locais, que agem como multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias, conforme a tabela a seguir: HISTÓRICO DO PROGRAMA Em julho de 1997 foi realizado o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária - ENERA, resultado de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília -GT-RA/UnB, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Ciência e Cultura - UNESCO e CNBB. Os participantes concluíram ser necessária uma articulação entre os trabalhos em desenvolvimento dada a grande demanda dos movimentos sociais por educação no meio rural e a situação deficitária da oferta educacional no campo. Em dois de outubro do mesmo ano, representantes das universidade: Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Sergipe e Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho — reuniram-se para discutir a participação das instituições de ensino superior no processo educacional nos assentamentos. Examinadas as possíveis linhas de ação, decidiu-se dar prioridade à questão do analfabetismo de jovens e adultos, sem ser excluído o apoio a outras alternativas. Ao fim do encontro, foi eleito um grupo para coordenar a produção do processo de construção de um projeto educacional das instituições de ensino superior nos assentamentos. O documento elaborado foi apresentado no III Fórum do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, e em 16 de abril de 1998, o Ministério Extraordinário de Política Fundiária criou o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. OBJETIVOS DO PROGRAMA Geral: Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. METODOLOGIA DO PROGRAMA Para promover o desenvolvimento sustentável, as ações do programa têm como base a
184
diversidade cultural e sócio-territorial, os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática e o avanço científico e tecnológico. Já as práticas educacionais têm como princípios o diálogo, a práxis e a transdisciplinaridade. O Pronera é uma parceria do INCRA com movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais, instituições públicas de ensino, instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos e governos estaduais e municipais. SUJEITOS DO PROGRAMA O PRONERA tem como população participante jovens e adultos dos projetos de assentamento criada pelo INCRA ou por órgãos estaduais de terras, desde que haja parceria formal entre o INCRA e esses órgãos. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA No caso da Educação de Jovens e Adultos -EJA nas modalidades de alfabetização e escolaridade/ensino fundamental, também podem participar todos(as) os (as) trabalhadores(as) acampados(as) e cadastrados pelo INCRA. Acampamentos e assentamentos de reforma agrária de todo país. O programa apóia projetos em todos os níveis de ensino, conforme relacionado abaixo AÇÕES DO PROGRAMA Educação de jovens e adultos (EJA) – Desenvolve-se por meio da alfabetização e continuidade dos estudos escolares.
Ensino Médio e Técnico Profissionalizante – Destina-se à formação de professores no curso Normal e à formação de Técnicos Jovens e Adultos nas áreas de reforma agrária. Objetivam formar nos assentamentos profissionais capazes de contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades e promoção do desenvolvimento das áreas de reforma agrária.
Ensino Superior – Destina-se ao cumprimento da garantia de formação profissional, mediante cursos de graduação ou pós-graduação, em diversas áreas do conhecimento que qualifiquem as ações dos sujeitos que vivem e/ou trabalham para a promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Promovem o diálogo e a pesquisa científica entre as comunidades e as universidades, desenvolvendo metodologias apropriadas para as diversidades territoriais. PRONERA EM SERGIPE Em 1996: Alfabetização de Jovens e Adultos. O Núcleo de Ensino de Estudos e Pesquisa em Alfabetização (NEPA), vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, inicia sua atuação em pesquisa e extensão nos assentamentos rurais de reforma agrária com Educação de Jovens e Adultos. Inicialmente com verba do FAT, atendendo a 16 municípios, 14 assentamentos, 35 classes e 940 alfabetizandos matriculados. Em 1997: Supletivo para os alfabetizadores que atuam nas classes dos assentamentos concluírem o Ensino Fundamental. A partir de 1999: O trabalho teve apoio financeiro e administrativo do PRONERA, um programa vinculado ao INCRA, com a missão de apoiar ações de educação nas áreas de reforma agrária, em articulação com as universidades e movimentos sociais do campo. Em 2002: trabalhamos em 26 municípios, envolvendo 65 assentamentos, 72 classes e 1883 alunos matriculados na Alfabetização de Adultos. Em 2003: conclusão do Ensino Médio Modalidade Normal para educadores populares
185
dos assentamentos.
Pedagogia da Terra: O Projeto de Licenciatura Plena em Pedagogia da Terra conferirá o grau de Licenciado, destinado à formação de professores para o ensino das Disciplinas Pedagógicas nos Cursos Normais e para o exercício da docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do ensino fundamental, e de atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em órgãos do sistema Educacional. O Curso proporcionará ainda, através de disciplinas obrigatórias e optativas, o acesso aos conhecimentos necessários ao exercício das funções de Planejamento, Supervisão, Orientação e Administração do Ensino. FONTE: MEC/SECAD /2010. PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA O PROJOVEM – Saberes da Terra é um programa Nacional de Educação de Jovens integrado com qualificação social e profissional para agricultores familiares. Foi criado pelo Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD e pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC. O programa tem como um de seus principais objetivos “desenvolver uma política de que fortaleça e amplie o aceso e a permanência de jovens agricultores, situados na faixa etária de 18 a 29 anos, no sistema formal de ensino” (Brasil, 2008: 16). O PROJOVEM – Saberes da Terra tem como base legal a LDBEN e as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, que deliberam pela garantia de implementação de políticas públicas diferenciadas para o atendimento escolar da população que vive no campo. Pode desta forma, nas escolas do campo, promover adequação do calendário escolar de acordo com o ciclo agrícola e condições climáticas, da organização curricular e das metodologias de ensino. Para tanto o programa se orienta a partir dos seguintes pressupostos: “A Educação de Jovens e Adultos é um direito dos povos do campo, um instrumento de promoção da cidadania e deve ser uma política pública dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino. O trabalho e a qualificação profissional é um direito dos povos do campo. A Educação de Jovens e Adultos é uma estratégia viável de fortalecimento do desenvolvimento sustentável com enfoque territorial. A Educação é afirmação, reconhecimento, valorização e legitimação das diferenças culturais, étnico-raciais, de gênero, da diversidade de orientação sexual e socioambiental. Existem sujeitos sociais que possuem projetos políticos e pedagógicos próprios” (BRASIL, 2008: 21). Uma das finalidades do programa é aliar formação geral e qualificação social e profissional, portanto a formação integral através da elevação da escolaridade se constitui numa das principais metas do programa. Para a formação integrada a atualização dos conhecimentos necessários ao mundo do trabalho deve reconhecer o saber acumulado pelos agricultores familiares em sua cultura e trajetória e a dimensão tecnológica e organizacional cada vez mais presente no campo. A proposta curricular está fundamentada em dois eixos curriculares articuladores: agricultura familiar e sustentabilidade. Estes orientam os eixos temáticos que agregam
186
conhecimentos da formação profissional e das áreas de formação geral para a elevação da escolaridade. HISTÓRICO Implementado em 2005, a ação que se denominava Saberes da Terra integrou-se dois anos depois ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), cuja gestão é da Secretaria Nacional de Juventude. O Projovem possui outras três modalidades, Adolescente, Trabalhador e Urbano. OBJETIVOS DO PROGRAMA Geral: Desenvolver políticas de educação do campo e de juventude que oportunizem a jovens agricultores/as familiares excluídos do sistema formal de ensino a escolarização em Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, integrado à qualificação social e profissional.
Específicos: Elevar a escolaridade e proporcionar a qualificação profissional inicial de agricultores/as familiares; Estimular o desenvolvimento sustentável como possibilidade de vida, trabalho e constituição de sujeitos cidadãos no campo; Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas à modalidade de EJA no campo; Realizar formação continuada em metodologias e princípios políticos pedagógicos voltados às especificidades do campo para educadores/as envolvidos no programa; Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados ao desenvolvimento da proposta pedagógica; Estimular a permanência dos jovens na escola por meio da concessão de auxilio financeiro. METODOLOGIA DO PROGRAMA Os agricultores participantes recebem uma bolsa de R$ 1.200,00 em 12 parcelas e têm de cumprir 75% da freqüência. O curso, com duração de dois anos, é oferecido em sistema de alternância —intercalando tempo-escola e tempo-comunidade. O formato do programa é de responsabilidade de cada estado, de acordo com as características da atividade agrícola local. SUJEITOS DO PROGRAMA Jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos, residentes no campo, que sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental. AÇÕES DO PROGRAMA O governo federal descentraliza recursos para secretarias estaduais de Educação, municípios ou DF desenvolverem o Programa (implementação das turmas) e para instituições de Ensino Superior Públicas, para formação continuada dos profissionais em exercício efetivo no ProJovem Campo -Saberes da Terra. PROJOVEM – SABERES DA TERRA EM SERGIPE O governo federal descentraliza recursos para secretarias estaduais de Educação, municípios ou DF desenvolverem o Programa (implementação das turmas) e para instituições de Ensino Superior Públicas, para formação continuada dos profissionais em exercício efetivo no ProJovem Campo -Saberes da Terra. FONTE: MEC/SECAD /2010.
EDUCAÇÃO NOS QUILOMBOS
As comunidades remanescentes de quilombos, que somente recentemente passam a ser reconhecidas como comunidades merecedoras das políticas públicas, possuem dimensões sociais, políticas e culturais significativas, com particularidades no contexto
187
geográfico brasileiro, tanto no que diz respeito à localização, quanto à origem. Estudos realizados sobre a situação dessas localidades demonstram que as escolas estão longe das residências dos alunos e as condições de estrutura são precárias, geralmente construídas de palha ou de taipa (pau-a-pique); poucas possuem água potável e as instalações sanitárias são inadequadas. Os professores em sua maioria não são capacitados adequadamente e o número é insuficiente para atender a demanda. Em muitos casos uma professora ministra aulas para turmas multisseriadas. Poucas comunidades têm unidade educacional com o ensino fundamental completo.
HISTÓRICO Levantamento feito pela Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura, aponta a existência de 1.209 comunidades remanescentes de quilombos certificadas e 143 áreas com terras já tituladas. Existem comunidades remanescentes de quilombos em quase todos os estados, exceto no Acre, Roraima e no Distrito Federal. Os que possuem o maior número de comunidades remanescentes de quilombos são Bahia (229), Maranhão (112), Minas Gerais (89) e Pará (81). Estudos realizados sobre a situação dessas localidades demonstram que as unidades educacionais estão longe das residências dos alunos e as condições de estrutura são precárias, geralmente construídas de palha ou de pau-a-pique. Há escassez de água potável e as instalações sanitárias são inadequadas. De acordo com o Censo Escolar de 2007, o Brasil tem aproximadamente 151 mil alunos matriculados em 1.253 escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos. Quase 75% destas matrículas estão concentradas na região Nordeste. OBJETIVOS DO PROGRAMA Elevar a qualidade da educação oferecida às comunidades quilombolas. METODOLOGIA DO PROGRAMA Repasse financeiro para sistemas municipais e estaduais para formação de professores e ampliação e melhoria da rede física escolar e produção e aquisição de material didático para escolas quilombolas. SUJEITOS DO PROGRAMA Professores e alunos das escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombo. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA Municípios que tenham área remanescente de quilombo. AÇÕES DO PROGRAMA O Ministério da Educação (MEC) oferece, anualmente, apoio financeiro aos sistemas de ensino. Os recursos são destinados para a formação continuada de professores para áreas remanescentes de quilombos, ampliação e melhoria da rede física escolar e produção e aquisição de material didático. FONTE: MEC/SECAD /2010. ESCOLA ATIVA O projeto Escola Ativa é uma estratégia metodológica criada para combater a reprovação e o abandono da sala de aula pelos alunos das escolas rurais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Atua prioritariamente nas classes multisseriadas, em que alunos de diferentes faixas etárias e séries estudam na mesma sala de aula. Objetivando garantir a melhoria da qualidade da educação no meio rural, o Projeto Escola Ativa utiliza diversos recursos, desde a autoaprendizagem e o trabalho em grupo,
188
até o ensino por meio de módulos e livros didáticos especiais. Além disso, estimula a participação da comunidade e viabiliza a capacitação e atualização dos professores. HISTÓRICO A implantação da estratégia metodológica Escola Ativa no Brasil ocorreu no ano de 1997, em alguns estados, com assistência técnica e financeira do Projeto Nordeste/MEC, tendo como objetivo aumentar o nível de aprendizagem dos educandos, reduzir a repetência e a evasão e elevar as taxas de conclusão da primeira fase do Ensino Fundamental. No final de 1998, os estados de Sergipe e Alagoas decidiram implantar, também, a estratégia. Em meados de 1999, o Projeto Nordeste chegou ao seu final, dando lugar ao surgimento do Programa FUNDESCOLA (Programa Fundo de Fortalecimento da Escola), o que não acarretou descontinuidade nas ações de implementação da estratégia que já se consolidava nos estados. Para o Programa Escola Ativa inicia-se em 2007 um momento distinto, com sua transferência para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD, ficando sua gestão a cargo da Coordenação-Geral de Educação do Campo, como parte das ações do MEC que constituem a política nacional de Educação do Campo. O atual momento desafia o Programa a reconhecer a realidade do campo enquanto fonte de suas reflexões, e superar uma visão reducionista do campo. O campo real é um campo onde atuam distintos interesses e projetos para o País. OBJETIVOS DO PROGRAMA Geral: Melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas das escolas do campo. Específicos: Apoiar os sistemas estaduais e municipais de ensino na melhoria da educação nas escolas do campo com classes multisseriadas, disponibilizando diversos recursos pedagógicos e de gestão; Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas a classes multisseriadas; Realizar formação continuada para os educadores envolvidos no Programa em propostas pedagógicas e princípios políticos pedagógicos voltados às especificidades do campo; Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados para o desenvolvimento da proposta pedagógica. METODOLOGIA DO PROGRAMA O programa Escola Ativa adota uma metodologia própria fundamentada em princípios da Escola Nova utilizando diversos ambientes pedagógicos: 1.Cadernos de Ensino-Aprendizagem: São livros específicos por disciplinas (português, matemática,história, geografia, ciências e alfabetização), desenvolvidos para utilização nas classes multisseriadas. 2.Cantinhos de Aprendizagem: Espaço Interdisciplinar de Pesquisa: São espaços nos quais serão reunidos materiais de pesquisa que se constituem em subsidio para as aulas ao criar oportunidades e situações para experimentação, comparação e socialização de conhecimento. 3.Colegiado Estudantil: O Colegiado Estudantil constitui-se de um coletivo de representantes dos comitês e que é proposto pelo Programa Escola Ativa como forma de favorecer a implantação da gestão democrática e fortalecer a participação dos estudantes e comunidade. 4.Escola e Comunidade: A escola deve procurar aprofundar sua inserção na comunidade da qual faz parte por meio de atividades curriculares relacionadas à vida diária, ao ambiente natural e social, à vida política e cultural e às condições materiais
189
dos educandos e da comunidade. 5.Organização do trabalho pedagógico de turmas multisseriadas que adotam o Programa Escola Ativa: O Programa propõe formas alternativas de organização e funcionamento de turmas multisseriadas, dada a compreensão de que não se pode trabalhar numa classe multisseriada dando a ela o mesmo tratamento de uma turma seriada. 6.Metodologia dos Cadernos de Ensino-Aprendizagem: Os Cadernos possuem uma estrutura diferenciada que busca facilitar a aprendizagem do educando de forma dinâmica, atrativa e cooperativa. É seu objetivo integrar os conteúdos e remeter à pesquisa pedagógica e à discussão problematizadora. SUJEITOS DO PROGRAMA Educadoras/es, educanda/os, formadores/as de escolas com classes multisseriadas em escolas do campo e equipes técnicas das secretarias municipais e estaduais de educação envolvidos com as classes multisseriadas. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA Atender as escolas de todos municípios que aderiram ao Programa Escola Ativa no Plano de Ação Articulada par ou que esteja incluído nos Territórios da Cidadania. AÇÕES DO PROGRAMA Formação continuada de professores, acompanhamento pedagógico. ESCOLA ATIVA EM SERGIPE O Programa Escola Ativa em Sergipe atuava em pouco mais de 5% dos municípios sergipanos. Atualmente, está em processo de implantação do programa no novo formato. FONTE: MEC/SECAD/2010. PROCAMPO
O PROCAMPO é um Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo. Este programa é uma iniciativa do Ministério da Educação, intermediado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em cumprimento às suas atribuições de responder pela formulação de políticas públicas de combate às desvantagens educacionais históricas vivenciadas pelas populações rurais e valorização da diversidade nas políticas educacionais.
HISTÓRICO Um dos mais recentes projetos educacionais voltados para as necessidades educativas do campo, o PROCAMPO atua na área de formação docente para atender a segunda fase do Ensino Fundamental. OBJETIVOS DO PROGRAMA Apoiar a implementação de cursos regulares de licenciatura em educação do campo nas instituições públicas de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para a formação de educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas rurais. METODOLOGIA DO PROGRAMA Os projetos devem prever: a criação de condições teóricas, metodológicas e práticas para que os educadores atuem na construção e reflexão do projeto político-pedagógico das escolas do campo; a organização curricular por etapas presenciais, equivalentes a semestres de cursos regulares, em regime de alternância entre tempo-escola e tempo-
190
comunidade; a formação por áreas de conhecimento previstas para a docência multidisciplinar, com definição pela universidade da(s) respectiva(s) área(s) de habilitação; consonância com a realidade social e cultural específica das populações do campo a serem beneficiadas. SUJEITOS DO PROGRAMA Professores em exercício nos sistemas públicos de ensino que atuam nas escolas rurais e não tem habilitação legal para a função; Educadores que têm experiência e/ou atuam em educação do campo; Jovens e adultos das comunidades do campo. AÇÕES DO PROGRAMA Financiar projetos de cursos de formação inicial de professores em Licenciatura do Campo. PROCAMPO EM SERGIPE No estado de Sergipe foi criada a primeira turma de Licenciatura em Educação do Campo (PROLEC) em 2008. Foram aprovados no vestibular especial 50 alunos/professores. O grupo apresenta um perfil bem diversificado. Composto por professores que atuam no campo em áreas de reforma agrária, em quilombos e nas escolas rurais com as turmas multisseriadas. FONTE: MEC/SECAD/2010. A pesquisa que estamos desenvolvendo encaminha-se neste momento para análise dos dados dos programas e das entrevistas que já foram realizadas com os principais representantes da Educação do Campo, tanto no âmbito estadual como municipal. Muitas vozes estarão sendo analisadas na continuidade do trabalho. Sergipe é um Estado que tem contribuído nacionalmente na luta pela Educação do Campo e conta atualmente com uma infraestrutura para garantir algumas ações educacionais a partir dos programas de Educação do Campo acima elencados. Referências bibliográfiacs BRASIL. (2002) Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília: SECAD, Ministério da Educação. BRASIL. (1996) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, Ministério da Educação. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização (2008). Cadernos Pedagógicos do Projovem Campo – Saberes da Terra. Brasília: MEC/SECAD. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização(2007). Educação do Campo: diferenças mudando paradigmas. Cadernos SECAD 2. Brasília: MEC/SECAD. BRASIL.(2004) Referência para uma Política Nacional de Educação do Campo. Caderno de Subsídios. Brasília: MEC. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental (1998). Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010). Censo Demográfico. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (2004). Sinopse estatística da Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária . Brasília: PNERA.
191
JESUS, Sonia Meire S. Azevedo de (2004). O Pronera e a Construção de Novas Relações entre Estado e Sociedade. IN: ANDRADE, Márcia Regina et cols (Org.) A Educação na Reforma Agrária em Perspectiva: uma avaliação do programa nacional de educação na reforma agrária. Brasília: Ação Educativa. pp. 89 – 101. MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Disponível em: sccid=476>. Acesso em: dez. 2010. SOUZA, Celina (2006) “Políticas Públicas: uma revisão da literatura”, Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, 20-45, jul./dez. LOWI, Theodor, American business, public policy, case studies and political theory. Disponivel em: <http://www.jstor.org/pss/2009452>. Acesso em abril de 2011.
192
Histórias de vida e processos de socialização: o caso dos trabalhadores portugueses em processos de reconhecimento de competências Pedro Abrantes Investigador Doutorado Instituto Universitário de Lisboa, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia [email protected] O paper a circular que nos propomos apresentar ao colóquio consiste num estudo dos processos de socialização, a partir de um « diálogo » entre diferentes linhas teóricas e a análise das narrativas autobiográficas de 53 adultos portugueses, produzidas no âmbito de um programa nacional de reconhecimento, validação e certificação de competências (Novas Oportunidades). O quadro teórico baseia-se em obras centrais de Norbert Elias, Berger & Luckmann e Pierre Bourdieu, complementadas por trabalhos mais recentes sobre o tema, coordenados por Claude Dubar, Bernard Lahire, Wenger & Lave ou Phil Hoskinson. Além disso, temos procurado estabelecer pontes entre estas teorias e os avanços recentes na área das neurociências, documentados por António Damásio, entre outros. Tal como propomos num artigo recente na revista Sociologia (2011), o cruzamento destas perspetivas faz-nos conceber a socialização enquanto processo de constituição dos indivíduos e das sociedades, através das interações, atividades e práticas sociais, regulado por emoções, relações de poder e projetos identitários-biográficos, numa dialética entre organismos biológicos e contextos socioculturais. A análise dos portefolios autobiográficos realizados pelos adultos, permite-nos identificar instituições centrais e aprofundar quatro mecanismos no processo de socialização: a regulação emocional, as práticas sociais, as redes relacionais e as identidades biográficas.
193
Confinar o “rebanho”: uma idéia absurda...(mente) recorrente na escola de educação da infância Rosana Coronetti Farenzena Centro de Investigação em Estudos da Criança Instituto de Educação, Universidade do Minho Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo – Brasil [email protected] Resumo: Problematizar a relação infância-criança-corpo e brincadeira é uma necessidade inadiável para os que assumem o compromisso com a emergência da voz e com a afirmação da cidadania de uma a categoria social estrutural que permanece como “rebanho” no imaginário de uma cultura entrópica. Reter em zona periférica uma das estruturas vitais à própria composição social faz-se um fator de auto-limitação civilizacional. O brincar, um direito da infância, sem nunca ter sido, no contexto da educação formal, é alvo autorizado de uma ação invasiva e, orientada por decisões de uma geração que não mais o protagoniza, mas sobre ele insiste em legislar. Tolerado, enquanto um mal necessário, encolhe no currículo da escola de educação da infância. O desafio de interrogar a crise da(s) socialização(ões), remete â estrutura de uma crise que penetra, com força avassaladora, o campo da educação da infância. Não para temê-la, mas para ousar pensar além de um modelo de escola que veicula de forma homogênea a cultura hegemônica. A apropriação da autonomia de um Estado, em macro escala, ou de uma categoria social, em nome da sua salvação, invoca a idéia do “rebanho” que necessita de um “comissário estrangeiro, ou de um pastor” a preceituar sobre sua soberania. Desta legitimação não precisa uma nação, tampouco a infância. Enfermer le “troupeau” : une idée absurde et récurrente dans l’école d’éducation de l’enfance Résumé : Problématiser la relation enfance-enfant-corps et amusement est une nécessité urgente pour ceux qui assument le compromis avec l’urgence dans la voix et avec l’affirmation de la citoyenneté d’une catégorie sociale structurelle qui reste comme un « troupeau » dans l’imaginaire d’une culture entropique. Retenir dans la périphérie une des structures vitales à sa propre composition sociale devient un facteur d’auto-élimination civilisationnelle. L’amusement, un droit de l’enfant qui pourtant ne l’a jamais été, est, dans le contexte de l’éducation formelle, une cible autorisée de l’action envahissante et orientée par les décisions d’une génération qui, en ne plus la protagonisant, insiste à la légiférer. Toléré en tant que mal nécessaire, le temps d’amusement rétrécit dans le curriculum de l’école de l’éducation de l’enfance. Non pour le craindre mais pour oser penser au-delà d’un modèle écolier qui véhicule de façon homogène la culture hégémonique. L’appropriation de l’autonomie d’un État, à l’échelle macro, ou d’une catégorie sociale, au nom d’une salvation, invoque l’idée du « troupeau » qui requiert un « commissaire étranger ou un pasteur » qui prescrit la souveraineté. La nation, ni l’enfance, ne sollicitent pas ce genre de légitimation.
194
Introdução É irredutível o valor da escola como primeiro pilar da socialização pública das crianças (Sarmento, 2006). Entretanto, garantir-lhes a cidadania plena, nas dimensões social, participativa, organizacional, cognitiva e íntima (Sarmento, 2005), exige dar conta de uma clarificação curricular no que se refere ao binômio, criança-brincadeira. Esse, que pode ser descrito como um “nó cego” na educação da infância oscila ao sabor das tensões entre visões românticas e pragmáticas. Ressalte-se a força deformadora de ambas sobre o brincar, sobre os processos de socialização e, sobre a construção da cultura de pares. Se essa falta de clareza é replicada no projeto político pedagógico das escolas de educação da infância, também o contrário pode ser possível. Problematizar a relação infância-criança-corpo e brincadeira é uma necessidade inadiável para os que assumem o compromisso com a emergência da voz e com a afirmação da cidadania de uma a categoria social estrutural (Qvortrup, 2001), que permanece como “rebanho” no imaginário de uma cultura entrópica. Reter em zona periférica uma das estruturas vitais à própria composição social faz-se um fator de auto-limitação civilizacional. O brincar, um direito da infância, sem nunca ter sido, no contexto da educação formal, é alvo autorizado de uma ação invasiva e, orientada por decisões de uma geração que não mais o protagoniza, mas sobre ele insiste em legislar. Tolerado, enquanto um mal necessário, pela benevolência educativa – e até certo ponto -, encolhe cada vez mais no currículo da escola de educação da infância. O desafio de interrogar a crise da(s) socialização(ões), remete â estrutura de uma crise que penetra, com força avassaladora, o campo da educação da infância. Não para temê-la, mas para ousar pensar além de um modelo de escola que veicula de forma homogênea a cultura hegemônica e, desconsidera as culturas “não legítimas”. (Lahire, 2006). A apropriação da autonomia de um Estado, em macro escala, ou de uma categoria social, em nome da sua salvação, traz de novo a analogia do “rebanho” que precisa de um “comissário estrangeiro, ou de um pastor” a preceituar sobre sua soberania. Desta legitimação não precisa uma nação, tampouco a infância. A idéia (re)corrente do rebanho Conceitualmente não pairam quaisquer dúvidas sobre a diferença entre um conjunto de crianças e um “conjunto de gado lanígero, cuja guarda é confiada a um pastor: rebanho de ovelhas, de carneiros”.1 Entretanto, a história da escolarização da infância, em Portugal e no Brasil, revela a apropriação de intenções típicas ao manuseio do segundo conjunto e, a sua replicação ao primeiro. Ainda que isto sinalize para uma impossibilidade, considerando que são conjuntos distintos marcados por diferenças de espécie, entre as quais a presença ou ausência da condição racional, portanto de resposta autoral e interpretativa (Giddens, 2010), a educação pública e socializada da infância tem operado, desde as raízes, esta lógica de uma normatização replicada entre diferentes espécies.
1 Definição atribuída a “rebanho” no dicionário online de português http://www.dicio.com.br/rebanho/
195
O faz, no suposto da segunda definição de rebanho apresentada no mesmo dicionário: “agrupamento de homens que se deixa guiar ao capricho de alguém”, ainda que se trate de uma pretensão inatingível, pois se as culturas infantis são porosas aos valores e pressões das culturas societais, também as interpretam e reconfiguram, (Corsaro, 2009), no terreno das relações inter-pares. As décadas sucessivas de reconhecimento e compromisso da educação de infância como sistema público de educação, no contexto brasileiro e português, documentam não só as transformações e hesitações nas funções do Estado enquanto responsável pela educação formal, como evidenciam o conservadorismo das culturas dos adultos na percepção da criança e da categoria social que a representa, a infância. Este eixo paradigmático, no terreno das relações inter-geracionais, centrado mais na concessão feita por uma geração à outra do que no reconhecimento da cidadania dessa segunda geração, estende-se ao terreno da educação não formal, que exerce funções de alargar e diversificar as experiências socializadoras (Brock et all, 2011) e, as relações com o conhecimento. No contexto da escola para infância, constituída com todos os elementos de poder que definem essa designação, raramente flexibilizada como uma escola da infância, o que faz com que a criança seja um presente ausente, no que diz respeito aos indicadores de participação ativa e de exercício da cidadania, perduram petrificados definições universalizadas de infância (Dahlberg, Moss & Pence, 2003), ou de rebanho único, ainda que uma idéia de movimento lhes seja convenientemente colada. Ao binômio criança-brincadeira corresponde um dos mais emblemáticos marcos dessa rotulagem afirmada pelo discurso da modernidade (Barbosa, 2006). Desde o início da educação de infância, datada no fechamento do período monárquico em Portugal, (Cardona, 1997), conforme registo do Diário do Governo, nº141 de 27 de Junho de 1886, essa conjugação é, direta ou indiretamente reiterada. O mesmo ocorre no Brasil, onde o reconhecimento da educação infantil como primeira etapa de educação básica e da especificidade dos Direitos da Criança, anteriormente diluídos no Direito da Família, é mais recente (Constituição Federal/1988; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n.° 8.069/1990); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. (Lei n.° 9.394/1996); Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil, 1998; Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n.° 10.172/2001). No âmbito internacional, passados mais de trinta anos da Declaração dos Direitos da Criança de 1924, omissa diante da ação corpórea e lúdica da criança, a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 assume a composição criança-brincadeira como um importante direito de proteção ao explicitar, no Princípio 7, o compromisso da “sociedade e das autoridades públicas com o direito da ampla oportunidade à criança, para brincar e divertir-se”. Posteriormente, decorrido outro ciclo de três décadas, a Convenção dos Direitos da Criança de 1989, associa, no Artigo 31 o “direito ao lazer, às atividades recreativas e culturais” ao fator da participação infantil e reconhece a necessidade de” tempos livres” para essa categoria social. Ainda que o discurso da modernidade tenha conservado e valorizado o binômio criança-brincadeira e, não esteja distante a marca de um terceiro ciclo de trinta anos, não se percebe uma clarificação conceitual e metodológica a respeito, no terreno das políticas públicas e da escola para a infância. Nesta, não foi problematizado, no âmbito curricular, onde as relações pedagógicas produzem conhecimentos sociais e socializações específicas. Não é necessário grande esforço para reunir indicadores de fragilidade da idéia de igualdade de direitos entre as categorias geracionais nas diversas esferas da sociedade,
196
das políticas públicas ao corpo da legislação voltadas à implementá-las e, na totalidade das manifestações feitas em nome do cuidado e da educação da infância. Manifestações contínuas revelam o pressuposto de incapacidade da infância para o conjunto de objetivos que realmente interessam à coletividade, da mesma forma que reiteram a necessidade de preparação ao mundo do trabalho. O recorte a seguir, relacionado a um ponto de vista sobre a incapacidade das presidiárias portuguesas para bem gerir a própria trajetória de vida e, à necessidade da presença do Estado como fator de controle e orientação, recorre a uma analogia com a infância, para justificar a intervenção externa ou estatal diante do que se configura como inaptidão para as demandas quotidianas: “Nem sempre são assíduas as mulheres que trabalham naquelas cinco “oficinas”. O técnico [...] compara-as a crianças numa sala de aula: “cinco minutos antes de a campainha tocar, já estão a arrumar as coisas.” [...] “A maior parte não tem percurso laboral. Estarem cinco ou seis horas a executar uma tarefa já é uma grande coisa”. Não estão habituadas a cumprir horários. Não estão habituadas a estar num espaço fechado. E falta-lhes motivação.” (Pereira, 2012: p.24)
Este fragmento, ainda que situado numa análise de gênero e dirigido a categoria do mundo dos adultos, condensa as concepções, as expectativas e as contradições societais em relação a infância: apesar de todos os avanços discursivos, vigora uma condição, produzida, da falta de qualificação, de menoridade e de incompletude para a participação social, a partir do que justifica-se a legitimação de normativas disciplinares e de confinamento coletivo. Nesta lógica, onde sobressai a marca lacunar, parece haver uma única via de correção e de enquadramento: a apropriação antecipada dos valores do trabalho, ou dito de outra forma, a sujeição e a entrega total aos ditames laborais instituídos. Perspectiva semelhante caracteriza o campo educativo e, ao penetrar na dimensão do corpo da criança, faz-se princípio que o configura enquanto representação. Neste sentido, permanece como meta futura à sociedade dos adultos superar a atitude de surpresa, de rejeição, de controle e de correção diante da ação corpórea e lúdica da criança: um ser cuja linguagem recursiva e reiterada é profícua em movimento; em sonoridades - lidas como barulho a ser silenciado; em experimentação e interatividade – tomadas como secundárias no rol dos objetivos e vivências escolares. Considerando a inseparabilidade do corpo e de sua representação, há que se destinar um olhar crítico ao dualismo conceitual e epistemológico, sobre o qual a sociedade também se estrutura, que faz do quotidiano na escola uma história de restrição e de confinamento. A participação social da criança, que é também uma forma de participação política, se dá com e a partir do corpo. É preciso garantir que possa ser convocado pelo inesperado, este que é característica do brincar. As crianças brincam contínua e abnegadamente. Sua produção cultural se dá numa dimensão interativa. O brincar é transversal a todas as crianças, entretanto permanece como um direito menor. Falta-nos, a exemplo da conciliação de interesses, entre o real e o imaginário, promovida na brincadeira, o compromisso com a articulação de direitos essenciais da infância: o direito ao brincar, de provisão, de proteção e de participação.
197
Interatividade e socialização na escola para a infância A implementação parcial de um princípio que reconhece o brincar como um forma específica de narrar (Barbosa, 2011), e de viver das crianças pequenas, permitiu que o caráter desestabilizador do discurso da pós modernidade desnudasse e, simultaneamente aprofunda-se, uma zona de conflito nas questões infância-criança-corpo e brincadeira, e nos seus cruzamentos com as expectativas, concessões e determinações do mundo dos adultos. Em franca dissociação com o que preconizam os documentos norteadores da “sociedade civilizada”, em relação aos direitos da infância, o brincar permanece como um direito menor, um mal passageiro, passível de interdições de toda a ordem, permitido se associado aos fins da produtividade, do desenvolvimento de competências e da alfabetização. Nesse ambiente, as rotinas da escola não correspondem a um conjunto estável de atividades, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares (Corsaro, 2011), mas assumem um caráter normatizador, repetitivo e de resistência ao novo. Este contexto, que pouco difere nos dois países, exerce pressão homogeneizadora sobre as crianças, sobre suas possibilidades de viverem a infância e, sobre sua socialização. Sendo o brincar fundamental para que se reconheçam como crianças há que se concentrar a atenção sobre sua escolarização, palco de grande parte das vivências e aprendizagens infantis, também onde as culturas de pares emergem e se consolidam. Estabelecer uma condição de bem-estar superior das crianças, através da sua ativa participação é uma tarefa de extrema dificuldade para a sociedade, que simplificou esse desafio na possibilidade parcial e controlada, de ativar situações de jogos e de brincadeiras. Em simultâneo à condição de um direito da infância reservado à zona utópica, entretanto acedido se adjetivado ou dissimulado como fim para facilitar, amenizar ou suavizar o trabalho escolar, emerge vigorosa uma cultura infantil resiliente as tentativas de intervenção sobre área tão sensível e que constitui uma marca geracional. De maneira mais ou menos bem sucedida, as crianças desenvolvem estratégias contínuas para brincar em sala de aula: Movimentos corporais, revestidos de discrição e contenção da euforia própria da brincadeira para que sejam toleráveis aos olhos do professor. Contatos com os pares através de recursos substitutivos da fala, como mímicas e grafismo; transformações imediatas, ficcionais e autorais dos materiais e espaços escolares, permitindo cenas rápidas entre personagens imaginários: carros, animais, bonecos, etc. Criação de enredos curtos e cochichados com os pares para partilhar tempos, ações, representações, emoções e aventuras; jogos de olhares e a expressividade típica dos acordos silenciosos para mostrar o trabalho realizado, o desenho feito numa folha de caderno, uma pequena dobradura ou mesmo uma pequena marca corporal, uma cicatriz, um ferimento, um adereço produzido ou trazido de casa. Produção ágil de estratégias de ação que conjugam dois objetivos com graus diferentes de visibilidade: o que se apresenta, ou aparenta ser a razão da ação, afiançado sobre uma necessidade autorizada diante dos objetivos de aprendizagem: afiar o lápis, buscar ou levar determinado material escolar, sanar uma dúvida junto a professora etc, e
198
o outro, aquele que de fato interessa e, que se desenrola através da deslocação no espaço da sala para, de maneira ágil, conferir a atividade do colega, inventariar as produções dos pares, bem como o estágio em que se encontram, trocar idéias rápidas sobre as tarefas realizadas ou, ainda sobre outros interesses.
Essas e outras estratégias produzidas na cultura de pares, de “prudente alheamento” ao que estabelece a zona de normatividade decretada por uma segunda categoria geracional, permitem transgredir sem afrontar as normas e o regulamento e, veiculam uma forma própria de garantir a participação social através da participação do corpo. No tempo-espaço escolar, afirmado sobre uma lógica de trabalho individual e silencioso, faz-se importante observar a natureza interativa e lúdica das manifestações das crianças. Partilham impressões e opiniões enquanto realizam as atividades, estabelecem de forma espontânea alternativas de inter-ajuda, adicionam elementos de interesse ao contexto dialógico, assegurando-lhe a continuidade e, provocam-se através de simulações de conflitos, por vezes tornados conflitos reais. Um conjunto de manifestações com significados geralmente imperceptíveis ao educador e de baixo impacto para as definições do projeto pedagógico. Esse conjunto de manifestações da infância, mesmo que não associado a um olhar romântico, suscita a lembrança de uma imagem: a planta que se projeta na fenda de uma rocha. A criança, ao fazê-lo no espaço da cultura, constitui-se, faz-se presença no contexto e, apropria-se, interpretativamente, dessa dupla condição. É esta a força do brincar na sua vida. Certamente difere de um constructo lúdico numa cultura favorável a sua manifestação, perde em possibilidades imaginárias, de imersão no universo simbólico, de mobilização das esferas afetivas e cognitivas, de afirmação da identidade infantil, de desenvolvimento de uma corporeidade menos condicionada e de aprendizado social. A cultura lúdica produzida na conjugação do que determina a sociedade e do que produzem as crianças na cultura de pares não é passível de extinção com a entrada na vida adulta. Sua estrutura identitária, socializadora e de aprendizagem é condição existencial, independe de faixa etária e é condição inerente à vida humana e a quaisquer das suas formas de organização social. A sociedade de hoje, com seus avanços e dificuldades é a representação exata daquilo que garante às crianças para viverem sua infância. Há, portanto, muito a ser feito no terreno da escola. Considerações finais Educar a todos como se fossem um só, o que retoma a idéia da condução coletiva do rebanho, rumo à categoria onde se pode aceder à “capacidade plena” – ser adulto -, é o modelo prevalente na escola para a infância, do qual não divergem as políticas públicas. Sobrevalorizar uma condição futura e, descuidar do presente concreto, tem sido um mecanismo eficaz para conservar o suposto de menoridade da infância e, para manter, em área periférica, a voz das crianças como expressão legítima de participação na vida institucional. Por onde iniciar a construção de uma cidadania alternativa? Entre os vários caminhos, há que se reconhecer compromissos fundamentais, como o de garantir a cidadania íntima, (Sarmento, 2006), que é o espaço de afirmação da identidade e da alteridade, de uma especificidade não menorizante das crianças, e das suas narrativas, corporificadas no brincar.
199
Pode-se fazê-lo, na Universidade, através das funções de ensino e de investigação acadêmica, redimensionadas pela articulação interdisciplinar com saberes emergentes de campos como a sociologia da infância e a antropologia da infância. Interrogar a tradição do discurso sobre as crianças, diante da possibilidade de um discurso das crianças, expressivo das formas culturais de viver a infância, é implicar a instituição acadêmica com a abertura para falar com as crianças reais, através de linguagens que não sejam a da indução para produções culturais expectadas, é reconhecer-lhes como participantes ativos nas pesquisas situadas nos estudos da infância e nos roteiros autorais de aprendizagem que protagonizam. Veicula uma profunda alteração nos processos de formação profissional para a docência e, provoca a uma autonomia institucional que, historicamente, se mantém hesitante. Outra via indica à necessária problematização de posturas tão polarizadas quanto confusas da escola, diante do binômio criança-brincadeira. Referenciar o brincar como construção social, definida pelas interações inter e intra geracionais é assumir a necessidade de planear, de organizar o tempo, o espaço, a informação (Barbosa, 2011; Pereira, 2008) e, uma intencionalidade pedagógica ciente que ao não ser neutra, produz um tipo de infância e de sociedade. Se não está em causa o valor da escola na socialização e na produção da cidadania das crianças, a permanência da infância em uma zona de risco, típica das categorias sociais não dominantes, condiciona e revela essa instituição educativa. A “nova pobreza” do continente europeu é convergente à “velha e conhecida pobreza” sul americana no que se refere à sobrecarga de riscos que incidem sobre a infância. No caso de Portugal, onde uma em cada quatro pessoas vive em situação de pobreza ou de exclusão social, a pobreza infantil se expande e, compromete a vida de 24% das crianças - dados de 2010, que se sabe, inferiores aos atuais (Chade, 2011). No Brasil, a vulnerabilidade condicionada pela pobreza de 45,% das crianças, diz respeito a um contingente de 81 milhões de pessoas com menos de 18 anos – tomando por base o período 2008-2009 (CEPAL - UNICEF, 2010). O contexto de impossibilidade da garantia de direitos, comum às duas nações, ainda que as projeções de saúde econômica para uma e outra sigam tendências de polarização entre as condições de crescimento e de estagnação, permite o desdobramento do ponto de vista inicial, para além do estranhar a apropriação da autonomia de um Estado, em macro escala, ou de uma categoria social, em nome da sua salvação, no que está contida a analogia do “rebanho” que precisa de um “pastor ou, de um comissário estrangeiro” a legislar sobre sua soberania. Se desta legitimação não precisa uma nação, tampouco a infância, o que resultará dessa prática “entranhada” e pouco “estranhada”? Referências Bibliográficas BARBOSA, M. C. (2011) As crianças, o brincar e o currículo na educação infantil. Revista Pátio – Educação Infantil ano IX, nº 27, abril/junho 2011. Porto Alegre: Artmed pp.36-38 BARBOSA, M. C. (2006) Por Amor e por Força - Rotinas na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 200 BRASIL (2000) Constituição da República Federativa do Brasil. Lei Federal de 05/10/1988. Brasília: Senado Federal. BRASIL, CNE, CEB. (1998) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer n° 22/98, aprovado em 17 de dezembro de 1998, Brasília-DF.
200
BRASIL (1995) Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/1990, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, Brasília, Ministério da Justiça. BRASIL (1996) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei Federal n.º 9.394, de 26/12/1996. BRASIL (2001) Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n.° 10.172/2001) Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. BROCK, A.; DODDS, S.; JARVIS, P. e OLUSOSA, Y. (2011) Brincar: aprendizagem para a vida. Porto Alegre: Artmed. CARDONA, M. J. (1997). Para a História da Educação de Infância em Portugal. Porto: Porto Editora. CHADE, Jamil. (2011) Países europeus redescobrem a pobreza. Jornal O Estado de São Paulo. 09 de julho 2011, Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infância (UNICEF). (2010) Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas: Alfabeta Artes Gráficas CORSARO, W. A. (2009) Reprodução interpretativa e cultural de pares. In: MÜLLER, F; CARVALHO, A.M.A. (orgs.). Diálogos com William Corsaro: teoria e prática na pesquisa com crianças. 1ª. Ed. São Paulo: Cortez. CORSARO, W.A. (2011) The sociology of childhood. 3ª ed. Thousand Oaks: CA: Pine Forge Press. DAHLBERG, Gunilla; MOSS, Peter e PENCE, Alan. (2003) Qualidade na educação da primeira infância: perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: ArtMed. GIDDENS, Anthony (2010) Sociologia. 2ª ed. Lisboa: Ed. Calouste Goubenkian, LAHIRE, B. (2006) A cultura dos indivíduos. Porto Alegre: Artmed. PEREIRA, Ana Cristina (2012) Matosinhos – Três Cadeias e 14% dos presos de Portugal. Revista Pública, suplemento do Jornal Público. Lisboa: 19/02/2012 pp.16-27. PEREIRA, Beatriz O. (2008). Para uma escola sem violência – estudo e prevenção das práticas agressivas entre crianças. 2ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Para a Ciência e a Tecnologia e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Coimbra. Portugal QVORTRUP, J. (2001) O trabalho escolar infantil tem valor?: a colonização das crianças pelo trabalho escolar. In: CASTRO, L.R. (Org.). Crianças e jovens na construção da cultura. Rio de Janeiro: NAU; FAPERJ. SARMENTO, M. J.; SOARES, N. e FERNANDES, Tomás, C. (2006) Participação Social e cidadania activa das crianças. In RODRIGUES, David (org.), Inclusão e Educação: doze olhares sobre educação inclusiva. São Paulo: Summus Editorial, pp.141-160. SARMENTO, Manuel Jacinto (2005) Gerações e Alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. In: Revista Educação & Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 91, p.361-378, Maio/Ago. 2005.
201
Jeunes, lutte contre le VIH/SIDA et construction identitaire au Cameroun Vivien M. MELI Université de Dschang-Cameroun, Sociologue [email protected] Résumé : La population camerounaise est majoritairement jeune et une moitié a moins de 17,7 ans. Paradoxalement, les jeunes dans leur processus de développement sont démis de la capacité de contribuer durablement comme acteur. Ils sont considérés comme des enfants qu’il faut socialiser et intégrer à l’ordre social existant. Or ce qui n’est pas encore pris en compte est que cette catégorie sociale défend et se construit ses propres façons d’être contraire aux représentations nourries par les structures sociales hégémoniques et dont ils sont victimes, ceci sous les effets d’une société de plus en plus démocratisée et mondialisée. Leurs pratiques sexuelles, notamment en matière de prévention du VIH/SIDA et leur actions de lutte contre le VIH/SIDA, témoignent d’une volonté d’identisation et d’affirmation sociale en tant qu’acteur social particulier et à part entière. À travers une approche -que nous nommons- de « greffage social » ils réussissent à se faire une place dans une société qui les oppresse. Mots-clés : Représentations sociales, jeunes, identité, sexualité, VIH/SIDA, associations Os jovens e a construção identitária a partir de questões sobre a luta contra o HIV/SIDA no Camarões Resumo: A população de Camarões é predominantemente jovem e a metade tem menos do que 17,7 anos. Paradoxalmente, os jovens, no seu processo de desenvolvimento, são impedidos de dar uma contribuição duradoura como actores. Eles são considerados como crianças a socializar e integrar na ordem social existente. Ora, o que ainda não se encontra tomado em conta, é que esta categoria social defende e constrói a sua própria forma de ser, que é contrária às representações sociais hegemônicas das quais são as vítimas, numa sociedade cada vez mais democratizada e globalizada. As suas práticas sexuais, particularmente no âmbito da prevenção do VIH/SIDA e das suas acções no domínio da luta contra o VIH/SIDA, testemunham uma vontade de identificação e de afirmação social, enquanto ator social particular e autêntico. Através de uma abordagem, que chamamos de "enxerto social", eles conseguem encontrar um lugar numa sociedade que os oprime.
Introduction
En dépit de la transparence scientifique, de l’accablement des représentations sociales (Jean Marie Seca : 2001) des jeunes (craints, redoutés et infantilisés) et de l’exclusion de l’action historique en Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en particulier, ceux-ci parviennent tout de même à contribuer à la construction d’une identité sociale (Valérie Becquet, Chantal Linares et al : 2005). Nous voulons, dans cette communication, contribuer à la réponse à la question de savoir : Comment les nouvelles générations configurent-elles de nouveaux styles de vie au fur et à mesure
202
qu’elles répondent et négocient les nouvelles réalités sociales en Afrique ? En effet, leurs pratiques sexuelles et leurs contributions en matière de lutte contre le vih/sida sont les lieux d’expression et de configuration de leurs modes de vie. Les jeunes constituent une cible1 privilégiée en la matière de prévention du vih/sida au Cameroun et consiste en l’abstinence sexuelle, la fidélité à un partenaire sexuel sain et l’utilisation systématique du préservatif. Si ces trois possibilités semblent s’exclure, il n’en est rien pour les jeunes. Ils se les approprient de façon simultanée, les adaptent aux contraintes et aux réalités de leurs espaces culturels, leurs lieux de socialisation et d’expression. La complexité des pratiques sexuelles des jeunes corroborent étroitement la densité, la diversité et « l’ouverture » qui sont révélatrices d’une sous-culture (Olivier Galand : 1997) et une affirmation identitaire (Guy Bajoit et al : 2000) des jeunes. En matière de lutte contre le vih/sida, ils mettent en œuvre, collectivement et « en cachette », en milieux scolaires et universitaires et en milieux extrascolaires et extra-universitaires, des stratégies et des actions propres (Bernard Roudet et al : 1996). Cette participation contribue de la construction de leur identité, de leur affirmation sociale et de la construction collective. I. Représentations sociales des jeunes : vers une sociologie de l’exclusion 1. Comment comprendre l’exclusion sociale ? L’expression de l’exclusion relève de la vulgate permanente et quotidienne dans les discours politiques, les chroniques médiatiques, l’action sociale et les analyses scientifiques. Cette permanence idéelle et pragmatique n’en fait pas immédiatement une notion comprise. En effet, « à la sémantique de l’exclusion sont associées les idées de fragilisation de l’institution familiale, d’affaiblissement des corps intermédiaires, de précarité professionnelle, de crises de l’Etat-providence, … La démission parentale, le désinvestissement militant, les discrédits du monde politique, les incivilités urbaines, le désœuvrement professionnel, la rancœur inexpugnable, en un mot la « montée de l’insignifiance » et la perte du sens, offrent les symptômes du mal qui tiraille le corps social. L’image d’une hydre à têtes multiples rend assez justice du discours en termes d’exclusion » (Cédric Frétignère, 1999 : 5-6). Pour comprendre l’exclusion, nous posons comme préalable la répartition du pouvoir. Elle ouvre l’espace à la déliaison sociale. Mais il ne faut pas que nous nous trompions en s’assimilant la conception dualiste2 (in/out, haut/bas, dedans/dehors) de la société que fait Alain Touraine (1992 :167-168) En effet, Les exclus ne sont pas des personnes démunies et incapables. « Ils ne sont pas des individus désespérés, des entités atomisées, de pauvres hères irrémédiablement condamnés à subir leur sort, à se plier au diktat aveugle des lois du marché. Aussi abattus soient-ils, les « exclus » disposent d’une capacité de résistance 1 La notion de cible ici s’oppose à celle d’acteur. 2 Lire à ce sujet : Alain Touraine : 1991- « face à l’exclusion » in Collectif, citoyenneté et urbanité, paris, Esprit. On peut également lire du même auteur « Inégalité de la société industrielle, exclusion du marché », in J. Affichard et J.-B. de Foucauld (eds) Justice sociale et inégalités, Paris, Esprit.
203
individuelle et de protestation collective. Face au « vide social » qui les menace, ils répondent, affirment leur existence » (Frétignè, 1999 : 97). Leurs disqualification sociale n’est en fait qu’un leurre. Dire que les exclus sont des « out » n’a qu’une valeur syntaxique car ils sont, en permanence présents sur l’échiquier social. C’est ici qu’ils trouvent des armes pour la résistance et la lutte. Il n’existe en réalité ni de « in » ni de « out » mais il y a perturbation de la construction des liens sociaux entre les sujets sociaux et vis-à-vis des structures. C’est dire, une reconfiguration des relations avec les forces fédératrices et dominatrices que Frétigné appelle « le centre » (1999 : 102). L’exclusion s’inscrit a fortiori dans la sphère des rapports de force différentiels et elle ne peut être absolue (Schnapper, 1996 : 23). La réalité observable et objectivable d’exclusion n’est que l’extrémité d’un processus social pluriel toujours en cours (Robert Castel, 1992 : 136). La dite extrémité observable est toute aussi dynamique et défis toutes pesanteurs de maintien. L’exclusion est l’expression sociale d’un lieu, d’un temps et d’une population (Robert Castel, 1994 : 21 et 1995 : 19-20). Elle est à l’image de la société qui l’expérimente, car produite, alimentée et conspuée par elle. 2. Sur l’exclusion des jeunes Notre argumentaire sur les traces de la sociologie de l’exclusion des jeunes impose de prime abord de lever l’équivoque que draine le paradoxe du couple jeune et exclusion. La jeunesse apparait apriori comme un moment d’encadrement et de dépendance domestique et social. C’est le moment d’apprentissage et d’intériorisation des valeurs et des normes collectives en vue d’une insertion « réussie »1 dans la société, quelle soit globale ou ethnique. Il devient ainsi contradictoire d’engager la responsabilité des jeunes et de parler d’exclusion à leur sujet. La désinsertion des jeunes est de la responsabilité des structures sociales d’encadrement et présage leur crise. Cette exclusion est une construction de ces mêmes catégories de domination et découle à juste titre de leur omnipotence. Traditionnellement, les jeunes désinsérés socialement sont ceux qui n’ont pas d’emploi salarié, de domicile propre qui ne sont pas mariés et qui continuent d’aller à l’école. L’exclusion des jeunes en question est davantage symbolique. Il s’agit d’une façon d’être vu par les forces sociales dominantes. Sa permanence est l’expression d’une volonté d’assujettissement et de maintien permanent du rapport vertical d’où le rejet et la stigmatisation dont la jeunesse est victime. L’exclusion des jeunes culmine les préjugés et les commérages fédérateurs de l’image sociale du jeune. Ce tableau inachevé2 dévoile en synthèse, les qualités délinquantes, stratégiquement passives et économiquement démunies de l’être jeune. Cette représentation des jeunes en question est structurellement ancrée dans les mentalités en général et africaines en particulier. Contre toute attente, Frétigné, parlant des handicapés sociaux, les confond immédiatement aux jeunes. Il écrit :
1 En référence à la reproduction des manières de faire et de penser préexistantes chères à Émile Durkheim. 2 Inachevé parce que la jeunesse porte à coup sûr, la responsabilité de quelques actes socialement répréhensibles.
204
« Les loubards, bandes pluriethniques se substituent aux blousons noirs à composante mono-ethnique et sèment la terreur dans les banlieues de la petite couronne. Ils zonent, trainent, volent, cassent, se battent, usent de dissolvants lors de « défonces collectives », sont allergiques au travail et abhorrent la police. Les pouvoirs publics estiment le temps venu d’entreprendre de réadapter ces jeunes à la vie collective » (1999 : 59). Cette appréhension subite selon laquelle les loubards, les voleurs, les casseurs, les bagarreurs, les oisifs sont des jeunes semble ancrée dans le subconscient et s’exprime malgré soi. C’est en effet cette image projetée qui constitue la mamelle nourricière des exclusions subies par les jeunes. Elle s’opérationnalise dans les pratiques sociales de rejet, d’infantilisation, d’infériorité, de secondarité, d’inconsistance, de superficialité, de refus de participation, d’assistanat permanent, etc. Notre conception, davantage symbolique de l’exclusion sociale est aussi celle que défend Castel en ces termes : « le problème n’est pas seulement une question de ressources, ni même d’inégalités […] l’enjeu est bien la qualité du lien social et le risque de sa rupture » (1999 : 154). Cette approche, de l’avis de Frétigné, est « la mesure de l’utilité sociale des individus ; elle fait référence aux exigences normatives et aux représentations collectives. La participation de l’individu à des activités socialement valorisées, son adhésion à des normes collectives et sa définition de soi, la reconnaissance d’une place au sein du système social fournissent les indicateurs de l’insertion/désinsertion symbolique » (1999 : 128). L’exclusion sociale des jeunes apparait culturellement constituée. Elle est consubstantielle à la société africaine et à l’ensemble de son « système de dispositions durables et transposable » (Pierre Bourdieu, 1980 : 88) dont l’unité caractérielle est l’oligarchie. Les représentations de ce statut social culturellement assigné des jeunes se répercutent dans la mobilisation sociale pour le changement en termes d’absence, conséquence d’assignations rétrograde et incapable. En Afrique, cette représentation se décline en : « cadets sociaux », « mineurs », « faibles », « sans importance », « consommateurs passifs », « incapables », « bas », « enfants », etc. qu’il faut éduquer et socialiser. Les projets et les programmes de développement en sont une expression obvie. II. Exclusion et inclusion sociale des jeunes en matière de lutte contre le VIH/SIDA L’image du jeune incapable et nécessiteux est omniprésente dans les différents plans de développement en général et particulièrement dans les différents plans stratégiques camerounais de lutte contre le VIH/SIDA, mis en œuvre depuis les premiers diagnostics du VIH/SIDA à l’aube des années 80. Les jeunes sont mis hors jeu parmi les acteurs de l’action historique concrète contre ce « dernier grand fléau du XXeme siècle » (Thaudière ; 2002 : 03). Cette disqualification contraste avec leur position de cible principale des interventions collectives de lutte. Des interventions focalisées sur cette catégorie sociale sont théoriquement porteuses et efficaces, étant donné qu’elle apparaît comme la plus vulnérable et la plus infectée. 1. Lutte contre le SIDA et inclusion sociale des jeunes par leur vulnérabilité L’inclusion des jeunes à la lutte contre le SIDA est fondamentalement déterminée par leur vulnérabilité à l’infection à VIH. Il ne s’agit pas ici d’une implication choisie et
205
planifiée des formations de mise en œuvre de la lutte contre le SIDA, mais une réalité qui s’impose et se justifie par les statistiques. A partir du rapport de l’EDSC-III faite en 2004 nous avons retenu quelques indicateurs de cette vulnérabilité. Ils sont lisibles d’une part, à travers leurs comportements sexuels et d’autre part, à travers leurs connaissances de la maladie. 1.1. Le multi-partenariat et les rapports sexuels à risque La sexualité à risque fait référence à tout comportement sexuel susceptible de causer ou de favoriser l’infection ou la réinfection à VIH/SIDA comme les « rapports sexuels à risque et/ou à haut risque ». Ceux-ci désignent les rapports sexuels qu’on entretient avec un ou plusieurs partenaire(s) non marital et non cohabitant ou un ou plusieurs partenaire(s) occasionnels(les), qu’ils soient protégés ou non, payants ou non. La jeune fille de 15-19 ans apparait comme la plus exposée, car, plus d’une sur deux (56 %) avoue avoir déjà eu des rapports sexuels à risque. Le multi-partenariat est une pratique courante chez les jeunes. La diversité de leurs partenaires sexuels s’identifie en partenaires réguliers et en partenaires occasionnels. Les partenaires réguliers sont ceux qu’on considère comme entretenant une relation de petit(e) ami(e) pour une période plus ou moins de longue durée1 ou une relation permanente. Dans ce cas, on parle de « meilleur(e) petit(e) » ou de « titulaire ». Ces expressions identificatoires désignent la principauté du partenaire parmi d’autres que nous appellerons occasionnels. Ceux-ci sont des partenaires avec lesquels on entretient des relations sexuelles pendant une période de moins de six mois. Ce sont aussi des partenaires d’un soir, ceux qu’on rencontre lors d’un voyage ou d’un évènement, etc. Il s’agit des personnes avec lesquelles on a des relations sexuelles sans perspective de vie commune. Cette perception peut être partagée ou non par les partenaires. Les partenaires commerciaux et ceux des délires (en cas de consommation d’alcool ou de drogue) sont également inscrits dans cette catégorie. Le lexique des jeunes en la matière révèle qu’il s’agit des financeurs2, des rythmeurs3, des frappeurs4, etc. La jeune fille de 15-24 ans (10%) est la plus exposée, car elles entretiennent des rapports sexuels avec ces divers partenaires. Le nombre de partenaire varie de deux à quatre, voire plus, pour ceux qui fréquentent les travailleurs de sexe. Cette vulnérabilité est aussi remarquable à travers l’utilisation du condom et l’âge au premier rapport sexuel. 1.2. Jeunes et pratiques sexuelles stratégiques risquées Les pratiques et les comportements sexuels des jeunes sont aussi divers que la catégorie sociale qu’ils constituent. En matière de prévention du VIH/SIDA, les jeunes jouent
1 Cette durée dans les enquêtes en sciences sociales est généralement fixée à 6 mois au moins de vie commune et au cours de laquelle les partenaires entretiennent des rapports sexuels. Ce délai est arbitraire car des partenaires se reconnaissant comme tels peuvent interrompre leur union avant cette durée et cela ne change pas l’identité de meilleur(e) petit(e) ou non. 2 C’est celui qui s’occupe des charges financières du partenaire. Ce sont généralement des personnes professionnellement insérées qui usent de leur pouvoir économique pour appâter les jeunes afin de les soumettre à leurs désirs sexuels. La pratique est courante avec les jeunes filles et les jeunes garçons s’y inscrivent de plus en plus. 3 C’est le partenaire avec lequel on peut étudier, partager des moments en public, etc. 4 C’est le partenaire avec lequel on entretient essentiellement des relations sexuelles, sans perspectives de vie communes ni contrepartie de quelques ordres que se soit.
206
concomitamment sur plusieurs paliers à partir de l’utilisation du préservatif, la fidélité au partenaire sexuel et l’abstinence sexuelle. Dans ce sens, nous avons identifié : l’utilisation régulière du condom, l’utilisation systématique du condom, l’abstinence sexuelle, la fidélité à un ou plusieurs partenaires sexuels sains et la transfusion sanguine. Le tableau ci-dessous nous présente les pratiques de prévention du VIH/SIDA des jeunes. Tableau 1 : Pratiques de prévention du VIH/SIDA par les jeunes (%)
MODALITÉ Sexe Religion Fréquentati
on scolaire Ensemble Mascu
lin Fémini
n Catholiq
ue Protesta
nt Autr
e Oui Non
Utilisation régulière 56 54,84 62,86 46,43 41,6
7 44,0
7 67,9
2 55,36
Utilisation systématique 08 03,23 04,29 07,14 08,3
3 03,3
9 07,5
5 05,39
Abstinence 22 22,58 18,57 28,57 33,33
35,59
07,55 22,32
Fidélité 24 20,97 22,86 25 08,33
22,03
22,64 22,32
Transfusion sanguine 10 09,68 10 07,14 16,6
7 06,7
8 13,2
1 09,82
Autres 12 09,68 08,57 10,71 16,67
08,47
13,21 10,71
L’utilisation du condom est plus régulière (55,36%) que systématique (5,39%) chez les jeunes. L’utilisation régulière du préservatif est sélective et rassemble aussi ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas « enfiler » correctement1 un condom. Or, l’utilisation systématique désigne l’utilisation correcte du condom et avec tous les partenaires sexuels sans exclusive. Par ailleurs, les jeunes pratiquent relativement l’abstinence sexuelle (22,32%) et la fidélité sexuelle à un ou plusieurs partenaires (22,32%). Au demeurant, ils empruntent de façon différentielle et variée les diverses méthodes de prévention. Ces pratiques sexuelles sont fonction du type de partenaire sexuel qu’ils fréquentent. Les jeunes utilisent plus les préservatifs avec leurs partenaires occasionnels qu’avec les réguliers. En revanche, la tendance à l’utilisation du condom augmente avec le nombre de partenaires sexuels réguliers, tel que présenté dans le tableau ci-après. 1 Fait référence, à la fois à la la pratique du port du condom, à sa qualité et à sa disponibilité.
207
Tableau 2 : Fréquence d’utilisation du condom suivant le nombre de partenaire réguliers
Modalité Nombre de partenaires réguliers au cours des 12
derniers mois Ensemble 1 2 3 4
Souvent 20,75 28,57 0,00 0,00 20 Quelques fois 13,21 14,29 0,00 0,00 12,31 Toujours 64,15 57,14 100 100 66,15 Jamais 01,89 0,00 0,00 0,00 01,54 Ensemble 100 100 100 100 100 Dans l’ensemble, 66,15% de jeunes utilisent toujours les préservatifs avec leurs partenaires sexuels réguliers. Très peux n’utilisent jamais (01,54%) de préservatif et trois sur dix utilisent souvent ou quelques fois. Plus le nombre de partenaires réguliers augmente plus les jeunes ont tendance à utiliser le préservatif. Les jeunes ont généralement au moins un partenaire sexuel régulier et/ou au moins un partenaire sexuel occasionnel et n’utilisent pas systématiquement les préservatifs mais seulement stratégiquement, aussi bien avec les partenaires réguliers qu’occasionnels. 2. Inclusion des jeunes majoritairement infectés La vulnérabilité des jeunes est révélée par les taux élevés et différentiels d’infection suivant le sexe. La figure ci-dessous, présente la courbe d’évolution de l’infection par sexe chez les jeunes de 15-24 ans. Figure 1 : Prévalence du SIDA par sexe chez les jeunes de 15-24 ans
0,60% 0,80%
2,70% Masculin; 2,20% 1,60%
3%
5,70%
Féminin; 11,80%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
15-17 ans 18-19 ans 20-22 ans 23-24 ans
Prévalence du vihchez les jeunes de 15-24 ans au Cameroun
208
Les filles (4,8%) apparaissent plus infectées que les garçons (1,4%). Par ailleurs, plus l’âge augmente, plus le niveau d’infection augmente, passant de 2,2% pour les 15-17 ans à 14% pour les 23-24 ans. Du point de vue stratégique, la réduction de la vulnérabilité des jeunes est la principale défense. Cette posture est impulsée par l’ONUSIDA, et soutenue par les gouvernements et les donateurs. C’est pourquoi, les « acteurs » et les institutions œuvrent à s’assurer que plus de 95% de jeunes aient accès à l’information, l’éducation et services nécessaires pour développer les compétences essentielles pour réduire leur vulnérabilité. En effet, les orientations de l’ONUSIDA prescrivent aux gouvernements d’utiliser les taux d’infection relatifs aux personnes âgées de 15 à 24 ans comme indicateur de référence (ONUSIDA, 2001 : 1). Cet intérêt exprimé pour les jeunes et repris par le Comité National de Lutte contre le SIDA au Cameroun retient uniquement la variable passive d’une cible agie. Il fait omission des qualités d’acteur social à part entière que constitue cette catégorie sociale. C’est dans cette mesure que nous affirmons l’exclusion sociale des jeunes. Si l’inclusion sociale des jeunes est incontestable et est caractéristique des faits de crise, leur exclusion apparait comme une option idéologique réfractaire aux dynamiques sociales, planifiée et voulue par les structures sociales hégémoniques. 3. Lutte contre le VIH/SIDA et exclusion stratégique des jeunes Nous estimons qu’en amont une action stratégique efficiente et efficace de lutte contre le SIDA ne peut être faite sans la participation expresse et active des jeunes. Au Cameroun, les intentions ne manquent pas dans ce sens, notamment à travers les différents plans stratégiques gouvernementaux. Sous le tutorat de l’OMS ils sont particulièrement renonciateurs des capacités sociales historiques des jeunes. Le Plan à court terme (1987-1988), comme celui à moyen terme 1 (1988-1992) et 2 (1993-1999) sont centrés sur les approches sanitaires et biomédicales acquis au modèle d’Etat-providence. Ces institutions renient toute participation d’autres acteurs hormis le gouvernement et ses partenaires internationaux. Les orientations stratégiques édictées par l’ONUSIDA depuis l’an 2000 offrent quelques innovations, notamment, davantage d’ouverture, d’implication, de participation et d’appropriation par les différents acteurs, gouvernementaux et non-gouvernementaux. Les principes de multisectorialité et de décentralisation sont au centre des ces nouvelles orientations. Leur opérationnalisation a été mise en œuvre dans un premier plan stratégique national entre 2000 et 2005. Mais les jeunes sont toujours tenus à l’écart. On peut ainsi relever dans le document du plan 2000-2005 que : « Les jeunes étant particulièrement vulnérables à l’infection à VIH … constituent une cible importante dans la stratégie de prévention par voie sexuelle afin de les amener à changer en adoptant un comportement sain et responsable » (2000 : 31). Par ailleurs, le rapport d’évaluation dénonce un manque d’appropriation par les acteurs nationaux et une communication pour le changement de comportement non-intégrée. Dans le plan stratégique 2006-2010, un axe stratégique particulier est réservé à l’appropriation par les acteurs. Cette spécification laisse entendre que les approches antérieures manquaient d’affinité participative d’avec les acteurs. Cet axe consiste d’une part, en l’implication et d’autre part, en l’appropriation institutionnelle et organisée par les différents acteurs et cibles de lutte contre le VIH/SIDA au Cameroun. (CNLS, 2006 : 45-58)
209
Malgré la nécessité de faire des jeunes le leitmotiv de la lutte contre le SIDA, leurs interventions sont circonscrites dans le champ éducatif, à travers « l’implication des associations […] d’étudiants […] l’intégration des enseignements sur la lutte contre le SIDA dans les curricula de formation des écoles, collèges et universités, ainsi qu’au cours des évènements ciblant les jeunes » (CNLS, 2006 : 54). L’appropriation par les jeunes est ainsi subordonnée aux structures sociales d’éducation. Les jeunes ont une position transversale, centrifuge et centripète. Ils sont omniprésents sur l’échiquier social général. Ils sont les plus vulnérables, les plus infectés et constituent la cible prioritaire en matière de VIH/SIDA. Se sont les jeunes d’aujourd’hui qui assureront la riposte de demain. La génération des 15-24 ans n’a pas connu de monde sans SIDA. (ONUSIDA, 2004 : 15 et Cameroun EDS 2004, 2005). Nous fustigeons en effet, les préjugés et les formes de stigmatisation rétrogrades qui visent à infantiliser les jeunes et à les soustraire de l’action historique. Ils sont maladroitement assignés à la passivité et à la reproduction des formes sociales préétablies. Les représentations et les structures sociales leur nient toute capacité à entreprendre des actions sociales historiques. Or, une formation sociale est une construction dynamique et interactive à l’intérieur de laquelle tous les acteurs, sans distinction de classe, de sexe, de génération ou de statut apportent collectivement et/ou individuellement, des capitaux divers. Autrement dit, les jeunes, comme les femmes sont porteurs de dynamique sociale durable. En matière de lutte contre le VIH/SIDA, les jeunes se sont organisés dans des formes d’associations diverses et à côté des macrostructures étatiques et internationales pour participer aux processus de lutte. Ces associations constituent a priori des indicateurs d’action sociale historique. Elles sont cependant mal connues. III. Lutte contre le VIH/SIDA et identisation sociale des jeunes L’identité est une interrogation sur la filiation des sujets sociaux. Cette filiation est à l’image de la société et de son unité culturelle de référence. Celle du jeune s’inscrit dans une posture d’ouverture et de pluralité. L’ouverture vis-à-vis du jeune lui-même et des autres. La pluralité quant à elle consiste en la prise en compte rigoureuse de la diversité des interactions, aussi contradictoire puissent-elles paraitre. L’affirmation est une mise en scène de l’acteur social et de ses référents psychosociologiques ;; l’expression manifeste de la filiation sociale de l’acteur. L’affirmation et l’identisation sociale des jeunes expriment la société dont ils sont l’image. Cette identité est celle d’une société sans frontières, dans laquelle ils ne tiennent pas à rester transparents et indifférents et participe d’une culture défrontalisée où l’affirmation identitaire est le gage de l’existence. L’actuelle « génération jeune » serait celle qui, mettant en œuvre une culture « jeune » ou des normes culturelles inédites, serait porteuse d’une logique sociale individuée, affirmant des principes d’autonomie … plutôt que des valeurs d’appartenance sociale soumises aux instances traditionnelles (autoritaires) de la représentation (Michel Molitor, 2000 : 18). Les jeunes ne s’avouent pas être de objets inertes de la société. Ils communiquent avec leur temps et les pré-constructions historiques.
210
1. Des organisations de lutte contre le SIDA des jeunes Il existe bel et bien des organisations collectives de jeunes dont l’objectif principal est la participation à la lutte contre le VIH/SIDA, en milieux scolaires et extrascolaires. En milieux scolaires, elles sont astreintes aux activités post et périscolaires. Ces formations sont de Clubs santé, croix rouge, VIH/SIDA, santé et autres. Les associations extrascolaires sont crées sur la base de la loi relative à la liberté d’expression et d’association au Cameroun. Ces associations sont de divers ordres, notamment politique, religieuse, culturelle, économique, sociale, etc. Les associations de jeunes extrascolaires de lutte contre le SIDA correspondent à des groupes organisés de jeunes, connus et reconnus pour leurs mobilisations en la matière et pour leur identité d’association de jeunes. Elles ne sont pas spatialement et institutionnellement limitées et repérables comme c’est le cas pour les organisations scolaires. Elles sont dispersées et épouse la pluralité de l’espace social. 2. Les mobilisations collectives des jeunes Comment est-ce que les associations des jeunes parviennent à se maintenir et à opérationnaliser leurs objectifs ? Ces organisations sont des constructions spécifiques des interactions historiques et quotidiennes durables des jeunes dans l’intérêt collectifs. À travers ces organisations, des actions concrètes de lutte contre le VIH/SIDA sont mises en œuvre. En général, les constructions stratégiques en matière de lutte contre le VIH/SIDA participent de la diminution du risque d’infection;; de la vulnérabilité et de l’impact social. L’action sociale des jeunes se dégage davantage d’un point de vue diffusionnel. Les jeunes s’investissent moins sur le contenu de changement. Ils se mobilisent davantage sur le rythme du changement, à travers une construction théorique et opérationnelle du modèle Information-Education-Communication (IEC). Le modèle IEC étant entendu comme « l’outil indispensable pour impliquer et faire participer les populations à la réalisation d’objectifs qui sont généralement, l’amélioration du niveau et de la qualité de vie de ces populations » (Laurent-Charles Boyomo Assala)1. Ils œuvrent à la transmission des connaissances, des normes, des valeurs, des pratiques, des manières de faire et de penser susceptibles de réduire le risque de transmission du VIH. Leurs plans d’action sont révélateurs de leurs interventions sociales. Stratégiquement, les jeunes abordent et s’approprient individuellement et collectivement, les espaces de lutte contre le VIH/SIDA, dominés par de macrostructures étatiques et internationales. Ces espaces sont relatifs, à la connaissance de la maladie, aux sources d’informations, à la gestion de la sexualité, à la pratique sexuelle, à la prévention et à la prise en charge de la santé sexuelle, etc. Ces contributions participent non seulement de l’intérêt d’un groupe social démographiquement majoritaire mais de la société toute entière. Mais comment pouvons nous comprendre cette incursion des jeunes dans des interactions sociales où ils sont plutôt astreints au rôle passif de cible agie ? 1 Laurent-charles Boyomo Assala « Enseignement, communication et développement durable dans les zones côtières » http://www.unesco.org/csi/pub/info/assalaf.htm
211
Conclusion : de l’identisation sociale en question A la question de comment comprendre les mobilisations collectives des jeunes, nous émettons l’affirmation concluante que leurs formations et, concomitamment, leurs interventions sociales constituent une « greffe sociale ». D’abord, les mobilisations et les interventions des jeunes sont des évènements inattendus de l’ordre social dont ils sont dépendants. Ensuite, à partir d’elles ils parviennent à s’inviter et à participer à l’action collective leur permettent enfin de faire valoir leurs spécificités. Cette conception corrobore l’approche que Claude Dubar propose pour la compréhension de la notion de socialisation chez les jeunes ;; c’est-à-dire un processus social permanent où on ne peut plus en parler « comme un « modelage » passif des jeunes par les institutions, ni d’une action unilatérale des adultes sur les enfants ou les adolescents […] La socialisation devient ici une individuation marquée par le souci de « trouver sa propre voie », de « chercher son épanouissement personnel », de « se construire sa propre identité » (2000 : 45). Dans le même sens Jacques Delcourt affirme qu’ « il faut glisser d’une analyse de la socialisation avant tout centrée sur la transmission de la tradition, la reproduction et la conservation de l’ordre social, vers une socialisation visant l’autonomisation et la responsabilisation des personnes, […] qui les met à la recherche de leur identité, à travers un processus complexe d’individuation, de personnalisation ou ‘d’identisation’ » (2000 : 53). A travers les organisations de lutte contre le SIDA, les jeunes tentent de se frayer un chemin dans le jeu social oligarchique. Les jeunes, à travers leurs formations sociales développent des stratégies d’identisation sociale. Pour terminer, les jeunes forment une « sous culture », (Galland ; 1997 : 45) certes fuyante, mais une culture à part entière dans un contexte particulier de démocratie et de mondialisation. L’appropriation heuristique de cette catégorie sociale nécessite toujours un exercice de reconstruction. Les pesanteurs des structures sociales oligarchiques leur assignent les seconds rôles dans la passivité, notamment dans les stratégies collectives de développement. Mais ils se font leurs propres voies en s’affirmant à travers leurs pratiques sexuelles, et leurs actions collectives de lutte contre le SIDA. Le jeune n’est plus cet être social dépourvu tel que projeté dans les représentations socioculturelles africaines. Il se construit des capitaux divers, en tant qu’acteur à part et à part entière dans un univers social complexifié par la mondialisation et une société camerounaise à la recherche d’elle-même. Références bibliographiques BAJOIT, Guy (2000) Jeunesse et société : la socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelles : De Boek Université. BECKER, Charles ; DOZON, Jean-Pierre et al. (1999) Vivre et penser le SIDA en Afrique. Paris : Karthala/CODESRIA. BECQUET, Valerie ; LINARES, Chantal (2005) Quand les jeunes s’engagent : entre expérimentation et construction identitaire. Paris, L’Harmattan.
212
BOYOMO, ASSALA Laurent-Charles [sd] « Enseignement, communication durable dans les zones côtières », httm://www.unesco.org/csi/info/assalaf/htm DELCOURT, Jacques (2000) « La socialisation : un processus continu dans une société en changement permanent ». In Bajoit, Guy et al. : Jeunesse et société : la socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelles : De Boek Université, pp. 49-61. DJEUTCHA, Sophie (2005) « Le SIDA, révélateur ou réformateur du social ? Le cas de la PTME au Cameroun ». In Terroirs : revue africaine de sciences sociales et de culture. Yaoundé : Les presses de l’imprimerie les grandes Éditions, pp.179-200. DUBAR, Claude (2000) « Quelles problématiques de la socialisation dans les recherches sur les jeunes », in Bajoit, Guy et al. : Jeunesse et société : la socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelles : De Boek Université, pp. 43-47. DUBET, François (2000) « La formation des individus : la désinstitutionalisation », in BAJOIT, Guy et al. : Jeunesse et société : la socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelles : De Boek Université, pp. 187-193. FRÉTIGNÉ, Cédric (1999) Sociologie de l’exclusion. Paris : L’Harmattan. GALLAND, Olivier (1997) Sociologie de la jeunesse. Paris : Armand Colin. GRUENAIS, Marc-Eric (1999) « Les dispositifs de lutte contre le SIDA à l’heure d’ONUSIDA et de la démocratisation ». In Charles Becker et al., Vivre et penser le SIDA en Afrique. Paris : Karthala, pp. 455-471. LADMIRAL, Jean-Réné ; LIPIANSKY Edmond Marc (1989) La communication interculturelle. Paris : Armand Colin. MELI, Vivien (2011) « Contextualisation » méthodologique : le sociologue et les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PPVS) au Cameroun ». In Intel’actuel, revue de lettres et sciences humaines, cogito ergo prosum, n° 10, 2011, pp. 111-143. MIGNON, Jean-Marie (1984) Jeunesses uniques, Afrique, jeunesse encadrée. Paris : L’Harmattan. MONTULET, Bertrand (2000) « De la socialisation collective à la socialisation réticulaire ». In Bajoit, Guy et al. : Jeunesse et société : la socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelles : De Boek Université, pp. 63-73. SECA, Jean-Marie (2001) Les représentations sociales. Paris : Armand Colin. MOLITOR, Michel (2000) « La socialisation des jeunes dans un monde en mutation ». In Bajoit, Guy et al., Jeunesse et société : la socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelles : De Boek Université : pp. 15-41. PAUGAM, Serge (1996) L’exclusion : l’état des savoirs. Paris : Editions La Découverte. REPUBLIQUE DU CAMEROUN (2005) Enquête Démographique et de Santé Cameroun : 2004. THIAUDIERE, François (2002) Sociologie du SIDA. Paris : La Découverte.
213
Posters Brincadeira: apogeu e queda de uma proeminente instituição socializadora Blague: apogée et chute d’une institution socialisatrice proéminente Alberto Nídio Barbosa de Araújo e Silva A carreira do jovem doador de sangue através de uma análise temporal La carrière du jeune donneur de sang via une analyse temporelle Balia Fainstein Representações sociais da velhice Représentations de la vieillesse Fernanda Daniel, Anna Antunes, Inês Amaral La citoyenneté enfantine en contextes publiques de Co décision : analyse d’une expérience des compétences politiques enfantines A cidadania infantil nos contextos públicos de co-decisão: análise de uma experiência das competências políticas infantis Gabriela Trevisan A (des)construção dos laços sociais no contexto migratório interno: entre laços e desenlaces La (dé)construction des liens sociaux dans le contexte migratoire interne : entre liens et déliens Paulo R. Baronet Um dia quero ser leve como uma fada! Contributo para a compreensão das caraterísticas dos discursos anoréticos na Web no âmbito de um estudo sobre violência online em idade escolar Un jour je serais léger comme une fée ! Contribution à la compréhension des caractéristiques des discours anorectiques dans le Web dans le contexte d’une étude sur la violence online à l’âge scolaire Teresa Castro e António Osório
214
Aplicações informáticas/Applications numériques ‘Aventureiros da Floresta” e “Comunicadores da Natureza’ “Les aventuriers de la forêt” et “les communicateurs de la nature” Grécia Rodríguez Pinto Descaracterização das cidades como espaço colectivo Dé-caractérisation des villes comme espace collectif Leonardo de Albuquerque Batista Auto-expressão das crianças. Os textos ditados no jardim-de-infância como expressão das culturas infantis L’auto-expression des enfants. Les textes dictés dans la crèche comme expression des cultures d’enfance Manuela de Sampaio Pinto