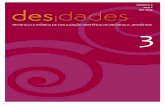Segregação residencial nas metrópoles e desigualdade no mercado de trabalho: cor/raça e...
Transcript of Segregação residencial nas metrópoles e desigualdade no mercado de trabalho: cor/raça e...
XIV Congresso Brasileiro De Sociologia
28 a 31 de julho de 2009, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ
Grupo de Trabalho: “Questão Urbana”
Segregação residencial nas metrópoles e desigualdade no mercado
de trabalho: cor/raça e escolaridade
Marcelo Ribeiro Doutorando em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro Professor Doutor do IPPUR/UFRJ
Filipe Souza Corrêa Mestrando em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ
Juciano Martins Rodrigues Doutorando em Urbanismo pelo PROURB/UFRJ
2
SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL NAS METRÓPOLES E DESIGUALDADE NO MERCADO DE
TRABALHO: COR/RAÇA E ESCOLARIDADE
Marcelo Gomes Ribeiro
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro
Filipe Souza Corrêa
Juciano Martins Rodrigues
1. Introdução
Análises referentes à relação entre mercado de trabalho e escolaridade, por um lado, e
mercado de trabalho e cor ou “raça”, por outro, já foram empreendidas de diversas maneiras
no Brasil. De modo geral, essas análises procuram demonstrar que as chances de maiores
níveis de rendimentos e de acesso a emprego estável de pessoas com baixo nível de
escolaridade e/ou cor preta (ou mesmo parda) são menores se comparadas às pessoas com
níveis mais elevados de escolaridade e/ou que possuam cor branca. Este trabalho assume
como pressuposto que a análise do mercado de trabalho a partir dessas variáveis oferece
elementos para entender como características do indivíduo afetam na reprodução de
desigualdades sociais. Porém, pretende avançar na explicação da reprodução das
desigualdades sociais a partir do mercado de trabalho inserindo a dimensão do território que
normalmente não tem sido considerada, principalmente, no Brasil. Em outras palavras,
objetivar-se-á compreender como o território influencia nos níveis de rendimentos da
ocupação principal, ou no risco em relação à fragilidade ocupacional e mesmo risco em relação
ao desemprego, tendo em vista as diferenças na concentração de pessoas com baixos níveis de
escolaridade e na concentração de indivíduos de cor preta nos grandes espaços urbanos
brasileiros.
A segunda seção deste artigo será dedicada à discussão da importância do território
para as pesquisas sociais urbanas. Na terceira seção, por sua vez, serão apresentadas análises
sobre as mudanças ocorridas no mercado de trabalho durante as décadas de 1980 e 1990, e
como essas mudanças atingiram de maneira diferenciada os grandes espaços urbanos
brasileiros. A quarta seção será dedicada à descrição das situações das variáveis de cor e
escolaridade nos grandes espaços urbanos metropolitanos no Brasil. A quinta seção será
dedicada à análise do efeito do território sobre variáveis que expressam as condições de
Doutorando no IPPUR/UFRJ e Pesquisador Assistente do Observatório das Metrópoles. Professor Titular do IPPUR/UFRJ e Coordenador Nacional do Observatório das Metrópoles. Mestrando no IPPUR/UFRJ e Pesquisador Assistente do Observatório das Metrópoles. Doutorando no PROURB/UFRJ e Pesquisador Assistente do Observatório das Metrópoles.
3
acesso à estrutura de oportunidades no mercado de trabalho, partindo-se da hipótese que a
existência desse efeito traz elementos empíricos para a discussão sobre os efeitos do território
na reprodução das desigualdades sociais. A sexta seção conclui, abordando os principais
resultados da análise empreendida a partir da perspectiva teórica adota neste trabalho.
2. O território nas pesquisas sociais urbanas
O célebre texto “Efeitos de lugar” de Pierre Bourdieu (1997) traz uma importante
contribuição para as pesquisas sociais ao questionar sobre a forma como o lugar ocupado
pelos indivíduos no espaço físico, reflete um diferencial de poder resultante de sua posição no
espaço social. Nesse sentido, a posição que cada agente ocupa na estrutura social não apenas
expressa o estilo de vida, gostos ou mesmo visão de mundo que lhe são incorporados, mas
também corresponde a uma relação específica com o espaço social no qual se localiza
(BOURDIEU, 1997). Portanto, existe uma relação intrínseca entre a estrutura social e o espaço
social. Este espaço social, por sua vez, “se retraduz no espaço físico”. Na verdade, o espaço
físico não pode ser entendido apenas como as coordenadas geográficas que o define, mas
requer o entendimento de que é construído a partir do espaço social. Assim, cada lugar, para
ser compreendido, necessita que o considere em relação aos demais lugares. E desse modo, os
indivíduos ou agentes que se localizam num ou noutro lugar carregam consigo toda a carga
simbólica que esses lugares representam. Em resumo, segundo Bourdieu:
A posição de um agente no espaço social se exprime no lugar do espaço físico em que está situado (aquele do qual se diz que está “sem eira nem beira” ou “sem residência fixa”, que não tem – quase – existência social), e pela posição relativa que suas localizações temporárias (por exemplo. o lugares de honra, os lugares regulados pelo protocolo) e sobretudo permanentes (endereço privado e endereço profissional) ocupam em relação às localizações de outros agentes; ela se exprime também no lugar que ocupa (no direito) no espaço através de suas propriedades (casas, apartamentos, ou salas, terras para cultivar, para explorar ou para construir, etc. ) que são ou mais ou menos embaraçosos ou, como se diz às vezes, “space consumming” (o consumo mais ou menos ostentatório do espaço é uma das formas por excelência de ostentação do poder). (BOURDIEU, 1997).
De fato, desde a publicação do livro “The Truly Disadvantaged” em 1987, o território
passou a configurar como uma das explicações importantes nos estudos referentes à pobreza
urbana. Ao analisar o caso de Chicago, W. J. Wilson (1987) procurou demonstrar que
indivíduos residentes em bairros onde há concentração de pobreza têm mais dificuldades para
4
superação das condições sociais em que se encontram, além de tenderem a reproduzir esse
quadro de pobreza; ou seja, as condições sociais dos indivíduos em territórios com grande
concentração de pobreza não dependem somente das características individuais, como a
vertente culturalista defendia. Sua explicação procurava ir além daquelas que se baseavam
exclusivamente nas características individuais ou das famílias. Wilson buscava, no entanto,
mostrar que as condições sociais do bairro eram relevantes para a explicação da reprodução
da pobreza urbana, na medida em que a referência que os indivíduos tinham uns dos outros
era de pessoas com as mesmas características ou condições sociais. Além disso, procurou
mostrar que a rede social em que indivíduos com as mesmas características estavam inseridos,
concentrava-se num mesmo bairro, não permitia que se conseguissem informações sobre o
mercado de trabalho para além das oportunidades disponíveis na vizinhança, o que diminuía
as chances de obtenção de emprego. Com isso, Wilson conseguiu demonstrar que essa
situação de limitação das oportunidades de superação da pobreza por conta da concentração
no território de indivíduos na mesma situação era ainda mais agravante para os negros, uma
vez que estes, diferentemente dos brancos e dos latinos, estavam também concentrados no
território.
Nessa mesma direção, ao procurar explorar a importância do território (bairro) para a
explicação da reprodução das desigualdades sociais na América Latina, Kaztman (1999)
argumenta que a estrutura social do bairro define as estruturas de oportunidades que
possibilitam a acumulação de ativos – definidos como o conjunto dos recursos materiais ou
imateriais mobilizados para melhorar o desempenho econômico e social do indivíduo – ou o
bloqueio aos ativos acumulados, tendo em vista a situação de vulnerabilidade em que os
indivíduos ou domicílios se encontram. Essas estruturas de oportunidades podem ser
percebidas através do mercado, da sociedade ou do Estado. São estruturas, portanto, que
permitem ou bloqueiam a obtenção desses ativos.
Para o caso brasileiro, considerar o território na explicação das desigualdades sociais
torna-se ainda mais relevante, principalmente quando a análise procura enfocar a comparação
entre os grandes espaços urbanos. Por um lado, há que considerar as diferenças sócio-
econômicas entre as regiões brasileiras. Essas diferenças são justificadas pela própria
formação social e econômica que o país teve desde a época em que ainda era colônia, mas que
ganhou contornos específicos a partir, sobretudo, do momento em que avançou no processo
de industrialização, mesmo considerando as transformações econômicas que se colocaram em
curso nas últimas décadas (CANO, 2008). Por outro lado, é preciso ressaltar a complexidade do
sistema urbano brasileiro, que até a década de 70 tendeu a concentrar parte significativa da
5
população em alguns centros urbanos, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, mas que
sofreu modificações importantes a partir deste período, constituindo outros aglomerados
urbanos no interior do país.
A compreensão do território brasileiro tendo em vista sua formação sócio-econômica e,
ao mesmo tempo, o modo como se desenvolveu o seu sistema urbano é importante para
compreender as diferenças territoriais entre os principais aglomerados urbanos do país. De
modo geral, o território desses espaços urbanos organiza-se de forma concêntrica, no sentido
núcleo-periferia, onde no núcleo tende a concentrar a parcela da população com maiores
rendimento e maior escolaridade e na periferia concentram-se os segmentos populacionais
com as piores condições de escolaridade e renda, como são os casos de São Paulo, Brasília e
Goiânia, por exemplo. Mas isso não se verifica em todos os grandes espaços urbanos
brasileiros. Os demais GEUBs apresentam uma configuração urbana mais diversificada. No
caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a sua estrutura urbana se caracteriza pela existência de
favelas incrustadas nas áreas mais elitizadas.
Os aglomerados urbanos que serão considerados neste trabalho correspondem aos
grandes espaços urbanos brasileiros (GEUBs) dotados de função metropolitana. Esses GEUBs
foram definidos em estudo realizado pelo Observatório das Metrópoles para todo o sistema
urbano brasileiro, onde foram definidos e hierarquizados 37 grandes espaços urbanos em todo
Brasil, mas somente 15 com função metropolitana1. Entendeu-se por função metropolitana “a
centralidade, definida por indicadores do grau de importância, aferindo a complexidade e
diversidade de funções e sua abrangência espacial, e a natureza metropolitana, associada a
níveis elevados de população e atividades, particularmente as de maior complexidade, e a
centralidade que transcende a região”. Além dos 15 GEUBs com função metropolitana serão
acrescentados mais outros dois – Maringá e Natal – por interesse da pesquisa empreendida2.
Para facilitar a referência aos 17 GEUBs, todos serão mencionados como sendo
metropolitanos.
Assim, a questão que se coloca neste trabalho é a seguinte: é possível verificar alguma
tendência entre as condições de acesso dos indivíduos à estrutura de oportunidades do
mercado de trabalho de acordo e o contexto social de residência (entendido a partir do nível
de escolaridade e composição de cor) nos grandes espaços urbanos brasileiros? Antes de
1 Os 15 GEUBs com função metropolitana são: Belém, Belo Horizonte, Brasília (RIDE), Campinas, Curitiba,
Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e São Paulo. 2 Os pesquisadores integram a Rede Observatório das Metrópoles, que entre as metrópoles constituintes da Rede
fazem parte Maringá e Natal.
6
responder a essa questão será necessário abordar, mesmo que em linhas gerais, alguns
aspectos referentes às mudanças no mercado de trabalho nas décadas recentes e seu
rebatimento nos grandes espaços urbanos brasileiros.
3. Mudanças no mercado de trabalho e desigualdades entre os GEUBs
O mercado de trabalho brasileiro passou por transformações significativas nas últimas
décadas. Essas transformações estão relacionadas, por um lado, pelas próprias mudanças que
têm ocorrido na economia mundial; por outro lado, por mudanças particulares da economia
brasileira. De fato, mesmo com todo o avanço no processo de industrialização que o Brasil
experimentou até a década de 70, o mercado de trabalho brasileiro não se tornou
homogêneo. As diferenças podiam ser visualizadas territorialmente, entre as regiões do país,
apesar de naquele momento, pelo menos nos principais centros urbanos, o trabalho
assalariado formal se constituir como uma das principais categorias do mercado de trabalho.
Depois que o país sofreu os impactos da reestruturação produtiva colocadas em curso
nos países centrais desde a década de 70 e no Brasil principalmente a partir do começo dos
anos 90, além da própria crise do seu padrão produtivo, que se manifestou pelo problema do
endividamento externo e pela pressão inflacionária nos anos 80, o mercado de trabalho
brasileiro tornou-se ainda mais complexo. A partir desse momento, cada vez mais, foi
necessário considerar a questão da informalidade, da subproletarização e, principalmente, do
desemprego, tendo em vista que esses problemas tornaram-se agudos no caso brasileiro.
Embora a emergência desses problemas tenha se constituído como tendência geral para
todo o país, a estrutura pretérita do mercado de trabalho em cada uma das regiões brasileiras
e as transformações sócio-econômicas viabilizadas, principalmente, a partir da década de 70 –
desconcentração econômica, aceleração do processo de industrialização agrícola, modificações
no sistema urbano, etc. –, afetaram de forma diferenciada o mercado de trabalho nos
principais aglomerados urbanos do país. O que se pretende considerar, neste trabalho, é que
ocorreram mudanças que impactaram todo o país, mas o modo como essas mudanças se
manifestaram em cada lugar se fez por decorrência da estrutura econômica anterior existente,
que não era homogênea.
Ao ter esse entendimento em perspectiva, será possível a avaliação das tendências
gerais do mercado de trabalho dos GEUBs metropolitanos, mesmo que haja especificidades
entre as suas regiões, como aqui foi ressaltado. Neste sentido, quando se consideram os
7
efeitos da organização social do território sobre o mercado de trabalho, no que se refere ao
nível de rendimento, à fragilidade ocupacional e ao desemprego, está se considerando
aspectos das mudanças que podem ser visualizadas em todos os espaços urbanos.
A Tabela 1 apresenta os indicadores que possibilitam a análise das desigualdades no
mercado de trabalho: rendimento médio, fragilidade ocupacional e taxa de desemprego. Esses
indicadores foram calculados somente para pessoas compreendidas entre 25 e 59 anos de
idade, tendo vista que se quer retratar o mercado de trabalho a partir de indivíduos que se
encontram em idade de trabalhar e que, a rigor, não disputam com outros vínculos
institucionais, como a escola, por exemplo, ou a inatividade, que pode ser adquirida a partir
dos 60 anos de idade.
O rendimento médio é defino pela razão entre o rendimento proveniente da ocupação e
o número de ocupados. Quanto a essa variável, observa-se que há discrepâncias visíveis entre
os GEUBs. O rendimento médio de São Paulo, que é o maior entre os GEUBs metropolitanos,
corresponde a quase o dobro do encontrado para Fortaleza, que tem o menor rendimento
médio. Além de São Paulo, os maiores rendimentos médios são de Brasília, Florianópolis,
Curitiba e Porto Alegre. Com a exceção de Brasília, os demais espaços urbanos situam-se na
região Sul do país.
Tabela 1: Rendimento médio, fragilidade ocupacional e taxa de desemprego das pessoas de 25 a 59 anos de idade nos grandes espaços urbanos brasileiros metropolitanos - 2000
GEUBs Rendimento
Médio Fragilidade
Ocupacional Taxa de
Desemprego
Belém 746,42 41,5 14,3
Belo Horizonte 900,48 28,6 12,7
Campinas 1.121,07 27,1 11,3
Curitiba 1.044,06 29,3 10,1
Florianópolis 1.103,34 26,6 8,1
Fortaleza 662,07 39,6 12,1
Goiânia 910,58 38,7 8,4
Grande Vitória 857,71 32,1 12,6
Manaus 821,37 34,4 17,9
Maringá 827,99 34,9 8,6
Natal 716,32 33,7 12,8
Porto Alegre 952,35 26,6 10,2
Recife 736,49 31,9 17,2
RIDE DF 1.237,55 31,0 11,9
Rio de Janeiro 950,68 29,1 13,5
Salvador 790,83 28,8 18,0
São Paulo 1.261,39 27,8 13,8
Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE. Elaborado pelo Observatório das Metrópoles.
8
O indicador de fragilidade ocupacional expressa a condição desfavorável do vínculo dos
indivíduos no mercado de trabalho. Esse indicador é construído a partir das situações de
vínculo com o mercado de trabalho, sejam elas: (i) conta-própria que não contribui para o
sistema de previdência, (ii) empregado doméstico com e sem carteira de trabalho assinada; e
(iii) empregados sem carteira de trabalho assinada e não contribuinte para o sistema
previdenciário oficial (RIBEIRO, RODRIGUES & CORREA, 2008).
Em relação à fragilidade ocupacional, também há discrepâncias grandes entre os GEUBs
metropolitanos, já que o índice varia entre 26,6% (Florianópolis) e 41,5% (Belém). Os que
apresentam os maiores índices de fragilidade ocupacional são Belém, Fortaleza, Goiânia,
Maringá, Manaus, Natal e Grande Vitória. À exceção dos dois primeiros, todos os demais são
GEUBs que passaram a ter importância no sistema urbano brasileiro em momento posterior à
década de 80. Por outro lado, verifica-se que desses GEUBs listados: dois GEUBs se situam na
região Norte, dois na região Nordeste, um na região Centro-Oeste, um na região Sul, e um na
região Sudeste.
A taxa de desemprego, definida pela razão entre o número de desocupados e a
população economicamente ativa, é a variável que apresenta a menor discrepância entre os
GEUBs metropolitanos, embora o GEUB com menor taxa de desemprego registre 8,1%
(Florianópolis) e o GEUB com a maior taxa registre 18% (Salvador). Essa variável parece atingir
menos os GEUBs das regiões Sul e Centro-Oeste, já que nessas regiões nenhum GEUB
apresenta elevadas taxas de desemprego. As maiores taxas, por sua vez, apresentam-se nos
seguintes GEUBs: Salvador, Manaus, Recife, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Natal e Belo
Horizonte, em ordem decrescente de taxa de desemprego (Tabela 1).
O rendimento médio e a fragilidade ocupacional possuem alta correlação de Pearson (-
0,62), isso quer dizer que, em termos gerais, quanto maior é o rendimento médio, menor é a
fragilidade ocupacional nos GEUBs. Esse resultado sugere que, com o processo de
reestruturação produtiva, as ocupações caracterizadas por vínculos frágeis colaboram para
manter elevado o rendimento médio, quando há uma situação de elevado nível de
desemprego, apesar de se mostrar de forma diferente em cada um dos GEUBs.
O rendimento médio também está correlacionado com a taxa de desemprego, contudo
é uma correlação fraca (-0,35). E não há uma correlação estatisticamente significativa entre a
fragilidade ocupacional e a taxa de desemprego. Esses resultados sugerem que não há
tendência geral no mercado de trabalho que podemos verificar entre os GEUBs, pelo menos
quando se considera o desemprego correlacionado com outras variáveis, o que corrobora a
9
idéia de que, embora o processo de reestruturação produtiva tenha se manifestado em todos
os lugares, seus impactos no nível de fragilidade ocupacional e de desemprego se deram de
forma diferente por decorrência da estrutura econômica que se diferenciava entre os espaços
urbanos.
Neste sentido, os impactos das mudanças ocorridas no mercado de trabalho podem ter
se manifestado de forma mais evidente no território, tendo em vista que tanto o desemprego
quanto a precarização do trabalho tornam mais difícil o acesso à terra urbana, o que leva à
concentração de indivíduos em situação de vulnerabiliadade em espaços menos valorizados
(CEPAL, 2007). Assim, poderemos verificar se há tendência geral entre a organização social do
território e as desigualdades do mercado de trabalho.
4. Características do nível de escolaridade e cor dos indivíduos nos GEUBs
A distinção no espaço social de cada um dos GEUBs metropolitanos será feito, por um
lado, através do nível de escolaridade e, por outro lado, por meio da cor dos indivíduos,
mesmo considerando que estrutura social seja mais complexa que as variáveis que estamos
utilizando. O fato é que a escolaridade serve como um bom indicador de estratificação social,
uma vez que indivíduos com anos de estudos elevados tende a se diferenciar socialmente de
indivíduos com baixa escolarização. A cor ou raça dos indivíduos, entretanto, pode ser utilizada
para retratar o espaço social, porque historicamente os negros sempre foram discriminados
socialmente, o que leva indivíduos com essa característica a ter menos possibilidade de se
posicionar nas camadas superiores da sociedade, fazendo com que esta variável sirva também
como um bom indicador de estratificação social (HASENBALG & SILVA, 1988; HASENBALG,
1979). Isso porque se está considerando que indivíduos (ou agentes) que possuem
determinadas características ou que são dotados de certos capitais (cultural, econômico ou
social) tendem a se concentrar em lugares específicos no espaço social (BOURDIEU, 1997).
Como o território (ou contexto social de residência) será operacionalizado, para fins
deste trabalho, através do nível de escolaridade e da cor, seja na dimensão individual, seja na
dimensão do território, nesta seção serão apresentados os dados descritivos dessas variáveis
em cada um dos GEUBs metropolitanos, tendo em vista que estes espaços também se
diferenciam quanto à sua estrutura de escolaridade e sua composição de cor.
10
Tabela 2: Pessoas de 25 a 59 anos de idade segundo as faixas de anos de escolaridade dos grandes espaços urbanos brasileiros metropolitanos (em %)- 2000
GEUBs
Faixa de escolaridade (em anos)
Total até 4
mais 4 até 8
mais de 8 até 11
mais de 11
Belém 24,7 38,7 26,5 10,0 100,0
Belo Horizonte 33,0 36,4 18,5 12,1 100,0
Campinas 32,1 37,8 17,4 12,7 100,0
Curitiba 31,5 33,5 20,2 14,8 100,0
Florianópolis 25,1 33,1 22,4 19,5 100,0
Fortaleza 40,0 33,1 18,2 8,7 100,0
Goiânia 29,2 35,6 22,5 12,8 100,0
Grande Vitória 30,6 35,9 22,3 11,3 100,0
Manaus 26,7 38,7 26,6 8,0 100,0
Maringá 33,5 35,1 18,9 12,5 100,0
Natal 37,6 31,4 20,2 10,8 100,0
Porto Alegre 28,7 37,6 19,3 14,4 100,0
Recife 33,9 34,0 20,3 11,8 100,0
RIDE DF 31,1 32,8 21,4 14,6 100,0
Rio de Janeiro 25,6 36,5 22,8 15,1 100,0
Salvador 28,8 34,3 26,1 10,7 100,0
São Paulo 28,2 38,1 20,0 13,7 100,0
Total 29,5 36,3 21,0 13,2 100,0
Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE. Elaborado pelo Observatório das Metrópoles.
As faixas de escolaridade variam muito entre os GEUBs metropolitanos, como se pode
observar na Tabela 2. Na faixa de até quatro anos de estudo, observa-se que Belém é o GEUB
com o menor nível, apresentando 24,7% das pessoas de 25 a 59 anos de idade. Por outro lado,
Fortaleza possui o maior nível nessa faixa de escolaridade, com 40% das pessoas de 25 a 59
anos de idade. A variação da distribuição de pessoas nessa faixa de escolaridade não segue, a
rigor, uma tendência regional, pois em todas as regiões brasileiras há GEUBs com níveis altos
de pessoas com até quatro anos de estudo. Porém, quando se analisa a outra faixa extrema
dos níveis de escolaridade, pessoas de 25 a 59 anos de idade com mais de 11 anos de estudo,
observa-se que os GEUBs com maiores níveis concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, além, é
claro, de Brasília. Os GEUBs com os piores resultados, nessa faixa, são Manaus e Fortaleza, que
possuem apenas 8% e 8,7%, respectivamente.
11
Gráfico 1
Composição por cor da população nos grandes espaços urbanos brasileiros metropolitanos - 2000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Flo
rian
óp
olis
Po
rto
Ale
gre
Cu
riti
ba
Cam
pin
as
Mar
ingá
São
Pau
lo
Go
iân
ia
Rio
de
Jan
eir
o
Be
lo H
ori
zon
te
RID
E D
F
Gra
nd
e V
itó
ria
Nat
al
Re
cife
Fort
ale
za
Man
aus
Be
lém
Salv
ado
r
%
Branca
Preta
Parda
Outras
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo 2000 – IBGE
A composição dos indivíduos segundo a cor entre os GEUBs metropolitanos é muito
diferente, como podemos observar no Gráfico 1. Os GEUBs da região Sul são os que possuem a
maior participação de pessoas de cor branca. Por outro lado, os GEUBs das regiões Norte e
Nordeste são os que apresentam a maior participação de pessoas de cor parda. No entanto,
para fins da presente análise consideraremos apenas os indivíduos de cor preta, dado a
hipótese de que os mecanismos de discriminação e desigualdades raciais atuam a partir da
distinção pela cor da pele. Outra observação é que, diferentemente dos demais estudos que
analisam o território a partir da concentração populacional de “negros” (categoria de análise
construída a partir da junção das categorias de preto e pardo), desconsideraremos para fins de
construção dessa variável a categoria de pardos, já que a presença de pessoas de cor parda,
principalmente nos GEUBs da região norte, pode dissimular a representação de mestiços com
origens indígenas, o que não estamos considerando neste caso. Ou seja, a cor preta é a que
possibilita uma melhor compreensão da composição da cor dos territórios de cada GEUB.
Na comparação entre os GEUBs, deve-se considerar que existe uma diferença regional
entre os percentuais de população de cor preta. Por exemplo, Salvador apresenta participação
muito superior a observada em outros GEUBs, com 20% de pessoas com essa característica,
quase o dobro do Rio de Janeiro (10,5%), que ocupa a segunda posição no ranking da
participação de pessoas de cor preta. Tanto os GEUBs da região Sul quanto os GEUBs da região
Norte do país apresentam baixa participação de pessoas de cor preta, o que reflete a
concentração dessa população em lugares específicos do território nacional. Essa diferente
concentração geográfica diz respeito ao histórico do escravismo no Brasil como bem destacou
Hasenbalg (1979).
12
Com base nessa verificação descritiva sobre escolaridade e cor nos GEUBs
metropolitanos, onde foi possível observar suas diferenças, torna-se relevante verificar em que
medida o contexto territorial, visto a partir desses aspectos, tem efeito sobre as desigualdades
expressas no mercado de trabalho. É sobre isso que tratará a seção seguinte.
5. Efeito do contexto social por cor e escolaridade sobre o mercado de trabalho
Nesta seção, faremos a análise do efeito do contexto social de residência dos indivíduos
entre 25 e 59 anos sobre as situações de acesso à estrutura de oportunidades no mercado de
trabalho (rendimento da ocupação principal, fragilidade ocupacional e desemprego). O
contexto social de residência é entendido a partir da composição de cor e do nível de
escolaridade do território3. Ou seja, nesse ponto buscamos evidenciar, por um lado, os efeitos
da diferente concentração de indivíduos de cor preta nas áreas internas dos GEUBs sobre as
situações no mercado de trabalho. Por outro lado, buscamos evidenciar os efeitos das
diferentes concentrações de indivíduos com baixa escolaridade (indivíduos com até 4 anos de
estudo) sobre essas mesmas situações.
Entendemos aqui o contexto social de residência como resultado de uma hierarquia
socioespacial dos territórios dos grandes espaços metropolitanos de forma que as diferentes
concentrações de indivíduos com esses dois atributos expressam a forma como a estrutura
social se inscreve no espaço físico (BOURDIEU, 1997), principalmente no caso da concentração
de indivíduos com baixa escolaridade. Já no caso da concentração de indivíduos de cor preta
no território, entendemos que essas diferentes concentrações nas áreas internas do GEUBs
expressam também a sua posição na estrutura social, contudo não pela sua característica de
cor exclusivamente – o que consistiria uma segregação racial extrema como nos EUA, que não
corresponde à realidade brasileira como destacou Telles (2003) – mas sim de um status social
que conjuga poder aquisitivo e cor.
Tomamos como hipótese que a grande concentração de indivíduos com baixa
escolaridade e de cor preta no território, a partir de mecanismos de reprodução das
desigualdades sociais expressos pelos trabalhos de Wilson (1987) e Kaztman (1999), possui
efeitos sobre a forma como os indivíduos acessam a estrutura de oportunidades do mercado
de trabalho, seja no acesso ao emprego, a uma ocupação estável, ou a uma melhor renda.
3 Consideraremos como unidade territorial a unidade geográfica criada pelo próprio IBGE para a divulgação dos
dados da amostra, obedecendo a critérios estatísticos. Cada uma dessas unidades geográficas é “formada por um agrupamento mutuamente exclusivo de setores censitários, para a aplicação dos procedimentos de calibração das estimativas com as informações conhecidas para a população como um todo” (IBGE, 2001).
13
Essas hipóteses não serão testadas no presente trabalho, contudo os resultados empíricos aqui
apresentados têm como objetivo oferecer elementos para uma discussão mais aprofundada
sobre esses mecanismos.
Dado a complexidade da relação entre as diferentes variáveis consideradas a fim de
explicar as condições de acesso à estrutura de oportunidades no mercado de trabalho,
utilizamos de métodos de análise multivariada que nos permitem relacionar as variações das
diferentes variáveis consideradas em relação à incidência e variação das situações que
queremos explicar. A fim de evitar o erro de atribuir à grande concentração de indivíduos de
cor preta e com baixa escolaridade no território um efeito que seria puramente individual –
dado que essas variáveis apresentam efeitos sobre as condições de acesso à estrutura de
oportunidades no mercado de trabalho – acrescentaremos aos modelos de regressão tanto
variáveis de nível individual que correspondem à cor e à escolaridade do indivíduo, como
também as variáveis do território acima mencionadas. Além dessas variáveis do indivíduo que
chamamos de variáveis de controle, inserimos também a idade, o sexo, e para o caso do nível
de rendimento da ocupação principal inserimos também um indicador de ocupação frágil.
Contudo, não apenas variáveis de nível individual e do território afetam as situações no
mercado de trabalho como também algumas características do domicílio ou da família como a
renda per capita familiar e o clima educativo domiciliar4. O uso de modelos de análise
multivariada como os modelos de regressão logística (risco de desemprego e de fragilidade
ocupacional) e linear múltipla (renda da ocupação principal) aqui apresentados não pretendem
estabelecer relações de causalidade entre as variáveis explicativas (variáveis de controle e
variáveis de interesse) e as variáveis dependentes (risco de desemprego, fragilidade
ocupacional e rendimento da ocupação principal) cuja variação queremos explorar, mas são
excelentes ferramentas que permitem medir o quanto a variação de variáveis explicativas
estão relacionadas ou “explicam” a variação das variáveis dependentes.
Com base na Tabela 3 do Anexo I, os resultados do modelo de regressão logística, que
estima os efeitos das variáveis consideradas sobre o rendimento proveniente da ocupação
principal tendo como população de referência indivíduos entre 25 e 59 anos de idade,
demonstram o peso que o percentual de indivíduos com baixa escolaridade tem sobre o nível
de rendimentos. Por exemplo, no caso da RIDE do Distrito Federal, um indivíduo que esteja em
4 O clima educativo do domicílio é construído a partir da média de anos de estudo dos indivíduos de 25 anos ou
mais pertencentes ao domicílio. A escolha dessa variável se justifica pela possibilidade de considerarmos a concentração de pessoas que vivem nos planos da família em situações de maior ou menor chance de acesso a recursos que potencializam o seu posicionamento na estrutura de oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho (KAZTMAN, 1999).
14
todos os níveis de referência aqui considerados (Branco, Homem, com alta escolaridade, com
idade acima de 40 anos, residente em domicílio com alta escolaridade e em território com
baixa concentração de pretos) tem a sua renda diminuída em 26% a cada unidade de desvio
padrão que se distancie da média do percentual de indivíduos com baixa escolaridade no
território em que reside. Ou seja, mesmo controlando a variação da renda por outras variáveis
no nível individual e domiciliar, a concentração de indivíduos com baixa escolaridade afeta em
grande medida a média do rendimento de indivíduos alocados nas situações que tomamos
como referência. Temos como resultado deste coeficiente um elevado grau de segregação e os
seus efeitos sobre as condições de acesso a estrutura de oportunidades no mercado de
trabalho. Para indivíduos residentes nestes territórios que apresentam um maior nível de
escolaridade a sua situação de acesso à estrutura de oportunidades no mercado de trabalho
também é afetada pelo contexto social. Mesmo que consideremos que os mecanismos de
reprodução das desigualdades que operam no território afetem de maneira diferenciada
indivíduos com níveis diferentes de escolaridade, esses indivíduos estão também expostos aos
mesmos mecanismos que não operariam com a mesma intensidade em territórios onde essa
concentração de baixa escolaridade fosse menor.
Agora tomando como exemplo o GEUB do Rio de Janeiro, o mesmo pode ser
evidenciado com relação à concentração de indivíduos de cor preta no território. O que nos
chama a atenção é o fato de que mesmo controlando pela concentração de baixa escolaridade
no território, o que segue no sentido da hipótese de uma segregação residencial e os seus
efeitos sobre as condições de acesso à estrutura de oportunidades no mercado de trabalho, o
fato do indivíduo residir em territórios com grande concentração de indivíduos de cor preta
afeta o seu nível de rendimentos, mesmo que este indivíduo esteja alocado nos níveis de
referência considerados. Neste caso, a média de rendimentos para o grupo de referência
diminui em 17% aproximadamente caso acrescentemos em uma unidade o desvio padrão da
média da proporção de pretos no território. Ou seja, conforme aumenta a concentração de
indivíduos de cor preta, menor é o nível de rendimentos obtidos pela ocupação principal
tomando-se o mesmo grupo de referência. Esse resultado encontrado para o GEUB do Rio de
Janeiro, assim como para o de Salvador coincide com os resultados já destacados pela
literatura sobre segregação racial (COSTA PINTO, 1998; TELLES, 2003; GARCIA, 2008). Contudo,
os resultados aqui encontrados não nos permitem fazer considerações acerca da relação entre
segregação residencial e segregação racial, ou mesmo se existe realmente uma segregação
racial nos GEUBs onde o resultado encontrado possui elevada grandeza em relação aos demais
GEUBs. O que podemos afirmar é que o fato de que mesmo com o controle do percentual de
15
baixa escolaridade encontramos um efeito significativo para a concentração de pretos no
território cor, oferece novos elementos empíricos para o debate sobre segregação racial no
Brasil.
Quando se compara as áreas onde há concentração de indivíduos com baixa
escolaridade entre os GEUBs metropolitanos, observa-se que o efeito do território sobre o
nível de rendimento segue uma mesma tendência, na medida em que indivíduos com nível de
escolaridade baixa tendem a auferir ganhos menores se comparado aos indivíduos com
concentrados em contexto territoriais caracterizados por níveis mais elevados de escolaridade,
embora haja variação entre os GEUBs. Mas quando se verifica o contexto territorial a partir da
cor dos indivíduos, há diferenças entre os GEUBs metropolitanos. No entanto, alguns
resultados são relevantes, tendo em vista as diferenças evidenciadas entre esses espaços. De
modo geral, os contextos onde há concentração de pessoas de cor preta os indivíduos tendem
a auferir rendimentos menores que os contextos em que se concentram pessoas de cor
branca. Ganham relevo os GEUBs de Salvador e Rio de Janeiro, por serem os únicos a
apresentar um resultado com dois dígitos, que são 12,5% e 16,8%, respectivamente. Por outro
lado, observa-se que nos GEUBs de Fortaleza e Maringá o efeito de concentração de indivíduos
de cor preta é positivo, na medida em que os indivíduos aí localizados tendem a auferir maior
renda, embora o resultado seja muito pequeno, 0,5% e 1,2%, respectivamente.
Ao considerar os resultados do modelo logístico para o risco de desemprego, as
evidências se mostram um pouco diferentes em relação ao nível de rendimentos, apesar de
encontrarmos, na maioria dos GEUBs, efeitos significativos para as variáveis de concentração
de baixa escolaridade e de pretos no território. Neste caso, com base na Tabela 4 do Anexo I,
evidenciamos em alguns GEUBs um efeito considerável do percentual de pretos no território, e
em alguns casos o efeito é até maior do que o evidenciado para a concentração no território
de indivíduos com baixa escolaridade. Por exemplo, no caso do GEUB de Curitiba, o efeito para
a concentração de baixa escolaridade no território apesar de significativo é quase igual a 1, ou
seja, o acréscimo de uma unidade no desvio padrão da média de concentração de indivíduos
com baixa escolaridade no território quase não altera a probabilidade desse indivíduo estar em
situação de desemprego; porém, quando observamos o efeito encontrado para o percentual
de pretos no território, o risco de desemprego aumenta em 1,38 vezes (isto é, 38%) quando
acrescentamos uma unidade de desvio padrão na média da concentração de pretos nos
territórios desse GEUB. Portanto, podemos dizer que o nível de desemprego é pouco afetado
pela segregação residencial vista pela ótica do nível de escolaridade, contudo, o nível de
desemprego é bastante sensível à concentração de indivíduos de cor preta no território.
16
Poderíamos dizer então nesse caso que indivíduos residentes em territórios com grande
concentração de indivíduos de cor preta sofrem mais os efeitos do contexto social de
residência, do que indivíduos residentes em territórios com elevada concentração de pessoas
com baixa escolaridade. Esse resultado é ainda mais evidente quando comparamos com os
efeitos evidenciados para o GEUB de Salvador, por exemplo, onde o risco de desemprego
aumenta em 22% com o aumento da concentração de pretos no território, portanto, um efeito
mais baixo do que o evidenciado para o GEUB de Curitiba apesar do percentual de indivíduos
de cor preta no GEUB de Salvador ser maior. O mesmo resultado pode ser visto também nos
demais GEUBs da Região Sul (Curitiba, Maringá, Florianópolis e Porto Alegre), além de
Campinas e Vitória, o que nos leva a indagações acerca da inexistência de um questionamento
acerca das desigualdades raciais nesses GEUBs em comparação com Rio de Janeiro e Salvador,
que são casos paradigmáticos para o estudo das desigualdades raciais devido ao grande
percentual de indivíduos de “negros” (pretos e pardos). Ou seja, apesar do percentual
pequeno de indivíduos de cor preta podemos dizer que estes estão mais segregados nos
GEUBs do Sul, Campinas e Vitória; e, portanto, sofrem mais os efeitos do contexto social de
residência do que no Rio de Janeiro e em Salvador?
Conforme dito anteriormente, a fragilidade ocupacional não apresenta relação
significativa com a situação de desemprego quando comparamos os resultados para o
conjunto dos GEUBs, o que não impede que tenhamos como hipótese que a fragilidade
ocupacional seja uma das principais saídas para o risco de desemprego e, portanto, afeta mais
os segmentos populacionais mais vulneráveis ao desemprego (indivíduos com baixa
escolaridade, pretos e pardos, mulheres, etc.). Nesse sentido, os resultados para o modelo
logístico considerando a situação de fragilidade ocupacional oferecem elementos no sentido
da hipótese anterior (Tabela 5 do Anexo I). Ou seja, podemos observar, em todos os GEUBs,
efeitos elevados para o risco de fragilidade ocupacional considerando os indivíduos com baixa
escolaridade. O mesmo raciocínio pode ser feito em relação aos efeitos encontrados para a
concentração de indivíduos com baixa escolaridade no território. Apesar de ser um efeito
pequeno, se comparado com os resultados encontrados para a situação de desemprego,
quanto maior a concentração de indivíduos com essa característica no território maior é o
risco de fragilidade. Por outro lado, a maioria dos GEUBs apresenta efeitos não significativos
ou um decréscimo no risco de fragilidade conforme o aumento no território da concentração
de indivíduos de cor preta. Os demais GEUBs apresentam um efeito de acréscimo em torno de
5%. A única exceção a essa lógica é o GEUB de Porto Alegre onde o risco de fragilidade
ocupacional aumenta em 20% conforme o aumento na concentração de indivíduos de cor
17
preta no território, ao mesmo tempo em que o risco de fragilidade diminui em 2% conforme o
aumento na concentração. Uma hipótese que podemos levantar é que por ter se caracterizado
como uma metrópole operária, por muito tempo, a escolaridade não se coloca como um
aspecto importante para o acesso a estrutura de oportunidade do mercado de trabalho, tendo
em vista a fragilidade ocupacional, uma vez que as ocupações da indústria tradicional não
requeriam, em linhas gerais, níveis de escolarização para seu exercício, o que coloca no mesmo
patamar indivíduos em contextos de escolaridades diferentes. Por outro lado, embora haja
uma participação pequena de pessoas de cor preta no GEUB de Porto Alegre, como visto
antes, podemos levantar como hipótese que os indivíduos em contextos segundo essas
características têm mais risco em relação à fragilidade ocupacional por se configurar nessa
metrópole uma segregação racial. Embora com estruturas sócio-econômicas diferentes,
poderíamos pensar na hipótese de haver uma segregação racial também nos GEUBs de Recife,
Maringá, Belém, Natal, Manaus e São Paulo; contudo, explorar essa hipótese exigiria estudos
de outra ordem sobre as relações raciais no Brasil.
6. Considerações finais
Este trabalho procurou discutir o efeito do contexto social do território, visto a partir
da composição de cor dos indivíduos e o nível de escolaridade, sobre a estrutura de
oportunidade do mercado de trabalho, que considerou o nível do rendimento, o desemprego e
a fragilidade ocupacional, entre os GEUBs metropolitanos. Em linhas gerais, salvo algumas
exceções, o contexto social do território apresentou-se significativo em todos os GEUBs, tanto
compreendido segundo a cor dos indivíduos quanto referente à escolaridade, embora
diferenças foram também evidenciadas entre os GEUBs aqui considerados.
Em relação aos rendimentos, as piores chances são encontradas nos GEUBs Rio de
Janeiro e Salvador onde o contexto territorial predomina indivíduos de cor preta. Por outro
lado, Fortaleza e Maringá, em contextos com essas características, o efeito é positivo, embora
pequeno. Em contextos que predominam indivíduos de baixa escolaridade há menos chances
quanto aos rendimentos, embora haja variação entre os GEUBs.
O efeito territorial sobre o desemprego é desfavorável para os contextos em que
predominam indivíduos com baixa escolaridade, com exceção de Curitiba e Porto Alegre,
apesar do efeito não ser tão favorável. Quando o contexto territorial é verificado segundo a
cor dos indivíduos, para os GEUBs que apresentam resultados significativos, os riscos de
18
desemprego são maiores para indivíduos que estão em contextos que predominam pessoas de
cor preta.
Quando se considera a fragilidade ocupacional, o efeito territorial é desfavorável para
indivíduos que se localizam em contextos sociais que predomina a baixa escolaridade,exceto
Porto Alegre, que apresenta resultado em que não há muita diferença entre os contextos
definidos pela escolaridade, e Recife, em que o resultado não foi significativo. Quando se
verifica o contexto territorial segundo a cor dos indivíduos, percebem-se muitas diferenças
entre os GEUBs, apesar de ter apresentado, de maneira geral, resultado baixo para o efeito da
concentração de cor no território sobre o risco de fragilidade ocupacional.
Podemos considerar que o território além de ser um aspecto importante para
compreender o acesso à estrutura de oportunidade, como tem sido ressaltado por Kaztman
(1999), o modo como ele é compreendido, tendo em vista as características dos indivíduos que
o define, também expressa a estrutura social inscrita no espaço físico, o que dimensiona o
espaço social (Bourdieu, 1997). Isso quer dizer que tanto o volume do capital dos indivíduos,
quanto à composição desse capital, estão referidos no espaço social, o que revela a
importância do território para as análises da reprodução de desigualdades sociais.
Todavia, reconhecer a importância do território não é suficiente para entender os
mecanismos que fazem com ele tenha relevância sobre a reprodução das desigualdades
sociais. W. J. Wilson (1987) procurou demonstrar que a concentração de indivíduos negros
pobres num mesmo território faz com que esses indivíduos tenham menos possibilidade de
sair da situação em que se encontram e tendem a reproduzir a pobreza existente. Para o caso
brasileiro, embora essas considerações sejam importantes, precisamos indagar se os
mecanismos verificados em Chicago agem aqui da mesma forma, tendo em vista as diferenças
da formação e estrutura sócio-econômica. Embora os dados utilizados nesse trabalho sejam
insuficientes para responder a essa questão, foi verificado que a concentração de pessoas de
cor preta ou mesmo de baixa escolaridade fazem com que elas tenham menos condições de
acesso à estrutura de oportunidades do mercado de trabalho, principalmente quando se
verifica a chance em relação aos rendimentos e o risco sobre o desemprego, para quaisquer
indivíduos residentes nesses contextos.
19
Referência bibliográfica
BOURDIEU, P. (1997), “Efeitos do lugar”, In: BOURDIEU, P. (org.) A Miséria do Mundo. Rio de Janeiro, Editora Vozes.
CANO, W. (2008) Desconcentração produtiva regional do Brasil: 1970-2005. 3ª ed. São Paulo: Editora UNESP.
CEPAL. PANORAMA SOCIAL DE AMERICA LATINA, 2007. Santiago – Chile,2007.
GARCIA, Antonia dos Santos. (2009). Desigualdades raciais e segregação urbana em antigas capitais: Salvador, cidade D’Oxum e Rio de Janeiro, cidade de Ogum. Rio de Janeiro, Garamond.
HALSENBALG, C. (1979), Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro, Graal.
______ & SILVA, N. do V. (1988). Estrutura Social, Mobilidade e Raça. Rio de Janeiro, IUPERJ/VÉRTICE.
IBGE (2002), Censo Demográfico de 2000: Documentação dos microdados da amostra. Rio de Janeiro, IBGE.
KAZTMAN, R. (2001). Activos y Estructuras de Oportunidades: estudios sobre las raices de la vulnerabilidad social en el Uruguay. Santiago de Chile, Revista de la CEPAL, n. 62.
PINTO, Luís Aguiar Costa. (1998). O negro no Rio de Janeiro: relações de raça numa sociedade em mudanza. Rio de Janeiro, UFRJ.
RIBEIRO, L. C. Q; RODRIGUES, J. M. & CORREA, F. S. (2008). Território e Trabalho: Segregação e Segmentação Urbanas e Oportunidades Ocupacionais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. XVI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS. Anais. Caxambu.
SILVA, N. V. (1978), White-Nonwhite income differentials: Brasil, 1960, Ann Abor: University of Michigan (PhD Tesis).
TELLES, E. (2003), Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro, Relume-Dumará/Fundação Ford.
WILSON, W. J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy. Chicago, The University of Chicago Press.
ANEXO I
Tabela 3: Estimação do efeito do contexto social sobre o rendimento da ocupação principal (continua)
Variáveis selecionadas
Percentual de explicação
Belém Fortaleza Natal Recife Salvador Belo Horizonte Grande Vitória
Rio de Janeiro São Paulo
Indivíduo Anos de estudo de 0 a 4 -15,5% -21,7% -15,4% -18,3% -17,1% -21,6% -16,7% -18,0% -19,6% Anos de estudo de 5 a 8 -12,5% -15,9% -11,9% -14,0% -13,1% -16,1% -13,3% -15,2% -15,6% Idade de 30 a 34 anos -10,6% -8,7% -10,3% -8,8% -10,3% -8,9% -8,5% -7,5% -8,6% Idade de 35 a 39 anos -5,9% -4,3% -5,9% -5,3% -5,7% -4,8% -5,3% -4,6% -4,7% Preto ou Pardo -7,8% -7,3% -8,0% -8,4% -11,8% -8,1% -10,1% -8,5% -8,0% Mulher -23,6% -23,8% -25,4% -22,0% -22,8% -25,5% -27,0% -21,8% -23,9% Ocupação frágil -21,0% -16,5% -15,7% -19,4% -20,1% -17,4% -18,9% -17,6% -18,0%
Domicílio Clima educativo domiciliar de até 4 anos -17,2% -25,6% -24,9% -22,4% -18,6% -24,0% -21,0% -17,7% -19,9% Clima educativo domiciliar de 5 a 8 anos -16,3% -17,9% -18,4% -17,8% -15,0% -17,7% -16,2% -16,0% -17,3%
Território
Porcentagem de indivíduos com baixa escolaridade -19,0% -21,3% -23,2% -18,2% -15,0% -20,8% -20,2% -11,2% -21,2% Porcentagem de pretos -1,6% 0,5% n.s. -7,6% -12,5% -1,5% -4,9% -16,8% -4,5%
(conclusão)
Variáveis selecionadas Percentual de explicação
Campinas Curitiba Maringá Florianópolis Porto Alegre Goiânia RIDE DF Manaus
Indivíduo Anos de estudo de 0 a 4 -20,3% -16,9% -15,5% -19,0% -18,8% -16,8% -21,1% -16,4% Anos de estudo de 5 a 8 -14,7% -13,0% -11,6% -16,0% -15,8% -12,7% -15,8% -14,5% Idade de 30 a 34 anos -8,8% -7,7% -9,1% -12,6% -8,7% -7,3% -10,3% -10,6% Idade de 35 a 39 anos -4,2% -3,5% -3,9% -6,8% -5,0% -3,3% -5,1% -4,6% Preto ou Pardo -7,2% -6,3% -8,6% -6,3% -7,0% -5,9% -7,1% -9,1% Mulher -27,2% -27,1% -30,6% -26,2% -24,6% -29,0% -19,0% -22,9% Ocupação frágil -18,3% -17,5% -17,6% -16,3% -21,0% -14,3% -19,8% -22,3%
Domicílio Clima educativo domiciliar de até 4 anos -25,0% -23,1% -27,3% -22,1% -23,6% -21,2% -20,9% -19,1% Clima educativo domiciliar de 5 a 8 anos -19,7% -16,3% -19,1% -17,3% -17,7% -15,5% -14,3% -17,7% Território Porcentagem de indivíduos com baixa escolaridade -19,2% -23,8% -20,6% -16,8% -20,3% -25,3% -26,0% -14,7%
Porcentagem de pretos -1,8% -1,7% 1,2% n.s. -1,7% -4,2% -3,9% -0,8% Fonte: Tabulação própria com base nos dados do Censo 2000 - IBGE Nota: (n.s.) = coeficiente não significativo ao nível de confiança de 5% (α = 0,05)
Tabela 4: Estimação do efeito do contexto social sobre situação de fragilidade ocupacional por Região Metropolitana (continua)
Variáveis selecionadas
Risco relativo
Belém Fortaleza Natal Recife Salvador Belo
Horizonte Grande Vitória
Rio de Janeiro São Paulo
Indivíduo Anos de estudo de 0 a 4 2,17 2,49 2,35 2,32 2,34 2,40 2,15 2,35 2,28 Anos de estudo de 5 a 8 1,82 1,97 1,82 1,84 1,87 1,96 1,74 1,89 1,87 Idade de 30 a 34 anos n.s. 0,96 1,14 n.s. 1,07 1,01 1,08 1,01 0,97 Idade de 35 a 39 anos 1,03 0,99 1,05 n.s. 1,04 1,02 1,05 1,02 0,98 Preto ou Pardo 1,06 1,10 1,08 1,07 1,07 1,09 1,08 1,12 1,08 Mulher 1,33 1,27 1,16 1,50 1,56 1,56 1,47 1,78 1,47
Domicílio Renda familiar per capita até 1/2 SM 0,89 0,84 0,79 0,83 0,90 0,81 0,80 0,73 0,65 Renda familiar per capita de 1/2 SM a 1 SM 1,19 1,05 1,02 1,14 1,17 1,08 1,07 1,13 1,06 Clima educativo domiciliar de até 4 anos 1,35 1,22 1,48 1,32 1,31 1,24 1,31 1,34 1,27 Clima educativo domiciliar de 5 a 8 anos 1,24 1,02 1,25 1,17 1,13 1,12 1,25 1,18 1,16
Território Porcentagem de indivíduos com baixa escolaridade 1,17 1,14 1,07 n.s. 1,08 1,03 1,22 1,25 1,05 Porcentagem de pretos 1,04 n.s. 1,04 1,08 n.s. 0,97 0,85 0,91 1,02
(conclusão)
Variáveis selecionadas Risco relativo
Campinas Curitiba Maringá Florianópolis Porto Alegre Goiânia RIDE DF Manaus
Indivíduo Anos de estudo de 0 a 4 2,56 2,39 1,92 2,22 2,23 1,89 2,76 2,18 Anos de estudo de 5 a 8 2,04 1,93 1,64 1,91 1,82 1,75 2,21 1,88 Idade de 30 a 34 anos 0,94 0,97 n.s. 1,21 0,97 1,03 1,08 n.s. Idade de 35 a 39 anos 0,96 0,98 1,03 1,20 1,03 n.s. 1,06 n.s.
Preto ou Pardo 1,13 1,05 1,08 1,09 n.s. 1,01 1,07 1,07
Mulher 1,62 1,31 1,16 1,25 1,41 1,22 1,29 1,09
Domicílio Renda familiar per capita até 1/2 SM 0,69 0,83 0,88 0,81 1,10 0,82 0,89 0,82 Renda familiar per capita de 1/2 SM a 1 SM 1,09 1,09 1,12 1,15 1,30 1,08 1,18 1,15 Clima educativo domiciliar de até 4 anos 1,36 1,14 1,41 1,46 1,30 1,41 1,38 1,32 Clima educativo domiciliar de 5 a 8 anos 1,22 1,06 1,27 1,20 1,18 1,28 1,22 1,20
Território Porcentagem de indivíduos com baixa escolaridade 1,16 1,14 1,11 1,13 0,98 1,17 1,28 1,12 Porcentagem de pretos n.s. n.s. 1,05 0,98 1,20 0,92 0,80 1,04 Fonte: Tabulação própria com base nos dados do Censo 2000 – IBGE Nota: (n.s.) = coeficiente não significativo ao nível de confiança de 5% (α = 0,05)
Tabela 5: Estimação do efeito do contexto social sobre desemprego por Região Metropolitana (continua)
Variáveis selecionadas
Risco relativo
Belém Fortaleza Natal Recife Salvador Belo Horizonte Grande Vitória
Rio de Janeiro São Paulo
Indivíduo
Anos de estudo de 0 a 4 1,08 1,13 n.s. 1,11 1,06 1,29 1,31 1,15 1,23
Anos de estudo de 5 a 8 1,10 1,17 1,20 1,22 1,20 1,32 1,35 1,22 1,28
Idade de 30 a 34 anos 1,64 1,08 1,58 1,55 1,43 1,34 1,30 1,43 1,28
Idade de 35 a 39 anos 1,38 1,26 1,36 1,41 1,26 1,19 1,18 1,29 1,19
Preto ou Pardo 1,16 1,13 1,13 1,07 1,20 1,11 1,22 1,12 1,15
Mulher 1,59 1,48 1,59 1,55 1,86 1,64 1,65 1,71 1,74
Domicílio
Clima educativo domiciliar de até 4 anos 1,55 1,87 2,23 1,89 1,88 1,83 1,74 1,68 1,74
Clima educativo domiciliar de 5 a 8 anos 1,44 1,56 1,79 1,50 1,47 1,48 1,33 1,40 1,47
Território
Porcentagem de indivíduos com baixa escolaridade 1,17 1,11 1,18 1,14 1,19 1,14 1,06 1,15 1,39
Porcentagem de pretos n.s. n.s. 1,07 1,06 1,22 n.s. 1,33 1,31 1,03
(conclusão)
Variáveis selecionadas Risco relativo
Campinas Curitiba Maringá Florianópolis Porto Alegre Goiânia RIDE DF Manaus
Indivíduo
Anos de estudo de 0 a 4 1,25 1,15 1,31 1,21 1,14 1,28 1,23 1,21
Anos de estudo de 5 a 8 1,26 1,24 1,27 1,47 1,20 1,14 1,28 1,33
Idade de 30 a 34 anos 1,28 1,34 1,20 1,36 1,32 1,24 1,43 1,46
Idade de 35 a 39 anos 1,13 1,21 1,16 1,24 1,24 1,13 1,26 1,31
Preto ou Pardo 1,19 1,21 1,27 1,12 1,09 1,17 1,11 1,26 Mulher 1,94 1,69 1,76 1,83 1,81 1,68 2,11 1,63
Domicílio Clima educativo domiciliar de até 4 anos 1,73 1,91 1,38 1,80 1,91 1,64 1,95 1,64 Clima educativo domiciliar de 5 a 8 anos 1,42 1,54 1,28 1,36 1,50 1,29 1,52 1,41
Território
Porcentagem de indivíduos com baixa escolaridade 1,10 0,92 1,13 1,04 0,95 1,15 1,17 1,24 Porcentagem de pretos 1,33 1,38 1,20 1,21 1,31 1,13 1,38 1,08 Fonte: Tabulação própria com base nos dados do Censo 2000 - IBGE Nota: (n.s.) = coeficiente não significativo ao nível de confiança de 5% (α = 0,05)