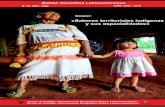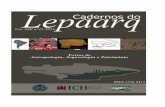Revista Arqueologia Pública 3, 2008 Comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada
Transcript of Revista Arqueologia Pública 3, 2008 Comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada
Revista
Arqueologia Pública
Publicação Anual
no 3
2008
ISSN 1981-2477
São Paulo, Brasil
Revista.pmd 02/07/2009, 12:501
2
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Editores
Comissão Editorial
Conselho Editorial
Projeto gráfico
Pedro Paulo Abreu Funari (NEE/UNICAMP)Erika Marion Robrahn-González (NEE/UNICAMP)
Lourdes Dominguez (Oficina del Historiador, Havana, Cuba)
Andrés Zarankin (UFMG)
Gilson Rambelli (NEE/UNICAMP)
Nanci Vieira Oliveira (UERJ)
Ana Pinon (Universidad Complutense de Madrid, Espanha)
Pedro Paulo Abreu Funari (NEE/UNICAMP)
Erika Marion Robrahn-González (NEE/UNICAMP)
Charles Orser (Illinois State University, EUA)
Gilson Martins (UFMS)
José Luiz de Morais (MAE/USP)
Peter Ucko (Institute of Archaeology, UCL)
Laurent Olivier (Université de Paris)
Sian Jones (University of Manchester)
Martin Hall (Cape Town University, South Africa)
Bernd Fahmel Bayer (Universidad Nacional Autónoma de México)
José Luiz de Magalhães Castro Neto
Revista.pmd 02/07/2009, 12:502
3
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
EDITORIAL
Arqueologia Pública: comunidades indígenas, mídia e ciência aplicada.
A Arqueologia Pública alcança, a cada ano, novos horizontes e perspectivas. Isto sedeve, em não pequena medida, à crescente inserção das disciplinas científicas e acadêmicasno campo da ciência aplicada. Se isto ocorre em diversos campos, de forma variada, noâmbito da Arqueologia estas posturas de interação com a sociedade generalizam-se emritmo acelerado. A diversidade de grupos sociais interessados na pesquisa arqueológicarevela-se, em toda sua riqueza, neste terceiro número da revista Arqueologia Pública. Diver-sos artigos tratam da Arqueologia em contextos indígenas, com práticas de inserção dascomunidades na gestão e preservação do patrimônio arqueológico/cultural. A mídia merecedestaque, assim como as implicações educacionais da disciplina e discussões de caráterteórico. Também neste volume mesclam-se autores brasileiros e estrangeiros, em artigosvoltados para situações diversas. Boa leitura!
Pedro Paulo A. FunariErika Robrahn-González
Revista.pmd 02/07/2009, 12:503
5
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Sumário
7
15
19
33
49
65
81
Artigos
UM SÍTIO, MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES: O CASO DO CHAMADO“STONEHENGE DO AMAPÁ”
Mariana Petry CabralJoão Darcy de Moura Saldanha
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM TERRASINDÍGENAS
Erika M. Robrahn-GonzálezMaria Clara Migliacio
ARQUEOLOGIA E CINEMA, UMA HISTÓRIA EM COMUM
Gonzalo Ruiz ZapateroAna Maria Mansilla Castaño
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO: PESQUISAS E PROCESSOS DEMUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueologíade Contrato en Uruguay.
Irina Capdepont Caffa
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTAMUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO EGEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes MoreiraHaroldo Paes GessoniSônia Maria Sanches
Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio Cultural
Lúcio Menezes Ferreira
Revista.pmd 02/07/2009, 12:505
7
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 7-13.
UM SÍTIO, MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES: O CASO DOCHAMADO “STONEHENGE DO AMAPÁ”
Mariana Petry Cabral*João Darcy de Moura Saldanha**
Resumo: As pesquisas em um sítio de megalitos no Amapá nos coloca-ram de frente com a construção de vários discursos sobre os vestígiosarqueológicos. A partir da perspectiva interpretativa que perpassa o pro-jeto, a profusão de interpretações surgidas com a visibilidade que o sítioganhou foi entendida como parte importante no processo de construçãodo próprio discurso científico. Este artigo discute como a abertura a múl-tiplas interpretações, oriundas de múltiplos autores/atores, contribui paraa construção de discursos menos autoritários, logo também para a práti-ca de arqueologias híbridas.
Palavras-chave: Arqueologias híbridas; Interpretação; Vantagemepistemológica; Arqueologia amazônica; Patrimônio arqueológico.
(*) Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicasdo Estado do Amapá. [email protected](**) Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicasdo Estado do Amapá. [email protected]
“Isso não é um cachimbo”
A arqueologia é uma dessas ciências comcadeira cativa no imaginário popular. Os ar-queólogos aparecem nos filmes de Hollywood,em livros e gibis e agora até em novelas. Eainda que possamos discutir sobre o perfildestes personagens, muito mais próximos decolecionistas do século XIX do que profissio-nais contemporâneos, não há como negar aatração que eles exercem sobre o público.
Se essa é a imagem que o grande públi-co recebe sobre os arqueólogos, o que seráque eles entendem por “trabalho de arqueo-logia”? O que os arqueólogos fazem? Pode-
ríamos culpar a grande mídia pelas informa-ções distorcidas, mas até que ponto nós tam-bém não somos responsáveis por isso? Nos-sos textos, nosso discursos, alcançam essepúblico tão atraído pela arqueologia? Nossosprojetos permitem participação? Nossasmaneiras de construir interpretações estãoabertas para não-arqueólogos, para não-ci-entistas?
Já não é recente a argumentação de quea ciência em geral, e também a arqueologiaem particular, não são neutras. Nas palavrasde Christopher Tilley (1989), “uma arqueo-logia apolítica é um perigoso mito acadêmi-co”. Se a arqueologia é feita por pessoas –que são sempre falíveis, sempre posicionadas– por que o produto do trabalho dessas pes-soas – que é conhecimento arqueológico –seria neutro? Como seria possível retirar osujeito – que é o próprio pesquisador – docontexto de produção? Essas questões criti-
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:547
8
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
cam uma postura que afirmava não apenasa possibilidade, mas também a necessida-de, da arqueologia como ciência ser impar-cial, objetiva, neutra.
Desde pelos menos a década de 1980,na Europa e nos Estados Unidos, os arqueó-logos discutem sobre nosso papel social (en-tre outros, Wylie 1989; Tilley 1989; Shanks& Tilley 1987; Shanks & Tilley 1992; Hodder1992). Se pensarmos que a arqueologia étambém uma forma de agir no mundo, umaforma de sermos sujeitos em sociedade, oque nós produzimos como arqueólogos é tãoimportante quanto a maneira como chega-mos a isso. A produção arqueológica não édada. Ela é construída. Não existe um pas-sado – perdido, enterrado, submerso – deum lado, e a ciência arqueológica do outro.O passado só existe na prática científica.
É através desse fazer arqueológico, daprática, que mesmo os objetos são constitu-ídos (Shanks & Tilley 1992: 23). Isso não sig-nifica que os objetos não existam, que elesnão estejam lá, no sítio. Mas, como afirmaJulian Thomas (1996: 63), é apenas o reco-nhecimento do arqueólogo de que aquelevestígio tem relevância que o constitui defato. Um arqueólogo que não saiba reconhe-cer uma pederneira, por exemplo, não a en-contrará. E se mesmo os objetos materiaissão constituídos na prática, o que dizer dosobjetos intelectuais?: como problemas depesquisa, temáticas de projetos, as afirma-ções que fazemos? (Tilley 1990: 298-300).Ora, também eles não existem fora da práti-ca. Como disse Ian Hodder (1992): “O quemedimos e como medimos são questões te-óricas”. Portanto, toda observação é tambémuma interpretação.
E se o arqueólogo tem um papel ativocomo produtor de conhecimento, isso obvia-mente significa que a produção de conheci-mento não é uma tarefa automática. Pelocontrário, produzir conhecimento arqueoló-gico é um processo interpretativo, é a cons-trução de um discurso: transformar coisasem palavras, dar sentido às coisas atravésdas palavras. Então a relação entre as coi-sas e o texto é feita pelo arqueólogo, que
deliberadamente ou não está dando valores,significados, às coisas e a seu texto.
A produção arqueológica, então, comotoda produção científica, é escrita, é articu-lada, é discursiva. Então podemos dizer quea escrita da arqueologia não é só um meiopara divulgar resultados de pesquisa. A es-crita da arqueologia é também a própriaconstrução dos resultados. O discurso é aprodução.
É como a pintura do cachimbo de RenéMagritte: entre a linguagem e as coisas, exis-tem os significados. Não existe uma relaçãodireta, transparente, entre a linguagem e ascoisas (Tilley 1990:282). Se “isso não é umcachimbo”, a escavação também não é opassado. O passado é a construção que nósfazemos hoje, a partir das informações queconseguimos perceber dos vestígios.
Quando fazemos um projeto de arqueo-logia, nós escolhemos como vamos construiro passado. Escolhemos quem poderá parti-cipar dessa construção. Escolhemos o quepoderá fazer parte desta construção. É umaresponsabilidade nossa. E é sobre essas es-colhas, em um projeto que desenvolvemosno Amapá, que discorremos aqui.
Políticos, imprensa e cientistas
O Projeto de Investigação Arqueológicana Bacia do Rio Calçoene é um projeto fi-nanciado pelo Governo do Estado do Amapá,que teve início do final de 2005. Calçoene éum dos 16 municípios do Estado do Amapá,e tem sido a sede dos trabalhos de campoaté o momento. Calçoene fica a 270km dacapital, Macapá, na região Nordeste do Es-tado. É um município de área enorme, mascom população pequena, por volta de setemil habitantes, sendo 5000 na área urbana(IBGE 2000).
Esse projeto foi criado sobre duas ques-tões principais: a produção de conhecimen-to científico sobre as antigas populações in-dígenas e o envolvimento da comunidadelocal. Sendo um projeto totalmente financi-ado pelo Governo do Estado, houve sempre
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:548
9
Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”Mariana Petry Cabral
João Darcy de Moura Saldanha
um interesse explícito em promover desen-volvimento econômico e social para a re-gião. Com isso, o projeto nunca teve inte-resses apenas acadêmicos. A história decriação do projeto ajuda a explicitar essecontexto sócio-político.
O que ocorreu foi que em Novembro de2005, uma equipe de pesquisadores e técni-cos do Estado estava na região de Calçoenefazendo alguns trabalhos. Uma dessas pes-soas convidou a equipe para visitar um localonde havia umas pedras fincadas no chão.Esse era o sítio AP-CA-18, na época conhe-cido basicamente só pela população local euns poucos visitantes. É um sítio belíssimo.É uma estrutura circular de grandesmegalitos, com 30 metros de diâmetro. Nasescavações, a nossa percepção é de contex-tos cerimoniais: enterramentos, oferendas,visitações.
Além da impressionante estrutura queeles viram, um dos participantes, Elias JoséÁvila, meteorologista do IEPA, teve a sensi-bilidade de observar em um dos blocos umpossível alinhamento com o sol durante oSolstício, até aí apenas como hipótese, quedepois foi comprovada. Então o botânico Be-nedito Rabelo, na época Diretor do Centrode Ordenamento Territorial do IEPA, escre-veu um relatório sobre essa situação. E en-viou-o diretamente para o Governador. O re-latório começa assim:
“Ao: Excelentíssimo Senhor AntônioWaldez Góes da Silva
Governador do Estado do Amapá
Dirigimo-nos a Vossa Excelência paradar conhecimento sobre uma condiçãohistórica-cultural (arqueológica) do Es-tado do Amapá que, ao nosso ver, antesmesmo de ser tratada como objeto deestudos especializados, pode ser consi-derada como condição de importânciaestratégica para o Estado e carecer demedidas urgentes que lhes asseguremguarda e proteção f rente àvulnerabilidade em que se encontra.”(Rabelo, 2005:1)
O que ele destaca é que patrimôniosdeste tipo devem ser tratados não apenascomo objeto de pesquisa, mas também comoquestão de gestão e ordenamento territorial.A importância estratégica não é apenas pelapreservação de patrimônio como responsa-bilidade social ou cultural, mas ao uso quepode ser dado a esse patrimônio, como tu-rismo, por exemplo. Tanto mais interessan-te se lembrarmos que o Amapá já usa o sim-bolismo do equinócio como atrativo turístico.Como Rabelo descreve no relatório:
“Ao lembrar que o Marco Zero doEquador, com seu simbolismo, mesmoconstruído em cimento e areia tanto vemcontribuindo com o desenvolvimento des-te Estado o que não pensar de relíquiasque em tempos pretéritos também fo-ram utilizadas para demarcar hábitos ecostumes de outras gerações com a di-mensão temporal?”(Rabelo 2005: 8)
O sítio AP-CA-18 tem sido, desde então,entendido como um atrativo turístico com altopotencial. Durante muitos encontros que nóstivemos com políticos, autoridades do esta-do e outros pesquisadores, sempre o turis-mo apareceu como o principal meio de de-senvolvimento econômico através da arque-ologia. Esse é um dos motivos que fez o Go-verno do Estado investir na pesquisa. Outromotivo é um interesse que o governo temexpressado para a preservação e para a va-lorização do patrimônio arqueológico.
Como exemplo disso, em 2005, foi cria-do o Programa Estadual de Preservação doPatrimônio Arqueológico. Em 2006, junto como SEBRAE/AP, foi publicado um livro-manualpara incentivar o uso de grafismos arqueo-lógicos hoje. Como afirma o governador naapresentação do livro: “A herança culturalidentificada nos sítios arqueológicos encon-trados em nosso estado (...) muito contribui-rá para o entendimento e esclarecimentodesse período histórico, ao mesmo tempo emque promoverá a redescoberta de nossasraízes” (Góes da Silva, 2006: 5).
Foi nesse ambiente muito sensível aopatrimônio arqueológico que nosso projeto
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:549
10
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
teve início. Mas esse interesse explícito dogoverno, de autoridades, de políticos, de se-tores empresariais, também mostrou clara-mente que muitos discursos seriam – ou atéjá estavam sendo – produzidos. E essa situ-ação destacou a necessidade de fazermosum projeto inclusivo, que fosse aberto não sópara os discursos dos nossos financiadores(o próprio Estado), mas também para ou-tros discursos possíveis, como da comunida-de local. E essa é ainda uma experiência emandamento.
Quebrando a barreira epistemológica
O Município de Calçoene hoje em dia éhabitado principalmente por população ca-bocla, portanto pessoas inseridas na culturaOcidental. Isso é importante por que elas têmum conhecimento básico sobre o que é umapesquisa científica, ao menos na forma comoé transmitido pelos grandes meios de comu-nicação ou nas escolas. Isso permitiu umasituação para nós confortável de início, já queexistia uma base para apresentarmos nos-sos objetivos. Mas ao mesmo tempo, é umasituação que traz já uma barreira pré-estabelecida. Nós chegamos portando o queViveiros de Castro chama de “vantagemepistemológica” (2002:2). De um ladoestamos nós, arqueólogos, cientistas porta-dores do conhecimento; e do outro lado es-tão eles, comunidade local, receptores deconhecimento. Eles já nos receberam comoportadores de conhecimento, como os espe-cialistas, o lugar-comum de cientistas. E odesafio ainda é quebrar essa barreira,transformá-los de parceiros passivos a par-ceiros ativos.
Além de formas bem usuais de inserçãocom a comunidade, como palestras nas es-colas, em centros comunitários, e muita con-versação informal, nós também usamos umoutro meio de comunicação: a rádio.
No interior do Estado há muito poucaslinhas telefônicas, e elas só alcançam os pe-quenos centros urbanos. As estações de rá-dio funcionam como o principal meio de co-
municação. As pessoas trocam recados pelarádio: desde avisos entre parentes em situ-ações graves, como doença e morte, a reca-dos entre patrões e empregados, e entreamigos. A rádio Calçoene FM tem, portanto,uma audiência incrível. E é possível encon-trar aparelhos de rádio em todas as casas,especialmente nas mais distantes; sem luz,sem água, mas com rádio. A rádio é o prin-cipal meio de comunicação.
E nós fizemos muito uso desse meio. Eenquanto falávamos na rádio, ouvintes liga-vam, outros iam até lá, e outros ainda deixa-vam recados. Daí surgiram não apenas mui-tas informações, como dúvidas da popula-ção e mesmo muitos questionamentos, prin-cipalmente sobre o destino das peças quepoderiam ser encontradas.
Quando nós começamos a escavação,depois de seis meses de visitas e contatosna cidade, a maior parte da população co-nhecia o projeto e sabia qual era nossa posi-ção sobre a participação deles, sobre a guar-da do material, sobre futuros projetos. E coma participação de alunos de segundo graunas escavações, que receberam treinamen-to de campo e laboratório, e também parti-ciparam nas entrevistas com informantes, acolaboração se fortaleceu. Nós já não éra-mos mais estranhos, e uma confiança mú-tua surgia.
Uma parte importante desse processotem sido algumas aparições do sítio AP-CA-18 na grande mídia. Em maio de 2006, quan-do as escavações nem tinham sido iniciadas,o Governo do Estado decidiu apresentar a“descoberta”. Foi feita uma entrevista coleti-va no Palácio do Governo, e o próprio gover-nador anunciou a descoberta arqueológica.Era ano eleitoral, e o governador era candi-dato a re-eleição.
O resultado desse anúncio público gerouuma cadeia de publicação nos mais inespe-rados meios de comunicação. Do Jornal Na-cional à revista Seleções, o sítio apareceupraticamente no mundo todo. E o sítio levouo pequeno e pobre município de Calçoenepara a mídia, para os jornais e para a televi-são. E aparecer no Jornal Nacional é algo
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5410
11
Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”Mariana Petry Cabral
João Darcy de Moura Saldanha
raro mesmo para o Estado do Amapá, ima-ginem o que não foi para Calçoene... E daínasceu um sentimento de orgulho, orgulhopor ver uma coisa do seu município sendochamada de especial, orgulho por conhecerde perto, de ser um pouco dono daquilo. Eesse sentimento de propriedade dessepatrimônio ajudou muito na participação daspessoas no projeto. O que nós sentimos éque eles começaram a querer participar doprojeto.
Isso garantiu uma aproximação muitomais interessante entre nós e eles. É claroque a barreira entre conhecedores e recep-tores não foi ainda desfeita, mas ela dimi-nuiu. Durante as escavações, nós recebemoscentenas de visitantes. Alguns, como estu-dantes de primeiro e segundo grau, eramesperados, faziam parte da rede de conta-tos formais que tínhamos com as escolas e aprefeitura. Mas muitos outros não eram. Etirar fotos no sítio era sagrado. O interes-sante é que a máquina era nossa. Então nãoeram fotos para eles terem cópias, mas fo-tos para nós termos eles dentro do projeto.
É claro que a maior parte dos visitantesdemonstrou apenas uma curiosidade geral,interessados em ver de perto o que apare-ceu na TV. A barreira epistemológica conti-nuava lá. Mas algumas situações nos con-venceram que era possível realmente superá-la. Foi o caso com o Senhor Roseno Sarmentodos Santos.
As únicas descrições sobre poços fune-rários no Amapá eram as de Emilio Goeldi,do final do século XIX (Goeldi 1905). Goeldihavia escavado dois poços no Cunani, umalocalidade no norte do Município de Calçoene.E ali estava o Roseno, na nossa frente, quejá havia aberto três poços funerários em vá-rios sítios na área. Tornou-se um grandeparceiro; não apenas nos levando a váriosoutros sítios, mas também nos ajudando acompreender o primeiro poço funerário queescavamos.
Um outro exemplo é o Sr. Lailson Came-lo da Silva, ou Garrafinha. É dele o relatomais antigo que temos do sítio AP-CA-18,assim como os relatos das transformações
mais recentes: retirada da floresta de gale-ria, queimadas, pasto, criação bovina. A partirde Setembro de 2006, ele tornou-se oguardião do sítio, e hoje está a serviço doIEPA, cuidando da área, e recebendo os visi-tantes, que continuam a aparecer. Houve ummomento muito interessante durante as es-cavações. O Garrafinha é um grande conta-dor de histórias, e jamais perde a oportuni-dade de contar o que ele sabe e conhecesobre o sítio. Porém, em algum momento,ele começou a mudar seu discurso. Ele co-meçou a ressaltar o quanto ele mesmo ha-via destruído do sítio. Fazendo queimadas,derrubando árvores, juntando peças. E emseguida dizia: “eu era ignorante, mas hojeeu sou o guardião do sítio, e agora eu façotudo pra preservar”.
Para nós está bem claro que ainda te-mos muito a fazer, principalmente por que agente gostaria que a comunidade fosse maisativa em relação ao projeto, que a barreiraepistemológica fosse vencida. A relação es-pecialistas-receptores ainda domina a cena,mas um sentimento de responsabilidade emrelação ao patrimônio está crescendo; e issonos motiva a seguir esse caminho. Hoje, umadiscussão na câmara de vereadores deCalçoene reforça essa mudança de percep-ção sobre o patrimônio. Eles estão discutin-do a guarda do material arqueológico, pro-pondo alternativas para que o material volteao Município.
Isso nos mostra que o principal resulta-do dessa experiência de tentar incluir a co-munidade local, pelo menos até o momento,é essa mudança de percepção. O patrimônioarqueológico transformando-se de simplescuriosidade (se tanto), para uma questãopolítica no município.
São mudanças deste tipo que nos fazemagir muito mais cautelosamente na constru-ção dos nossos discursos. O que nós fala-mos sobre o sítio, a forma como recebemosas visitas, a forma como nos relacionamoscom eles, tudo influi na nossa construção. Equanto mais direto o envolvimento de outrosatores, mais cuidado nós temos que ter nasnossas afirmações, por que elas alcançam
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5411
12
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
de fato essas pessoas. Especialmente emcasos como o do sítio AP-CA-18, que deveser transformado em um parque paravisitação, a forma como o projeto é conduzi-do pode transformar essa comunidade. Epode não ser uma transformação igualitária(Sandlin & Bey 2006).
A experiência que nós participamos hojeem Calçoene é uma tentativa de romper essabarreira epistemológica. Não podemos falar em
Abstract: Research at a megalithic site in Amapá exposed us to theconstruction of a variety of discourses on archaeological vestiges.Considering the interpretative perspective guiding the project, weunderstood the multiple interpretations raised by the site visibility as animportant part of the building process for scientific discourse. This paperdiscusses the way through which an opening for multiple interpretations,made by multiple authors/actors, favors the building of less authoritariandiscourses, thus also a practice of hybrid archaeologies.
Key-words: Hybrid archaeologies; Interpretation; Epistemologicaladvantage; Amazonian archaeology; Archaeological heritage.
“abrir” um sítio à interpretação, simplesmenteporque é impossível fechá-lo à interpretação.Todos nós, arqueólogos ou não, estamos in-terpretando sítios quando os visitamos. O quenós precisamos não é abrir os sítios à inter-pretação; o que nós precisamos é abrir nos-sos projetos a outras interpretações. E abrirnossas práticas, nossas teorias e nossos dis-cursos aos outros pode ser o início da constru-ção de arqueologias realmente híbridas.
Referências bibliográficas
GOELDI, E.1905. Excavações Archeologicas em 1895. 1ª
parte: As Cavernas funerarias atificiaesdos indios hoje extinctos no rio Cunany(Goanany) e sua ceramica. Memórias doMuseu Goeldi.
GÓES DA SILVA, A.W.2006. Identidade Fortalecida. In: SEBRAE/AP. O
legado das civilizações Maracá e Cunani:o Amapá revelando sua identidade.Macapá: SEBRAE/AP.
HODDER, I.1992 Theory and practice in archaeology.
London/ New York: Routledge.IBGE.
2000 Censo Demográfico.RABELO, B.V.
2005 Relatório Cunani. Macapá: IEPA. 9p.SANDLIN, J.A. & G.J. BEY III.
2006 Trowels, trenches and transformation: A
case study of archaeologists learning a morecritical practice of archaeology. Journal ofSocial Archaeology. (9) 2. p.255-276.
SHANKS, M. & C. TILLEY.1987 Social theory and archaeology. Cambridge:
Polity Press.1992 Re-Constructing Archaeology - Theory and
Practice. London/ New York: Routledge.THOMAS, J.
1996 Time, Culture and Identity - An interpretivearchaeology. London/ New York: Routledge.
TILLEY, C.1989 Archaeology as socio-political action in
the present. In: Wylie, A. & V. Pinsky.Cr i t ical tradit ions in contemporaryarchaeology: Essays in the Philosophy,History and Socio-Politics of Archaeology.Albuquerque: University of New MexicoPress.
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5412
13
Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”Mariana Petry Cabral
João Darcy de Moura Saldanha
1990. Michel Foucault: Towards an Archaeologyof Archaeology. In: Tilley, C. Reading Ma-terial Culture: Structuralism, Hermeneuticsand Post-Structuralism. Oxford: BasilBlackwell.
VIVEIROS DE CASTRO, E.2002 O nativo relativo. Mana. (8) 1.
WYLIE, A.1989 Introduction: socio-political context. In:
WYLIE, A. & PINSKY, V.(ed) Criticaltraditions in contemporary archaeology:Essays in the Philosophy, History andSocio-Politics of Archaeology. Albuquerque:University of New Mexico Press.
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5413
14
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Mariana P Cabral e Joao D de M Saldanha.pmd 02/07/2009, 12:5414
15
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 15-18.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICOEM TERRAS INDÍGENAS
Erika M. Robrahn-González*Maria Clara Migliacio**
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do trabalho desenvolvido du-rante o “I Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio ArqueológicoPan-Amazônico”, promovido em novembro/2007 pelo Instituto doPatrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na cidade de Manaus/AM, mais especificamente, na Sessão Temática intitulada “Preservaçãodo Patrimônio Arqueológico em Terras Indígenas”.
Palavras Chave: Patrimônio Cultural, herança indígena, arqueologiapública, legislação.
(*) Professora Livre Docente, pesquisadora colabo-radora do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) daUniversidade Estadual de Campinas.(**) Professora Doutora, Instituto do Patrimônio His-tórico e Artístico Nacional, Mato Grosso.
Introdução
Este artigo apresenta o resultado do tra-balho desenvolvido durante o “I SeminárioInternacional de Gestão do Patrimônio Arque-ológico Pan-Amazônico”, promovido em no-vembro/2007 pelo Instituto do PatrimônioHistórico e Artístico Nacional (IPHAN) na ci-dade de Manaus/AM, mais especificamente,na Sessão Temática intitulada “Preservaçãodo Patrimônio Arqueológico em Terras Indí-genas”.
Durante este evento foram realizadasapresentações sobre o tema e debates sub-seqüentes, visando elaborar uma síntese depontos sensíveis e apresentar diretrizes erecomendações a serem observadas por
aqueles que desenvolvam trabalhos voltadosao patrimônio arqueológico, histórico, cultu-ral e/ou paisagístico localizado em terras in-dígenas.
O resultado final do trabalho foi apre-sentado na forma de uma Moção de Encami-nhamento, apresentada na íntegra no textoabaixo.
O objetivo maior do trabalho é contribuirpara um aperfeiçoamento e, em especial,uma postura ética e multicultural no trata-mento do patrimônio cultural de comunida-des indígenas, dentro do conceito de Arque-ologia Pública e Arqueologia Colaborativa,amplamente discutido no corpo teórico emetodológico da disciplina arqueológica.
Moção de encaminhamento
Esta moção visa sintetizar os principaispontos de reflexão abordados durante a pre-sente Sessão Temática. Para tanto, o texto écomposto por dois blocos, a saber:
Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3215
16
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
• Pontos sensíveis, diretrizes e reco-mendações, que organiza os principaistópicos de discussão e indica questõessensíveis e recomendações a seremconsideradas sobre o assunto;
• Ações, que indica ações a serem de-senvolvidas, visando o detalhamentoe continuidade das reflexões aqui le-vantadas para alcance de resultadosmais abrangentes nos aspectos estra-tégicos e operacionais do tema.
PONTOS SENSÍVEIS, DIRETRIZES ERECOMENDAÇÕES
o Conceito de “terra indígena”: no pre-sente trabalho considera-se como ter-ra indígena tanto aquelas terras ad-ministrativamente demarcadas pelogoverno brasileiro (TIs), aquelas dealguma forma reconhecidas e assumi-das pelos outros paises da Américado Sul, como as áreas consideradastradicionais pelas populações indíge-nas, demarcadas ou não, em especialseus locais de significância simbólica/sagrada/ cultural. Portanto, as dire-trizes técnicas, éticas e operacionaisrelacionadas ao longo da presenteMoção devem ser igualmente aplica-das em todas as situações acima men-cionadas, que passam a ser designa-das simplesmente como “terras indí-genas tradicionais”.
o O desenvolvimento de Programas Ar-queológicos em terras indígenas tra-dicionais necessita se dar dentro daperspectiva da Arqueologia Colaborativa,com base na ação compartilhada e noenvolvimento pluricultural, nãoassimétrico ou hierárquico, envolven-do equipes formadas por pesquisado-res e por representantes indígenas,que serão co-responsáveis pelo Pro-grama como um todo, e abrangendoo conjunto de suas etapas.
o As comunidades indígenas envolvidasdevem ser os principais beneficiáriosdo desenvolvimento e resultados dosProgramas Arqueológicos.
o Os Programas devem garantir a apro-priação, pelas comunidades indígenas,do conjunto de dados e resultadosobtidos, incluindo o registro do conhe-cimento e publicações especificamen-te voltados para elas. Devem, ainda,promover uma análise conjunta, pelaequipe de pesquisadores, comunida-des indígenas e IPHAN, sobre adestinação final do acervo arqueoló-gico que venha a ser gerado.
o O Programa Arqueológico deve abran-ger o conjunto do patrimônio cultural,como é entendido e percebido pelascomunidades indígenas, englobandotanto os vestígios arqueológicos em si,quanto bens e/ou vestígios históricos,culturais e paisagísticos, materiais eimateriais, incluindo perspectivas al-ternativas de abordagem. No caso dopatrimônio paisagístico, o Programadeverá considerar áreas de significânciacultural, simbólica e sagrada das co-munidades, não necessariamenteabrangendo vestígios materiais de suaocupação.
o Possíveis análises patrimoniais devaloração realizadas em terras in-dígenas tradicionais (e em especialaquelas voltadas ao licenciamentoambiental de obras de engenharia)devem ser realizadas de maneiracompart i lhada, part ic ipat iva ecolaborativa junto às comunidadesindígenas envolvidas, incluindo, deforma não assimétrica ou hierárqui-ca, a identificação, valoração e aná-lise de significância do patrimônioa partir da perspectiva indígena. Omesmo se aplica na indicação demedidas mitigadoras e/ou compen-satórias incluídas nos processos delicenciamento ambiental.
Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3216
17
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM TERRAS INDÍGENASErika M. Robrahn-González
Maria Clara Migliacio
o Estudos de diagnóstico arqueológicorealizados na bacia amazônica devemincluir nos levantamentos documentaisetnohistóricos regionais (já exigidospela Portaria IPHAN 230/02) uma aná-lise específica da possível presença,na área de impacto do empreendi-mento, de locais e/ou paisagens designificado simbólico/ sagrado parasociedades indígenas que ali se de-senvolveram, mesmo que atualmentenão mais habitem a área.
o O desenvolvimento de Programas Ar-queológicos em terras indígenas tra-dicionais deve prescindir de autoriza-ção específica das comunidades no quese refere ao seu escopo, objetivos,métodos de realização e formas deapresentação dos resultados. No casodo Brasil, recomenda-se que o IPHANexija este documento de apoioinstitucional das comunidades indíge-nas envolvidas, complementarmenteao documento de apoio institucionaljá exigido nos processos de solicita-ção de Portaria de Pesquisa, confor-me definido pela Portaria 07/88.
o Os Programas Arqueológicos em ter-ras indígenas tradicionais devem in-cluir a realização de pesquisas em sí-tios de interesse indígena, além da-queles definidos através da perspec-tiva científica.
o A realização de qualquer intervençãono patrimônio arqueológico, histórico,cultural e paisagístico presente emterras indígenas tradicionais deve con-tar com o consentimento das comuni-dades envolvidas. Inclui-se aqui todaatividade que abranja coletas de ma-terial e cortes de terreno, como aber-tura de sondagens, poços-teste e áre-as de escavação.
o Os Programas Arqueológicos em ter-ras indígenas tradicionais devem in-cluir a capacitação de técnicos indíge-nas para atividades voltadas à Ar-
queologia, Educação Patrimonial,Museologia e Conservação, bem comogarantir a maior participação possívelde indígenas em todas as fases dapesquisa.
o A elaboração de Programas de Ges-tão, Manejo, Monitoramento, Preser-vação e outros, deve incorporar aperspectiva indígena, na busca de umacondução compartilhada e colaborativaentre as diferentes abordagens envol-vidas (abordagem científica, aborda-gem legal, abordagem indígena).
o Esta Moção recomenda, por fim, arealização de gestões, em diversasinstâncias, para que os sítios arqueo-lógicos e/ou paisagísticos de signifi-cado mítico e/ou sagrado para as po-pulações indígenas sejam poupados deempreendimentos causadores de im-pactos ambientais, que não devemincidir sobre eles. No Brasil tal medi-da poderá ser buscada por meio deResolução CONAMA, Portaria doIPHAN, Leis, Decretos ou, ainda, deoutras formas de controle sócio-ambiental. Em outros países da Amé-rica do Sul deverão ser desenvolvidaspropostas no âmbito de seus própriosinstrumentos de controle sócio-ambiental.
AÇÕES
Considerando os pontos sensíveis sobreos temas levantados pela presente Sessão,são recomendadas as seguintes ações:
1) Criação de um Grupo de Trabalhopara detalhamento das reflexões aquiiniciadas e acréscimo de outras quese mostrarem pertinentes, com obje-tivo último de elaborar uma Agendapara Pesquisa e Preservação doPatrimônio Arqueológico, Histórico,Cultural e Paisagístico em Terras In-dígenas Tradicionais. Esta Agenda de-
Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3217
18
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
verá indicar diretrizes técnicas, éticase operacionais para trabalhos de pes-quisa patrimonial a serem desenvol-vidos em terras indígenas, abrangen-do tanto as terras indígenas adminis-trativamente demarcadas pelo gover-no brasileiro (Tis), e aquela reconhe-cidas por cada país amazônico, comoaquelas não demarcadas, mas reco-nhecidas pelas próprias comunidadesindígenas como locais ou paisagens deespecial significado simbólico/ cultu-ral. A diretriz deste GT deverá estarvoltada ao desenvolvimento de umaArqueologia Colaborativa, nos termosindicados pela presente Sessão. O GTdeverá ser composto por representan-tes indígenas e não indígenas, visan-do abranger a diversidade de perspec-tivas necessárias.
2) Criação de Grupos de Trabalho emcada país amazônico, com finalidadede organizar um mapeamento e ca-dastro de sítios e/ou paisagens deespecial significado simbóligo/ sagra-do/ cultural para as comunidades in-dígenas da Amazônia. O resultadodeste trabalho deverá, entre outros,subsidiar a realização e análise deestudos de diagnóstico arqueológicode empreendimentos e avaliações de
impacto junto a processos delicenciamento ambiental e outros,voltados à implantação de obrasdesenvolvimentistas.
3) Criação de Portaria IPHAN no Bra-sil, e de outros instrumentos normativosem cada país amazônico, objetivandonormatizar a realização de pesquisaspatrimoniais em terras indígenas tra-dicionais, a partir das especificidadestécnicas, éticas e operacionais que lhesão intrínsecas.
Composição da Sessão Temática“Preservação do Patrimônio Arqueoló-gico em Terras Indígenas”
Maria Clara Migliacio (Coordenadora)Erika M. Robrahn-González (Relatora)Fabíola Andrea SilvaBonifácio José BaniwaAfukaká KuikuroMutuá MehinakuMichael J. Heckemberger
Esta moção soma, ainda, as contribui-ções oferecidas pelos diferentes participan-tes do Seminário, que contribuíram duranteo debate ocorrido ao final das apresentações.
Abstract: This article presents the results of the “I International Seminaron Management of Archaeological Heritage Pan-Amazonian”, promoted inNovember/2007 by the Institute of National Historical and Artistic Heritage(IPHAN) in the city of Manaus / AM, more specifically, the Thematic Sessionon “Preservation of Archaeological Heritage in Indigenous Lands.”
Keywords: Cultural heritage, indigenous heritage, public archaeology,legislation.
Erika e Maria Clara.pmd 02/07/2009, 12:3218
19
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 19-31.
O cinema tem olhado sempre para a ar-queologia com relativo interesse, na medidaem que lhe proporcionava paisagens, cená-rios, objetos e,em definitiva, mundos pararecriar visualmente. A pura materialidade daarqueologia tem oferecido continuadamenteelementos visuais para serem filmados. Eevidentemente a arqueologia é –mesmo queisto não seja reconhecido por tudo o mundo-uma disciplina fortemente visual, como temdito bem Stephanie Moser (1998), pioneirana analise da dimensão propriamente visualda arqueologia. Os arqueólogos têm sidorepresentados no cinema popular desde co-meços do Século XX (Day 1997: 3, Membury2002) e especialmente pelo cinema no estiloHollywood (Baxter 2001). Aos modelos dearqueólogo herói, estilo Indiana Jones(Zarmati 1995), o único durante muito tem-po, têm sido acrescentados os modelos das
arqueólogas-heroínas como Lara Croft(Zorpidu 2004). Por outro lado, os arqueólo-gos tenderam ao uso do cinema inclusivecomo metáfora do seu trabalho. Philip Barker(1982: 12), em um dos manuais de arqueo-logia de campo mais celebrados dizia que,em última instância, a tarefa dos arqueólo-gos ao tentar representar o que aconteceuno passado a partir de uma escavação erasemelhante à realização de um filme da his-tória do sítio arqueológico.
Que a pesquisa arqueológica é assimilávelà construção de um filme é provado, entreoutras coisas, pela importância que têm osmédios audiovisuais para transmitir o conhe-cimento histórico gerado, sob a forma devídeos e documentários para apresentar aopúblico os resultados da escavação de umsítio arqueológico qualquer. Se olharmos paratrás, descobriremos na arqueologia dos tem-pos pioneiros a importância da fotografia(Lyons et alii 2005), do desenho e da recons-trução histórica (Hodgson 2001, Lewuillon2002), nos tempos mais recentes do vídeo(Hanson & Rahtz 1988), dos documentários(Kulik 2006), da reconstrução digital através
ARQUEOLOGIA E CINEMA, UMA HISTÓRIA EM COMUM
Gonzalo Ruiz Zapatero*Ana Maria Mansilla Castaño**
Resumo: O presente artigo analisa as relações entre a arqueologia e ocinema, apresentando três diferentes tipos de cinema arqueológico, odocumentário, o docudrama e a dramatização ou cinema de fição pretéri-ta. Destaca-se seu potencial didático, a partir da experiência da sua utili-zação prática de visionado e avaliação crítica dentro do programa formativouniversitário de Pre-história na UCM.
Palavras Chave: Arqueologia, cinema, recursos didáticos.
(*) Departamento de Prehistoria. UniversidadComplutense de Madrid E-mail: [email protected](**) Departamento de Prehistoria. UniversidadComplutense de Madrid E-mail: [email protected]
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5719
20
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
de computadores (Forte e Siliotti 1997) e in-clusive dos grupos de recriação histórica,reenactment, para representar o passado(Appleby 2005). A prova mais impressionan-te de que as performances têm hoje plenavigência tem sido a finais de setembro de2006, a representação ao vivo das cenas doBem-Hur (1959) de Billy Wyler, incluindo aespetacular carreira de quadrigas, em cená-rios criados no grande Stade de France deParis, com centenas de atores e extras, ecom vários centenas de milhares de espec-tadores que tinham pagado bilhetes mais doque caros por assistir ao vivo (http://news .bbc . co .uk /2 /h i / i n te r ta inment /5337836.stm). Este espetáculo imita ao ci-nema, embora é representação ao vivo econstitui uma particular mistura de teatro,cinema, experimentação, reenactment e apa-rato visual do passado. (Fig.1 e Fig. 2)
Se em geral o mundo do cinema temmostrado relativo interesse pela arqueolo-
gia, os arqueólogos temos sido mais descon-fiados com o gênero cinematográfico, fun-damentalmente pela tendência a pensar queno cinema a ficção é o componente maispoderoso e pelo tanto uma coisa muito afas-tada do obsessivo cientificismo da nossa dis-ciplina. Aos arqueólogos tem-nos importadomuito pouco o cinema (Day 1997: 4), o te-mos desapreciado por ser anticientífico eveículo de anacronismos ou ucronias e ape-nas nas últimas décadas temos começado amanifestar interesse em várias direções(Hernández Descalzo 1997, Pohl 1996). Mes-mo assim, as coisas não resultam fáceis.Assim, ante o sucesso dos filmes de StevenSpielberg de Indiana Jones (Sánchez-Escalonilla 2004), os arqueólogos têm seposicionado sempre fortemente contra a vi-são que a trilogia oferece da arqueologia.Apenas consegui achar uma visão positivanum breve artigo do arqueólogo britânicoJohn Gowlet (1990) nas páginas de Antiquityno qual o que vinha a dizer era que Indiana
Fig.1 - O Stade de France de Paris cenário contemporâneo da representação aovivo das cenas do Ben-Hur.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5720
21
Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero
Ana Maria Mansilla Castaño
era simplesmente o arqueólogo mais fa-moso do mundo porque tinha levado a ar-queologia a muita mais gente do que to-dos os arqueólogos que tinham vivido nahistória juntos. O que é rigorosamente cer-to. Desde então tenho partilhado a idéiade Gowlett e acredito que é mais inteligen-te se associar ao Professor Jones para in-teressar às pessoas e depois tentar expli-car algumas coisas que não funcionam bemnos filmes. Vale mais ensinar com Indy paramostrar alguns erros do que desqualificá-lo sem raciocinar (Baxter 2002). Pois final-mente, e por muito que tinha sido critica-do, Indy nunca está infectado pela obses-são de adquirir ou acumular riquezas, paraele a descoberta é a aventura e o conheci-mento a recompensa. “A Arqueologia tratade fatos não de verdades”, diz Indy aosseus estudantes, lhes proporcionando as-sim uma pequena verdade que bem mere-ce ser retida (Johanson 2003).
O que tento expor aqui é que a arqueo-logia, tratada de formas diferentes no cine-ma, pode ser um importante recurso didáti-co, O cinema com diferentes formatos, aotempo que os filmes de arqueologia, apre-sentam aspectos da arqueologia para mui-tas pessoas de nível cultural muito diverso.A arqueologia filmada tem chegado a serhoje, para muitos públicos, a primeira fontede conhecimento sobre o passado remoto. Éobvio que estes filmes utilizam modos derelatar muito diferentes dos da arqueologia,mas com tudo, como diz Rosenstone (2005:337), se trata de uma forma legítima demostrar a história, isto é, de dar sentidoexplicativo ao passado, mesmo que expostadesde necessidades e valores muito diferen-tes. Uma de essas necessidades é trasladarmensagens a umas audiências muito hete-rogêneas. A conexão cinema-história temchegado a ser tão atrativa que têm surgidorevistas acadêmicas para estudar suas liga-ções como é o caso de Screening the past(www.latrobe.edu.au/screeningthepast/) dauniversidade australiana de La Trobe ou aespanhola Film Historia, da Universidad deBarcelona (www.pcb.unb.es/filmhistoria) porcitar apenas alguns exemplos.
Tipos de arqueologias cinematográficas
O cinema de arqueologia, “cinema ar-queológico”, ou simplesmente o cinema so-bre passados remotos inclui gêneros diver-sos (Hernández Descalzo 1997: 312-313): i)O documentário, no sentido estrito, no qualos britânicos e os estadunidenses têm sidoos mestres inicialmente com produções jáquase míticas como as da BBC (Daniel 1978)e outras produtoras muito ativas comoChannel 4 (2005), com grandes sucessos depúblico (Kulik 2006); ii) O Docudrama, no qualse misturam imagens documentais junto comoutras de fição o que é o formato mais re-cente e o que tem o maior sucesso divulgativo(Bourdial 2002 e Gamble 2003 a); iii) adramatização ou cinema de ficção pretérita,que pode oscilar entre aqueles filmes que
Fig. 2 - Cartaz de promoção da representaçãodas cenas ao vivo do Ben-Hur.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5721
22
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
procuram as maiores cotas de rigor históri-co-arqueológico e os outros de ficção livreem simples “cenários” de passados pouco ounada críveis (Solomon 2002).
Todos estes gêneros do “cinema arque-ológico” oferecem muitas possibilidades comorecursos didáticos no ensino da arqueologia.Especialmente numa época na qual tudo oaudiovisual nos envolve e domina e na quereconhecemos que –finalmente- a arqueolo-gia é uma disciplina “fortemente visual”,embora não o manifeste explicitamente(Smith & Moser 2005). As imagens de pai-sagens, assentamentos, tombas e objetos dopassado formam parte da centralidade daarqueologia e pelo tanto, o “cinema arqueo-lógico” tem muitas razões para ser conside-rado um instrumento de aprendizado(Rosenstone 2005). Concordo plenamentecom Robert Rosenstone (2005: 350) em que“o cinema oferece uma importante e com-plexa visão do passado”. É uma forma deapresentar a História que precisa da nossaminuciosa atenção, especialmente porquemuito do que temos aprendido no passadosobre o passado nos é transmitido hoje pre-cisamente através deste médio e deste gê-nero, no telão e na tela da televisão paraaudiências muito amplas.
Na verdade, os arqueólogos não temostido quase interesse pelo “cinema de arque-ologia”, daí que os estudos relevantes e in-clusive as recopilações de filmes, apenas têmcomeçado a serem realizadas nos últimos dezou quinze anos e nem sempre por parte dosarqueólogos. Em primeiro lugar, é precisodestacar que a consideração de “cinema dearqueologia” precisa ser incluída dentro deaquela de cinema de história. Este constituia categoria superior e tem recebido certointeresse por parte dos historiadores (Barra1998, Carnes 1995, Fraser 1988). Talvez oslivros de Rosenstone (1995a, 1995b, 1997)sejam os melhores exemplos de um olharespecializado e lúcido para os filmes históri-cos e para a leitura da história no cinema.Mas a bibliografia sobre o tema é já muito
ampla (Ibars & López Soriano 2006). No ci-nema de arqueologia, em sentido amplo, atradição anglo-saxona (Archaeology & You2004, Baxter 2001, Downs, Allen, Meister eLazio 1995, Day 1997, Pohl 1996) e a france-sa (Lambotte 1990, Bourdial 2002) têm sidoas mais ativas, mas outras, e também a es-panhola, vão se acrescentando à especiali-dade (Hernández Descalzo 1997, Moreno iGimenez 2002). Ao mesmo tempo, é conve-niente apontar que o interesse continua es-tando mais no lado do cinema do que da ar-queologia. E assim, a recopilação mais am-pla de por volta de 140 filmes e vídeos nosquais os protagonistas são arqueólogos, olivro de David Howard Day A treasure Hardto Attain. Images of Archaeology in PopularFilm with a Filmography (1997), não é a obrade um arqueólogo. Mesmo que se pudessededuzir claramente depois da leitura dos onzebreves capítulos do ensaio que antecede àfilmografia comentada, verdadeiramente omais útil do livro. Muito mais amplo comocatálogo de filmes de Pré-História e MundoAntigo é o livro de Herbert Verreth (2003) Deoudheid in film. Filmografie. E certamente, éclaro que a informação mais atualizada eampla é preciso procura-la na Internet(http:www.saa.org/public/fun/movies.html).
Um gênero destaca por cima dos outros,o peplum ou “cinema de romanos” (Fig. 3).O estudo de Jon Solomon Peplum. O mundoantigo no cinema (2002) é, sem dúvida algu-ma, o melhor, e na Espanha o estudo pionei-ro de Fernando Lillo O cinema de romanos esua aplicação didática (1994) tem seguido oensaio mais aprofundado e amplo de AlbertoPrieto A Antigüidade filmada (2004) O me-lhor site, com um amplíssimo repertório éPEPLUM Images de l´Antiquité Cinema et BD(http://www.peplums.com).
Dimensão didática da arqueologiacinematográfica
Sob o ponto de vista do professor é fun-damental estimular as práticas de visionado
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5722
23
Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero
Ana Maria Mansilla Castaño
crítico, sobre tudo nos filmes que reclamamestar baseados “completamente” na históriareal. As visões críticas não se referem ape-nas à crítica sobre a fraca informação quecontêm ou ficar ofendidos pelo vandalismocultural que é possível achar as vezes (http://www.ea r l ymode rnweb . o r g . u k / eu r /index.php/early-modernity-in-film/historians-and-historical-film). A visão crítica supõe queos filmes arqueológicos não devem ser vis-tos em termos de como são, comparadas coma arqueologia e a história escrita, mas comouma forma de volver a contar o passado com
as próprias regras de representação docinema (Rosenstone 1995b: 3). A arque-ologia filmada não proporciona – não podefazê-lo de jeito nenhum- um conjunto claroe ordenado de elementos explicativos e dereferência. Um filme ou um documentárionão são textos científicos, nem têm biblio-grafia, nem notas a rodapé. Nesse senti-do, o filme arqueológico vai ser sempreum “passado-imperfeito” (Carnes 1995).Mas pode sim, mover à curiosidade, à in-dagação posterior e pode proporcionaridéias que vão mais além dos limites dopróprio filme (Hall 2004). Na minha opi-nião, as razões fundamentais do valoreducativo do cinema na arqueologia po-dem-se resumir da seguinte maneira:
i) O cinema é um médio ideal paraanalisar, avaliar e explorar a importânciadas imagens na arqueologia (Smith &Moser 2005). A Arqueologia é imagem,praticamente tudo o que está relacionadocom a arqueologia pode se reduzir a ima-gens, os objetos, os restos das vivendas edas tombas, as paisagens, até os própri-os processos e trajetórias temporais po-dem ser apresentados em gráficos e dia-gramas. De alguma maneira, pensar emarqueologia é pensar em imagens. Pelotanto, o cinema supõe um médio interes-santíssimo de como traduzir em imagensnarrativas a história do passado.
ii) A pura empatia que produz noespectador possibilita que nos desloque-mos melhor ao passado e que habitemos
–mesmo que por alguns minutos- passados“vivos”; condição indispensável para se inte-ressar pela história e suscitar questões e te-mas de interesse. Mergulharmos na ficçãode um passado facilita a compreensão dascaracterísticas do passado histórico ao pro-porcionar chaves, tanto visuais quantointerpretativas, do mesmo. E pode proporci-onar, ao mesmo tempo, uma dimensãoemotiva e afetiva que com freqüência acom-panha também à arqueologia.
iii)Permite utilizar os erros e anacronis-mos para introduzir informação arqueológi-
Fig. 3 - Cartaz do filme Espartaco um dos peplummais celebrado protagonizado por Kirk Douglas nadécada de 1960.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5723
24
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
ca, não simplesmente para censurar mausassessoramentos históricos dos filmes, masbem mais para reconstruir esses erros epossibilitar uma verdadeira “genealogia doanacronismo”. A anal ise de f i lmes edocumentários permite identificar erros e nojogo da sua procura e sua crítica permitedespertar o interesse pela realização devisionados inteligentes e com critério histó-rico. Alguma coisa semelhante, salvando asdistâncias, ao desafio de alguns livros infan-tis e juvenis de arqueologia muito instrutivosque propõem a descoberta de erros e ana-cronismos em desenhos de reconstruçãocênica (Leronge 2006), ou aqueles que mos-tram simplesmente a evolução de uma ruaou uma cidade ao longo de milhares de anos(Millard & Noon 1999, Steele & Noon 2006).
iv)Permite refletir sobre as vidas dos ele-mentos materiais do passado – autênticas “bi-ografias’ das coisas – até chegar à tela e des-vendar assim todo um complexo “imagináriopopular” do passado. A aparição no cinema deobjetos, artefatos, construções e máquinas quetentam vestir uma época determinada oferecea possibilidade de uma desconstrução de es-ses elementos. Permite, assim mesmo, sepa-rar os autenticamente históricos e ajustados àdocumentação arqueológica de aqueles quetêm ganho sua adscripção a uma época gra-ças aos erros transmitidos por diferentes viase que resultam pelo tanto, anacrônicos. Umexemplo: os capacetes com chifres dos celtas;excepto um exemplar britânico – o qual é in-clusive duvidoso que possa ser qualificado de“celta”- se desconhece a associação de estetipo de capacete aos celtas da Idade de Ferroeuropéia, mas as gravuras especialmente des-de o século XIX têm-na difundido erroneamen-te. No cinema se utilizam elementos que per-tencem ao imaginário popular mais do que àsimagens arqueológicas. O que importa não é oautêntico tipo de capacete celta, o que impor-ta é que seja identificado pelo público comocéltico, embora seja falso. Uma coisa é a ar-queologia e uma outra é o imaginário popular,a primeira é minoritária no entanto o segundoé majoritário. Tudo isso é tremendamente útilpara o aprendizado arqueológico.
v) A partir da atração da imagem podese confrontar informação cinematográficacom informação arqueológica (menos atra-tiva no começo) e gerar assim curiosidadehistórica sobre o passado. Não há dúvida quepoder comparar a reconstrução da Roma deum peplum da década dos 50, a do filmeGladiator e as das reconstruções arqueoló-gicas mais sérias e fidedignas constitui umexercício didático de grande atrativo (Wyke1997). Como se apresenta o Homen deNeandertal no filme O Clã do urso das ca-vernas e como se tem representado antro-pologicamente e arqueologicamente? O con-traste das imagens do Neandertal gera inte-resse e curiosidade sobre os processos pararepresentar v isua lmente o passadopaleolítico. O sugestivo e atrativo do cine-ma, embora seja anti-histórico, cria um pontode interesse que dificilmente a arqueologiavai conseguir por sim mesma.
Em última instância, o processo de re-presentação do passado no cinema podeservir para analisar e refletir sobre os pro-cessos que a arqueologia utiliza para repre-sentar os passados pré-históricos e históri-cos e contextualizar o que alguns arqueólo-gos têm chamado “imaginação arqueológi-ca” (Gamble 2003b). Como o diretor de umfilme constrói sua obra é uma boa metáforade como os arqueólogos construímos nos-sas representações do passado. E de fato,uma das últimas novidades nos estudos deposgraduação em arqueologia é a oferta doscursos “Masters Screen Media” (Máster2006) ou “Archaeology and the Media: Digi-tal Narratives in, for and about Archaeology”dirigido por Ruth Tringham (2006) na BerkeleyUniversity. Também sessões de congressosinternacionais se ocupam do tema como aMesa Redonda: “Teaching Archaeology usingFilm and Television” no 71 Annual Meeting ofthe Society for American Archaeology (SanJuan de Puerto Rico, 26-30 Abril de 2006).Na Espanha também não faltam cursos uni-versitários que abordam estes temas, o maisrecente O mundo antigo e medieval no cine-ma (Curso da Universidad Internacional
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5724
25
Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero
Ana Maria Mansilla Castaño
Menéndez y Pelayo em Valencia, 10-14 dejulho de 2006).
Resumindo, considero que o interesse dosarqueólogos no “cinema de arqueologia” devese centrar em duas questões fundamentais:primeiro, ver se seu conteúdo e discurso ge-rais proporcionam alguma coisa de interessesobre nosso passado com rigor histórico e se-gundo, ver se transmite, de forma clara, umsentido de passado e suas implicações atuaispara uma audiência ampla (Rosenstone 2005:350). E com caráter mais secundário, comotambém aponta Robert Rosenstone, avaliar averacidade da reconstrução dos detalhes.
O documentário de arqueologiacomo gênero específico
O gênero do documentário tem raízesantigas, e, pelo menos no âmbito anglo-saxão, uma tradição bem estabelecida des-de a década de 1960. Os vídeos da BBC eChannel 4 (Kul ik 2006) e a NationalGeographic (www.nationalgeographic.com/siteindex/archaeology.html) têm tido, e con-tinuam tendo, um grande prestígio e atrati-vo. O formato tradicional oferece informa-ção de culturas, sítios arqueológicos ou fe-nômenos com três ingredientes chave: pri-meiro, a base documental visual, isto é, osmateriais arqueológicos, os sítios arqueo-lógicos e as paisagens; segundo, o apóiocientífico, normalmente sob a forma de ar-queólogos e especialistas que são entrevis-tados em seus respectivos escritórios ouque, de forma mais ativa e sugestiva, falamante os próprios monumentos e sítios ar-queológicos e terceiro, a interpretação vi-sual na forma de gráficos, mapas e diagra-mas que tem revolucionado sua capacidadeinformativa com a chegada da infografia(Aguilera 1990). Além das distribuidorascomerciais The Archaeology Channel(www.archaeologychannel.org) oferece umaextensa coleção que abrangre desde temasda Origem da Humanidade às civilizaçõesdo mundo clássico (Bahrami 2006).
Nos últimos anos a tentativa de chegar amaiores audiências tem feito com que osdocumentários se orientem para o docudrama,no qual se combina o documental clássico comdramatizações que conseguem maior aten-ção do espectador. Até o ponto de que algunsdocudramas recentes, caso do Neandertal, éa história de ficção que articula o documentárioe de forma secundária, no fio da ficção, seapresentam dados informativos sob a formade rápidos flashes. Hoje contamos com óti-mos documentários de qualquer temática ar-queológica. Entre os mais significativos dosúltimos anos vale a pena destacar Caminhan-do entre as Bestas (Haines 2002) e Caminhan-do entre Homínidos (Lynch & Barret 2003,Gamble 2003a) da BBC e a produção franco-canadense A Odiséia da espécie (Bourdial2002). Na produção nacional Atapuerca (2002)de Javier Trueba sobre o famoso sítio arque-ológico de Burgos tem-se convertido em umagrande referência, mas também vão se re-alizando documentários vinculados a proje-tos de pesquisa arqueológica de grande qua-lidade como Castellón Alto, um povoadoargárico na província de Granada. Pelo con-trário, o seriado da TVE Memória de Espanha(2003-2004), sob a direção de FernandoGarcía de Cortazar, teve uma encenação muitofraca, especialmente nos primeiros episódi-os com abuso de encenações, que ainda porcima resultaram muito ruins, e em geral,como poucos médios e menos idéias. O tex-to dos historiadores liderados por García deCortazar era bem aceitável, embora TVE nãocolocasse nem imaginação, nem dinheiro.Mesmo assim, os índices de audiência foramelevados, especialmente para um documentáriode história. Em qualquer caso, ao tomar al-gumas notas sobre aqueles episódios acabeipensando que a avaliação do seriado nãopodia ser realizada apenas pelos profissio-nais, e seria preciso pensar fórmulas paraconhecer a avaliação dos não-especialistas:Quais os valores que apreciam?, Que capa-cidade crítica têm? As respostas a estas per-guntas e a outras de semelhante índole seri-am de grande ajuda para os historiadores eos arqueólogos.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5725
26
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Nas aulas práticas, facilito aos estudan-tes algumas idéias gerais sobre como assis-tir a documentários e tomar notas, e maistarde lhes peço que escrevam suas avalia-ções, pontuem cada documentário – é im-portante ver diferentes tipos, incluindo osruins- e justifiquem dita pontuação. Na visãogeral que lhes ofereço incluo muitas das idéi-as aqui expostas e no plano prático insistonos seguintes aspectos: (i) que os vídeos têmdois grandes discursos: o visual, as mensa-gens exclusivamente transmitidas pelas ima-gens e o verbal, a informação falada em offque acompanha às imagens. Os dois sãoimportantes e precisam de uma analise si-multânea de cada um deles; (ii) que no dis-curso visual é preciso, por um lado, apren-der a catalogar os tipos de imagens (obje-tos, sítios arqueológicos, paisagens, mapase infografia, arqueólogos ou especialistasentrevistados ou apresentando informação –“bustos falantes” -, reconstruções dramati-zadas, gravuras antigas, etc...) e pelo outrolado é preciso realizar estimações temporaisde cada um dos tipos de imagens, isto é, sena porcentagem predomina o tempo dedica-do aos objetos, aos sítios arqueológicos ouàs reconstruções e como se distribui – apro-ximadamente- o tempo do conjunto das ima-gens. Pois esta distribuição não é casual edeve refletir as intenções do produtor. De-pois é preciso desenvolver estratégias paramedir o impacto e a força de cada imagem eseu grau de inteligibilidade; (iii) que o dis-curso verbal, os conteúdos específicos, exi-ge também uma analise hierarquizada, pri-meiro uma avaliação global, a quantidade deinformação e o ritmo de apresentação; se-gundo, uma analise das idéias centrais quese transmitem; terceiro, uma consideraçãodo léxico utilizado e finalmente, descobrir aspossíveis “iscas” do discurso falado e apre-sentar a arquitetura completa do “texto” parasua posterior crítica; e (iv) finalmente, incidirna importância de refletir sobre o grau decomplementaridade existente entre as ima-gens e as palavras, isto é, de que maneirase tem conseguido, ou não, um ajuste entreo que se vê e o que se escuta. Embora possa
parecer qualquer coisa de irrelevante, emalguns casos a informação falada que nãoguarda relação alguma com as imagens quese visualizam, fica praticamente perdida,escondida, por trás de imagens, que literal-mente, engolem o discurso falado. Se emalgum caso se pode ter a filmação do Comose fiz... do documentário podemos acrescen-tar mais elementos de interesse para o de-bate, a mesma coisa que se proporcionar-mos algum texto que explique a realização,como no caso da Odisséia da Espécie(Bourdial 2002).
Os resultados habitualmente são bastantebons, hoje a cultura audiovisual dos estudan-tes é muito alta e com apenas umas poucasidéias a modo de roteiro, como as arribaindicadas, eles são muito capazes de ofereceravaliações críticas e razoadas, que sem ne-nhuma dúvida me ajudam a re-situar meu pró-prio analise frente ao rico panorama que meusestudantes me oferecem. Uma tarefa final dedebate ou discussão completa perfeitamenteas opiniões pessoais colocadas por escrito.
Os filmes de ficção arqueológica/histórica na moda
O caso dos f i lmes de f icção comambientação arqueológica/histórica é umpouco diferente. Fundamentalmente pode-mos afirmar que a avaliação deve ser dife-rente pela simples razão de que, como te-mos visto com Rosenstone, os diretores decinema não são - e não pretendem ser – his-toriadores, mesmo que alguns deles reivin-diquem um altíssimo grau de verismo histó-rico nos seus filmes. Os cinco critérios queaplico para a analise didática nas aulas dearqueologia são perfeitamente aplicáveispara todos os filmes de este gênero, inde-pendentemente de que uns se situem na maisdisparatada ucronia e outros no intento maisencomiável de mergulhar-se na atmosferade sua época histórica. O que se ganha ematrativo – parece claro que segura mais ointeresse dos estudantes uma boa ficção doque um bom documentário – é obvio que se
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5726
27
Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero
Ana Maria Mansilla Castaño
perde na qualidade da informação ofereci-da, mas ao mesmo tempo a ficção permitedebates mais críticos e mais abertos do queno caso dos documentários. Vou comentar,muito brevemente, apenas uns poucos filmesque reúnem muitos elementos de interessepara sua utilização em atividades didáticas:A guerra do fogo, Gladiator, Troja, Alexan-dre e O guia do desfiladeiro.
A guerra do fogo de J.-J. Annaud (1981),baseada no celebrado romance de J.H. Rosny(2004) [1911], que tem tido um grande im-pacto (Felici 2000), é um filme fantástico (Fig.4). Continua sendo meu filme favorito no apar-tado de filmes de Pré-história, uma categoriaesta que na verdade não tem uma relação muitoampla de filmes atrativos e com um mínimo derigor arqueológico (Moreno i Jiménez 2002).As possibilidades didáticas são muito amplas,desde a coexistência de diferentes espécies ea possível interação entre neandertais-cro-magnons, às estratégias de caça e os modelossócias dos diferentes tipos humanos que apa-recem. A ambientação, vestimentas e armas,assim como a forma de se movimentar e defalar das diferentes formas humanas têm cria-do todo um modelo a seguir.
Gladiator (2000), de Ridley Scott temconseguido revitalizar, de forma espetacular,o cinema de romanos, o famoso peplum, quelevava anos em decadência (Landau 2000).O filme oferece múltiplas possibilidades paraexercitar as atividades didáticas que tenhoindicado acima e de fato conta com muitasleituras como recurso didático (GarcíaBeguería & Lérida Lafarga 2006). Por suaparte, Troja (2004) de W. Petersen, com BradPitt no papel de estrela, tem seguido a trilhaaberta por Gladiator e, embora os muitoserros, logra transmitir ao grande público umcerto sentido histórico do grande poemahomérico (Solomon 2006, Winckler 2006 ) esobre tudo conseguiu que muitas pessoas semergulhassem na leitura de a Ilíada. Comono mais recente caso de Alexandre (2004)de Oliver Stone, inclusive com os erros quese podem detectar, é preciso pensar nos acer-
tos (Fig. 5). Como bem tem dito FernandoQuesada (2005: 88) “não façamos de arque-ólogos fundamentalistas”, e celebremos quepor alguns dias Alexandre, bissexual, homos-sexual ou o que quer que fosse entre no co-ração de milhares de pessoas que de outramaneira jamais teriam ouvido falar da vidado grande personagem grego. Daí podemsurgir outros interesses mais sérios. Mas nemtodas são grandes superproduções. Em fil-mes de baixo orçamento é possível acharautênticas jóias que nos deslocam para pas-sados menos hollywoodienses, mas não porisso menos atrativos. É esse o caso do filmeO guia do desfiladeiro (1987), um deslumbran-te filme do norueguês Nils Gaup, ambientadona Idade de Ferro tardia da Escandinávia quemostra a vida de uma comunidade lapona ata-cada por uma mannerbunde de sinistros guer-reiros que chegam de terras mais meridio-nais (www.imdb.com/tittle/tt0093668).
Fig. 4 - Cartaz do filme. A guerra do fogo deJean-Jacques Annaud.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5727
28
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Conclusão
Como reflexão final penso que é impor-tante destacar como as imagens do passa-do, que até há apenas dez ou quinze anosestavam sob a dominação quase exclusivado cinema, têm passado a formar parte dos“poliedros visuais” que trocam, transformame recriam imagens continuamente (Finn2001). Esses “poliedros” não são outra coisamais do que a interatividade crescente entrediferentes médios que “produzem/fagocitam”imagens: cinema (Pohl 1996), televisão(Fagan 2003, Payton 2002 e Silberman 1999),Internet, Vídeo e DVD, Vídeo-games (Watrall2002) e as próprias telas dos celulares e doiPOD. Todos eles estão gerando certo inte-resse entre os arqueólogos. O fascínio detodos os públicos pela arqueologia significaque os arqueólogos cada vez mais têm queestar tratando com os diferentes médios, comcerteza mais do que outras disciplinas, e pelotanto tem chegado a ser uma questão crucialcomo se comunicar com as audiências atra-vés dos diferentes médios e como os própri-os médios vêm a arqueologia (Clack & Brittain2007, Van Dyke 2006).
Fig. 5 - Cartaz do filme Alexandre, protagonizadopor Colin Farrell.
Bibliografia
AGUILERA, H.1990 Infografía, comunicación humana y
evolución social. In: H. Aguilar, M. de Vivaret alii (eds), Las nuevas imágenes de lacomunicación audiovisual en España.Madrid. Fundesco.
Abstract: This article analyses the relations between archaeology andcinema, presenting three different types of archaeological cinema,documentary, docu-drama and drama or past fiction cinema. It emphasizesits didactic potential, from the experience of its practical use of viewingand evaluating, in the Prehistory university formative program in the UCM.
Key Words: Archaeology, cinema, teaching resources.
APPLEBY, G. A.2005 Crossing the rubicon: fact or fiction in
Roman re-enactment, Public Archaeology,4: 257-265.
ARCHAEOLOGY & YOU2004 Movies, Television Programs, and Videos
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5728
29
Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero
Ana Maria Mansilla Castaño
FORTE, M. Y SILIOTTI, A. Eds.1997 Virtual Archaeology. Londres. Thames and
Hudson.FRASER, G. M.
1988 The Hollywood History of the World. Lon-dres. Harwill Press.
GAMBLE, C.2003a Walking tall, not talking heads. Resenha
de “Walking with Cavemen”. In: Nature,422: 473.
GAMBLE, C.2003b Arqueología Básica. Barcelona. Ariel.
GARCÍA BEGUERÍA, A. & LÉRIDA LAFARGA, R.2006 Gladiator. El cine y su aplicación didáctica
(http://clio.rediris.es/fichas/Gladiator/GLADIATORL.htm).
GOWLETT, J.1990 Indiana Jones: crusading for archaeology?
Recensão de S. Spielberg (dir.) IndianaJones and the Last Crusade. In: Antiquity,64: 157.
HAINES, T.2002 Caminando entre las Bestias. Un safari
prehistórico. Barcelona, Planeta.HALL, M. A.
2004 Romancing the Stones: Archaeology in Po-pular Cinema. In: European Journal ofArchaeology, 7 (2): 159-176.
HANSON, W. S. Y RAHTZ, P. A.1988 Video recording on excavations. In:
Antiquity, 62: 106-111.HERNÁNDEZ DESCALZO, P. J.
1997 “Luces, Cámara, ¡Acción!: Arqueología,Toma 1”. In: Complutum, 8: 311-334.
HODGSON, J.2001 Archaeological Reconstruction: Illustrating
the Past. Institute of Field Archaeologists.IFA Paper, nº 5.
IBARS FERNÁNDEZ, R. & LÓPEZ SORIANO, I.2006 Historia y el cine (http://www.
a n t r o p o s m o d e r n o . c o m / a n t r o -articulo.php?id-_articulo=919).
JOHANSON, M. A.2003 Real Archaeologists Wear Whips. In:
Archaeology, 56 (6): 58.KULIK, K.
2006 Archaeology and British television. In:Public Archaeology, 5: 75-90.
LAMBOTTE, B.1990 Le cinéma au service de l´archéologie.
L i e j a . Mémo i r e s de P réh i s t o i r eLiégeoise.
LANDAU, D. Ed.2000 Gladiator – The Making of the Ridley Scott
Epic. Londres. Boxtree.LERONGE, J.
2006 La Historia a lo loco. Madrid. Editorial SM.
about Archaeology, (http://www.saa.org/publ icat ions/ArchAndYou/ learn ing/movies.html).
BAHRAMI, B.2006 Channeling Archaeology. In: Archaeology,
59 (2), march/april: 55.BARRA, T.
1998 Screen ing the Past : F i lm and theRepresentation of History. Westport.Praeger.
BARKER, PH.1982 Techniques of archaeological excavation
Londres. B. T. Batsford, Ltd.BAXTER, J.
2001 Archaeology Hollywood-style and Beyond.In: The SAA Archaeological Record, 1 (5):21-23.
BAXTER, J.2002 Teaching with “Indie”: Using Film and
Television to Teach Archaeology. In: TheSAA Archaeological Record, 2 (5): 18-20.
BOURDIAL, I.2002 La Préhistoire comme si vous y étiez.
L´Odissée de l´Espéce. In: Science & Vie,1023: 168-175.
CARNES, M. C. (Ed.)1995 Past Imperfect: History According to the
Movies. Nueva York. Henry Holt andCompany.
CLACK. T. & BRITTAIN, B. M.2007 Archaeology and the Media. Oxford. Berg
Publishers.CHANNEL 4
2005 Time Team (http://www.channel4.com/history/timeteam). Acceso 1-VII-06.
DANIEL, G.1978 Introduction. In R. Sutcliffe (ed.) Chronicle:
Essays from Ten Years of TelevisionArchaeology. Londres. BBC: 7-9.
DAY, D. H.1997 A Treasure Hard to Attain: Images of
Archaeology in Popular Film, with aFilmography. Boston. Scarecrow Press.
DOWNS, M., ALLEN P. S., MEISTER, M. J. Y LAZIO, C.1995 Archaeology on F i lm. Boston. The
Archaeological Institute of America.FAGAN, G. G.
2003 Far- out television. In: Archaeology, 56(3): 46-50.
FELICI DE, R.2000 Émotions et langages dans le roman
préhistorique de J. H. Rosny Aîné. In: A. J.Ducros (dirs.) L´Homme Préhistorque. Imageset im aginaire. Paris. L´Harmattan: 243-271.
FINN, C.2001 Mixed Messages – Archaeology and the
Media. In: Public Archaeology, 1: 261-268.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5729
30
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
LEWUILLON, S.2002 Archaeological I l lustrat ions: a new
development in 19th century science.Antiquity, 76: 223-234.
LILLO REDONET, F.1994 El cine de romanos y su aplicación
didáctica. Madrid, Ediciones Clásicas.LYONS, A. et alii
2005 Antiquity and Photography: Early Viewsof Ancient Mediterranean Sites. J. PaulGetty Museum, Getty Trust Publications.
LYNCH, J. & BARRETT, L.2003 Walking with Cavemen. Nova Iorque. DK
Publishing.MASTER
2006 MA in Archaeology for Screen Media,(http://www.bristol.ac.uk/archanth/postgrad/screema.hmtl).
MEMBURY, S.2002 The Celluloid Archaeologist – an x-rated
exposé. In M.MILLARD, A. Y NOON, S.
1999 A street through time: a 12000 yearjourney along the same street. Londres.Dorling Kindersley.
MORENO I GIMÉNEZ, V. A.2002 Cine y Prehistoria. In: Caleidoscopio, 5, 2002
(http://www.uch.ceu.es/caleidoscopio/numeros/cinco/moreno.htm).
MOSER, S.1998 Ancestral images. The iconography of
Human Origins. Ithaca. N.Y. CornellUniversity Press.
PAYNTON, C.2002 Public Perception and “Pop Archaeology”:
A Survey of Current Attitudes TowardTelevised Archaeology in Britain. In: TheSAA Archaeological Record, 2 (2): 33-36 y 44.
PEPLUM2006 Images de l´Antiquité Cinema et BD
(http://www.peplums.com). Acesso 10-06.POHL, J. M. D.
1996 Archaeology in film and television. In B.M. Fagan (ed.) The Oxford Companyon toArchaeology:. Oxford. Oxford UniversityPress: 574-575.
PRIETO ARCINIEGA, A,2004 La Antigüedad filmada. Madrid. Ediciones
Clásicas.QUESADA, F.
2005 Alejandro ante Tiro, asedio salvaje. In:La Aventura de la Historia, 75: 82-91.
ROSENSTONE, R. A.1995a Visions of the Past: the Challenge of Film
to Our Idea of History. Cambridge.Harvard University Press.
ROSENSTONE, R. A.1995b Revisioning history: f i lm and the
reconstruction of a new past. Princeton.Princeton University Press.
ROSENSTONE, R. A.1997 El pasado en imágenes. El desafío del cine
a nuestra idea de la historia. Barcelona.Ariel.
Rosenstone, R. A. 2005 La Audiencia modela laHistoria. In J. Montero & J. Cabeza (eds.)Por el precio de una entrada. Estudiossobre Historia Social del cine: Madrid,Ediciones Rialp: 337-350.
ROSNY, J. H.2004 La conquista del fuego. Barcelona.
Hipòtesi, S,L.RUSSELL, L.
2002a Archaeology and Star Trek: exploring thepast in the future. In
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A.2004 Steven Spielberg. Entre Ulises y Peter Pan.
Madrid. Cie Inversiones Editoriales DossatSILBERMAN, N. A.
1999 Is Archaeology Ready for Prime Time?,Digging and Discovery as MassEnterteinment. In: Archaeology, May/June: 79-82.
SMITH, S. & MOSER, S. Eds.2005 Envisioning the Past. Archaeology and the
Image. Oxford. Blackwell Publishing.SOLOMON, J.
2002 Peplum. El mundo antiguo en el cine.Madrid. Alianza Editorial.
SOLOMON, J.2006 Viewing Troy: Authenticity, Criticism,
Interpretation. In: Winckler, M. M. Troy:From Homer´s Iliad to Hollywood epic:Oxford, Blackwell: 85-98.
STEELE, PH. & NOON, S.2006 Una ciudad a través del tiempo. Barcelo-
na. Blume.TRINGHAM, R.
2006 Anthropology 136i: Archaeology and theMedia: Digital Narratives in, for, and aboutArchaeology (http://www.mactia.berkeley/e d u / c o u r s e s / A n t h r o 1 3 6 i / h t m l /136iSu06_intro.html). Acesso 31-IX-06.
VAN DYKE, R. M.2006 Seeing the Past: Visual Media in Archaeology.
In: American Anthropologist, 108 (2): 370-384.
VERRETH, H.2003 De Oudheid in Film. Filmografie. Universidad
de Lovaina (http://www.ars.kuleuve.be/alo/klasieke/docs/film) .
WATRALL, E.2002 Digital pharaoh: archaeology, public
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5730
31
Arqueologia e cinema, uma história em comumGonzalo Ruiz Zapatero
Ana Maria Mansilla Castaño
education and interactive entertainment.In: Public Archaeology, 2: 163-169.
WINCKLER, M. M.Troy: From Homer´s Iliad to Hollywoodepic: Oxford, Blackwell.
WYKE, M.1997 Projecting the past: ancient Rome, cine-
ma, and history. Nueva York. Routledge.ZARMATI, L.
1995 Popular archaeology and the archaeologist
as hero. In: J. Balme y Beck, W. eds.Gendered Archaeology. The SecondAustralian Women in Archaeology Conference.Canberra. ANH Publications: 43-47.
ZORPIDU, S.2004 The Pub l i c Image of the Female
Archaeologist. The Case of Lara Croft. InH. Bolin ed. The Interplay of Past andPresent: Huddinge. Södertörns högskola:101-107.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5731
32
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Gonzalo Ruiz e Ana Maria Mansilla.pmd 02/07/2009, 12:5732
33
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 33-48.
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA
ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido*
Resumo: Este artigo desenvolve uma reflexão sobre Museus, Arqueolo-gia e Imprensa. Seu objetivo é discutir como a Arqueologia é apresentadapara o grande público pela imprensa e que papel cabe à musealização daArqueologia na relação entre Arqueologia e público. O texto compara asmatérias publicadas na mídia escrita em 2000 e 2006 e tenta compreen-der que imagens de arqueólogos, da Arqueologia e dos museus de Arque-ologia são construídas por estes veículos de comunicação.
Palavras-chave: Arqueologia, Arqueologia Pública, imprensa, museus
(*) Historiadora, especialista em Museologia, Mestreem Arqueologia, Diretora do Museu da Imagem e doSom do Ceará. [email protected]
Introdução
Desenvolvemos aqui uma reflexão sobreMuseus, Arqueologia e Imprensa. O objetivoé discutir como a Arqueologia é apresentadapara o grande público pela imprensa e tam-bém o papel da musealização da Arqueologianesta relação entre Arqueologia e público.
Por que este destaque especial para abusca de referências a museus nas matéri-as? A publicização da Arqueologia, é sabido,tem sido realizada também por outros cami-nhos como a educação patrimonial, a aber-tura de espaços à visitação pública e a orga-nização de publicações voltadas para leigos.Consideramos, porém, que o processo demusealização é a única via capaz de consoli-
dar a cadeia operatória completa de preser-vação, indo da salvaguarda à comunicaçãopatrimonial podendo, no caso da Arqueolo-gia, abrigar acervos coletados, propiciar apesquisa interdisciplinar, estabelecer proces-sos de gestão do patrimônio arqueológico emlongo prazo e fomentar a extroversão dosacervos juntamente com a publicação dosresultados das pesquisas, por meio de expo-sições e ação educativa sistemática e per-manente (CÂNDIDO, FORTUNA e POZZI,2001). Por esta razão, mostras temporáriasnão correspondem amplamente à nossa bus-ca pela referência a museus, embora quan-do elas servem à extroversão para públicosremotos geograficamente, de um acervomuseológico que itinera, possamos compre-ender aí uma extensão da comunicaçãomuseológica.
Este artigo originalmente foi um traba-lho da disciplina Patrimônio Arqueológico eMusealização, realizada no âmbito domestrado em Arqueologia, em 2001, com a
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0133
34
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
profa. Dra. Cristina Bruno. Na época o perío-do destacado para análise foi o ano de 2000,que além de recente oferecia a possibilidadede confrontar as reportagens referentes àMostra do Redescobrimento1, evento reali-zado por ocasião dos 500 anos da chegadados portugueses às terras brasileiras, comas ocorrências de matérias sobre Arqueolo-gia de uma maneira mais geral. Para a pre-sente publicação foi feita uma atualização,confrontando com dados de 2006.
Em 2001, selecionamos como fontes depesquisa os seguintes veículos de comunica-ção: a revista semanal Veja, o diário Folhade São Paulo e a revista Ciência Hoje, perió-dico mensal de divulgação científica, mas ain-da de caráter leigo. As buscas foram feitasna internet (Folha de São Paulo e Veja) apartir da palavra-chave Arqueologia. Foi lo-calizada uma série ampla de matérias, lidana íntegra, a partir da qual buscamos, inicial-mente, perceber as imagens da Arqueologiae dos profissionais arqueólogos divulgadas.
Esta opção partia de um pressuposto,confirmado no decorrer das pesquisas, deque as ocorrências estritamente vinculadasa museus de Arqueologia seriam muito pou-co freqüentes. Por outro lado, a percepçãodo universo mais amplo da divulgação daArqueologia em periódicos para só entãoafunilar e chegar à presença ou não de men-ções, nessas matérias, de processos ou ins-tituições museológicos atreladas à pesquisaarqueológica, oferece, pela própria existênciade lacunas, uma informação indubitavelmenterelevante.
O terceiro periódico selecionado, Ciên-cia Hoje, não disponibiliza pela internet osmesmos recursos dos demais, como íntegradas matérias e busca por palavras-chave.Portanto, recorremos à consulta direta dosmesmos em biblioteca, respeitando o crité-rio adotado para os demais, segundo o qualas matérias que mencionassem a Arqueolo-gia foram lidas integralmente para apreen-são da forma de divulgação dela e de seusprofissionais, e só então lançamos um olhardirigido para a percepção da presença ou nãode informações acerca de museus ou pro-cessos e instituições museológicas relacio-nados ao tema.
Para efeito dos dados quantitativos apre-sentados no artigo, esclarecemos que nãoforam contabilizadas as referências a mu-seus quando apareciam apenas como insti-tuição de origem de um pesquisador citadona matéria. Feita esta observação, podemos,porém perceber que no campo das publica-ções os arqueólogos têm tomado iniciativasvoltadas à produção de livros para o públicoleigo e duas ações neste sentido se destaca-ram em 2006, aparecendo com proeminên-cia nas matérias da Folha de São Paulo à épo-ca dos respectivos lançamentos: O Brasil an-tes dos Brasileiros, de André Prous, e Arque-ologia da Amazônia, de Eduardo Góes Neves.
Arqueologia e imprensa:criando os mitos
“A voz de Niède Guidon soa diverti-da, ainda que cansada, quando fala deseus desafetos nos feudos da arqueolo-gia brasileira. Estava certa a agente deturismo Rosa Trakalo ao dizer que amelhor hora para entrevistar a “douto-ra” seria de carona com ela em suasandanças por São Raimundo Nonato, nosudeste do Piauí. Guidon, 67, dirigindouma picape Nissan Frontier cabine du-pla, conta com tração nas quatro rodaspara enfrentar qualquer atoleiro da caa-tinga verde de inverno (estação de chu-vas), e não tem travas na língua.
(1) A “Mostra do Redescobrimento Brasil + 500" foium grande evento expositivo na cidade de São Pau-lo, que pretendeu reunir um amplo panorama da artebrasileira, da pré-história à contamporaneidade. Ocor-reu no Parque do Ibirapuera, entre 25 de abril e 10de setembro de 2000, tendo se estendido dois diasalém do previsto devido à procura massiva do públi-co. Localizava-se em três pavilhões do Ibirapuera enuma tenda construída para abrigar o Cine Caverna.
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0134
35
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
Ar-condicionado ligado, garrafa deágua mineral Perrier acondicionada en-tre o banco e o freio de mão, a arqueó-loga dispara tranqüila seus ataques aadversários como André Prous, da Uni-versidade Federal de Minas Gerais, con-tra o qual move processo por danosmateriais.” (Folha de São Paulo, 19/03/2000)
“Em meio ao caos de sua sala noMuseu de Arqueologia e Etnologia daUSP, o arqueólogo Eduardo Góes Neves,34, ouve Led Zeppelin e vasculha arqui-vos num laptop. Ao lado do computador,uma profusão de slides, mapas, livros ecacos de cerâmica. Dentro dele, umaseqüência de números que, se confirma-dos, podem mudar as teorias sobre aocupação da Amazônia.” (Folha de SãoPaulo, 29/10/2000)
Com estas descrições de alguns dos pro-fissionais de Arqueologia brasileiros e desuas atitudes, introduzimos nosso tema dediscussão. A imagem de um Indiana Jonesou de um ser tão exótico quanto o esperadodos objetos de sua pesquisa é a tônica degrande parte do que a imprensa divulga quan-do fala dos arqueólogos. Predomina umavisão fantasiosa, realçando detalhes escolhidosa dedo para reforçar a imagem pretendida.
Para RENFREW e BAHN (1998:09) estatendência é compreensível pela combinaçãode atividade física de campo com busca inte-lectual, de tal forma que inclusive escritoresde ficção enxergaram este filão gerado pelofascínio com a mescla de perigo e trabalhoinvestigativo. Exemplo clássico é o da escri-tora Agatha Christie, que buscou inspiraçãoem casa: seu marido era arqueólogo.
Por outro lado, as confusões recorren-tes no senso comum ainda ocorrem nos ór-gãos de imprensa, como se percebe ao soli-citar em consulta pela palavra-chave ‘Arque-ologia’, a chegada de diversas matérias cujoteor, na verdade, é de Paleontologia.
As ocorrências do termo Arqueologia nosórgãos de imprensa selecionados para a pes-quisa, em busca feita por palavra-chave,
muitas vezes vêm associadas a outros te-mas, onde apenas a expressão Arqueologiaé mencionada em contextos distintos. Porexemplo, quando o assunto é comportamentoe é usada a expressão “arqueologia das atitu-des”, significando uma busca de aprofundamentoe de desvelar um assunto em camadas. Es-tas matérias não foram elencadas nos ane-xos e nossa análise deteve-se sobre aquelasestritamente de caráter arqueológico.
No periódico Folha de São Paulo, no ano2000, apareceram 149 matérias onde seencontrava a temática da Arqueologia. Des-tas, aproximadamente 62% são nacionais(sendo que 16% falam sobre a Mostra doRedescobrimento) e 38% são internacionais.
Estas porcentagens refletem também ofato de que outras matérias, ainda que nãodiretamente ligadas à Mostra, possam tersurgido também do contexto de atração dopúblico pelos temas lá expostos, como o ca-derno especial MAIS! de março de 2000 evárias pequenas matérias explicativas parao público infantil na Folhinha.
Da mesma forma, seria bastante signifi-cativa a elaboração de pesquisas sobre aconseqüência dos eventos em torno dos 500anos e da Mostra do Redescobrimento nafreqüência a museus, especialmente na ci-dade de São Paulo.
As opiniões a respeito da Mostra quepermeiam o material estudado também soammuito variadas, indo do total deslumbre àcrítica voraz. Alguns títulos referem-se àmesma como, por exemplo, Mostra do Des-lumbramento.
Na Veja, a proporção acima se inverte,com 13 matérias no ano de 2000, sendo 10internacionais, 3 nacionais e, destas, 1 so-bre a Mostra do Redescobrimento. Portanto,é posta em relevo a Arqueologia estrangei-ra, mas não as pesquisas realizadas aqui.Nesta revista, é de se destacar, ainda, que amatéria de maior volume seja uma entrevis-ta com o escritor Christian Jacq, que escrevelivros de ficção, tendo a Arqueologia apenascomo uma inspiração livre para sua obra.
A revista Ciência Hoje, periódico mensalde divulgação científica da Sociedade Brasi-
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0135
36
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
leira para o Progresso da Ciência (SBPC),pode ser considerada uma intermediária en-tre uma revista de caráter científico e umórgão de divulgação para públicos leigos. Elafaz parte do Projeto Ciência Hoje, integradoainda pela revista Ciência Hoje das Crian-ças; o multimídia Ciência Hoje das Crianças;a Ciência Hoje Online, na internet; e os volu-mes temáticos Ciência Hoje na Escola.
No ano 2000, foram publicados 11 nú-meros dessa revista, do número 157 ao 167,compreendendo três volumes, do 26 ao 28.Nestes, localizamos 6 itens relacionados aotema da Arqueologia, sendo um deles umaresposta a pergunta de um leitor, uma rese-nha de livro de Arqueologia e 4 matérias. To-dos eles são a respeito de questões da Arque-ologia brasileira e nenhum se refere explicita-mente à Mostra do Redescobrimento, emborauma matéria faça parte da série Brasil 500.
Na Veja e na Folha de São Paulo, o perfildas matérias é, em grande parte, sensaciona-lista, ligado a uma imagem bastante fantasiosado arqueólogo e da Arqueologia. Além dasdescrições já transcritas aqui, várias expres-sões presentes nos textos remetem a um cer-to fascínio pela Arqueologia e a uma históriade pilhagens ainda contemporaneamente. Hátambém um reforço do imaginário já forjadoem filmes de ficção, onde as equipes de ar-queólogos estão em disputa por tesouros oupela primazia da descoberta, mas não propri-amente por conclusões científicas.
Já a publicação da Ciência Hoje, tem cla-ramente um objetivo mais científico, condi-zente com suas origens, e os artigos sãomuitas vezes redigidos pelos próprios ar-queólogos. No caso dessa revista, uma ob-servação a ser destacada é a não inclusãoou mesmo menção de fontes arqueológicas(musealizadas ou não) nos textos relacio-nados a pesquisas de cunho histórico, in-cluídos aí aqueles originários da Série Bra-sil 500. Exemplo disso são a matéria “Oresgate da Amazônia colonial”, cujas fontessão documentos do Arquivo Ultramarino dePortugal, e a entrevista concedida porRonaldo Vainfas a Carlos Fausto e a JulianaCaetano sobre “A verdadeira conquista do
Brasil” (publicados em maio e outubro de2000, respectivamente).
A questão do abandono das fontes ar-queológicas nas interpretações da culturabrasileira já teve tratamento aprofundado natese de doutorado de Cristina BRUNO (1995),sendo considerada “uma estratigrafia deolhares interpretativos míopes em relação aopassado pré-colonial”. Essa dívida dahistoriografia nacional com relação ao olharsobre a cultura material não se refere, se-gundo a autora, somente aos bens arqueo-lógicos, mas aos museus em geral.
A hipótese sugerida na tese é pela utili-zação da Museologia como caminho de arti-culação entre o patrimônio arqueológico e asdemais vertentes patrimoniais consideradasna constituição da memória nacional. Os mo-delos de musealização então apresentadossão propostas para a efetivação desta idéia.
A autora denominou como “estratigrafiado abandono” a omissão dos intérpretes doBrasil diante das fontes arqueológicas, ba-seando esta afirmação em vasto exame bi-bliográfico. Os estudos analisados recorremàs fontes escritas, em detrimento das oraise da cultura material, fato observado tam-bém nas matérias acima mencionadas, adespeito do limitado universo de observaçãodo estudo que agora realizamos.
Ainda na tese de Bruno, encontramos umareflexão sobre os resultados desta posturados intérpretes da cultura brasileira, reali-zada, a seu ver, em prejuízo da Arqueologiae como motor do distanciamento entre ela eo processo cultural contemporâneo. Para ela,a origem deste fenômeno está no desinte-resse dos arqueólogos pela comunicaçãomuseológica das pesquisas de sua área.
Com base nessa análise, BRUNO (1995:196) define o perfil dos problemas damusealização da Arqueologia:
“a) dificuldades em comunicar infor-mações que apresentam problemas bá-sicos, no que diz respeito à produção egerenciamento do conhecimento;
b) problemas inerentes à aproxima-ção entre a sociedade contemporânea e
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0136
37
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
os vestígios de um passado, cujo fio con-dutor foi rompido pelos processos decolonização e imigração;
c) impasses no que diz respeito àmediação entre as características dosmuseus tradicionais e a demanda relaci-onada aos novos processos museais”.
Museus de Arqueologia e imprensa:longa distância a ser percorrida
Entendemos a Museologia como discipli-na aplicada ligada à experimentação, siste-matização e teorização do conhecimento pro-duzido em torno do fato museal, ou seja: darelação do homem com o objeto no cenáriomuseológico. Cada vez mais, os museus têmse afirmado como canais de comunicação,como se pôde ver no documento internacio-nal denominado Carta de Caracas, de 1992.
Apesar disto, ainda hoje muitos museustêm priorizado as ações de salvaguardapatrimonial – embora também existam aque-les que só se importam com a extroversão –e muitas discussões recentes da Museologiatêm se debatido ainda com a problemáticado equilíbrio entre salvaguarda e comunica-ção patrimoniais.
Por outro lado, a Arqueologia, que emmuitos momentos se aproxima da Museologiaem princípios (como a relação estreita coma cultura material – ver CÂNDIDO, 2004) ouproblemas (patrimônio fragmentário,vestigial), forma um universo de aplicaçãoda Museologia que convive muito fortemen-te com as dificuldades de comunicar opatrimônio material e o conhecimento cien-tífico produzido sobre ele para os públicosleigos.
Na tese citada, BRUNO (1995: 65) apon-ta vários desafios para os museus hoje, en-tre eles, os de Arqueologia: a necessidadede critérios para guarda e controle do volu-me dos acervos, em irrefreável expansão; aadequação das instituições às crescentesdemandas sociais e a resolução dos impassesno diálogo com o público; e a delimitação
precisa da função social da instituição mu-seu de acordo com um perfil preservacionista,científico e educativo.
Entretanto, as pesquisas arqueológicastêm tradicionalmente uma tendência à divul-gação de seus resultados nos meios acadê-micos, realizada via congressos e publica-ções científicas. Isto reforça uma caracterís-tica de restrição da comunicação dos resul-tados dos trabalhos dos pesquisadores deArqueologia aos seus pares, cenário que vemtendo alguma alteração nas publicações dasúltimas décadas (FUNARI e ROBRAHN-GONZALEZ, 2006; BASTOS, BRUHNS eTEIXEIRA, 2006; SCHMITZ, 1988; ANDRADELIMA, 2000; JORGE, 2000; ALMEIDA, 2002;MILDER, 2006, entre outros) e na programa-ção do XIV da Sociedade de Arqueologia Bra-sileira, de 2007, com várias sessões de co-municações sobre educação patrimonial esobre museus e coleções.
Acontece que se, em geral, esta não éainda uma preocupação largamente disse-minada, por outro a busca dos arqueólogosem divulgar seus trabalhos para públicos lei-gos não significa que estejam, em todos oscasos, contemplando também os museuscomo veículo para esta comunicação2.
Isto reflete de uma maneira ainda maisdistorcida na imprensa, onde os museus sósão citados em matérias a respeito da Ar-queologia como instituição de origem dospesquisadores. Algumas das opções dos ar-queólogos para a comunicação pública desuas pesquisas citadas nas matériasjornalísticas em questão são a exploração
(2) Isto pode significar processos de extroversão daspesquisas arqueológicas de contrato, por exemplo,feitas de uma maneira muito imediata e por vezessuperficial, apenas para atender à legislação em vi-gor. É comum não haver continuidade, no caso dasações educativas, e nem ações relativas à responsa-bilidade definitiva pelo patrimônio que vem à luz porum procedimento destrutivo (a escavação), respon-sabilidade esta que só será plenamente atendida segerar processos de musealização (que englobam asplenas salvaguarda e a comunicação do acervo).
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0137
38
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
turística, a reconstrução de ruínas em reali-dade virtual, etc.
Outra evidência desta distorção é o fatoobservado na Folha de São Paulo, de que,no que se refere à comunicação dos resulta-dos das pesquisas arqueológicas, a Editoriade Ciências privilegia divulgar informaçõesoriundas de revistas científicas, enquanto ade Turismo é que abre espaço para o desta-que à existência dos museus. Os museus nãosão tidos como lugares de produção científi-ca e de construção do saber, apenas de exi-bição de objetos para apreciação.
Até mesmo a discussão de polêmicasatuais da musealização da Arqueologia, comoa musealização ‘in situ’ x deslocamento dosvestígios para museus, são encontradas emartigos da Editoria de Turismo – mas não nade Ciências – introduzindo o tema, apesarde sua superficialidade. É o caso da matériaintitulada “História é resgatada na terra e nomar” (Folha de São Paulo, 17/01/2000), so-bre escavações arqueológicas no centro deBeirute. A menção dos museus como atrati-vo turístico em cidades como Beirute (Líba-no), Barcelona (Espanha), Conímbriga (Por-tugal), San Pedro de Atacama (Chile) etc, éa motivação mais freqüente para que apare-çam na Editoria de Turismo. Desta forma, adespeito de outras funções e atividades de-sempenhadas pelo museu, notadamenteaquelas ditas ‘de bastidores’, o que chega aopúblico por intermédio deste veículo de im-prensa é meramente a existência de peçasem exposição. O aspecto científico dessasinstituições fica em segundo plano.
Igual tratamento recebe o Museu DomBosco, de Campo Grande em matéria daEditoria de Turismo da Folha, uma das pou-cas que detalham o interior de um museubrasileiro. A frase a seguir pode serelucidativa sobre o teor do texto “Conchas ecocares cobrem parede de museu” (27/11/2000): “A visita é válida se você é daquelesque gostam de ver curiosidades...”
Por outro lado, uma editoria como a deCiências, realça a credibilidade das pesqui-sas arqueológicas ao vincular o pesquisadora alguma universidade renomada, ou mes-
mo ao citar a publicação de suas pesquisaspor revistas científicas internacionais, masnão dá o mesmo peso à necessidade de di-vulgação deste saber para o grande público.
Ademais, a imprensa destaca como pes-quisa arqueológica a escavação, não apon-tando as possibilidades da Arqueologia nãodestrutiva ou da pesquisa em acervos demuseus. Nas raras ocasiões em que chega aapontar trabalhos de gabinete, refere-se somen-te aos resultados divulgados via periódicos ci-entíficos, não em exposições museológicas, porexemplo.
Há que se observar também que a Folhi-nha, editoria do Jornal Folha de São Paulodestinada ao público infantil, que ao longodo ano analisado exerceu forte influência nainterlocução entre a Arqueologia e as crian-ças, esclarecendo questões como o surgimentodos Tupi, o modo de vida indígena na atuali-dade ou o trabalho do arqueólogo, não des-taque com a mesma ênfase a atividademuseal. Isto significa a desconsideração dapossibilidade de uma larga formação de fu-turos públicos para os museus.
As numerosas ocorrências da palavra-chave Arqueologia na ‘Ilustrada’ dizem res-peito, em geral, a matérias sobre a Mostrado Redescobrimento que traziam em algummomento a menção ao Módulo de Arqueolo-gia ou ao Cine Caverna, onde um filme a esterespeito estava sendo apresentado durantetodo o evento.
Na Veja, em todo o ano de 2000, apare-cem 13 matérias de Arqueologia, apenas 3 delassobre temáticas nacionais. A grande maioria éinternacional e não menciona museus.
Uma matéria curiosamente captada pelapalavra-chave Arqueologia na Veja foi “Esco-la de profissões: as matérias que ajudam naorientação vocacional” (23/08/2000), em quefoi tratada a oportunidade que algumas esco-las brasileiras começam a oferecer, do alunoconhecer universos profissionais em meio àsdisciplinas optativas, como forma de orienta-ção para as escolhas vocacionais. Conhecero trabalho dos arqueólogos teve, no texto, omesmo destaque dado à possibilidade de vera ação de um advogado no fórum.
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0138
39
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
A matéria “Mausoléu na selva: urnasantropomorfas revelam segredos de um povoamazônico extinto há mais de 300 anos” (14/06/2000), faz referência a urnas funeráriase maracás, mencionando o Museu ParaenseEmílio Goeldi como guardião de uma coleçãodeles e sua catalogação como objetosmuseológicos. Portanto, sutilmente introduzo tema do museu como local de estudo decoleções, apesar de esclarecer que esta ca-talogação era, até então, bastante genérica.O potencial museológico dos objetos emquestão ainda não estava devidamente ex-plorado, apesar das peças terem vindo paraa Mostra do Redescobrimento.
O texto “História afogada: represa naTurquia vai inundar antigas cidades roma-nas com mosaicos de 2000 anos” (17/05/2000) dá espaço para a informação sobretrabalhos de salvamento arqueológico comoo que removeu, na década de 60 do séculoXX, as estátuas de Ramsés II ameaçadas pelarepresa de Assua, no Egito.
Mas é interessante perceber que daspoucas matérias internacionais que mencio-nam museus (duas), uma é a entrevista jámencionada com o escritor Christian Jacq,que toca num tema bastante polêmico, aquestão da repatriação de bens arqueológi-cos egípcios que hoje se encontram em gran-des museus europeus. Ainda arrisca umasugestão: a colocação de reproduções dosmonumentos nos lugares de origem e a ma-nutenção dos originais nos museus onde hojese encontram.
A matéria “Impávido colosso: Mostra doRedescobrimento é a maior já feita no país,reunindo 15000 obras” (26/04/2000) revelauma curiosa visão de museu. Segundo seuautor, Carlos Graieb, a mostra evidenciou umdebate entre os críticos que consideram omuseu um ‘repositório de tesouros’ e os quevêem nele um espaço para o entretenimento.
Em primeiro lugar, a matéria nos remeteà questão da inexistência de crít icosespecializados em museus, que debatam,com maior propriedade, as questões e oseventos da área na grande imprensa. Estacrítica acaba sempre nas mãos de artistas
plásticos, historiadores da arte e jornalistas,com uma visão externa e desprovida de basesconceituais, perpetuando o senso comum e aavaliação meramente estética dos mesmos.
Por outro lado, o autor demonstra des-conhecer outras potencialidades dos museuse todo o debate em torno do museu-fórum,de sua função social, entre outros temas(CÂNDIDO, 2003). O museu, naquele discurso,tem somente duas alternativas: o museu-tem-plo ou um parque de diversões. Mais uma vez,não é espaço do conhecimento, da razão.
A matéria propõe ainda uma moderaçãoquanto ao otimismo gerado pelo interesseda iniciativa privada em financiar o evento,criticando a conclusão apressada de que uma‘nova classe de mecenas’3 estivesse surgin-do. Cita um dos organizadores da mostra pararealçar o fato de que os novos públicos deexposições que foram atraídos pelo eventoprecisem continuar a ser estimulados. Acres-centamos que seria interessante uma pes-quisa que avaliasse a conseqüência deste tipode evento na freqüência a museus.
A Ciência Hoje, como já foi mencionado,tem uma postura mais científica no tratamen-to das questões de Arqueologia, uma preo-cupação em esclarecer sem cair no sensocomum, e, especialmente, espaço para ospróprios arqueólogos se colocarem, seja naresposta aos leitores, seja na resenha deobras de circulação acadêmica da área.
É nela também que encontramos pelaprimeira vez a palavra “Museologia”, na ma-téria “Um museu no cerrado”, de Maya Mitre.Refere-se ao núcleo museológico da Esta-ção Ecológica de Corumbá, em Arcos (MG),
(3) Caberia uma menção ao fato da empresaorganizadora da Mostra ser ligada ao antigo BancoSantos, instituição financeira sob intervenção doBanco Central. Seu proprietário, Edemar Cid Ferreira,está sendo investigado por lavagem de dinheiro, desviode recursos, evasão de divisas e ocultação de obras dearte, entre outras. Em virtude disto, teve seus bensparticulares, incluídos acervos como o arqueológico– grande parte dele exposto na Mostra em questão– recolhidos a museus públicos até a definição da questão.
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0139
40
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
um espaço com exposição, centro de visi-tantes e 120 peças catalogadas, além de umprojeto educativo que enfatiza a necessida-de de preservação das pinturas e gravurasrupestres existentes na região. O texto realçaa característica do núcleo que, ao invés desituar-se longe das áreas de coleta do acer-vo, está localizado junto à área de pesquisas,inserido nas ações de preservação dos sítiosarqueológicos e arquitetonicamente integra-do à paisagem do lugar. Além disso, apontapara os fins de investigação e produção cien-tífica aos quais o núcleo pode atender. É umapena que o âmbito de divulgação de textoscomo este não seja tão amplo quanto o dosdemais meios de comunicação estudados.
Balanço das matériaspublicadas no ano 2000
Inicialmente podemos considerar que aimprensa, no que diz respeito à Arqueolo-gia, reforça velhos sensos comuns e prolon-ga mitos, pouco contribuindo para uma in-formação séria e para o desenvolvimento dacriticidade a respeito deste tema.
Em relação à musealização da Arqueo-logia, as abordagens são menos freqüentese remetem, muito comumente, não ao es-clarecimento da Museologia como campo dis-ciplinar com objetivos e metodologias pró-prios e em construção, mas ao realce domuseu como lugar de relíquias e como car-tão postal a ser visitado em outras cidades.Uma espécie de lugar sagrado imperdível emroteiros turísticos.
De uma forma geral, aspectos como afunção social do museu, seu potencialeducativo e fomentador de consciências críti-cas é ignorado e a divulgação dos museuspassa ao largo de questões como a formaçãode identidades locais. Vemos uma repetiçãoda noção já ultrapassada de museu-templo,em total desconhecimento das discussões daMuseologia que visam sua transformação emlocal de diálogo com os públicos.
O tema da Arqueologia esteve em evidên-cia nesse ano sob influência das comemora-
ções dos 500 anos da chegada dos portugue-ses ao Brasil e dos inúmeros eventos criadosao redor disto, especialmente, em São Paulo,a Mostra do Redescobrimento, no Parque doIbirapuera. O grande interesse da populaçãoem mais uma vez ‘marcar presença’ numgrande evento expositivo da metrópole fez ex-plodirem as expectativas de público e foi aomesmo tempo geradora e produto de umairrefreada corrida dos meios de comunicaçãopara noticiarem a mostra e apresentaremgrande quantidade de informações sobre te-mas a ela relacionados. O que não significa,necessariamente, que estes temas voltem àbaila com a mesma freqüência, agora quearrefeceram os ânimos em relação a tudo quediz respeito às origens do país.
A relação entre a Arqueologia e a impren-sa chegou a ser discutida ao final da 2a Reu-nião internacional de Teoria Arqueológica naAmérica do Sul, em Olavarria, na Argentina,conforme foi divulgado na Folha de São Pauloem 29/10/2000. Lá, foi considerado que osmeios de comunicação tendem a exagerar esimplificar alguns aspectos da Arqueologia.
A história da relação entre Arqueologiae imprensa ainda parece, hoje, marcada peloestereótipo sensacionalista dos primórdios,como a quando a descoberta do túmulo deTutancamon, em 1922, virou manchete nosjornais e originou todo um mito, rodeado pormisteriosas lendas de maldições, etc.
O debate de Olavarria, como ocorre re-petidamente nos encontros científicos de Ar-queologia, não incluiu uma discussão equi-valente no que diz respeito à musealizaçãoda Arqueologia. Esta é uma perspectiva aber-ta pouco a pouco por espaços de reflexão comoa disciplina Patrimônio Arqueológico eMusealização, no âmbito da pós-graduação emArqueologia da Universidade de São Paulo.
Análise das matériaspublicadas em 2006
Foi feita uma busca abrangente que con-siderou todas as referências à Arqueologia,fosse vinculada a pesquisas, acervos ou pro-
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0140
41
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
fissionais da área. Novamente encontramosna busca uma série de matérias que não sereferem propriamente à Arqueologia, mas nabusca por palavras apareceram por terem otermo arqueologia como metáfora – “arque-ologia da ética”, na matéria “Cinco anos semCovas” (16/03/2006) –, como no caso daarqueologia da arquitetura citada na maté-ria “Artista francês modifica paredes do SescPaulista” (14/11/2006) não no sentido pró-prio da expressão4 mas no das intervençõesartísticas ou instalações realizadas pelo ar-tista plástico Georges Rousse em prédiosprestes a demolição; no sentido de pesquisae registro acurado de uma situação: “Gitaiinvestiga microcosmo em ‘Notícias do Lar…’”(20/10/2006); “Arqueologia do PCC” (22/05/2006); no sentido de recuperação: “Arqueo-logia digital” (24/04/2006), sobre clássicosde Joaquim Pedro de Andrade, restauradospor meio de novas tecnologias.
Foram consideradas todas as inser-ções do tema Arqueologia no corpo dojornal, fosse em matérias completas, fos-se em cartas de leitores, textos-legendae serviços de informação sobre opções delazer que incluíssem museus e exposiçõesde Arqueologia. Há situações em que amatéria não se refere a Arqueologia mas,na busca por palavras, apareceu lista por-que o arqueólogo é entrevistado, masnuma situação comum como cidadão, e arespeito de sua vida social ou política.Exemplos disto são Niède Guidon respon-dendo em quem votaria para Presidenteda República, e Eduardo Neves falando desua relação com a bola, em uma matériasobre futebol. Nestes casos não conside-ramos a matéria para efeito desta análi-se. Como era de se esperar, aparece umareferência a Indiana Jones, na busca pela
(4) “Arqueologia da arquitetura” é uma expressãoque designa trabalhos integrados de restauração einvestigação arqueológica, como na experiência dareatauração da catedral de Santa Maria em Vitória-Gasteiz, Espanha. Ver o sitehttp://www.catedralvitoria.com/index.html.
palavra-chave arqueólogo: “O melhor deHarrison Ford” (10/02/2006) . Por moti-vos óbvios, não foi contabilizada.
Chama a atenção a grande incidência dapalavra tesouro nos textos jornalísticos so-bre Arqueologia. Apenas nas reportagens(129 no total) com a palavra Arqueologia,“tesouro” aparece 37 vezes. Esta observa-ção é apenas para alertar a respeito da per-sistência da aura de exotismo e de “caça aotesouro”, ainda muito associada à prática daArqueologia e que motiva a ação ilegal deamadores e aventureiros. Entre as 129 ma-térias, 76 são internacionais (destas apenas15 citam museus) e 53 são nacionais, sendoque 24 citam museus. Pelo menos nestesaspectos as matérias sobre Arqueologia noBrasil parecem ter mais consistência ou, mi-nimamente, refletem um trabalho dos mu-seus relativo à ênfase na divulgação dopatrimônio em âmbito local.
Outros temas importantes abordadosimplícita ou explicitamente nas matérias fo-ram: o tráfico ilícito de bens arqueológicos,a tradição de desterritorialização e os cada vezmais freqüentes pedidos de repatriamento; aemergência da arqueologia de contrato; apublicização necessária sobre a legislaçãorelativa a impactos; as demandas dos ter-mos de ajuste de conduta; a mobilizaçãopública em defesa do patrimônio; e a forma-ção profissional neste novo contexto. Noâmbito acadêmico essas discussões são can-dentes e estão presentes em autores comoBRUNO (1995, 2005), FUNARI (2000, 2003),TAMANINI (1998, 1999), CÂNDIDO (2004),MARTINS (2000), só para citar alguns.
São questões que, para além da refle-xão gerada por estes veículos junto à popu-lação em geral, intrigam e geram debates epolêmicas mesmo nos círculos especializados.Para o público leigo, porém, as matérias tra-zem algumas discussões implícitas que sãorelevantes para a compreensão da ciênciaem geral e da Arqueologia enquanto ciência,como a pesquisa baseada em hipóteses, aconvivência de modelos interpretativos dife-rentes até a comprovação de uma hipótese,portanto, a ciência como construção. Maté-
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0141
42
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
rias chegam a abordar a diversidade dasevidências arqueológicas existentes em umsítio e, conseqüentemente, a necessidade deinterpretação do sítio como um todo. Contri-buem assim, para a conscientização sobre oproblema da interpretação em sítios já alte-rados.
Considerações finais
A perspectiva teórica que conduz a estaanálise sobre representações de Arqueolo-gia e dos arqueólogos no Brasil parte da com-preensão pós-processualista de que “o exer-cício da Arqueologia é um ato político”(ALMEIDA, 2002: 25) e de que a construçãodo conhecimento em Arqueologia não é neu-tra, mas historicamente elaborada. Nesta li-nha, a divulgação das pesquisas é entendidatambém como parte do compromisso profis-sional do arqueólogo.
BANH e RENFREW (1998: 505) alertamque a não publicação dos resultados das pes-quisas é um roubo, mais que isto, um duploroubo, já que recaem em mal-versação deverbas públicas e em ocultamento da infor-mação. Em seguida, reconhecem um eviden-te apetite do público em relação à Arqueolo-gia (1998: 507). Portanto, ao mesmo tempoem que cabe ao arqueólogo avançar na pes-quisa e na produção de conhecimento, é suaresponsabilidade avaliar as representaçõessociais da Arqueologia, dos arqueólogos, dosmuseus de Arqueologia, e desconstruir con-ceitos equivocados e estanques, propor umacrítica e autocrítica constantes no âmbito daArqueologia e de sua relação com a socie-dade.
Ao final da comparação entre as ma-térias publicadas na Folha de São Pauloem 2000 e em 2006 ficou confirmada aexpectativa de que a proporção de maismatérias nacionais que internacionais vistaem 2000 não se confirmasse, pois já seesperava que o chamariz maior daqueleano para matérias sobre arqueologia bra-sileira fosse o marco dos 500 anos e aMostra do Redescobrimento. No geral, em
anos comuns, transparece ainda uma idéiade Arqueologia como algo reservado apaíses estrangeiros, especialmente no Me-diterrâneo e Médio Oriente, e em parteda América espanhola, notadamente Perue México.
Nesse intervalo de tempo entre os doisperíodos analisados, houve um aprofundamentode alguns aspectos relativos a um novopanorama da relação entre Arqueologia esociedade. Nas matérias publicadas em2006 há indícios muito mais freqüentesque em 2000 da demanda por trabalhosde arqueologia de salvamento.
Há menções diversas a respeito daiminência de destruição de sítios arqueo-lógicos no Brasil e no exterior por contada expansão de obras públicas e empre-endimentos privados. O tom oscila entrea denúncia da destruição dos sítios –“Obras da BR-1001 inutilizam sítio arque-ológico em SC” – (26/11/2006) e a queixasobre os atrasos em obras devido à pes-quisa arqueológica: “Ruína arqueológicapára obra em Pequim” (17/10/2006). Mui-to se falou sobre sítios arqueológicos en-contrados nos locais em que seriam reali-zadas obras para as olimpíadas de 2008 –“Pequim-2008 encontra cemitér io deeunucos”–, assim como já ocorrera no pe-ríodo anterior às Olimpíadas de Atenas,em 2004. Aliás, estará o Brasil preparadoe com profissionais suficientes para asdemandas em várias cidades decorrentesde obras de infraestrutura para a tão so-nhada Copa do Mundo de 2014?
No Brasil, este avanço da atenção e dademanda por trabalhos de pesquisa arqueo-lógica em áreas ameaçadas de impacto porempreendimentos, decorrem especialmentedas pressões legais, como a lei 3924/61, aConstituição Federal de 1988 e a Portaria no
230, de 17/12/2002, do IPHAN, que estabe-lece procedimentos para compatibilização dasfases de obtenção de licenças ambientais comas da pesquisa arqueológica.
Pelas matérias publicadas em alguns dosmais importantes veículos da imprensa es-crita brasileira, fica evidente que à legisla-
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0142
43
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
ção refinada não corresponde uma maiorcompreensão pela sociedade do sentido des-ta proteção: Matérias como “Ibama pára obraferroviária do governo Lula” (18/10/2006)tocam um ponto sensível da relação entrepreservação e desenvolvimento. Pode se es-tar criando aí um novo papel ou caricaturade arqueólogo.
Abstract: This article develops a reflection on Museums, Archaeologyand the Press. Its objective is to discuss how Archaeology is presented forthe great public for the press and the role of the Archaeology’s musealizationbetween Archaeology and public. The text compares the articles publishedin the written media in two different years, 2000 and 2006, and tries tounderstand how images of archaeologists, Archaeology and museums ofArchaeology are constructed by these vehicles of communication.
Key words: Archaeology, Public Archaeology, press, museums
Agradecimentos:
Agradeço à Profa. Dra. Cristina Bruno oincentivo para retomar este texto e prepará-lo para publicação. A Verônica Viana e KarllaAndrêssa Soares a leitura atenta e suges-tões. A responsabilidade pelo conteúdo éexclusivamnte da autora.
Fontes Bibliográficas
ALMEIDA, MÁRCIA BEZERRA2002 O Australopiteco corcunda: as crianças e
a Arqueologia em um projeto de Arqueo-logia pública na escola. São Paulo: FFLCH/USP. (Tese de Doutorado)
ANDRADE LIMA, TANIA2000 “A ética que temos e a ética que queremos:
(ou como falar de princípios neste contur-bado fim de milênio)” in MENDONÇA DESOUZA, S. M. F. (org.) Anais do IX Con-gresso de Arqueologia Brasileira [CD ROM],1ª Edição [Rio de Janeiro], SAB, agosto.
BAHN, PAUL; RENFREW, COLIN1998 Arqueología: teorias, métodos y práctica.
Madrid: Akal Ediciones. (Serie Textos)BASTOS, ROSSANO L.; BRUHNS, KATIANNE;TEIXEIRA, ADRIANA
2006 Vamos conhecer e colorir nossa arqueolo-gia. Florianópolis: IPHAN. v. 1. 15 p.
BRUNO, MARIA CRISTINA OLIVEIRA1995 Musealização da Arqueologia: um estudo de
modelos para o Projeto Paranapanema. SãoPaulo: FFLCH/USP. (Tese de Doutorado).
BRUNO, MARIA CRISTINA OLIVEIRA.2005 Arqueologia e antropofagia: a musealização
dos sítios arqueológicos. Revista do Insti-tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-cional, Rio de Janeiro, v. 31, p. 234-247.
CAMERON, DUNCAN.1992 “Le musée: un temple ou un forum” (1971)
in DESVALLÉES, André. Vagues: uneanthologie de la nouvelle museologie.Paris: W M. N. E. S., p. 77-86.
CÂNDIDO, MANUELINA MARIA DUARTE; FORTUNA,CARLOS ALEXANDRE; POZZI, HENRIQUE ALEXANDRE.
2001 “A Arqueologia na Ótica Patrimonial: umaproposta para ser discutida pelos arqueó-logos brasileiros”. In: Canindé – Revistado Museu de Arqueologia de Xingó, no 1.Aracaju: Universidade Federal de Sergipe,Dezembro. p. 129-156.
CÂNDIDO, MANUELINA MARIA DUARTE.2004 Arqueologia musealizada: patrimônio cul-
tural e preservação em Fernando deNoronha. São Paulo: FFLCH/USP. (Disser-tação de Mestrado em Arqueologia).
CÂNDIDO, MANUELINA MARIA DUARTE2003 Ondas do Pensamento Museológico Bra-
sileiro. Lisboa: ULHT. (Cadernos deSociomuseologia, 20). 259 p.
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0143
44
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
FUNARI, PEDRO PAULO A.2003 Arqueologia. São Paulo: Contexto.
FUNARI, PEDRO PAULO A.2000 “Como se tornar arqueólogo no Brasil” in
Revista USP, 44, 74-85. São Paulo: EDUSP.FUNARI, PEDRO PAULO A.; ROBRAHN-GONZALEZ,ERIKA (Eds.).
2006 Revista de Arqueologia Pública. Campinas:NEE/Unicamp.
JORGE, VÍTOR OLIVEIRA2000 Arqueologia, Património e Cultura. Lisboa: Ins-
tituto Piaget. (Coleção O Homem e a Cidade)MARTINS, LUCIANA CONRADO
2000 Arqueologia de salvamento e os desafiosdos processos de musealização. São Pau-lo: MAE/USP. (Monografia do Curso de Es-pecialização em Museologia)
MILDER, SAUL EDUARDO SEIGUER (Org.).2006 As Várias Faces do Patrimônio. Santa Ma-
ria: Pallotti.
NEVES, EDUARDO GÓES.2006 Arqueologia da Amazônia. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor. (Coleção Descobrindo o Brasil)PROUS, ANDRÉ.
2006 O Brasil antes dos brasileiros: a pré-históriado nosso país. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
SCHMITZ, PEDRO I.1988 “O Patrimônio Arqueológico Brasileiro” in
Revista de Arqueologia, vol. 05, Rio deJaneiro, SAB, pp. 11-18.
TAMANINI, E.1999 Museu, Educação e Arqueologia: Prospecções
entre Teoria e Prática. Revista do Museude Arqueologia e Etnologia da USP, SãoPaulo, p. 339-345.
TAMANINI, E..1998 Museu, Arqueologia e o Público: um Olhar
Necessário. In: FUNARI, Pedro Paulo.Cultura Material e Arqueologia Histórica,Campinas - SP, p. 179-220.
ANEXO 1
Lista de matérias que mencionam aArqueologia no ano 2000
Folha de São Paulo
Mostra celebra Brasil 500 com 5.800 obras (07/01/2000)A saga de Ramsés e o preço do estrelato faraônico
(08/01/2000)Arranha-céu serve de fundo para ruína de Tiro (17/
01/2000)Viagem pela Costa é volta ao passado (17/01/2000)História é resgatada na terra e no mar (17/01/2000)O verdadeiro Armageddon (30/01/2000)Arqueóloga diz que fósseis no Piauí podem ter 15
mil anos (10/02/2000)Descoberta em Recife primeira sinagoga (08/02/2000)Romanos passaram pela América (10/02/2000)Ilhabela concentra 21 navios naufragados em sua
costa (12/02/2000)Lendas do mar viram realidade em Ilhabela (12/02/2000)Paraná guarda últimos trechos da estrada indígena
que cortava a América do Sul (20/02/2000)Produtor rural preserva trilha (20/02/2000)Cabeza de Vaca usou caminho (20/02/2000)
Parabéns para quem? (22/02/2000)Evento exibe 6.500 obras no Ibirapuera (22/02/2000)Sinagoga será centro de cultura judaica (28/02/2000)SP ganha “oca mais bonita do mundo” (28/02/2000)Equipe encontra artefatos de 800 mil anos (03/03/2000)USP quer idéias de uso para casa tombada (11/03/2000)Historiadores e aventureiros disputam sobra de
naufrágios (19/03/2000)União tem posse de objetos (19/03/2000)500 anos de naufrágios (19/03/2000)A falha arqueológica do Brasil (19/03/2000)Arqueóloga é a alma do parque (19/03/2000)Os sítios mais polêmicos do mundo (19/03/2000)Masp festeja 100 anos de Bardi com mostra (23/02/
2000)Masp acelera reforma para homenagear Bardi (25/
02/2000)Civilização luxuosa (25/03/2000)Mandioca e cerâmica colorida (25/03/2000)
Periódicos
Ciência Hoje. Ano 2000.Folha de São Paulo. Anos 2000 e 2006.Revista Veja. Ano 2000.
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0144
45
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
Em busca de Maíra (25/03/2000)Como surgiram os tupis (25/03/2000)Como vivem os indígenas hoje (25/03/2000)Brinque de arqueólogo (25/03/2000)O Bambi da pré-história (25/03/2000)Seis grupos que habitaram o Brasil (25/03/2000)Como é o trabalho do arqueólogo (25/03/2000)Montanhas de conchas (25/03/2000)Casas debaixo do chão (25/03/2000)Antes de o Brasil existir (25/03/2000)Pé na estrada (25/03/2000)Todo mundo morava junto (25/03/2000)Retrato molecular do Brasil (26/03/2000)Ossos e demografia desvendam desaparecimento
e domesticação (27/03/2000)‘Os objetos vieram de forma legal’ (02/04/2000)Evento analisa a arqueologia no país (14/04/2000)Redescobrimento se faz com R$ 40 milhões e 15 mil
obras (19/04/2000)Artigo rebate tese sobre Kennewick (17/04/2000)Pesquisadores estão pessimistas com a arqueolo-
gia brasileira (19/04/2000)Oca (21/04/2000)Identificado corpo do filho de Felipe 2o (21/04/2000)O lascador de pedras (22/04/2000)Oca de Niemeyer ganha cores indígenas (22/04/2000)Módulos e destaques da mostra (25/04/2000)Cine caverna aborda arqueologia (28/04/2000)‘Superdomingo’ em SP atrai 170 mil pessoas (01/05/2000)Homem pré-histórico ia à praia (08/05/2000)Criticada, sinalização da exposição é toda refeita
(11/05/2000)Arte e história atraíram visitante da mostra (11/05/
2000)Conímbriga atrai pesquisador e turista (15/05/2000)Oca do Ibirapuera recebe acervos do Beaubourg e
do British Museum (20/05/2000)A fabricação das bestas (21/05/2000)Mostra temporária recria navios (22/05/2000)Pesquisadores acham cidade de 6.000 anos (24/
05/2000)Urna funerária pode ter até 2.000 anos (27/05/2000)Avião do escritor abatido em 1944 é descoberto
(29/05/2000)Dois museus podem conservar a peça (01/06/2000)Livros tentam decifrar origens das receitas (09/06/2000)Saiba mais sobre Zeugma (10/06/2000)Perda é das maiores do mundo, diz pesquisador
(10/06/2000)Egito salvou sítios arqueológicos nos anos 60 (10/
06/2000)Turquia inunda tesouros gregos e romanos (10/06/2000)Neandertais eram carnívoros vorazes e exímios pre-
dadores (13/06/2000)Fabricação de tecidos ocorreu a 27 mil anos (16/06/
2000)Construção de hotel revela restos de aldeia (19/
06/2000)
Cientistas estudam fóssil de réptil com penas maisantigo que dinossauros (23/06/2000)
Mostra do Redescobrimento faz workshop sobreconservação (25/07/2000)
Fortaleza do século 16 é descoberta na PB (26/07/2000)Redescobrimento atinge marca de 1 milhão de visi-
tantes em São Paulo (05/08/2000)Femina ludopedicus (08/08/2000)Tapeçaria asteca é encontrada no México (09/08/2000)Gruta pode abrigar mapa astronômico de 16.500
anos (10/08/2000)Invenções no Brasil (12/08/2000)Homem já saiu da África com tecnologia (12/08/2000)Barcelona transpira diversão e arte (14/08/2000)Escavação tenta achar os alicerces do primeiro co-
légio jesuíta no país (15/08/2000)Iglus de barro emergem de aldeia soterrada (21/
08/2000)Búlgaros acham palácio de líder do século 3o a.C.
(24/08/2000)Brasileiros mergulham no Titicaca (26/08/2000)Mostra chega à reta final (27/08/2000)Módulos irão para o Rio, Brasília, Europa e EUA (27/
08/2000)A segunda morte de Marajó (27/08/2000)Pesquisadores acham sítios em Ilhabela (29/08/2000)Veneza também já afundou no passado (30/08/2000)Como salvar São Marcos (30/08/2000)Em busca das raridades (01/09/2000)Alemães descobrem observatório astronômico
construído há 7.000 anos (02/09/2000)Piauí tem pinturas rupestres em miniatura (04/09/2000)Região teve duas escolas de arte em pedra (04/09/2000)‘Isso aqui é um negócio’, diz Edemar Cid Ferreira
(07/09/2000)Galeristas criticam cenografia do evento (07/09/2000)A mostra do deslumbramento (07/09/2000)Ruína na Guatemala revela nova face maia (10/09/2000)Redescobrimento termina em São Paulo hoje, às
22h (10/09/2000)Mostra do Redescobrimento inicia ‘turnê’ pelo país
(11/09/2000)No mundo (11/09/2000)Egito encontra mais de 102 múmias (12/09/2000)Exploradores acham habitação humana vários
metros abaixo do mar Negro (13/09/2000)Sítio turco pode explicar ‘dilúvios’ (14/09/2000)Mais de 900 mil pessoas visitam Mostra do
Redescobrimento de graça (14/09/2000)Chegada da National Geographic causa fim do
Superstation (24/09/2000)Cientistas iniciam caça a ‘filhos’ de Luzia (25/09/2000)Fóssil de 9.300 anos pode ser dado a índios (29/09/
2000)Sítio arqueológico é aberto ao público; Psicanálise é
tema de lançamentos (03/10/2000)Cultura traz a vida do homem das cavernas (08/10/
2000)
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0145
46
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Grécia material (08/10/2000)Um mundo das mulheres (19/10/2000)Índios já plantavam milho há 7 milênios (19/10/2000)A porta da esperança (24/10/2000)Portugal se volta para o redescobrimento brasileiro
(25/10/2000)A revolução cultural na Amazônia (29/10/2000)Arqueologia tateante (29/10/2000)Adão e Eva não se conheceram, diz estudo (31/10/2000)Eva chegou primeiro ao Éden, diz estudo (31/10/2000)Pintura rupestre italiana pode ser a mais antiga (02/
11/2000)População européia se divide em três grupos gené-
ticos principais (10/11/2000)O Império ligado na ciência (19/11/2000)Museus (22/11/2000)‘Folha e a Escola do Masp’ trata de características
da arte egípcia (24/11/2000)Conchas e cocares cobrem parede de museu (27/
11/2000)‘Fóssil vivo’ é fotografado na costa da África (02/
12/2000)
Operários acham urna indígena em Manaus (13/12/2000)A arte grega vira tema de palestra hoje na Folha
(14/12/2000)O Vale das Múmias Douradas (16/12/2000)Site mostra faraós e a esfinge (16/12/2000)Múmias de ouro são do período romano (16/12/2000)O que é egiptologia (16/12/2000)Livros para saber mais sobre a cultura egípcia (16/
12/2000)A construção das pirâmides (16/12/2000)Rainha de uns 4.000 anos (16/12/2000)Antigo Egito na internet (16/12/2000)O Egito dos faraós (16/12/2000)Religião com vários deuses (16/12/2000)A escrita egípcia (16/12/2000)Deuses e deusas (16/12/2000)Mais achados da Arqueologia; descobertas no
Amapá; pinturas pré-históricas (16/12/2000)Restauração de igreja revela presença jesuítica no
Rio (21/12/2000)Retábulo é um dos mais antigos do país (21/12/2000)O enigma da múmia (24/12/2000)
Revista Veja
Sexo à moda romana: exposição de arte eróticade Pompéia exibe aspecto menos conhecido docotidiano da cidade ressurgida das cinzas (15/03/2000)
Tesouro nos trilhos: abertura do metrô de Atenasdesencava 10000 peças históricas e construçõesmilenares (22/03/2000)
Construindo o passado: a França amplia seupatrimônio cultural com a reconstituição de umcastelo medieval e uma fragata histórica (29/03/2000)
Eles eram assim: retratos mortuários que enfeita-vam múmias revelam a fisionomia dos antigos egíp-cios (05/04/2000)
Impávido colosso: Mostra do Redescobrimento é a maiorjá feita no país, reunindo 15000 obras (26/04/2000)
Entrevista: Christian Jacq – Nós e as múmias (10/05/2000)
História afogada: represa na Turquia vai inundar
antigas cidades romanas com mosaicos de 2000anos (17/05/2000)
Ele queria ser rei: encontrado mausoléu do gover-nador egípcio cujo poder e riqueza rivalizavamcom os do faraó (31/05/2000)
Mausoléu na selva: urnas antropomorfas revelamsegredos de um povo amazônico extinto há maisde 300 anos (14/06/2000)
Escola de profissões: as matérias que ajudam naorientação vocacional (23/08/2000)
A fábrica de ouro: americanos encontram na Tur-quia os restos da primeira casa da moeda da His-tória (30/08/2000)
Indo água abaixo: pesquisa adverte que compor-tas projetadas para proteger Veneza causarãomaior estrago (06/09/2000)
Mercado na selva: ruínas de palácio mostram quehavia comércio, e não apenas guerra, entre ascidades maias (20/09/2000)
Revista Ciência Hoje
Os ‘homens do sambaqui’ foram dominados pelostupis por volta do ano 1000? Eles teriam ensina-do aos tupis as técnicas de pesca no mar, comcanoas e redes? – Pergunta da leitora IsabelRoque, respondida pela arqueóloga Maria DulceGaspar. No 160.
O Brasil antes dos portugueses – resenha do livroPré-História da Terra Brasilis, org. por Maria Cristina
Tenório, redigida por Pedro Paulo Funari. No 163.Brasil: colonização e resistência – matéria da série
Brasil 500, por Pedro Putoni. No 164.Um museu no cerrado – por Maya Mitre. No 164.Os vegetais na vida dos sambaquieiros – por Rita
Scheel-Ybert. No 165.Códice Costa Matoso – por Roberto Barros de Car-
valho. No 167.
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0146
47
ARQUEOLOGIA E PÚBLICO:PESQUISAS E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA IMPRENSA BRASILEIRA
Manuelina Maria Duarte Cândido
ANEXO 2
Lista de matérias que mencionam aArqueologia no ano 2006
Folha de São Paulo
Grupo decifra antigo computador grego (30/11/2006)Obras da BR-101 inutilizam sítio arqueológico em SC
(26/11/2006)Com achados em estrada, ferrovia gera preocupa-
ção (26/11/2006)Os artefatos achados na BR-101 (26/11/2006)Rodovia liga boa parte do litoral do país (26/11/2006)‘Gordíssima’, capital da Bahia agrada a ‘crânios’ e
praianos (23/11/2006)Mudança de porta faz público de museu multiplicar
(23/11/2006)Estudo revela segredo de arma medieval (20/11/2006)Figura asteca é uma das mais relevantes (20/11/2006)Exposição traz tesouros de civilização peruana (18/
11/2006)Destaques da exposição (18/11/2006)Caça ao tesouro (18/11/2006)Quem foi o Senhor de Sipán (18/11/2006)Casas históricas são restauradas em SP (11/11/2006)Prefeitura de São Paulo restaura casas históricas
(11/11/2006)Cérebro humano herdou gene neandertal, diz es-
tudo (10/11/2006)Primo ‘bruto’ da humanidade também tinha dieta
variada (10/11/2006)A distribuição de matrículas no ensino superior bra-
sileiro (23/10/2006)Reforma em capela traz passado colonial (20/10/2006)Ruína arqueológica pára obra em Pequim (17/10/2006)Arqueologia metropolitana (06/10/2006)A floresta dos homens (24/09/2006)Palácio inspirou livros e ópera de Mozart (21/09/2006)Objetos da Terra Santa (21/09/2006)México já possuía escrita há 3.000 anos (15/09/2006)Genes apóiam nova hipótese sobre Luzia (09/09/2006)Os competidores atuais (09/09/2006)Energia e calma resumem vida à moda riojana (31/
08/2006)Grécia (17/08/2006)Pôr-do-sol de Oía guia turista até a ponta da ilha
(17/08/2006)História se infiltra no dia-a-dia de Atenas (17/08/2006)Porto de fábulas justifica breve visita (17/08/2006)Fachada simples esconde saga de coleção (17/08/2006)Imponente, Acrópole paira acima de Atenas (17/08/2006)Jovens do Cumbe retomam sua tradição (03/08/2006)Pirataria à deriva (30/07/2006)Pântano irlandês revela livro de salmos com 1.200
anos (26/07/2006)
Pequim - 2008 encontra cemitério de eunucos (26/07/2006)
Peru cultura e arqueologia (20/07/2006)Peru incita turista a garimpar sua história (20/07/2006)Machu Picchu impressiona por estar dependurada
(20/07/2006)Trilha curta dribla excesso de companhia (20/07/2006)Costa norte procura sua vocação em ruína arqueo-
lógica (20/07/2006)Tesouro de Sipán é ícone nacional, diz arqueólogo
(20/07/2006)Em feira, venda de peças (20/07/2006)Mundo pré-incaico resiste na estrutura de Chan
Chan (20/07/2006)Recém-descoberta, múmia pode mudar face da re-
gião (20/07/2006)Guidon diz que sai do Brasil em dezembro (08/07/2006)SC encontra sambaqui de 6.000 anos (04/07/2006)Fatos fundadores (25/06/2006)Conchas são ‘jóia’ mais velha do mundo (23/06/2006)Tumba etrusca de 690 a. C é descoberta (22/06/2006)Figo da Palestina redefine data inicial da agricultura
(02/06/2006)‘Hobbit’ fazia ferramentas, diz cientista (01/06/2006)Descoberta foi marco da antropologia (01/06/2006)Coluna Mônica Bergamo (15/05/2006)5
Amapá pode ter ‘observatório’ pré-histórico (13/05/2006)
Ruínas zapotecas se enfileiram por vale a leste deOaxaca (04/05/2006)
Porto romano pára túnel na Turquia (03/05/2006)Dupla acha primatas mais velhos do país (24/04/2006)Onde fica (23/04/2006)Painel do leitor (18/04/2006)Painel do leitor (17/04/2006)SP não preserva sua memória arqueológica (16/04/2006)Prefeitura diz que exige pesquisa prévia (16/04/2006)Empresa nega ter sido avisada sobre sítio (16/04/2006)A esfinge faz plástica (15/04/2006)Mania de grandeza (15/04/2006)Fóssil traça elo entre ancestrais humanos (13/04/2006)Após incêndio, casarão é reerguido em Ouro Preto
(12/04/2006)
(5) Refere-se à mostra “Por Ti América”, no CCBB -SP,- com 250 peças arqueológicas de sete países
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0147
48
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Casarão destruído é reerguido em Ouro Preto (12/04/2006)
Jesus pediu traição, diz Evangelho de Judas (07/04/2006)
‘Dentistas’ podem ter atuado há 9.500 anos (06/04/2006)
Histórias do subterrâneo (19/03/2006)A caminho das cinzas (12/03/2006)Ilha de Páscoa teve ‘civilização-relâmpago’ (10/03/2006)Peru quer ir à Justiça por acervo de Machu Picchu
(06/03/2006)Museu do Ipiranga exibe acervo do dono do Banco
Santos (05/03/2006)América do Sul tem milho há 4.000 anos (02/03/2006)Estudo vê elo entre a Peste Negra e onda de frio
que mudou clima do planeta (28/02/2006)Sítios pré-históricos seqüestram carbono (21/02/
2006)Novo túmulo no vale dos Reis assombra arqueólo-
gos (11/02/2006)Segredo do deserto (11/02/2006)É grátis (10/02/2006)Ötzi era infértil, diz estudo de DNA (04/02/2006)Pintura sugere que China pode ter inventado o es-
qui (24/01/2006)Estudo de DNA diz que tifo era a praga de Atenas
(24/01/2006)ONG faz resgate de relíquias do mar (22/01/2006)Leme de 300 anos é tirado do fundo do mar (22/01/
2006)Patrimônio submerso está vulnerável (22/01/2006)Outros programas que levam ao passado (20/01/
2006)Casa de Edemar não deve mais virar museu (12/01/
2006)Achado revela que maias tinham hieróglifos em tem-
pos antigos (06/01/2006)Peru tem irrigação mais velha das Américas (05/01/
2006)Americana tem nova tese sobre ‘amazonas’ (03/01/
2006)Teoria propõe ocupação densa na pré-história (03/
01/2006)Floresta esconde ruínas do século 18 no litoral
paulista (01/01/2006)
Arqueólogo mapeia e fotografa a arte da Pré-histó-ria na Bahia (15/10/2006)
Relíquia do leste (31/08/2006)Desenhos ou letras? (07/08/2006)Antes de falar, neandertal criou rave (11/06/2006)Em evento raro, novo sarcófago é achado no Vale
dos Reis, Egito (05/06/2006)Arqueólogos acham múmia tatuada (17/05/2006)Roma e Pavia desfizeram-se um dia (29/03/2006)A ciência do falso testemunho (15/01/2006)Caboclo da Amazônia está no limiar da subnutrição
(27/11/2006)Arqueóloga que escreveu sobre o véu é absolvida
(02/11/2006)Roma ibérica (02/10/2006)Caras-pintadas (26/09/2006)Exposição faz uma jornada à Antigüidade (18/08/2006)São Paulo recebe exposição sobre deuses gregos
com 200 esculturas (17/08/2006)Conciliação egípcia (08/06/2006)Mostra busca visão comum da América antes de
Colombo (16/05/2006)‘1421’: eram os chineses astronautas? (02/12/2006)Camboja (23/11/2006)Distâncias se encurtam em Sergipe (16/11/2006)No sertão, cânion transmite sensação de alma la-
vada (16/11/2006)Museu arqueológico guarda 55 mil peças (16/11/
2006)Ibama pára obra ferroviária do governo Lula (18/
10/2006)Obra danifica rede colonial de água em Diamantina
(13/10/2006)SP quer tombar Palácio dos Bandeirantes (28/09/2006)Mulas ajudam a chegar ao topo de Fira, quase 600
degraus acima do cais (17/08/2006)Cancún hippie (04/06/2006)Estação lunar (21/05/2006)Ruínas zapotecas se enfileiram por vale a leste de
Oaxaca (04/05/2006)Lastarria é refúgio familiar dos fins de semana
santiaguinos (20/04/2006)Aromas do bosque (23/03/2006)Teotihuacán atrai turista desde os astecas (09/
02/2006)
Manuelina Maria Duarte Candido.pmd 02/07/2009, 13:0148
49
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 49-63.
¿ACTIVIDAD LIBERAL O LIBERTINAJE? LA PRÁCTICA LABORALEN LA ARQUEOLOGÍA DE CONTRATO EN URUGUAY.
Irina Capdepont Caffa
Resumen: El desarrollo económico y los procesos de modernizacióngestados en Uruguay, generan transformaciones afectando al patrimonioarqueológico mediante la ejecución de obras. El aumento de estas, juntocon la Ley de Impacto Ambiental forjó la ejecución de estudios de impactoarqueológico. Ello genero un crecimiento en el campo laboral que no hasido acompañado de un cambio legal, administrativo y académico. Laproblemática originada por todo ello hacen abordar y reflexionar sobre lasituación actual del accionar arqueológico, los procedimientosmetodológicos y éticos y el rol de los organismos fiscalizadores en el con-texto de la Arqueología de Contrato o Arqueología Aplicada.
Palabras Claves: Impacto Arqueológico, Campo Laboral
Introducción
Con el aumento de las obras públicas yprivadas y la existencia de la Ley de MedioAmbiente 16.464, la Dirección Nacional deMedio Ambiente contempla el relevamiento yrescate de sitios de valor cultural, situaciónque debe reflejarse en las Evaluaciones deImpacto Ambiental. La Ley de Medio Ambien-te, promulgada en 1994, cuanta con 18 Artícu-los y un Decreto Reglamentario, de los cualesse desprenden y enmarcan las ejecuciones delos Estudios de Impacto Arqueológico:
Art. 2º de la Ley de Medio Ambi-ente 16.464/94.- Se considera impac-to ambiental negativo o nocivo toda
alteración de las propiedades físicas, quí-micas o biológicas del medio ambientecausada por cualquier forma de materiao energía resultante de las actividadeshumanas que directa o indirectamenteperjudiquen o dañen: La salud, seguridado calidad de vida de la población. Lascondiciones estéticas, culturales osanitarias del medio. La configuración,calidad y diversidad de los recursosnaturales (Diario Oficial Nº 23977 1994).
Art. 12 del Decreto Reglamentario435/94.- El documento que recoja losresultados del Estudio de ImpactoAmbiental, deberá contener, como míni-mo, las características del ambiente re-ceptor, en la que se describirán las ca-racterísticas del entorno, se evaluarán lasafectaciones ya existentes y se identificaránlas áreas sensibles o de riesgo; todo elloen tres aspectos:
MUNHINA Ministerio de Educación y Cultura,Montevideo - Uruguay / FCS – Universidad del Centrode la Provincia de Buenos. [email protected]
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3949
50
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
a) Ambiente físico: agua, suelo, paisaje, etc.
b) Ambiente biótico: fauna, flora, biotaacuática, etc.
c) Ambiente antrópico: población,actividades, usos del suelo, sitios deinterés histórico y cultural. (Diario OficialNº 24/145 1994).
La Ley de Medio Ambiente y el DecretoReglamentario han contribuido a generar ungran crecimiento en lo referente al: campolaboral del arqueólogo, al conocimiento denuevas áreas y a la profundización deinformación en áreas ya conocidas. Estecrecimiento no ha sido acompañado por uncambio específico en la administración pú-blica ni en el accionar de los profesionalesinvolucrados. Lo expuesto lleva a la necesariareflexión crítica sobre la situación actual delcampo laboral en arqueología, haciendo es-pecial hincapié en los procedimientos éticosy metodológicos, en el rol de los organismosfiscalizadores (Comisión del Patrimonio Cul-tural de la Nación-CPCN, Dirección Nacionalde Medio Ambiente-DINAMA, Dirección Naci-onal de Minería y Geología-DINAMIGE) y delos profesionales que actúa sobre elPatrimonio Arqueológico.
Marco Conceptual
Para comenzar a plantear algunos de lospuntos de este trabajo, parece convenienteprimeramente mencionar los principios de losque se parte para desarrollar el tema de laArqueología de Contrato llevada a cavo a tra-vés de los Estudios de impacto arqueológico(EIArq de aquí en adelante). Algunos de estosprincipios son:
• Entender al Patrimonio Arqueológicocomprendido en tres dimensiones: comoobjeto real, como documento de las socie-dades pasadas y como recurso de las soci-edades actuales (sensus Criado 1996). Elloimplica tener que gestionarlo de forma in-tegral: inventariarlo, describirlo, analizarlo,valorarlo y difundirlo (Criado 2003).
• El adecuado tratamiento y manejo delpatrimonio arqueológico (Gestión Integralsensus Amado et al. 2002) es compatiblecon el desarrollo económico del país. Laexistencia de un sitio arqueológico en unárea determinada no imposibilita habitu-almente el desarrollo de otras actividades.
• Los EIArq frecuentemente se enmarcandentro de la práctica l iberal de laprofesión. Con ello se entiende elejercicio de una actividad intelectualprofesional sin vínculos estables conpersonas o instituciones para la prestaciónde servicios. Las relaciones laboralescesan al concluirse el acto profesional ydonde la obligación asumida por partedel profesional tiende a obtener un de-terminado resultado, en un tiempo y aun costo pactado entre los involucrados.Ello implica también la responsabilidadfrente a los actos realizados en un EIArq.
• Se concibe al EIArq como un procesocontinuo en el que interrelacionan arque-ólogos y empresas, y como una parte másdel proyecto de construcción durante sufase de diseño y planificación, lo que evitalos problemas de mayor gravedad enmomentos ulteriores de la ejecución delproyecto (Criado et al. 2004).
• Entre los objetivos de un EIArq se debenencontrar:
a - Diagnosticar, prevenir, mitigar, corregiry/o compensar el impacto sobre elPatrimonio Arqueológico, revirtiendo losefectos negativos mediante la producciónde conocimiento de relevancia científicay social.
b - Dar soluciones a problemas específi-cos relacionados con proyectos dedesarrollo o actividades económicas.
c - Gestionar de forma Integral elPatrimonio Cultural y que ese Patrimoniono sufra significativas alteraciones a tra-vés de l desarro l lo de d i ferentesemprendimientos económicos y procesosde modernización.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3950
51
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
d - Valorar los impactos y generarpropuestas de mitigación.
• Considerar las diferencias y similitudesexistentes entre la Arqueología Aplicadao de Contrato y la Arqueología Académica,ya que si bien comparten la rigurosidadmetodológ ica y la generac iónconocimientos, difieren en varios puntos(Tabla 1).
• Se entiende a la Arqueología Aplicadacomo una Arqueología que permite pen-sar la Arqueología, pensar la relación que
debe establecerse entre ésta y laSociedad, que genera nuevos valores,que contribuye a erradicar unos y a trans-formar otros. Una Arqueología Aplicadaes entonces una Arqueología desde lareflexión y para la acción, planteada enel contexto actual, en donde tienen cabi-da nuevas necesidades y viejos proble-mas, a los que podemos intentar darrespuesta manteniendo vigente el com-ponente epistemológico y axiológico quedebe acompañar toda disciplina (Barreiro2005:22).
Tabla 1
Arqueología Académicanvestigación en General
Arqueología Aplicada o de ContratoInvestigaciones en Obras Públicas/Privadas
Arqueología como disciplina para la gestióndel patrimonio arqueológico (Barreiro2005:22).
Tiempos Cortos para desarrollar las actividades.
Costos económicos altos.
Responsabilidades de todos.
Genera un ámbito laboral.
Es una necesidad social derivada deldesarrollo de las políticas de planeamiento ode infraestructuras (Cabrejas 2004).
La Arqueología como un saber-hacer-cosas(Criado 1996).
Resuelve problemas prácticos, se orientahacia su resolución y se materializa en unaoferta de servicios concreta (Criado 1996).
Rigurosidad metodológica.
Generación de Conocimientos del área estudiada.
Arqueología entendida como disciplinaindependiente del contexto social en que segenera o sólo unida a él por el cordón umbilicalde las aulas universitarias (Barreriro 2005:22).
Tiempos Largos para desarrollar las actividades.
Costos relativos.
Responsabilidades de algunos.
Genera preparación académica.
Necesidad para la generación de conocimientocientífico.
La Arqueología como saber académico.
Resuelve problemas de conocimiento particu-lares y se materializa en artículos científicos.
En la tabla se exponen de forma esquemática algunas de las similitudes y diferencias entre laArqueología Aplicada a través de la investigación en obras públicas/privadas y la Arqueología Académica.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3951
52
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
• Los EIArq generan el crecimiento delcampo laboral del arqueólogo, delconocimiento de nuevas áreas y de laprofundización de información de áreasya conocidas.
Situación actual
El Patrimonio de Uruguay no posee aúnel amparo legal, administrativo ni científiconecesario para que se pueda Gestionar deforma integral (inventariar, describir, analizar,valorar y difundir). Una de las herramientasindispensables y básicas para gestionar elPatrimonio son los inventarios. En este sen-tido, Uruguay cuenta con la Ley de Patrimonio14.040 de 1971 que establece, entre otrascosas, la necesidad de realizar y publicar elinventario del patrimonio histórico, artísticoy cultural de la nación (Diario Oficial Nº 186671971). Interesa resaltar como esta confor-mado ese inventario: el mismo cuenta con76% de bienes de la época histórica y colo-nial, 23% de la época histórica moderna y1% de bienes prehistóricos compuestos por
2 colecciones de objetos y 13 sitios con arterupestre (Registro de Monumentos Históri-cos Nacionales 2006) (Gráfico 1).
Evidentemente el inventario presenta unvacio en la representación de la prehistoriadel territorio producto de la época en el queel mismo se realizó (amparado en lahistoriografía oficialista en donde los bienespatrimoniales debían corresponderse con laidentidad colonial blanca). En dicho contexto,mediados del S. XIX, la nación va tomandoforma mediante la adopción de estrategias yvalores provenientes de Occidente (Verdesio2004). Ese vacio en el inventario, secorrespondería a un olvido del pasado, quebien podría comenzar a completarse a través,entre otras, de la información generada porlos EIArq y el interés de la administración y losprofesionales involucrados en los mismos.
Con la finalidad de observar el estado de lapráctica liberal en Uruguay y comenzar ainventariar información arqueológica, se hizo unarevisión de informes de EIArq que se encontrabanen el Departamento de Arqueología de laComisión del Patrimonio Cultural de la Nación(CPCN) – Ministerio de Educación y Cultura.
Grafico 1. En el gráfico se expresa por Departamento el número de MonumentosHistóricos Nacionales para el territorio uruguayo.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3952
53
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
En los gráficos 2 y 3 se puede observarla evolución desde 1996 de las actuacionesde EIArq llevados a cabo en Uruguay que hanpasado por la CPCN. En los mismo se evi-dencia un nítido incremente a partir de finesde 1999 y principios del 2000 en el que se
registra el aumento de las intervencionessobre el territorio, el número de arqueó-logos participantes y la cantidad de EIArqrealizados. Asimismo, de acuerdo a losdatos manejados hasta ese momento, lasobras mayormente representadas son las
Grafico 3. Se expone en el gráfico la cantidad de EIArq desarrollados entre losaños 1996 y 2004 en territorio uruguayo.
Grafico 2. En este gráfico se expone el número total de arqueólogos que hadesarrollado entre 1996 y el 2004 EIArq.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3953
54
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
correspondientes a la extracc ión deminerales en los Departamentos de SanJosé y Colonia (Grafico 4 y 5). No obstante,en los últimos años las actividades mine-ras se han incrementado en el departa-mento de Artigas.
En los relevamientos realizados se evi-dencia, que las evaluaciones de impacto ar-queológico carecen de un modelo recomen-dado por instancias profesionales y adminis-trativas, generando resultados muy disímilescon apenas puntos de coincidencia. Se ha
Grafico 5. Se expresa por Departamento el total de EIArq realizados en el correrde ocho años.
Grafico 4. Se observan los tipos y cantidad de obras en las cuales se han centradolos EIArq entre el año 1996 y 2004.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3954
55
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
observado que los criterios de evaluación delos informes presentados, así como loscriterios de la administración para abordarlos mismos, son muy dispares. Por ejemplo,en la Tabla 2 se puede observar resumida-mente datos de algunos informes en los quese presentan evidencias de materiales arque-ológicos y no se hace mención de sus carac-terísticas, lugar donde se encuentran depo-sitados, ni recomendaciones mínimas (me-didas correctoras). De forma contraria, enotros EIArq se presentan las característicasde la cultura material hallada y una serie derecomendaciones. Esta disparidad generaproblemas prácticos importantes y redundanen contra de la calidad de los trabajos endirecto perjuicio del patrimonio cultural.
Como se observa en la Tabla 2, los in-formes relevados involucran el períodocomprendido entre 1996 y principios del2005; desde la fecha aún no se ha generadoel interés, esfuerzo y compromiso conjuntode los profesionales mediante un consensoen lo referente a modelos de trabajo,metodologías de valoración, herramientaspracticas, qué hacer y cómo hacerlo. Es asíque se suscitan graves problemas (ver Ex-pedientes 0557/01, 0742/02, 0609/05 y 0122/06, 0123/06 entre otros) como ser:
- Informes de Evaluación de Impacto Ar-queológico sin las mínimas propuestasde medidas correctoras,
- Informes que pudieron realizarse sinque necesariamente el arqueólogotuviera que trasladarse a campo,
-I nformes realizados y evaluados por par-te de un mimo individuo (juez y parte),
- Controles realizados por la CPCN sinaviso previo a los responsables de losEIArq generando la inspección a lugaresequivocados, entre otros.
Las problemáticas enunciadas se hancredo debido a la ausencia de estándares queestablezcan al menos algunos lineamientosmetodológicos y técnicos para los EIArq, a laausencia de un control de gestión efectivo e
igual para todos los EIArq, al uso de criteriosdispares en las evaluación de los EIArq y lasirregularidades generadas por algunosindividuos en el manejo de asuntos deinjerencia exclusiva de la CPCN y el profesionalactuante. Asimismo, el mal manejo conceptualde la actividad arqueológica en un estudiode impacto lleva a la errónea concepción deque un sitio arqueológico es un obstáculo parael desarrollo de actividades productivas. Estaconcepción ha generado la errónea conclusiónde que la existencia de un sitio arqueológicoen un área específica imposibil ita eldesarrollo de cualquier actividad productiva.No obstante, existen profesionales queconsideran que el adecuado tratamiento ymanejo del recurso arqueológico es compatiblecon el desarrollo económico del país.
La inexistencia de asociaciones profesionalesfuertes y protocolos para abordar los EIArq,entre otros factores, hace que algunos sujetoscon su accionar generen perjuicios importantessobre el patrimonio cultural, el organismofiscalizador y el nuevo campo laboral arqueoló-gico. Conjuntamente con ello, al no poseer elorganismo fiscalizador bases claras e igualespara tratar todos los EIArq el funcionamientoliberal del ejercicio se convirtió ya en libertinaje,es decir en la perdida total de responsabilidadfrente a los actos realizados.
Cabe mencionar, que gran parte de la pro-blemática enunciada también se debe a quemuchos arqueólogos de los que hoy se dedican aestudios de impacto no se han formado en dichaactividad, ni han procurado actualizarse median-te los cursos impartidos sobre el tema en laFacultad de Humanidades y Ciencias de laEducación. Este quehacer arqueológico ha sidotomado como mero generador de capital sin con-siderar que desde hace años se imparten en va-rias partes del mundo cursos de grado y postgradoespecíficos a nivel teórico-metodológico paraabordar estudios de esa naturaleza.
Propuesta
De acuerdo a las prob lemát icasplanteadas y considerando que Uruguay no
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3955
56
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
0762
/01
0017
/03
0620
/04
0051
/04
0061
/04
0545
/00
0248
/04
0837
/01
0639
/00
0050
/04
2001
2003
2004
2004
2004
2000
2004
2001
2000
2004
Artig
as Z
anja
delo
s Ta
las
Can
elon
esSa
n Ja
cint
o
Colo
nia
Barr
anca
delo
s Lo
ros
Colo
nia
Paso
del
Min
uano
Colo
niaB
risa
sde
l Pl
ata
Colo
nia
Pich
inan
go
Mal
dona
doP.
del
Est
e
Mal
dona
doPu
nta
Salin
as
Mon
tevi
deo
Punt
a Sa
yago
Río
Neg
roM
. Bo
picu
a
Min
ería
-Pi
edra
s se
mi
prec
iosa
s
Min
ería
–C
aliz
a
Puer
to
Min
ería
–Ba
last
ro
Min
ería
–A
rena
s
Min
ería
-G
rani
to
Hab
itaci
ón
Emis
ario
Suba
cuát
ico
Puer
to
Plan
taC
elul
osa
Sitio
s Ti
poen
cap
a
Mat
eria
lsu
perf
icie
yes
trat
ifica
do
Mat
eria
lce
rám
ico
Mat
eria
lce
rám
ico
Sin
mat
eria
l
Bate
ría d
ela
Trin
idad
Cons
truc
cion
esH
istó
rica
s
Anál
isis
líti
co
Anál
isis
líti
co
Sin
anál
isis
Sin
anál
isis
Con
Anál
isis
?
Mus
eo N
acio
nal
His
toria
Nat
ural
yAn
trop
olog
ía
? ? ?
Del
imita
r Zo
naPr
otec
ción
Inte
rven
cion
es
Pros
pecc
ión
Inte
nsiv
aIn
terv
enci
ones
Segu
imie
nto
/si
n Ev
alua
ción
Suba
cuát
ica
Sin
Med
idas
Cor
rect
oras
Sin
Med
idas
Cor
rect
oras
Segu
imie
nto
Sond
eos
Segu
imie
nto
/Co
nser
vaci
ón
INFO
RM
E EN
DIN
AM
A 2
003
- 14
001/
1/00
3330
Tabl
a 2
Nº
Expe
dien
teA
ño
Dep
arta
men
toLo
calid
adTi
po O
bra
Evid
enci
as a
rqu
eoló
gica
s
Evid
enci
asTr
atam
ien
toD
epós
ito
Mat
eria
les
Med
idas
de
Cor
recc
ión
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3956
57
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
0557
/01
0741
/03
0026
/03
0079
/04
0595
/02
0551
/00
0742
/02
0080
/03
0543
/02
2001
2003
2003
2004
2002
2000
2000
2003
2002
Río
N
egro
Laur
eles
Riv
era
San
Gre
gorio
Riv
era
Zapu
cay
San
José
Sier
ra M
ahom
a
San
José
Del
ta d
el T
igre
San
José
Play
a Pa
scua
l
San
José
Sant
a Lu
cia
San
José
Km
31
San
José
Play
a Pa
scua
l
Puer
to
Min
ería
-A
urífe
ro
Min
ería
-A
urífe
ro
Min
eía
-G
rani
to
Min
ería
-A
rena
s
Min
ería
-A
rena
s
Min
ería
-A
rena
s
Min
ería
–A
rena
s
Gra
njas
Mar
ítim
as
Ocu
paci
ónPr
ehis
tóri
caH
istó
rica
Sin
evid
enci
as
Estr
uctu
ras
hist
óric
as
Sin
vest
igio
s
Mat
eria
l en
supe
rfic
ie
Mat
eria
les
trat
ifica
do
Das
áre
asde
int
eres
Sin
mat
eria
l
Sin
evid
enci
as
Aná
lisis
mat
eria
les
Anál
isis
líti
coy
cerá
mic
o
Anál
isis
líti
co
Aná
lisis
cerá
mic
a
Facu
ltad
Hum
anid
ades
yC
ienc
ias
Mus
eo N
acio
nal
His
toria
Nat
ural
yAn
trop
olog
ía
?
Mus
eo N
acio
nal
His
toria
Nat
ural
yAn
trop
olog
ía
? ?
Exca
vaci
ones
/Si
n M
edid
asC
orre
ctor
assu
bacu
átic
as
Sin
Med
idas
Cor
rect
oras
Zona
de
Excl
usió
n
Man
tene
rD
ista
ncia
s e
Inte
grid
adaf
lora
mie
ntos
Segu
imie
nto
Inte
rven
cion
espr
evia
obr
a
Inte
rven
cion
esy
excl
usió
n de
un á
rea
Sin
Med
ida
Cor
rect
ora
Segu
imie
nto
Tabl
a 2
(co
nt.
)
Nº
Expe
dien
teA
ño
Dep
arta
men
toLo
calid
adTi
po O
bra
Evid
enci
as a
rqu
eoló
gica
s
Evid
enci
asTr
atam
ien
toD
epós
ito
Mat
eria
les
Med
idas
de
Cor
recc
ión
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3957
58
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
1029
/98
0475
/04
0385
/01
0432
/04
0409
/04
0324
/02
1998
2004
1997
1999
2001
2004
2004
2004
2002
San
José
Sant
a Lu
cia
Trei
nta
y Tr
esAº
Yer
bal
Colo
nia
San
José
Sie
rra
Mah
oma
Tacu
arem
bóPa
so M
anco
Can
elon
esCa
ñada
de
los
Padr
es
Cerr
o La
rgo
Sant
a Cl
ara
Mon
tevi
deo
Punt
a Sa
rand
í
Puen
te
Min
ería
-C
aliz
a
Suba
cuát
ica
Puer
to
Bode
ga y
Rep
resa
Plan
ta M
ader
a
Min
ería
-Ba
salto
Tos
ca
Min
ería
-Ar
cilla
Play
aCo
nten
edor
es
Mat
eria
l
Mat
eria
lsu
perf
icie
estr
atifi
cado
Lític
oEs
truc
tura
His
tóric
a
Sin
evid
enci
as
Sin
evid
enci
as
Mat
eria
lsu
perf
icia
l
Estr
uctu
ras
hist
óric
as
Anál
isis
líti
co
Ana
lizad
o
Anál
isis
líti
co
Aná
lisis
?
Com
isió
n N
acio
nal
del
Patr
imon
io
Sin
Med
idas
Cor
rect
oras
Cont
rol
ySe
guim
ient
o
Segu
imie
nto
/Co
nsol
idac
ión
estr
uctu
ras
hist
óric
as
Segu
imie
nto
Sin
Med
idas
Cor
rect
oras
Segu
imie
nto
Inte
rven
cion
es
Tabl
a 2
(co
nt.
)
Nº
Expe
dien
teA
ño
Dep
arta
men
toLo
calid
adTi
po O
bra
Evid
enci
as a
rqu
eoló
gica
s
Evid
enci
asTr
atam
ien
toD
epós
ito
Mat
eria
les
Med
idas
de
Cor
recc
ión
En la
tab
la s
e pr
esen
tan
algu
nas
de la
s in
form
acio
nes
que
se r
elev
an d
e lo
s EI
Arq
pres
enta
dos
ante
la C
PCN
.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3958
59
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
cuenta con planes de Gestión Integral delPatrimonio Arqueológico, el modelo deprocesos de trabajo que se presenta se basaen la propuesta realizada por el grupo delLaboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe delInstituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento(CSIC – Xunta de Galicia). Esta propuesta seconsidera como un instrumento base paracomenzar a lograr una efectiva y dinámicagestión del patrimonio. La propuesta se baseen que todo programa de investigación,incluidos los EIArq, debe abordar, en todassus fases, los diferentes procesos de trabajo:catalogación, valoración, intervención ypuesta en valor (Criado 1996ª).
Se considera que sin una gestión efectivay eficaz los trabajos de EIArq seguirán sincumplirse con los requisitos mínimos queinvolucra un estudio de estas característicasy se continuará con el libertinaje en laactividad arqueológica; perjudicial en primerainstancia para el Patrimonio. Las fases detrabajo que se presentan de maneraesquemática (ver Amado et al. 2002, Barreiro2002, Cacheda 2004, Criado et al. 2004, en-tre otros) intenta contribuir a la gestión delos EIArq y apuesta a un cambio en elaccionar de los profesionales involucrados enlos mismos (Tabla 3).
Fase de Estudio y Evaluación
Se entiende que esta fase de estudio yevaluación del impacto que producirán diver-sos emprendimientos debe considerar lossiguientes puntos:• El objetivo principal en esta fase deberíaser diagnosticar, prevenir, mitigar, corregiry/o compensar el impacto, revirtiendo losefectos negativos mediante la producción deconocimiento.• Realización de una Oferta de Trabajo- Paraello es necesario conocer los bienesculturales del área, la documentación técni-ca del proyecto de obra, su localización,extensión y conocer los plazos con los quese cuenta. En función de esa información, seplantea el trabajo, el equipo de personas, el
período de realización y el presupuesto delmismo.• Generación de un Proyecto Arqueológico– Por un lado, debería incluirse en el Proyectouna ficha técnica en la que se especifique el tipode actuación a realizar por el emprendimiento,tipo de actuación arqueológica, zona geográ-fica de la actuación, equipo técnico de laactuación, periodo de realización, empresacontratante y presupuesto de la misma. Porotro, se resumen los objetivos del proyecto,se realiza la descripción geográfica de la zonade trabajo, se plantea la problemáticapatrimonial de acuerdo al relevamiento deantecedentes, la metodología y el plan detrabajo a llevar a cabo. Asimismo, sepresenta el equipo técnico participante.• Estudio Arqueológico - Localización desitios conocidos y sin conocer, registrados pormedio de prospecciones (prospección directasuperficial extensiva e intensiva y prospeccióndirecta subsuperficial), fichas de registro yfotografías que posteriormente serán siste-matizadas y analizadas al igual que la cultu-ra material relevada.• Valoración del impacto – Se realizar undiagnostico de los impactos que el proyectogenera sobre el patrimonio de la zona. Im-pacto existe cuando hay una afección dentrodel entorno de un sitio u área de interéspatrimonial. Para determinar el entorno deafección, hay que diagnosticar el tipo de im-pacto a generarse.• Plan de corrección – Según el diagnosticode impacto se proponen las medidascorrectoras a llevar a cabo.
Fase de Corrección
En fase de corrección de impacto debeconsiderarse:• Entre los objetivos se encuentran: contro-lar que se adopten las medidas correctorasespecificadas en la fase anterior; realizar lainspección de la obra y las remociones detierra para documentar la aparición de enti-dades arqueológicas no previstas y poner enpractica las acciones previstas en fase de
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3959
60
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Tabla 3
EVALUACIÓN
Identificar los elementospatrimoniales y su entornode protección.• Descubrimiento• Localización• Descripción• Documentación• Estudio• Valoración• Difusión de los bienes
patrimoniales
Diagnosticar el impacto• Crítico - desaparición total o parcial• Severo - grado menor de gravedad• Moderado - riesgo elativo (visual)• Compatible - inexistencia de riesgo
Evitar o prevenir laalteración o destrucción,así como proteger losbienes mediante mediadascauterlares efectivas y/opreventivas.
MedidasPreventivas / Protectoras• Señalizaciones• Protección física puntual• Prospecciones• Sondeos• Estrategias de control o
vigilancia
Identificación de loselementos patrimoniales• Estudio Cartográfico• Consultas Bibliográficas• Prospecciones intensivas y
extensivas Identificar enproyecto de obra:
• Agentes (infraestructuras,instalaciones, etc)
• Acción (actividadesconcretas que generan elimpacto)
• Afección (modificaciones delmedio físico – destrucción-alteración-distorsión)
• Momento del impacto(identificar fase de proyectoen donde el impacto sehará efectivo)
Previas al proyectodefinitivo o en fase
de ejecución
Previas al proyectodefinitivo o en fase
de ejecución
Etapa Finalidad Actuación FaseProyectode obra
CORRECCIÓN
Fase de ejecuciónfase posterior
Compensar el impactoproducido mediante unvalor agregado (plus deconocimiento).
Minimizar o Compatibilizarel impacto generandoconocimiento a partir dela afección
Medidas Paliativas• Seguimiento arqueológico• Traslado o reubicación• Intervenciones puntuales• Cambio en técnicas
constructivas
Medidas Compensatorias• Excavaciones
Modelo de fases de trabajo para el desarrollo de EIArq.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3960
61
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
estudio y evaluación para corregir, paliar,mitigar o compensar en el impacto.• Esta fase también incluye una oferta y unproyecto arqueológico de control y seguimientode obra.• Se llevan a cabo nuevas tareas de campoen la cual se constata que el proyecto de obrase corresponda con el proyecto evaluado yse realizan nuevas actividades de prospecciónen las que se pueden detectar nuevasincidencias sobre bienes culturales.• Se hacen visitas periódicas e informespuntuales. En la fase de control y seguimientose inspeccionan los nuevos perfiles expuestos,las escombreras y el entrono de los elemen-tos ya documentados en las zonas de riesgoo potenciales.• El informe final generado es el valorativo,en el que se incluyen las fichas de inventarioarqueológico, la ubicación del depósito de losmateriales y se produce la Memoria técnicafinal del Proyecto General.
Algunas reflexiones
Primeramente considerar que el intentopor contribuir a establecer al menos algunoscriterios, metodologías y sistemas de regis-tro de la información, así como contribuir alinventario patrimonial, es uno de los caminosque algunos arqueólogos hemos estamosintentando generar y seguir. Se considera queello contribuiría a la consolidación de laactividad arqueológica necesaria para llevaradelante una política que promueva elcrecimiento económico y valore la generaciónde conocimiento sobre el pasado.
Con ello se esta pretendiendo cooperaren la resolución de la controvertida relaciónentre dos tipos de intereses (progreso socio-económico y bienes cultura) que involucrandiversos actores. Es por ello que se haceentonces necesaria la participación, el diálo-go y el planteo de alternativas, por parte dela administración, propietarios, arqueólogos,consultores y empresarios, entre otros. Sehace necesario que entre esas alternativasse consideren las metodológicas relaciona-
das con la gestión del impacto sobre elpatrimonio cultural, con la finalidad de con-tribuir a una normalización de la actividadarqueológica. La gestión idónea del Patrimoniodebería ser aquella que estableciese al me-nos criterios fundamentales para poder de-cidir: que es lo que puede ser preservado(entendiéndose ello en una situación extre-ma, convengamos que no se puede parar laeconomía y desarrollo de un país para pre-servar todo lo que es evidencia cultural, porello la necesidad de un inventario que per-mita valorar los bienes); cuáles son las áre-as que deberían ser intervenidas por mediode excavaciones arqueológica; ponerse deacuerdo en que se entiende por sitio oyacimiento arqueológico (si una pieza aislada,varias piezas dispersas, agregaciones parci-almente discretas de piezas, etc); hasta quepunto la identificación del patrimonio arque-ológico significativo podría alterar o impedirla implementación de un emprendimientoeconómico, entre varios temas más.
Considerar las dos etapas de trabajoexpuestas anteriormente como requisitosmínimos para abordar estos tipos deestudios, podría ser la base para la creaciónde un programa que articule y consensue,los intereses implicados comprendiendo to-das las situaciones eventualmente pasiblesde registro y ulterior análisis. Asimismo,pueden ser tomadas para llegar a un con-senso respecto a las medias de mitigación,rescate o interdicción de a cuerdo a loshallazgos oportunamente efectuados. De estaforma no solo se lograría un consenso entre laspartes intervinientes sino que le proporcionaríaa la CPCN un mecanismo expeditivo e impar-cial para expedirse en tiempo y formarespecto a los informes y a la actuación delos profesionales involucrados en los EIArq.
Dada la situación con la que nos encon-tramos en Uruguay, merece intentar articularplanes de gestión del patrimonio que incluyanla atención a sus funciones metodológicas ycognit ivas, establec iendo cr i ter ios yprocedimientos para la identif icación,caracterización y valoración de los bienespatrimoniales. La tarea de mejorar este es-
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3961
62
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
tado de cosas evidentemente excede enalgunos puntos las posibilidades de los ar-queólogos, ya que también se requiere unatoma de posición gubernamental acerca delas polít icas a seguir con respecto alPatrimonio Cultural.
Para ir finalizando, por un lado debemosreconocer que no hemos sido capaces dedesarrollar nuestra disciplina para adaptarlaa las nuevas necesidades, como expresa Cri-ado (1996) transformándola en un saber-para-hacer cosas que se pueda aplicar a laresolución de problemas prácticos einmediatos. El dialogo entre arqueólogos, laactualización metodológica de los mismos,las modificaciones y/o adecuaciones dentro
de la legislación nacional y administrativa, asícomo en el campo científico-académico,mediante la formación de recursos humanosque permita la correcta inserción de laarqueología dentro de las esferas productivasde y para la sociedad podrían comenzar acambiar las cosas.
Mediante este trabajo se intenta contri-buir al desarrollo de una nueva etapa en loque han sido los EIArq en Uruguay, tratandode combinar la satisfacción de las demandassocioeconómicas con la producción deconocimiento sobre el pasado mediante eldesarrollo de criterios, procedimientos e ins-trumentos para la Gestión del PatrimonioCultural.
Abstract: The current economical development in Uruguay has led totransformations which affect the archaeological heritage when carryingout different enterprises. Its increasing number together with theEnvironmental Impact Law have come up with an intensification of Impactarchaeological surveys. However, the development of this kind ofarchaeological surveys hasn’t been accompanied by the legal, administrativeand academic fields. The problems generated by all this made us thinkabout the present situation of archaeology, the methodological and ethicprocedures and the role of the institutions which must control this kind ofarchaeological surveys.
Keywords: Archaological Impact, Labor field
Bibliografía
AMADO REINO, X., D. BARREIRO, F. CRIADO Y M.MARTÍNEZ
2002 Especificaciones para una gestión del im-pacto desde la Arqueología del Paisaje.TAPA 26.
BARREIRO D.2002 Un modelo de estudio de impacto arqueo-
lógico. En I Congreso de ingeniería civil,territorio y medio ambiente, pp 481-491.Madrid.
2005 Arqueología y Sociedad: una propuestaepistemológica y axiológica para una
Arqueología aplicada. Tesis Doctoral.Facu l tad de Xeograf ía e H is tor ia .Universidad de Santiago de Compostela,620pp.
CACHEDA PÉREZ, M.2004 La gestión del Impacto Arqueológico en
los paisajes culturales de montaña. EnComunicaciones del Laboratorio deArqueoloxía da Paisaxe. II Congreso In-ternacional de ingeniería civil, territorio ymedio ambiente, pp. 3-17, Santiago deCompostela, Galicia.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3962
63
¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay Irina Capdepont Caffa
CABREJAS DOMÍNGUEZ, E.2004 La corrección de impacto arqueológico en
Galicia. Análisis de experiencias en el PlanEólico y otras obras de infraestructura.En Comunicaciones del Laboratorio deArqueoloxía da Paisaxe. II Congreso In-ternacional de ingeniería civil, territorio ymedio ambiente, pp. 33-49, Santiago deCompostela, Galicia.
CRIADO BOADO, F.1996 La Arqueología del Futuro ¿el Futuro de la
Arqueología?. Trabajos de Prehistoria 53(1): 15-35. Madrid.
1996a Hacia un modelo integrado de investigacióny gestión del Patrimonio Histórico: lacadena interpretativa como propuesta.PH. Boletín Andaluz de Patrimonio Histórico,16:73-78. Junta de Andalucía, Consejeríade Cultura.
2003 Bases para una teoría arqueológica de lagestión del patrimonio cultural. Texto iné-dito en: Curso de especialización en xestiónarqueolóxica do patrimonio cultural. San-tiago de Compostela, Galicia.
CRIADO BOADO, F., D. BARREIRO MARTÍNEZ Y X.AMADO REINO
2004 Arqueología y Obras Públicas: ¿excepcióno normalidad? En Comunicaciones delLaboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe. IICongreso Internacional de ingeniería ci-vil, territorio y medio ambiente, pp. 51-74, Santiago de Compostela, Galicia.
DIARIO OFICIAL1971 Ley de Patrimonio 14.040/71. Publicada el
27 octubre de 1971 - Nº 18667. Montevideo.1994 Ley de Medio Ambiente 16.464/94.
Publicada el 26 enero de 1994 - Nº 23977.Montevideo.
1994 Decreto Reglamentario 435/94 de la Ley16.466. Publicado el 4 de octubre de 1994- Nº 24/145. Montevideo.
EXPEDIENTE 0557/012001 Informe de Estudio de Impacto. Depar-
tamento de Arqueología de la Comisióndel Patrimonio Cultural de la Nación –MEC.
EXPEDIENTE 0742/022002 Informe Estudio de Impacto. Departamen-
to de Arqueología de la Comisión delPatrimonio Cultural de la Nación – MEC.
EXPEDIENTE 0609/052005 Informe Estudio de Impacto. Departa-
mento de Arqueología de la Comisióndel Patrimonio Cultural de la Nación –MEC.
EXPEDIENTE 0122/062006 Informe Estudio de Impacto. Departamen-
to de Arqueología de la Comisión delPatrimonio Cultural de la Nación – MEC.
EXPEDIENTE 0123/062006 Informe Estudio de Impacto. Departamen-
to de Arqueología de la Comisión delPatrimonio Cultural de la Nación – MEC.
REGISTRO DE MONUMENTOS HISTÓRICOSNACIONALES
2006 Ministerio de Educación y Cultura -Comisión del Patrimonio Cultural de laNación. http://www.patrimoniouruguay.net/bienes_protegidos.htm. Actualización:Febrero, 2006.
VERDESIO, G.2004 La mudable suerte del amerindio en el
imaginario uruguayo. En Hacia unaarqueología de las arqueologíassudamericanas, pp. 115-150. Universidadde los Andes, Facultad de CienciasSociales, CESO, Bogotá, Colombia.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3963
64
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Irina Capdepont Caffa.pmd 02/07/2009, 12:3964
65
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 65-80.
INTRODUÇÃO
MOTIVOS QUE LEVARAM A DESENVOLVER OPROJETO
Através do curso de pós-gradua-ção aluno especial1 no curso de Ar-queologia oferecido no (MAE-USP
Museu de Arqueologia e Etnologia daUniversidade de São Paulo e comoestagiário voluntário no serviço téc-nico de Musealização desenvolvendomonitorias para o público infantil eadolescentes demonstrando o acervoFormas da Humanidade tivemos con-tato direto com a metodologia peda-gógica dessa instituição a qual reali-za plano de treinamento para profes-sores utilizando materiais didáticoscomo a Valise Pedagógica “Origens doHomem, Kit de Objetos Arqueológicose Etnográficos, material didático paraprofessores”. Com a gama de conhe-cimentos adquiridos no MAE notamosa necessidade de enfatizar os aspec-tos pré-históricos, históricos, geoló-
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO:UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃODO MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira *Haroldo Paes Gessoni **
Sônia Maria Sanches ***
Resumo: O Projeto Cultura e Educação: uma nova propostamuseológica regional na dimensão do Museu Histórico e Geográfico dePoços de Caldas MG, certificado de aprovação Nº. 1619/001/2004 foidesenvolvido no ano 2007, através da Lei Estadual de Incentivo a Cul-tura Nº. 12.733/97, 13.665/2000 Decreto Nº. 43.615/2003. É um pro-jeto de caráter artístico-cultural que almeja conscientizar alunos e pro-fessores das escolas da rede pública em relação as riquezas pré his-tóricas, históricas, geológicas, arquitetônicas, ecossistêmicas epaisagísticas, através de uma Ação Cultural para professores e con-fecção de Kits Artísticos Itinerantes.
Palavra Chave: Cultura - Pré-História - Geologia – História - Patrimônio.
* Lei Estadual de Incentivo a Cultura do Estado deMinas Gerais. Museu Histórico e Geográfico de Poços deCaldas. E-mail: [email protected]. (Turismólogo)** Museu Histórico Geográfico de Poços de Caldas MG.E-mail: [email protected] (Arquiteto e Urbanista)*** Museu Histórico e Geográfico de Poços de CaldasMG. E-mail: [email protected] (Pedagoga)(1) Daniel F Moreira aluno especial no curso de pósgraduação em Arqueologia MAE-USP.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4265
66
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
gicos, arquitetônicos e paisagísticosna cidade de Poços de Caldas, vistoque a cidade possui grandes rique-zas nas respectivas áreas. Para issocriamos um Kit Pedagógico Itinerantecontendo cinco gavetas “Maquetes”que irão ressaltar todos esses aspec-tos regionais de uma forma lúdicacriada através de um trabalho artísti-co confeccionado por alunos do PMJ(Plano Municipal da Juventude de Po-ços de Caldas MG). Juntamente como Kit criamos também um plano deAção Cultural que será ministrado porum Turismólogo, Arquiteto, Pedagoga.
(2) Os Kits pedagógicos representam maquetes queforam confeccionadas por alunos do PMJ- (PlanoMunicipal da Juventude de Poços de Caldas). Asmaquetes possuem cinco gavetas.(3) O contexto refere-se às riquezas naturais e cultu-rais (históricas e pré-históricas) de Poços de Caldas.
DESCRIÇÃO DO PROJETO -(Apresentação)
A proposta do projeto, dividiu-se emduas etapas: A primeira elaborou Três KitsArtísticos Culturais (Maquetes) itinerantes2.O conteúdo inserido no Kit é o contexto3 dopotencial do acervo do Museu Histórico eGeográfico.
Os Kits Artísticos Culturais percorrerãoos estabelecimentos de ensino das zonasrurais e urbanas como instrumento didáticoque será criado através de um trabalho “AR-TÍSTICO” que enriquecerá o currículo esco-lar do ensino médio e fundamental.
Planta do Kit Artístico Cultural Itinerante
CIDADE ATUALDESENVOLVIMENTO URBANO
MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICODE POÇOS DE CALDAS
MACIÇO ALCALINODE POÇOS DE CALDAS MG
FOTO SAINT HILAIREFONTE PEDRO BOTELHO
COMPLEXOARQUITETÔNICO
Terceira Gaveta
Primeira Gaveta
Segunda Gaveta
Quarta gaveta
Quinta Gaveta
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4266
67
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
Registro Fotográfico Do Kit Pedagógico
Conteúdo da Gaveta 01 - Representa a cidade de Poços de Caldas atualmente(o núcleo urbano e a Serra de São Domingos).
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4267
68
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Conteúdo da Gaveta 02 - Representa o museu Histórico e Geográfico de Poçosde Caldas MG.
Conteúdo da Gaveta 03 - Representa os diferentes tiposlitologicos identificados no Maciço Alcalino de Poços de Caldas MG.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4268
69
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
Conteúdo da Quinta gaveta - Representa a primeira Fontede Agua Termal de Poços de Caldas “ Fonte Pedro Botelho (aesquerda) . A direita representamos as descrições de AugustoSaint-Hilare ( naturalista Frances) que relata a existência de águassulfurosas detectadas em Poços de Caldas MG em 1819.
Crianças do Plano Municipal da Juventude (PMJ) confeccionando os Kits sob res-ponsabilidade do coordenador voluntário Ivan Moura Antunes.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4269
70
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Crianças do Plano Municipal da Juventude (PMJ) confeccionando os Kits sobresponsabilidade do coordenador voluntário Ivan Moura Antunes.
Para a segunda etapa, realizamos umaAção Cultural4 destinada para professoresda rede pública e possuiu o objetivo de di-vulgar as riquezas regionais, educando oscidadãos, sensibilizando-os para a necessi-dade de preservação do patrimônio históricoatravés do processo de releitura do ambien-te natural.
Nessa foi realizada a parceria com o Mu-seu Histórico e Geográfico situado na cidadede Poços de Caldas Sul de Minas Gerais.
O projeto inseriu o processo de musealição,pesquisa, comunicação, preservação e arte.
Segue abaixo o plano de Ação Culturaldestinado para professores da rede pública,nas zonas rurais e urbanas.
(4) O Plano de Ação Cultural consistiu na confecçãode apostilas e aulas expositivas destinadas aos pro-fessores de Poços de Caldas, funcionários do Museue palestras nas empresas que colaboraram com oprojeto através da Lei Estadual De Incentivo a Cultu-ra do Estado de Minas Gerais (ICMS).A empresa Incentivadora do projeto foi a Togni S.A-(Materiais Refratários), e a empresa colaboradora foia CBA (Companhia Brasileira de Alumínio-Votorantim.Como suporte e desenvolvimento do projetoenfatizamos a colaboração da AMIV (Associação dosAmigos do Museu), Prefeitura Municipal de Poços deCaldas - MG, Secretaria de Educação de Poços deCaldas MG e Museu Histórico e Geográfico.
O Plano de Ação Cultural realizou a etapa de divulga-ção do projeto confeccionando cartazes distribuídosnas escolas, Painel apresentado na IV semana deMuseologia oferecido pela Universidade de São Pau-lo USP- Brasil 2005 e uma publicação no livro Estudosde Arqueologia Histórica/organização de Pedro Pau-lo Funari e Everson Fogolare, Erechim RS (2005) ISBN85-905487-1-6.O projeto realizou a divulgação no Jornal daMantiqueira, Jornal da Cidade, Jornal Folha Popular,Jornal de Poços, Reportagem na TV Plan, Entrevistana Rádio Difusora. Essas, foram realizadas na datade 29-08-2007.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4270
71
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
Visamos potencializar relações proveito-sas entre o museu e o ensino formal.
No final de cada etapa proposta, foramenfatizadas aos grupos de professores par-ticipantes várias sugestões didáticas des-tinadas aos alunos dentro e fora da salade aula.
Abordagens do Plano deAção Cultural 01
• Plano de Ação Cultural• Primeira Abordagem• Ministrante: Daniel Fernandes Moreira.
Essa etapa teve como objetivo enfatizaraspectos ligados a evolução do vulcanismoe suas transformações magmáticas aolongo do tempo que originou a formaçãodo maciço Alcalino de Poços de CaldasMG. Procuramos englobar nessa etapa osdiferentes tipos litológicos existentes esuas relações com as atividades de in-tempéries enfatizando o surgimento daságuas termais, a ocupação dos grupospré- históricos e o contato com os colo-nizadores.
• Abordagens: “Pré-História e História”• O Maciço Alcalino de Poços de Caldas• A Geologia do Planalto de Poços de Caldas• As fissuras, águas termais e mineração.• Os índios pré-históricos e os vestígios
arqueológicos• O Francês August Saint-Hilare• Sugestões didáticas
Abordagens do Plano deAção Cultural 02
Plano de Ação CulturalSegunda Abordagem
Ministrante: Sônia Maria Sanches
Esse treinamento tem como objetivo es-pecífico contribuir com o educador (a) do
ensino fundamental no sentido de ampliarseu conhecimento da história de Poços deCaldas, obter noções da criação e modifi-cações ocorridas nos espaços museais, ela-borarem metodologias que proporcionemaos alunos o entendimento da importânciado museu de nossa cidade e incluí-lo, nãocomo expectador, mas como parte integran-te de nossa história.
• Abordagens: “Histórica”• Breve Histórico de Poços de Caldas• Histórico do surgimento dos museus
no Brasil• Trajetória do Museu Histórico Geográ-
fico de Poços de Caldas• A História da Villa Junqueira• A Associação Amigos do Museu – AMIVI• Sugestões didáticas.
Abordagens do Plano deAção Cultural 03
• Plano de Ação Cultural• Terceira Abordagem
Ministrante: Haroldo Paes Gessoni
Utilizar os bens culturais como recursodidático, analisar as vivências do passa-do, entender o momento presente e re-fletir sobre o futuro.
Durante a lgum tempo notamos odistanciamento existente entre os progra-mas adotados nas escolas e a realidadedos alunos com relação às atividadesextracurriculares. O aluno conhecia prati-camente tudo sobre História Geral, masdesconhecia a história do seu próprio bair-ro e da sua cidade.
Atualmente nos deparamos com con-teúdos mais flexíveis, programas diversifi-cados, onde os alunos mantêm um contatoconstante com o Museu e outras institui-ções, contribuindo consideravelmente noprocesso educacional, oferecendo novasopções para o trabalho didático e possibi-
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4271
72
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
litando um maior aproveitamento, tantopara o Museu, quanto para a escola.
O fato de o Museu Histórico e Geográficode Poços de Caldas ser uma instituição querealmente representa a cidade, com acer-vos emergentes da própria comunidade, fazcom que o público se identifique muito maiscom a realidade local, pois nele está regis-trada a história de vida do nosso povo e danossa cidade.
• Abordagens: “Arquitetônicas, Patrimoniaise Culturais”
• Conscientização e Preservação Patrimonial• Terminologia Patrimonial• A arquitetura do Complexo Cultural Central• A arquitetura do complexo Cultural Central• A Arquitetura dos Prédios tombados em
Poços de Caldas, uma proposta para aconscient ização e valor ização doPatrimônio.
• Sugestões didáticas.
Para o desenvolvimento dessas abor-dagens criamos uma apostila destinadaaos professores a qual está inserida emseu conteúdo, explicações detalhadas doconteúdo do Kit Pedagógico (maquetes).Dessa maneira o professor estará pre-parado para levar o Kit a escola e traba-lhar de diversas maneiras aplicando umametodologia diferenciada de acordo comseus objetivos traçados durante o ano le-tivo.
Como propostas finais foram desen-volvidas sugestões didáticas com o ob-jetivo de fixar todo o conteúdo especi-ficado no Kit e plano de ação culturalde uma forma lúdica beneficiando alu-no e professor. Esse foi um esboço ini-cial e uma síntese traçada para o pro-fessor com o intuito que crie novas su-gestões didáticas, realizando novo efei-to multiplicador beneficiando a culturae as novas gerações.
Modelo das Apostilas Confeccionadas
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4272
73
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
Esquema dos jogos inseridos nas sugestões didáticas:
Sugestão Didática 02
CAÇA-PALAVRAS
São diversas as formas de proteçãodo patrimônio cultural, encontre os nomes
Sugestão didática 01
LIGUE OS PONTOS
Desenho esquemático da Fachada doPalace Hotel
Ligue os pontos e descubra a fachada de
um dos edifícios tombados pelo CONDEPHACT– Conselho de Defesa do Patrimônio Históri-co, Artístico, Cultural e Turístico de Poços deCaldas.
Sugerimos que os professores utilizemuma adaptação podendo abranger qualqueroutro edifício.
INVENTARIAR
TOMBAMENTO
CONSERVAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO
RESTAURAÇÃO
ALORIZAÇÃO
REUTILIZAÇÃO
que signif icam ações de preservaçãourbana:
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4273
74
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Sugestão Didática 03
RECORTE E COLE
Recortar as fotos dos bens tombados pelomunicípio e relacionar com os temas, colan-do nos respectivos espaços.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4274
75
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
Sugestão Didática 04
JOGO DA MEMÓRIA
Consiste em cartas com fotos dos pre-feitos da cidade de Poços de Caldas MG, queatualmente são nomes em espaços públicos.As cartas deverão ser colocadas lado a lado
com a frente voltada para baixo. O jogadordesvira duas cartas. A cada par feito, o jo-gador retira as cartas. Ganha o jogo quemfizer maior número de pares.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4275
76
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Sugestão Didática 05
ANTEPASSADO DOS OBJETOS
O aluno (a) deverá observar atentamen-te as imagens de objetos antigos, depois re-cortar e colar no lugar indicado o mesmo
objeto moderno. Para essa atividade sugeri-mos os folhetos de propaganda distribuídosem lojas.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4276
77
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
Sugestão Didática 06
COMPLETE A FACHADA DO MUSEU
Exercício de observação para desenvol-vimento da ação motora e identificação defiguras geométricas.
Os espaços faltantes são completadospor desenhos que o aluno fará após obser-var a mesma figura completa.
OBSERVE A FACHADA DO MUSEU
COMPLETE O DESENHO DE ACORDO COM O ANTERIOR.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4277
78
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
CONCLUSÃO
O projeto Cultura e Educação proporcio-nou intercâmbio Cultural entre múltiplas áreasresgatando o valor da cultura em suas maisvariadas expressões.
AGRADECIMENTOS
Ao programa do curso de Pós-Graduaçãooferecido pelo Museu de Arqueologia eEtnologia e ao serviço Técnico de Musealização- divisão de difusão Cultural.
A Lei Estadual de Incentivo a Cultura doGoverno do Estado de Minas Gerais.
A empresa incentivadora Togni S.A Ma-teriais Refratários.
A empresa colaboradora CBA (Compa-nhia Brasileira de Alumínio) - Votorantim.
A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas MG.A Secretaria de Educação de Poços de
Caldas MG.A AMIV – Associação Amigos do Museu.Ao Museu Histórico e Geográfico de Po-
ços de Caldas.Dr. Daniel Atencio - Universidade de São
Paulo USP.Dr. Oscar Seguel. Universidade Austral
do Chile.
Drª. Márcia Angelina Alves. Universida-de de São Paulo USP.
Dr. Astolfo G Araújo. Universidade de SãoPaulo USP.
Drª. Erika M.R. González. Universidadede São Paulo USP e Núcleo de Estudos Es-tratégicos UNICAMP.
Dr. Pedro Paulo Funari. Universidade deSão Paulo USP e Núcleo de Estudos Estraté-gicos UNICAMP.
Dr. Tomas D. Dillehay. Universidade deVanderbilt EUA.
MS-Gerson Levi Méndes. Universidade deVanderbilt EUA.
MS- Carlos Rovaron. Universidade de SãoPaulo. USP.
MS- Raul Ortiz. Universidade de Campi-nas UNICAMP.
MS - Gilmar Pinheiro Henrique. Universi-dade de São Paulo USP.
Ednelson Pereira de Souza (CCPY) - Co-missão Pró Yanomami, Universidade Fedreralde Roraima.
Aos geólogos de Poços de Caldas: Dr.Resk Frahya e Dr. Don Williams.
Ivan Moura Antunes. Poços de Caldas PMJ(Plano Municipal da Juventude)
Alunos do PMJ (Plano Municipal da Ju-ventude).
Aos professores e alunos de Caldas MG.
Abstract: The Project “Culture and Education: a new proposed regionalmuseum in the size of the Museum of History and Geography of WellsCaldas MG” (Certificate 1619/001/2004) was developed in 2007 supportedby State Law for Encouragement of Culture no. 12733/97, Decree No.13665/2000. 43615/2003. It is a project of artistic and cultural characterthat aims awareness of students and teachers from public schools for thepre historic heritage, historical, geological, architectural, landscape andecosystem, through a Cultural Action for teachers and making Kits Artistictravelers.
Keywords: Culture – prehistory – geology – history – heritage.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4278
79
PROJETO CULTURA E EDUCAÇÃO: UMA NOVA PROPOSTA MUSEOLÓGICA REGIONAL NA DIMENSÃO DOMUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS MG
Daniel Fernandes Moreira, Haroldo Paes Gessoni e Sônia Maria Sanches
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ação Cultural 01
ALVES, M. A.1991 7 Culturas Ceramistas de São Paulo e Mi-
nas Gerais: Um estudo técnico-tipológico.Revista do Museu de Arqueologia eEtnologia n°1, p.71-96.
ARAÚJO, A. G. M & NEVES. W & PILÓ L.2003 Eventos de seca durante o Holoceno
no Brasil: Possíveis explicações para oentendimento da variabilidade culturalno período paleoíndio (11.000-8.000A.P.). CD - Anais do XII Congresso daSociedade Brasileira de Arqueologia,(Arqueologia das Américas), realizadoem São Paulo.
ATENCIO D. & COUTINHO J, & ULBRICH M. N. C.1999 Hainite from Poços de Caldas, Minas Ge-
rais, Brazil. The Canadian Mineralogist. Vol37, pp. 91-98.
BRUNO, MARIA CRISTINA OLIVEIRA, VASCONCELLOS,CAMILO DE MELLO
1989 A proposta educativa do Museu de Pré-História Paulo Duarte. Revista de Pré-His-tória, São Paulo, n.7, p.161-182.
DIAS JR.1971 “Breves notas a respeito das pesquisas
do PRONAPA no Sul de Minas Gerais”. In:Programa Nacional de Pesquisas. Resul-tados preliminares do quarto ano. 1968-69. Publ. Avulsas Museu Emílio Goeldi,Belém, 15: 133-138,il.
FUNARI, P. PAULO & FOGOLARI. E2005 Estudos de Arqueologia Histórica; Erechim RS.
FUJIMORI K.1974 Minerais Radioativos do Campo Agosti-
nho, Poços de Caldas (MG). Tese LivreDoc. Inst. Geociências. Universidade deSão Paulo.
GUARNIERI, W R.C.1990 Conceito de cultura e sua inter-relação
com o patrimônio cultural e preserva-ção. Cadernos Museológicos, Rio de Ja-neiro, n.3, p.7-12.
GONZALEZ, E. M. R.2000 Arqueologia em Perspectiva: 150 anos de
prática e reflexão no estudo do nossopassado. W. Neves (org.) Dossiê Antesde Cabral EDUSP.
GORSKY V. A. E GORSKY E.1974 Contribuição à Mineralogia e Petrografia
do Planalto de Poços de Caldas. Compa-nhia Nacional Energia Nuclear. Rio de Ja-neiro: vol.13,93 p.
INSTITUTO MOREIRA SALLES1990 Memórias de Poços de Caldas. Poços de
Caldas: Casa da Cultura. 23p.INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍS-TICO NACIONAL
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos.Site: www.iphan.gov.br.
MEGALE, NILZA BOTELHO1990 Memórias Históricas de Poços de Caldas.
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. 235p.MENDES-SILVA
2006 Caçadores -co le to res na Ser ra deParanapiacaba durante a transição doholoceno médio para o tardio (5920-1000anos AP). São Paulo - MAE-USP - Disser-tação de Mestrado.
CURT NIMUENDAJU1987 Mapa etnohistórico - Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística em co-laboração com a Fundação Nacional Pró-Memória. Rio de Janeiro: IBGE.
MORAIS, J. L.2000 Tópicos de Arqueologia da Paisagem. Re-
vista do Museu de Arqueologia. São Pau-lo, 10:3-30.
MORAIS, J. L.1999 A Arqueologia e o Fator Geo. Rev. do Museu de
Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 9: 3-22.MOURÃO, B. M.
1992 Medicina Hidrológica – Moderna Terapêu-tica das Águas Minerais e Estâncias deCura. Ed. Prima.
PONTES, HUGO2004 A Poesia das Águas: Retratos escritos de Po-
ços de Caldas. Poços de Caldas: Ed. Sulminas.PROUS, A.
1992 Arqueologia Brasileira, Universidade de Brasília.RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE POTENCIAL AR-QUEOLÓGICO
2004 Área do decreto DNPM 834.761/93. Mine-ração Curimbaba Ltda. Município de Poçosde Caldas – MG: (MC Consultoria, Ltda).
SAINT-H, A.1779-1853 Viagem à Província de São Paulo. Univer-
sidade de São Paulo. Série Coleção Re-conquista de Brasil. 1976.
MARRAS, STÉLIO2004 A propósito de águas virtuosas e ocorrên-
cias de uma estação balneária no Brasil.Belo Horizonte: Editora UFMG.
SLAVEC, B. G & MANTOVANI. M & SHUKOWSKY. W.2004 Estudo Gavimétrico do Maciço Alcalino
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4279
80
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Ação Cultural 03
MOURÃO, MÁRIO1951 Poços de Caldas – Síntese Histórico-social.
2ª edição. São Paulo, SP: Oficinas Gráficasde Saraiva S.A.
1933 Poços de Caldas – Esboço Histórico, ÁguasMineraes Sulfurosas. Rio de Janeiro: Pa-pelaria Velho.
OTTONI, HOMERO BENEDICTO1960 Poços de Caldas. São Paulo. SP: Editora
Anhambi. Oficinas de Artes Gráficas Bisordi S.A.FRANCO, GABRIEL JUNQUEIRA; JUNQUEIRA, LUIZALBERTO FRANCO
1983 Família Franco – Genealogia e História.Poços de Caldas, MG: Gráfica D. Bosco.
MOURÃO, BENEDICTUS MÁRIO1998 Quarteto Construtor de Poços de Caldas
e epopéia de Pedro Sanches. Poços deCaldas, MG: Gráfica Sulminas.
PIMENTA, REYNALDO DE OLIVEIRA1998 O Povoamento do Planalto da Pedra Branca
– Caldas e Região. Obra póstuma: Reynaldode Oliveira Pimenta. Complemento: Colchade Retalhos/Marta Amato. São Paulo: s. ed.
SEGUSO, MÁRIO1999 Os Admiráveis Italianos de Poços de Cal-
das – 1884-1915. Poços de Caldas, MG:Gráfica D. Bosco.
PRADO, ALEXMemorial da Companhia Geral de Minas.História da Mineração no Planalto de Po-ços de Caldas. Poços de Caldas, MG: San-ta Edwiges Artes Gráficas, Tietê, SP: 2001.
MEGALE, NILZA BOTELHO2002 Memórias Históricas de Poços de Caldas.
2ª edição revisada e ampliada. Poços deCaldas, MG: Gráfica Sulminas.
de Poços de Caldas. Revista Brasileirade Geociências, volume 34 (2): 275-280.
SPIX, J. B. VON & MARTIUS, F. VON1976 Viagem pelo Brasil. São Paulo: Ed. Me-
lhoramentos.WILLIAMS, DON. PRADO, ALEX
2001 Memorial da Companhia Geral de Minas -História da Mineração de Poços de Caldas.
Ação Cultural 02
CADERNO DE DIRETRIZES MUSEOLÓGICAS I2002 Belo Horizonte: Secretaria de Estado da
Cultura/Superintendência de Museus.MEGALE, NILZA BOTELHO
2002 Memórias Históricas de Poços de Caldas.Poços de Caldas: Gráfica e Editora Sulminas.
PONTES, HUGO1999 110 Anos de Imprensa Poços-caldense.
Poços de Caldas: Gráfica e Editora Sulminas.
2006 Artigo sobre a criação da Associação Ami-gos do Museu.
SANTOS, FAUSTO HENRIQUE DOS2000 Metodologia Aplicada em Museus. São
Paulo: Editora Mackenzie.SANTOS, MARIA C. T. M.
1987 Museu, Escola e Comunidade – Umaintegração necessária. Ministério da Cultu-ra. Sistema Nacional de Museus. Salvador.
ULBRICH H. H. E GOMES C. B.1981 Alkaline rocks from continental Brazil. Earth
Science Rev. 17, 135-154.ULBRICH H. H. ULBRICH M. N. C.
1992 O Maciço Alcalino MG-SP - CaracterísticasPetrográficas e Estruturais. Roteiro deExcursão do 37º Congresso Brasileiro deGeologia, SBG/SP Vol. 5 - São Paulo-SP.
Daniel - Haroldo - Sonia.pmd 02/07/2009, 12:4280
81
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008. pgs. 81-92.
SOB FOGO CRUZADO:ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL
Lúcio Menezes Ferreira*
“Não podíamos compreender porque estávamos longe demais,e não lembrávamos porque estávamos viajando na noite das primeiras Eras,
de épocas que haviam desaparecido (...). O lugar parecia extraterreno.Estávamos habituados a vê-lo sob a forma de um monstro agrilhoado e domado,
mas ali – o que víamos ali era uma coisa monstruosa e livre”(Joseph Conrad. O Coração das Trevas, 1902)
“O mar da História é agitado.As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las.
Rompê-las ao meio, cortando-as,Como uma quilha corta as ondas”
(Maiakovski. E então, que quereis...?, 1927)
Resumo: O objetivo deste artigo é o de discutir os métodos da ArqueologiaComunitária. Antes, porém, argumenta-se que a Arqueologia comunitária,como uma das vertentes da pesquisa arqueológica mundial, quase semprese insere em meio aos conflitos sociais. Em primeiro lugar, porque ela nãopode furtar-se de um legado duradouro: as relações históricas que a Ar-queologia manteve com o nacionalismo e o colonialismo. Em segundo lugar,porque ela, para firmar-se como gênero de pesquisa, deve enfrentar asambivalências das políticas de representação do patrimônio cultural.
Palavras-Chave: Arqueologia Comunitária, Patrimônio Cultural, Identi-dade Cultural.
(*)(UFPel) [email protected]
Arqueologia comunitária significa envol-ver a população local nas pesquisas arqueo-lógicas e nas políticas de representação dopatrimônio cultural (Marshall 2002: 211). Elatem sido extensivamente descrita como umanova teorização sobre as relações entre o
passado e o presente, a pesquisa arqueoló-gica e o público (Simpson e William 2008).Conceituaram-na, ainda, como um modo deimpulsionar a “Arqueologia vista de baixo”(“Archaeology from below”) (Faulkner 2000).Concretizá-la, como tentarei demonstrar nes-se artigo, é lidar com negociações de identi-dades culturais.
Requer, desse modo, instalar-se no cen-tro dos conflitos sociais. Pois, ao falarmos
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4781
82
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
em identidades culturais, nada é mais falsodo que o adágio clássico do liberalismo: qui-eta non movere – não se deve tocar no queestá quieto (Foucault 2004: 3). Se as insti-tuições estão em repouso, se nada se abalaou subleva, se não há descontentamento ourevolta, deixemos tudo como está. Entretan-to, no tocante à definição de identidades cul-turais, sobretudo quando elas se reportam àArqueologia e ao patrimônio cultural, nadaestá quieto, mas em ebulição. Elas se mo-vem em mar agitado. Não transcendem omundo cotidiano, mas sim infundem noções degovernamentalidade e inculcam normas para ogoverno de populações (Bhabha 1994). São,portanto, fontes perenes de combatividade.
Assim, argumento aqui que a Arqueolo-gia comunitária, como uma das vertentes dapesquisa arqueológica mundial, está cons-tantemente sob fogo cruzado. Primeiro, por-que ela (e o mesmo aplica-se aos demaiscampos de trabalho em Arqueologia) nãopode furtar-se de um legado duradouro: asrelações históricas que a disciplina mantevecom o nacionalismo e o colonialismo. Segun-do, porque ela, para firmar-se como gênerode pesquisa, deve enfrentar as ambivalênciasdas políticas de representação do patrimôniocultural. Contudo, seus métodos, que apre-sentarei no tópico final deste artigo, podemtrazer uma série de benefícios, tanto paraas comunidades quanto para a interpreta-ção arqueológica.
Equação da Distância eGramática da Pertença
A Arqueologia comunitária percorre aesteira do movimento crítico aos modelosnormativos de cultura, que definem identida-des culturais como estanques e ontologicamentefechadas. Insere-se na margem oposta dascorrentezas políticas que constituíram histo-ricamente a Arqueologia. Herdeira do nacio-nalismo e do imperialismo do século XIX(Díaz-Andreu 2007), a Arqueologia esteve aserviço do Estado (Kohl e Fawcett 1995, Fowler1987). A Arqueologia institucionalizou-se
vocalizando identidades nacionais. Por meioda cultura material, forneceu matéria-primapalpável para a elaboração de símbolos na-cionais e vinculações ancestrais (Atkinson etall 1996). Estabeleceu as regras de uma gra-mática da pertença, incutindo nas comuni-dades o sentimento de pertencimento a umanação e a um território nacional.
A Arqueologia também foi prolífico ins-trumento do colonialismo. Sem dúvida, aolado do nacionalismo e do imperialismo, ocolonialismo esteve entre os mais importan-tes fatores estruturais da Arqueologia (Trigger1984). As pesquisas arqueológicas foram en-tusiasticamente endossadas pelas potênciascoloniais da Europa por meio da organiza-ção de museus e explorações científicas(Lyons e Papadopoulos 2002: 2). Compassa-das com os levantamentos topográficos edescrições geográficas, as pesquisas arque-ológicas adentraram o “Coração das Trevas”;timbraram os territórios nativos com a noçãode terra nullius (terras que não pertencem aninguém), isto é, classificando-os como espa-ços plenamente selvagens, demograficamentevazios, esparsamente povoados por grupos“bárbaros” e “primitivos” (Wobst 2005). Oque permitiu concebê-los como sujeitos deevicção de Direito, legitimando-se, assim, ocolonialismo (Patterson 1997).
Como diria Johannes Fabian (1983), oscontatos entre arqueólogos e antropólogosmetropolitanos e comunidades do mundocolonial caracterizaram-se pela “negação dacontemporaneidade”: os povos nativos, comoOutro cultural, foram colocados num tempodiferente àquele do observador, que seriarepresentante do progresso e da evolução;essa equação da distância redundou na clas-sificação dos povos nativos como essencial-mente “primitivos” e congelados no tempo.Durante o século XIX e mesmo até meadosdos anos 1950, essa taxonomia fundou-se,ademais, nas escavações arqueológicas. Poisos depósitos arqueológicos “mostravam” queos ancestrais dos atuais “primitivos” usavam,basicamente, os mesmos tipos de ferramen-tas e organizavam-se em estruturas sociaisfundamentalmente semelhantes.
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4782
83
Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio CulturalLúcio Menezes Ferreira
Um dos baluartes dessa interpretação foiJohn Lubbock (1843-1913). Em seu clássicoThe Prehistoric Times (1865), Lubbock, aolançar os conceitos de paleolítico e neolítico,não apenas classificou os períodos da Pré-História em entidades tecnológicas; estipuloutambém uma continuidade cultural entre gru-pos pré-históricos e os do presente,enfatizando que os indígenas da América, porexemplo, ainda fabricavam ferramentaspaleolíticas ou neolíticas e que, portanto, es-tagnaram-se no tempo (cf., p. ex: Lubbock1865: 446, 540, 542). Nesta visão, os povosnativos ainda viveriam em plena Era paleolíticaou neolítica. Segundo Tony Bennet (2004), osmuseus, com suas coleções arqueológicas eetnográficas arranjadas em série, exibiampara o público europeu exatamente esse tem-po congelado; plasmavam a imagem de umaprimitividade fossilizada, lidimando a noçãode “missão civilizadora” e o governo colonial.Daí os museus do século XIX, como já obser-varam Tim Barringer e Tom Flyn (1997),erigirem-se como expressões espaciais, cul-turais e sociais da expansão dos impérios.
A Arqueologia Clássica, por sua vez, foifundamental para ampliar a equação da dis-tância entre “primitivos” e “civilizados”. Elacimentou os alicerces da noção de Ocidentecomo lugar politicamente hegemônico emrelação às outras regiões do globo. Estipu-lando uma idéia de “longa duração”, a de queos europeus seriam herdeiros diretos (ediletos) de gregos e romanos, ou seja, depovos que no passado foram imperiais e alas-traram seus dotes culturais apolíneos mun-do afora, a Arqueologia Clássica articulou-se diretamente às ambições imperiais da In-glaterra, França, Alemanha e Estados Uni-dos; açulou a segregação “racial” e a domi-nação colonial, naturalizando a “supremacia”e a “superioridade” do Ocidente (Bernal 1987,Hingley 2000).
Como diria Aimé Césaire em seu Discur-so sobre o Colonialismo (1977 [1955]), se omundo colonial foi onde essas idéias mais seexperimentaram, a Europa também saboreouseu travo amargo. O fascismo e o nazismovividos pela Europa seriam, para Césaire, o
efeito escorpião do colonialismo europeu. AEuropa bebera do veneno das teorias do ra-cismo científico que destilara ativamente noultramar. A Arqueologia dos regimes totali-tários mostra a justeza do raciocínio deCésaire. Seja nas pesquisas pioneiras deBettina Arnold (1996), ou nos diversos estu-dos de caso reunidos numa obra recente(Legendre et all 2007), vemos como os fi-nanciamentos em Arqueologia Clássica eArqueologia Pré-Histórica figuraram maciça-mente nas políticas culturais da Alemanha ede partidos nazistas de outros países da Eu-ropa, como a Dinamarca. A Arqueologia tor-nou-se agente das idéias expansionistas, doanti-semitismo e da pródiga criação de sím-bolos nacionalistas.
É Possível Esquivar-se dos Conflitos?
Os séculos XIX e XX não se encerrarampropriamente. É verdade que assistimos, pelomenos desde o final do século XX, a um des-locamento na economia dos poderes mundi-ais: o Estado-nação possivelmente não é maiso único foco de onde o poder emana e a do-minação mundial provavelmente não se es-praia mais como uma rede lançada por umespecífico centro imperial (Gilroy 2008, Hardt& Negri 2001). Contudo, há uma imensa lite-ratura a discutir como as grandes estruturascoloniais, deslocadas após a Segunda Guer-ra Mundial, ainda exercem considerável in-fluência cultural e política no presente (cf.,p. ex: Hall 1996, MacLeod 2000, Moore-Gilbert 2000). Não surpreende, portanto, quediversas idéias da Arqueologia Nazista aindavigorem no mundo contemporâneo, como osmuseus a céu aberto. Exposições sobre Ar-queologia pré-histórica permanecem confor-mando identidades nacionais em países nór-dicos (Levy 2006). Ruínas e artefatos daGrécia seguem fabulando a imaginação na-cional local e conformando a identidade cul-tural da Europa (Hamilakis 2007).
Pode dizer-se, portanto, que o passadonacionalista e colonialista da Arqueologia nãoé fogo morto; é fogo cruzado que continua
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4783
84
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
se propagando pelo mundo contemporâneo(Gosden 1999). Representações coloniais ain-da povoam, como afirma Martin Hall, as in-terpretações contemporâneas sobre a cultu-ra material dos “países periféricos” (Hall2000). É que a Arqueologia nunca estádesvinculada de liames políticos (Champion1991) e é sempre premida pelos movimen-tos e conflitos sociais (Wood & Powell 1993).
Gostaria de dar alguns exemplos de comoo trabalho arqueológico requer necessaria-mente posicionar-se em meio aos conflitoscontemporâneos e, nos casos mais extremos,entre os disparos da guerra e da destruiçãoprogramada e sistemática do patrimônio cul-tural. Com efeito, o patrimônio cultural, estu-dado e interpretado pelos arqueólogos, estásempre subsumido a políticas de representa-ção. Dito de outro modo: como índice da for-mulação da auto-imagem de uma nação oude um grupo étnico, o patrimônio cultural éperiodicamente selecionado, re-selecionado,revisado, dispensado e, muitas vezes, inten-cionalmente destruído. Daí ele ser um pode-roso símbolo dos conflitos sociais.
Assim, em 1992, nacionalistas hindus,estribando-se em resultados de escavaçõesarqueológicas, demoliram mesquitas na Ín-dia, sob a justificativa de que elas se erigiramsobre os vestígios de seus legendários he-róis. Sérvios e croatas, durante a guerra daIugoslávia, destruíram-se não apenas comarmas de fogo, mas também simbolicamen-te, cada qual demolindo os monumentos deseus respectivos oponentes (Layton &Thomas 2001). A herança arqueológica daporção inglesa de Camarões, que incluiu edi-fícios históricos e sítios pré-históricos, éprogramaticamente abandonado e descuradopelo governo francófilo do país (Mbunwe-Samba 2001). Durante uma das mais cruen-tas fases da guerra civil na Libéria, em 2003,o Museu Nacional local foi dilapidado. Em2008, iniciaram-se os trabalhos de restaura-ção do Museu, pois, na concepção do atualgoverno liberiano, a instituição testemunhavaparte da política cultural e da memória oficialque o Presidente Ellen Johnson-Sirleaf plane-jou pessoalmente (Rowlands 2008).
Certamente esses exemplos são radicaise extremados. Mas, de todo modo, o passa-do é sempre confrontado: o patrimônio cul-tural, mesmo em contextos de miséria oca-sionados por guerra civil, integra as delibe-rações e anseios públicos, como é o caso,hoje, em Serra Leoa (Basu 2008). E mesmoque saiamos das paisagens despedaçadaspelas guerras civis, observaremos que ascomunidades preocupam-se com os resulta-dos das pesquisas arqueológicas e com assubseqüentes representações do patrimôniocultural tecidas por elas. Os indígenas do ter-ritório amazônico, no Brasil, exercem pres-são crescente sobre arqueólogos e órgãospúblicos, manifestando ansiedade quanto aodestino dos artefatos e aos usos do conheci-mento arqueológico (Neves 2006: 74). NaBolívia, os movimentos indígenas contra aexploração do gás natural pelas multinacionaisinspiram-se em visões arqueológicas alter-nativas do passado, avessas às interpreta-ções que os classificam como refratários àmodernidade (Kojan & Angelo 2005). Numapalavra, vários grupos indígenas, cujaspletóricas Histórias foram cobertas por este-reótipos e políticas coloniais, lutam pela auto-gestão de seus patrimônios culturais e pelarepatriação arqueológica (Sil lar 2005,Simpson 2001, Colley 2002, Funari 2001,Ferreira 2008).
Dificilmente, portanto, nos esquivaremosdos conflitos ao fazermos pesquisas arqueo-lógicas. Se nada está quieto, é preciso efeti-vamente confrontar o passado e interferir cri-ticamente, junto com as comunidades, nosprocessos de constituição de identidades cul-turais que a Arqueologia inevitavelmente pro-move. Para tanto, é necessário que defronte-mos, inicialmente, as ambivalências das políti-cas de representação do patrimônio cultural.
As Ambivalências doPatrimônio Cultural
É possível afirmar que, depois de 2001,adquirimos uma mais acurada e aguda cons-ciência do caráter seletivo que norteia as
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4784
85
Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio CulturalLúcio Menezes Ferreira
políticas de representação do patrimônio.Dois eventos marcaram esse ano: a destrui-ção de numerosos artefatos, incluindo-seduas gigantescas estátuas budistas, noAfeganistão, e o ataque ao World TradeCenter, ambos perpetrados pelo regimeTaliban. Segundo Lynn Meskell (2002), asestátuas budistas representavam, para oTaliban, um sítio de memória negativa – oato iconoclasta visava a conjurar a lembran-ça monumental da diferença religiosa noAfeganistão, cujas marcas o Taliban deseja-va apagar das linhas oficiais da identidadenacional que acalentava. Ainda conforme LynnMeskell, para boa parte da mídia, dos ar-queólogos e profissionais do patrimônio noOcidente, o ato iconoclasta representou, porsua vez, uma herança negativa – uma cica-triz permanente na memória, a lembrar osmales do fundamentalismo e da intolerân-cia, as perversidades da ortodoxia política eda violência simbólica.
A herança negativa foi invocada nova-mente a propósito do World Trade Center.Meses após o ataque, selecionou-se o lixo eos despojos oriundos das torres gêmeas parauma exposição pública na SmithsonianInstitution, o Museu Nacional dos EstadosUnidos, com sede em Washington. Criou-se,por meio dos destroços – pastas de executi-vo retorcidas, telas de computador e móveisqueimados e em frangalhos –, uma memó-ria oficial da tragédia, manipulando-se, outentando-se manipular, a dor dos parentesdas vítimas e do público em geral (Shanks etall 2004).
A manipulação da herança negativa aci-ona um mecanismo político retrospectivo,uma marcha à ré que reativa as engrenagensdas memórias do imperialismo oitocentista.Como diria Edward Said (1978), as Humani-dades, no século XIX, pintaram o Orientecomo cenário do “exótico”, da barbárie e dodespotismo; elas cavaram uma trincheira, umfosso geopolítico onde se repartiram as “di-ferenças ontológicas” entre Ocidente e Ori-ente, entre “nós” e os “outros”. As reações àimplosão das estátuas budistas, e principal-mente a exposição na Smithsonian Institution,
evidencia como a representação das diferen-ças entre Ocidente e o Oriente pode aindaser politicamente eficaz. Afinal, ela atuou emconjunto no clima de propaganda intensivaque ajudou a legitimar a guerra contra oAfeganistão e, posteriormente, contra oIraque.
Sítios de memória e herança negativas.Pode-se falar também, complementando-seos conceitos de Lynn Meskell, em sítios deherança positiva – uma reedição das pesqui-sas arqueológicas colonialistas, acionando-se as estratégias de pilhagem de artefatos ea fabricação de uma identidade ocidentalremetendo-a a sítios onde viveram “grandescivilizações”. A Guerra contra o Iraqueexemplifica o conceito de herança positiva.Além da morte de civis e da destruição deedifícios, as coleções mesopotâmicas – de“grandes civilizações”, portanto – existentesno Iraque foram “resgatadas” como botimde guerra. O caso mais famoso foi a invasãodo exército dos Estados Unidos ao Museu doIraque, em 2003. Ainda recentemente, emmaio de 2007, um militar do exército dosEstados Unidos, empunhando um documen-to da embaixada de seu país e comandandouma tropa, entrou à força no Museu doIraque. O intuito era empossar-se da insti-tuição e de suas valiosas coleções, emble-mas da “História da civilização ocidental” (Al-Hussainy & Mattews 2008).
As ambivalências das políticas de repre-sentação do patrimônio cultural residem exa-tamente nos modos de produção de sítios deherança negativa ou positiva. Eles sãoconstruídos na bigorna onde se forjam osprocessos de seleção da cultura material eas subseqüentes representações arqueoló-gicas do passado ou do presente. Pode-sesimplesmente selecionar o lixo do WorldTrade Center para montar-se uma exposi-ção; uma espécie de reciclagem de arte pós-moderna, que com despojos e fragmentosdescartáveis compõe mosaicos imperialistase arranjos de alteridade, modelando a me-mória para reforçar divisões geopolíticas eilustrar o huttingtoniano “choque de civiliza-ções”. Não é novidade que o arqueólogo tra-
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4785
86
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
dicionalmente trabalha com o lixo, com osrestos deixados por outras sociedades e quese depositaram nos arquivos da terra. Se olixo tem e pode ter valor simbólico, tambémos artefatos e monumentos, por meio dosquais se interpreta e representa o passadoou o presente, apontam significativamentepara as escolhas seletivas que constituirão opatrimônio cultural.
Isso fica claro, por exemplo, nas discus-sões dos arqueólogos especializados em res-tauro de artefatos. Em seu trabalho rotinei-ro, o arqueólogo restaurador altera fisica-mente os artefatos em nome da preserva-ção. Foca-se, em geral, nos métodos físico-químicos para a preservação dos artefatos(Cf., p. ex: Applebaum 1987, Caldararo 1987),e não nas culturas que no-los criaram e con-tinuam, algumas vezes, a usá-los. Esse índi-ce seletivo da conservação arqueológica édevotado a garantir a longevidade e essên-cia dos artefatos (cf., p. ex: Silverm & Parezo1992). Contudo, a escolha sobre o que ecomo conservar, como diz Glenn Wharton(2005), afeta irremediavelmente nossa per-cepção sobre a cultura material exibida nosmuseus. Por meio de suas intervenções, oarqueólogo restaurador imprime os valorese padrões ocidentais na cultura material dospovos indígenas (Johnson 1993, 1994). Ins-taura, portanto, suas próprias premissas cul-turais nos artefatos, perpetuando-as. Comoafirma Miriam Clavir (1996), o resultado des-tes critérios unilaterais e seletivos da con-servação arqueológica é que os povos indí-genas e, de um modo mais abrangente, ascomunidades locais, são majoritariamentealijadas dos processos de interpretação e daspolíticas de representação do patrimônio cul-tural (Clavir 1996).
Poder-se-ia com razão argumentar quenão há como restaurar um artefato semadulterá-lo. Ou ainda, como o faz CorneliusHoltorf (2006), que destruição não é antíte-se de preservação e da idéia mesma depatrimônio cultural, tanto mais na “Era doterrorismo”. Mas tal argumento essencializaas ambivalências das políticas de represen-tação do patrimônio cultural, como se perda
e destruição lhes fossem naturais e ineren-tes, e não produtos das escolhas de comopreservar e para quem preservar. Destrui-ção e perda não são imanentes ao patrimôniocultural. Resultam das seleções deliberadasdas políticas de representação. É preciso lem-brar, como o fez recentemente Jody Joy(2004), que artefatos e monumentos só setornam significativos quando são cultural-mente constituídos como tais. As relaçõessociais não se dão simplesmente entre pes-soas e grupos; elas sempre envolvem arte-fatos. Assim, as relações sociais entranham-se na materialidade. A cultura material, por-tanto, não é apenas um adendo epidérmicoda sociedade, mas pulsa no coração da vidasocial (Thomas 2005). Assim é que a pre-servação do patrimônio cultural, ao contrá-rio do que comumente se pensa, não é ape-nas para o futuro, mas, sobretudo, para opresente, para o aqui e agora, pois ele ocu-pa lugar central nos processos de socializa-ção e conflitos sociais.
Se isto é claro no que se refere aos cri-térios de restauração arqueológica, torna-seainda mais transparente em alguns enuncia-dos da Arqueologia de contrato e dasmetodologias arqueológicas de campo. Comonotaram Ian Hodder e Asa Berggren (2003)a respeito da Arqueologia de contrato quese faz em boa parte do mundo, esta, alémde não atentar para o lugar social dos ar-queólogos, seccionam em fases distintas osprocessos de escavação e interpretação dossítios arqueológicos. Mas este não é o únicoproblema. Em seu furor para “resgatar” epreservar artefatos para o futuro, a Arqueo-logia de contrato, animada por espíritosalvacionista, tem se inclinado para a des-truição planejada de sítios. Em alguns dossetores mundiais da Arqueologia de contra-to, é perfeitamente aceitável que arqueólo-gos destruam propositalmente sítios, desdeque façam registros detalhados dos contex-tos de deposição dos artefatos e que os or-ganizem em reservas técnicas para pesqui-sas futuras (Lucas 2001).
Minha intenção não é detratar a Arqueo-logia de contrato, que, diante da crescente
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4786
87
Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio CulturalLúcio Menezes Ferreira
expansão dos projetos de desenvolvimentoeconômico, tem prestado inestimáveis con-tribuições para o conhecimento histórico earqueológico. Não estou cindindo em cam-pos opostos Arqueologia de contrato e Ar-queologia acadêmica, como se a primeirasempre fosse parceira de empresáriosinescrupulosos e do Estado, e a segunda sem-pre verdadeiramente científica e crítica. Con-tudo, a Arqueologia de contrato, quandodirecionada retilínea e unicamente para ofuturo, pode incorrer num equívoco: os ar-queólogos do futuro não orientarão neces-sariamente suas pesquisas pelos mesmosproblemas e objetos dos arqueólogos do pre-sente. E, como não existe Arqueologiaapolítica, montar arquivos para o futuro nãoelidirá as diversas percepções que comuni-dades locais e povos indígenas possuem so-bre os sítios que estão sendo destruídos esobre os artefatos que estão sendo deposi-tados em reservas técnicas.
Não se pode desconsiderar, portanto, asérie de reflexões contemporâneas sobre aética das pesquisas de campo em Arqueolo-gia, recentemente sumarizadas por RichardBradley (2003). Como diz Henrieta Fourmile(1989), as comunidades conferem uma vari-edade de significados aos sítios arqueológi-cos: repositório de memórias ou mesmo fon-te de recursos alimentícios. Sobre este pon-to, Linda Tuhiwa Smith (1999), partindo doponto de vista nativo, sublinha que pesquisasarqueológicas envolvem não apenas impac-tos físicos sobre a paisagem. Elas podem serinvasivas ao quebrarem os protocolos dascomunidades sobre os lugares tidos comosagrados, poderosos ou perigosos. Uma meracaminhada para registrar sítios arqueológicospode transgredir estas regras comunitárias.Há que observar, assim, que as técnicas em-pregadas em campo, assim como aquelas quesão utilizadas para restaurar artefatos, estãoindissociavelmente atadas à posição social eepistemológica do arqueólogo.
Negá-lo implica em não reconhecer asambivalências das políticas de representa-ção do patrimônio cultural, as escolham quepermeiam a seleção da cultura material e
que, portanto, embasarão a constituição deidentidades culturais e formarão as cama-das sedimentares onde se assentarão os sí-tios de memória negativa ou positiva.Reconhecê-lo é primar pela função primor-dial da Arqueologia comunitária: perspectivaros modos por que concebemos as identida-des culturais e o próprio trabalho arqueoló-gico.
Métodos e Benefícios daArqueologia Comunitária
A Arqueologia comunitária oferece-nosmetodologias propícias para reconsiderar-mos o trabalho com o público e enfrentar-mos as escolhas quase sempre unilateraisdas políticas de representação do patrimôniocultural. Obviamente, as metodologias daArqueologia comunitária não são unívocas;variam conforme as especificidades culturaisdas comunidades e os problemas de pesqui-sa atinentes às áreas de estudo. Paraexemplificá-las, servir-me-ei das pesquisasconduzidas pela equipe de Stephanie Moserem Quseir, no Egito (Moser et all: 2002), epela síntese de Gemma Tully (2007). Ambosos trabalhos fixam algumas balizas geraispara o trabalho arqueológico comunitário.
Em primeiro lugar, enfatiza-se a neces-sidade de tornar as comunidades em agen-tes e colaboradoras ativas da pesquisa ar-queológica. Os trabalhos em campo e labo-ratório, bem como as políticas de gestão dopatrimônio cultural, devem ser discutidos edecididos conjuntamente pela equipe de ar-queólogos e a comunidade, num diálogo ecolaborações contínuos. O que conduz aoemprego e treinamento da comunidade paratrabalhar em todas as fases do projeto depesquisa, desde a prospecção de sítios àsescavações. Em seguida, como parte funda-mental dos trabalhos em Arqueologia comu-nitária, devem ser feitas entrevistas periódi-cas e pesquisas em História oral com a co-munidade. Estas permitirão o entendimentodos sentimentos e interpretações das comu-nidades diante das pesquisas arqueológicas.
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4787
88
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
Sugerem, ainda, como elas experimentam enegociam suas identidades culturais em re-lação ao patrimônio cultural revelado pelasescavações das quais são partícipes. Outrametodologia importante é a formação de umarquivo visual, em fotos e vídeos. A organi-zação de um arquivo visual das escavaçõese demais etapas da pesquisa arqueológicapossibilita que a comunidade tenha registrosdos eventos, de suas experiências e delibe-rações patrimoniais. A Arqueologia comuni-tária, nesse passo, assegura à comunidadefunção central na criação e imaginação dasformas de extroversão e apresentação pú-blica da cultura material revelada pela pes-quisa. Inclusive no quesito de como conser-var os materiais e para quem efetivamenteconservá-los, as comunidades deliberam comos arqueólogos, decidindo-se conjuntamen-te se servirão para usufruto imediato do pre-sente ou das gerações futuras.
Como se pode notar, a Arqueologia co-munitária está longe da promulgação de iden-tidades homogêneas, nacionalistas oucolonialistas. Avessa aos modelos normativosde cultura, ela parte da premissa de que opatrimônio cultural não tem valor intrínseco.Seu valor é definido por políticas de repre-sentação, cuja narrativa material, como afir-ma Lindsay Weiss (2007), pode fragmentarou sotopor memórias sociais e identidadesculturais dos grupos subalternos. A Arqueo-logia comunitária, ao protagonizar as comu-nidades no palco de atuação das pesquisas,permite-lhes decidir as formas de exibição eapresentação pública do patrimônio cultural.Oferece-lhes oportunidade para experimen-tar e discutir a especificidade histórica e an-tropológica de suas identidades culturais e asrelações que elas entabulam com patrimôniolocal. Afinal, o patrimônio cultural, nas pala-vras de Ferdinand Jong e Michael Rowlands,está intimamente associado às políticas de re-conhecimento (“politics of recognition”). Opatrimônio cultural é sempre depositário dossignos que possibilitam o auto-reconhecimen-to de uma comunidade, pois oferece os meiosmateriais para as articulações culturais entreo passado e o presente. E é através deste re-
conhecimento, no qual emergirão as lembran-ças de memórias perdidas, de sofrimento einjustiças, que os instrumentos para a recon-ciliação ou o embate com os poderes estabe-lecidos surgirão (Jong e Rowlands 2008: 132).
O trabalho arqueológico ao lado das co-munidades é primordial, como recentemen-te afirmou Paul Shackel, para a reafirmaçãode identidades locais, especialmente diantedo atual contexto de transformações ocasio-nadas pela economia global (Shackel 2004:10). De certo que as comunidades não são enunca foram passivas. Nunca estiveram qui-etas. Elas sempre se inspiraram no passadopara fundar significados culturais no presen-te; rotineiramente incorporaram objetos elugares associados às suas memórias soci-ais e às narrativas que no-las criam e sus-tentam (Bradley & William 1998). E, parafalar como Marshall Sahlins (1997), nos diasque correm, em que as forças centrífugasda “globalização” ameaçam tragar asalteridades num caldeirão cultural homogê-neo, as culturas locais, não obstante as di-versas experiências da diáspora, continuamfirmando-se em suas memórias sociais.
Nem por isso os arqueólogos devem as-sistir de camarote, de seus centros acadê-micos ou postos avançados de escavação, oespetáculo grandioso da resistência das co-munidades. Como diria Frantz Fanon (1961,35), “todo espectador é covarde ou traidor”.Se as identidades culturais, no mundo, aindatrazem as marcas e sinais do nacionalismo edo colonialismo, o trabalho arqueológico im-plica responsabilidade social e engajamentopolítico. No mundo da economia global, comopondera Ian Hodder (2002), as questões eproblemas arqueológicos não devem impor-se verticalmente; os arqueólogos têm obri-gação ética de partilhá-las e negociá-las comos interesses dos diversos grupos de umacomunidade. Nesta linha, as pesquisas emArqueologia comunitária trarão, inclusive, be-nefícios acadêmicos. Experiências arqueoló-gicas em museus australianos evidenciamque, ao trabalhar ao lado dos povos indíge-nas, conseguiu-se acomodar múltiplosparadigmas e exibir para o público os pro-
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4788
89
Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio CulturalLúcio Menezes Ferreira
cessos de interação, diálogo e tradução cul-tural (Robins 1996). Arqueólogos, tanto nosEstados quanto na Austrália, ao incorpora-rem os povos nativos e seus conhecimentostradicionais nos trabalhos em museus, apren-deram uma pluralidade de significados, an-tes insuspeitados, que as comunidades atri-buem aos artefatos (Gibson 2004) e sítiosarqueológicos (Greer et all 2002).
Por todos esses motivos, talvez seja im-portante permanecer sob fogo cruzado e in-serir-se no movimento permanente das co-munidades.
Agradecimentos
Este artigo é uma versão bastante modi-ficada de uma conferência que proferi, em 5de novembro de 2008, na mesa-redondaGestão Patrimonial e Desenvolvimento Por-tuário, um dos eventos do Ciclo Internacio-nal de Conferências: “2000 Anos de Abertu-ra dos Portos”, Patrimônio Cultural e Arque-
ologia em Zonas Portuárias, realizado naUniversidade Federal de Rio Grande (RS).Agradeço a Rodrigo Torres, organizador doevento, pelo convite para integrar a mesa-redonda. Agradeço também aos demais com-ponentes da mesa-redonda pelas discussõesensejadas, que muito contribuíram para areformulação do texto original: Dr. NortonGianuca (Departamento de Oceanologia –FURG; Secretario do Meio Ambiente da Pre-feitura Municipal de Rio Grande), Drª MariaFarría Gluchy (Universidad de la Republica,Uruguai), Tobias Vilhena (arqueólogo da 12ªSR IPHAN, Rio Grande do Sul), e ao coorde-nador da mesa-redonda, Dr. Artur HenriqueFranco Barcelos (Departamento de Arqueo-logia – FURG). Sou o único responsável peloconteúdo do artigo. Pedro Paulo Funari eFranscico Noelli, contudo, leram-no previa-mente, ajudando-me a melhorá-lo. Dedico-o a um amigo velho e velho amigo, JoséAlberione dos Reis, e aos meus mais novosamigos, Artur Henrique Franco Barcelos eAdriana Fraga da Silva.
Abstract: The aim of this paper is to discuss the methods of the CommunityArchaeology. It argues before that the Community Archeology, as one elementof the world archaeological research, falls almost always in the heart ofsocial conflicts. Firstly, because it cannot escape of the a lasting legacy: thehistorical relations that related Archeology to nationalism and colonialism.Secondly, because to establish itself as sort of research it should confrontthe ambivalencies of the policies of representation of the cultural property.
Key-Words: Community Archaeology, Cultural Property, Cultural Identity.
BIBLIOGRAFIA
APPLEBAUM, B.1987 Criteria for Treatment: Reversibi lity.
Journal of the American Institute forConservation, 26 (2): 65-73.
ATKINSON, J. A.; BANKS, I.; O’SULLIVAN, J. (Eds.).1996 Nationalism and Archaeology. Glasgow:
Cruithne Press.
BARRINGER, T; FLYN, T.1997 Colonialism and Object: Empire, Material
Culture and the Museum. London: Routledge.BASU, P.
2008 Confronting the Past? Negotiating aHeritage of Conflict in Sierra Leone. Journalof Material Culture, (13): 2, 233-247.
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4789
90
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
BENNETT, T.2004 Pasts Beyond Memory: Evolution, Museums,
Colonialism. London: Routledge.BERNAL, M.
1987 Black Athena: The Afroasiatics Roots ofClassical Civi l ization. London: FreeAssociation Press.
BHABHA, H. K.1994 The Location of Culture. London: Routledge.
BRADLEY, R.2003 Seeing Things: Perception, Experience and
the Constraints of Excavation. Journal ofSocial Archaeology, (3): 2, 151-168.
BRADLEY, R & WILLIAM, H.1998 The Past in the Past: The Reuse os Acient
Monuments. World Archaeology, (30): 1,2-13.
CALDARARO, N. L.1987 An outline history of Conservation in
Archaeology and Anthropology as Presentedthrough its publications. Journal of theAmerican Institute for Conservation, (26):85-104.
CÉSAIRE, A.1977[1955] Discurso sobre o Colonialismo. Lisboa: Li-
vraria Sá da Costa Editora.CHAMPION, T.
1991 Theoretical Archaeology in Britain. In:HODDER, I (ed.). Archaeology Theory inEurope. London: Routledge, pp. 129-160.
CLAVIR, M.1996 Reflections on Changes in Museums and
the Conservation of Collections fromIndigenous Peoples. Journal of theAmerican Institute for Conservation, (35):2, 99-107.
COLLEY, S.2002 Uncovering Austral ia: Archaeology,
Indigenous People and the Public. Sidney:Allen and Unwin.
DÍAZ-ANDREU, M.2007 A World History of Nineteenth Archaeology:
Nationalism, Colonialism, and the Past.Oxford: Oxford U. P.
FABIAN, J.1983 Time and Other: how anthropology makes
its objects. New York: Columbia Press.FANON, F.
1961 Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira.
FAULKNER, N.2000 Archaeology from Below. Public Archaeology,
(1): 1, 21-33.FERREIRA, L. M.
2008 Patrimônio, Pós-Colonialismo e Repatria-ção Arqueológica. Ponta de Lança: Histó-ria, Memória e Cultura, (1): 37-62.
FOURMILE, H.1989 Who owns the past? Aborigines as
captives of the archives. AboriginalHistory, (13): 1, 1-8.
FOUCAULT, M.2004 Naissance de la Biopolitique. Paris:
Gallimard/Seuil (Hautes Études).FOWLER, D. D.
1987 Useus of the Past: Archaeology in theService of the State. American Antiquity,(52): 2, 229-248.
FUNARI, P. P. A.2001 Public Archaeology from a Latin American
Perspective. Public Archaeology, (1): 4,239-243.
GIBSON, J.2004 Traditional Knowledge and the International
Context for Protection. Script, (1): 1, 1-35.GILROY, P.
2008 O Atlântico Negro. São Paulo: Editora 34.GOSDEN, C.
1999 Anthropology and Archaeology: A ChangingRelationship. London: Routledge.
GREER, S. et all.2002 Community-Based Archaeology in Australia.
World Archaeology, (34): 2, 265-287.HALL, M.
2000 Archaeology and Modern World: ColonialTranscripts in South Africa and theChesapeake. London: Routledge.
HALL, S.1996 When Was the Post-Colonial? Thinking at
the Limit. In: CHAMBERS, I; CURTI, L.(eds.). The Post-Colonial Question:Common Skies, Divided Horizons. London:Routledge, pp. 237-257.
HAMILAKIS, Y.2007 The Nation and its Ruins: Antiquity,
Archaeology, and National Imagination inGreece. Oxford: Oxford U. P.
HARDT, M; NEGRI, A.2001 Império. Rio de Janeiro: Record.
HINGLEY, R.2000 Roman officers and English gentlemen: the
imperial origins of Roman Archaeology.London: Routledge.
HODDER, I & BERGGREN A.2003 Social Practice, Method, and Some
Problems of Field Archaeology. AmericanAntiquity, (68): 3, 421-434.
HODDER, I.2002 Ethics and Archaeology: The Attempt at
Eatalhoyuk. Near Eastern Archaeology,(65): 3, 174-181.
HOLTORF, C.2006 Can less be more? Heritage in the Age of
Terrorism. Public Archaeology, (5): 101-109.
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4790
91
Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio CulturalLúcio Menezes Ferreira
JOHNSON, J. S.1993 Conservation and Archaeology in Great
Britain and the United States: A Comparision.Journal of the American Institute forConservation, (32): 3, 249-269.
JOHNSON, J. S.1994 Consolidation of Archaeological Bone: A
Conservation Perspective. Journal of FieldArchaeology, (21): 2, 221-233.
JONG, F & ROWLANDS, M.2008 Introduction: Postconfl ict Heritage.
Journal of Material Culture, (13): 2, 131-34.JOY, J.
2004 Biography of a Medal: People and theThings they Value. In: SCHOFIELD, J;JOHNSON, W. G; BECK, C. M. MaterialCulture: The Archaeology of TwentiethCentury Conflict. London: Routledge,132-142.
KOJAN, D; ANGELO, D.2005 Dominant Narratives, Social Violence and
the Practice of Bolivian Archaeology. Journalof Social Archaeology, (5): 3, 383-408.
KOHL, P & FAWCETT, C.1995 Archaeology in the Service of the State:
Theoretical Considerations. In: KOHL, P;FAWCETT, C (eds.). Nationalism, Politics,and the Practice of Archaeology. Cambridge:Cambridge U. P., pp. 3-20.
LAYTON, R. & THOMAS, J.2001 Introduct ion: the destruct ion and
conservation of cultural property. In:LAYTON, R & STONE, P & THOMAS, J(eds.). Destruction and Conservation ofCultural Property. London: Routledge, pp.1-21.
LEGENDRE, J; OLIVIER, L; SCHNITZLER, B.2007 L’Archéologie Nazi en Europe de l’Ouest.
Paris: Infolio.LEVY, J. E.
2006 Prehistory, Identity, and ArchaeologicalRepresentation in Nordic Museums.American Anthropologist, (108): 1, 135-147.
LUBBOCK, J.1865 The Prehistoric Times. Edinburgh: Willians
and Norgate.LUCAS, G.
2001 Destruction and the Rethoric of Excavation.Norwegian Archaeological Review, (34):35-46.
LYONS, CLAIRE L.; PAPADOPOULOS, JOHN K. (Eds.).2002 The Archaeology of Colonialism. Los
Angeles: Getty Research Institute.MACLEOD, J.
2000 Beginnings Postcolonialism. Manchester:Manchester U. P.
MARSHALL, Y.2002 What is Community Archaeology? World
Archaeology, (32): 2, 211-219.MBUNWE-SAMBA, P.
2001 Should Developing Countries Restore andConserve? In: LAYTON, R & STONE, P &THOMAS, J (eds.). Destruction andConservation of Cultural Property. London:Routledge, pp. 30-41.
MESKELL, L.2002 Negative Heritage and Past Mastering in
Archaeology. Anthropological Quaterly,(75): 3, 557-574.
MOORE-GILBERT, B.2000 Postcolonial Theory: Contexts, Practices,
Politics. London: Verso.MOSER, S ET ALL.
2002 Transforming Archaeology through Practice:Strategies for Collaborative Archaeologyand the Community Archaeology Projectat Quseir, Egypt. World Archaeology, (34):2, 220-248.
NEVES, E. G.2006 Arqueologia da Amazônia. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor.PATTERSON, T.
1997 nventing Western Civilization. New York:Monthly Review Press.
ROBINS, R.1996 Paradox and Paradigms: the changing role
in Aboriginal cultural heritage management.Ngulaig, (16): 2-32.
ROWLANDS, M.2008 Civilization, Violence and Heritage Healing
in Liberia. Journal of Material Culture, (13):2, 135-152.
SAHLINS, M.1997 O “Pessimismo Sentimental” e a Experiên-
cia Etnográfica: Por que a Cultura não éum Objeto em Via de Extinção (Parte I).Mana, (3): 1, 41-73.
SAID, E.1978 Orientalism. New York: Penguin Books.
SHACKEL, P. A.2004 Working with Communities: heritage
development and applied Archaeology. In:SHACKEL, P. A & CHAMBERS, E. J (eds.).Places in Mind: Public Archaeology as AppliedAnthropology. London: Routledge, pp. 1-16.
SHANKS, M. & PLATT, D. & RATHJE, W.2004. The Perfume of Garbaje: Modernity and
the Archaeological. Modernism/Modernity,(1): 61-83.
SILVERM, S; PAREZO, N. J (EDS.).1992 Preserving the Anthropological Record.
New York: Wenner-Gren Foundation forAnthropological Research.
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4791
92
Revista Arqueologia Pública, São Paulo, nº 3, 2008.
SIMPSON, F & WILLIAMS, H.2008 Evaluating Community Archaeology in the
UK. Public Archaeology, (7): 2, 69-90.SIMPSON, M. G.
2001 Making Representations: Museums in thePost-Colonial Era. London: Routledge.
THOMAS, JULIAN.2005 Materiality and the Social. In: FUNARI, P.
P. A; ZARANKIN, A; STOVEL, E (eds.). Glo-bal Archaeology Theory: ContextualVoices and Contemporary Thoughts. NewYork: Kluwer Academic, pp. 11-18.
TRIGGER, B. G.1984 Alternative Archaeologies: Nationalist,
Colonialist, Imperialist. Man, (19): 355-370.TUHIWAI SMITH, L.
1999 Decolonizing Methodologies: Research andIndigenous People. Dunedin: University ofOtago Press.
TULLY, G.2007 Community Archaeology: General Methods
and Standards of Pract ice. Publ icArchaeology, (6): 155-187.
WEISS, L.2007 Heritage-Making and Political Identity.
Journal of Social Archaeology, (7): 3,413-431.
WHARTON, G.2005 Indigenous Claims and Heritage Conservation:
an opportunity for critical dialogue. PublicArchaeology, (4): 199-204.
WOBST, H. M.2005 Power to the (indigenous) past and
present! Or: The theory and methodbehind archaeological theory and method.In: SMITH, C; WOBST, H. M. (eds.).Indigenous Archaeologies: DecolonizingTheory and Practice. London: Routledge,pp. 17-32.
WOOD, J. J & POWELL, S.1993 An Ethos for Archaeological Practice.
Human Organization, (52): 405-423.
Lucio Menezes Ferreira.pmd 02/07/2009, 12:4792