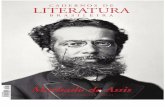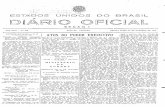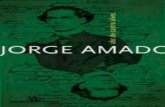(Re)Ver Machado de Castro e João José de Aguiar
Transcript of (Re)Ver Machado de Castro e João José de Aguiar
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
148
21 NOVEMBRO SESSÃO ABERTA 1 – JOSÉ-AUGUSTO FRANÇA: O LEGADO CRÍTICO E HISTORIOGRÁFICO
(Re)Ver Machado de Castro e João José de Aguiar
Miguel Figueira de Faria Universidade Autónoma de Lisboa
“Attesto que Faustino José Rodrigues foi meu Discipulo, e o melhor de todos, tanto em Tallentos como em sua Moral; por cuja causa Sua Magestade houve por
bem nomeallo por meu Substituto; cujo Lugar tem exercitado mui dignamente. Depois disto, cuido que obreticia e subrecticiamente foi nomeado outro, de Escola
mui diversa, em meu Substituto e foturo Sucessor; que a entrar neste Lugar, certamente se perderá tudo quanto até aqui se tem estudado nesta Aula; por ter
estilo totalmente contrario ao da Escolla de Alexandre Giusti com quem eu pratiquei quatorze anos.”1
Joaquim Machado de Castro
O presente trabalho insere-se num conjunto de estudos dedicados a Joaquim Machado de Castro tendo como referente a sua condição de elemento fronteira num tempo de mudança. Procurou-se realçar essa condição fronteiriça de Machado de Castro, elegendo-o como exemplo, talvez no seu meio o mais completo, de um tempo que se extinguia, confrontando-o, em permanente contexto, com outros protagonistas cujas opções ideológicas, estéticas e vocacionais melhor recortassem o perfil do mestre da estátua equestre. Neste conjunto de leituras comparativas2 reservámos ao estudo presente a relação de Machado de Castro e de João José de Aguiar procurando compreender e validar a conhecida declaração de Castro, que apresentamos em epígrafe.
O quase século de Machado de Castro
A longevidade de Machado de Castro – mais de setenta e cinco anos de exercício da arte da escultura e de cinco décadas como mestre do ofício – merece uma observação aberta e descomprometida com as convicções dominantes. É lícito equacionar se este tempo longo traduz uma constância ou deve ser examinado na expectativa de uma evolução. As diversas leituras efectuadas, ao comprimir na generalidade num único plano toda a produção, têm minimizado este aspecto que pensamos ser
1 Cf. Henrique Ferreira Lima, Machado de Castro: Escultor Conimbricense, 2.ª ed. (Coimbra: Instituto de História
da Arte, 1989), 373-374. 2 O primeiro destes diálogos foi já apresentado através da comunicação “Machado de Castro e Domingos
Sequeira: arte pública em tempo de mudança” no Colóquio Internacional Machado de Castro: Da Utilidade da Escultura, Museu Nacional de Arte Antiga, 2012. A terceira e última parte desta trilogia será desenvolvida em torno da relação de Machado de Castro e Bartolomeu da Costa, e do confronto das disciplinas da Escultura e da Fusória, no quadro da recepção da estátua equestre de D. José I na sua época e da consequente questão da hierarquização das Artes e Ciências no Portugal de finais do Antigo Regime. O presente texto é parte de uma versão mais longa a incluir num volume autónomo que reunirá o conjunto dos referidos estudos a editar no final de 2013.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
149
importante ponderar, a partir do estabelecimento de uma cronologia documentada da sua obra que se encontra em muitos casos por apurar com rigor.
Será forçoso admitirmos que Machado representa o último momento de uma continuidade, em oposição a essa “obsessão de rotura e frenesim do novo” patente na arte da escultura a partir do século XIX3, e que no plano nacional, como todos os seus condicionamentos, Aguiar representa bem. Castro, bastião da tradição, iniciou a sua carreira num ambiente oficinal de matriz corporativa ao qual pôde associar as luzes de artistas com formação académica, como José de Almeida e Giusti, ambos de escola romana, construindo com base nestes dois pólos – ambos conservadores mas de matizes diversas – os limites da sua pesquisa artística. Não podemos, neste contexto, deixar de assinalar nas primeiras obras sob a sua direcção a integração, sem sobressaltos, nessa genealogia.
Identificamos nesta fase inicial uma evidente coerência artística patente no conjunto da Fé (1773)4, coroando o frontão do palácio do Santo Ofício ao Rossio, no monumento equestre a D. José I na Praça do Comércio (1770-1775)5, sobretudo no pathos acrescentado nos grupos laterais, no Neptuno (1771?)6 hoje no Largo da Estefânia, no programa escultórico de São Vicente de Fora e nas esculturas em barro para a Quinta Real de Caxias (c. 1783)7.
Na primeira destas obras infelizmente desaparecida8 podemos detectar, nas reproduções gráficas e pictóricas que se conservaram, o movimento e dramatismo do confronto triunfante da Fé sobre a Heresia [Fig. 1]. Do mesmo modo testemunhamos a opção de Machado de Castro nas representações dos povos vencidos dos grupos laterais do monumento a D. José [Figs. 2 e 3], recorrendo a figuras reclinadas de acentuada expressão dramática, citações berninianas a que os desenhos originais de Eugénio dos Santos tão pouco o obrigavam. A mesma inclinação que ainda identificamos noutra obra do conjunto de Caxias [Fig. 4], solução evidentemente tributária dos grupos laterais do monumento a D. José.
Do conjunto de São Vicente de Fora9 elegemos São Teutónio [Fig. 5], testemunho com eloquência bastante para fecharmos este primeiro grupo, na expressão das atitudes e desenho dos respectivos panejamentos, exemplo sugestivo desse “amachucado” [Fig. 4a] de que nos fala Cyrillo10 a propósito da inspiração em Pedro de Cortona das peças de José de Almeida, o que nos reenvia sem surpresa para essa referência formativa do mestre da estátua equestre.
3 Cf. Bent Sorensen, “Sculpture”, in Dictionnaire européen des Lumières, dir. Michel Delon (Paris: PUF, 1997),
982. 4 Seguimos, à falta de outros elementos, a data de execução apresentada por Cyrillo Volkmar Machado,
Collecção de Memorias... (Lisboa: na Imp. de Victorino Henriques da Silva, 1823), 266. 5 Consideramos aqui o ano da inauguração do conjunto do monumento embora a fundição da estátua equestre
date de 1774. Os grupos laterais, segundo o autor, foram acabados em Abril de 1775 e o baixo-relevo alegórico alusivo à reconstrução de Lisboa concluído bastante mais tarde, em Março de 1795. 6 Cf. “Cronologia…”, in Joaquim Machado de Castro, o Virtuoso Criador (Lisboa: MNAA/INCM, 2012), 214-215.
7 Idem.
8 Veja-se sobre este conjunto Miguel Figueira de Faria, “Machado de Castro e Domingos António de Sequeira”
(no prelo). 9 Conjunto carente de estudo mais atento e sobretudo de investigação arquivística que lhe confira o devido
suporte documental. Sobre a atribuição da direcção das obras de escultura do baldaquino de São Vicente de Fora veja-se Machado, Collecção de Memorias, 267; Diogo de Macedo, Machado de Castro (Lisboa: Artis, 1958), 71-72 e 104-106; Sandra Costa Saldanha, “A Escultura em São Vicente de Fora: Projecto, Campanha e Autores”, in Mosteiro de São Vicente de Fora: Arte e História, coord. Sandra C. Saldanha (Lisboa: Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010), 199-204. 10
Machado, Collecção de Memorias, 254: “Nos pannos quiz imitar hum certo amarrotado de que muitos usarão Pedro de Cortona, e Cyrro Ferro, que também se acha em algumas estatuas de Carlos Monaldi”.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
150
Além da evidente influência romana confere-se, neste subgrupo de obras, a universalidade temática e domínio dos materiais que caracteriza a polivalência de Machado de Castro. Nesta primeira série, datável sensivelmente entre 1770 e 1780-85, sublinha-se uma certa unidade criativa, nomeadamente nos domínios da expressão – na definição longa do próprio escultor11 – e soluções plásticas.
Na passagem de São Vicente de Fora para o teorema de esculturas da Estrela é possível identificar uma continuidade. As obras da basílica não ostentam, porém, a mesma agitação barroca do São Teotónio e seus pares. Encontramos ainda afinidades, por exemplo, na reutilização dos modelos do referido São Teotónio e do São João da Cruz ou no paralelismo da expressão que se assinala entre Santa Mónica e Santa Teresa de Ávila.
Mas é visível uma evolução, sobretudo perceptível nos modelos em barro das estátuas da Estrela, que deixa antever uma pesquisa nas atitudes no sentido de uma presença mais serena e graciosa – vejam-se a Fé, a Gratidão, a Santa Verónica ou a Liberalidade – em concordância com as opções que Castro viria a assumir nas suas intervenções literárias. Se ao nível plástico a simplificação das formas é passível de justificação, devido à diferença dos materiais – da madeira para o mármore –, essa moderação na composição, contornos, ornatos, expressividade e movimento, no nosso ponto de vista representa uma descolagem relativamente ao primeiro conjunto. Esta evolução sem significar rotura, até porque é credível que haja aproveitamento de trabalhos anteriores, nomeadamente de parte dos modelos das Virtudes concebidos por Machado de Castro, do Arco da Rua Augusta para a fachada da Estrela, poderá conduzir-nos às opções caracterizadoras da arte do mestre da estátua equestre.
Na grande empreitada que se seguiu, relativa ao novo palácio real da Ajuda, a intervenção de Machado é tardia e digamos terminal. As suas dificuldades físicas agravaram-se a partir de 1814. Nesta fase perderia em grande parte a mobilidade pelo que as visitas à obra seriam excepcionais. Castro, nesta fase final da sua vida, operaria exclusivamente como criador de modelos que os seus mais próximos discípulos se encarregariam de passar à pedra. As três esculturas que ainda assina – sozinho, note-se12 – para a nova obra régia passaram por este processo.
Nada de novo no contexto da carteira de trabalhos de Castro. Este contínuo recurso a outras mãos não lhe era indiferente. A ausência do toque do mestre merece-lhe elucidativos comentários. De toda a sua produção em que escultura terá “manejado a matéria” em todas as fases da criação desde o desenho inicial da obra até às respectivas tarefas de acabamento? A nossa particular atenção aos modelos em barro por ele concebidos, para um melhor escrutínio da sua verdadeira maneira, justifica-se por traduzirem a regra e não a excepção. Castro foi acima de tudo um criador de modelos a que outros deram forma. É de salientar a importância que concede à capacidade de “mostrar as paixões, e viveza das figuras” e ao mérito de conseguir reproduzir “sentimentos de outrem”, como testemunho fundamental de autoria, concluindo nas suas reflexões que “esse fogo, e o zelo de o exprimir achão-se unicamente no peito do criador da peça”13.
11
Cf. Joaquim Machado de Castro, “Expressão”, in Dicionário de Escultura (Lisboa, 1937), 45-46. 12
Uma diferença visível na prática dos dois escultores é a da respectiva relação com os ajudantes e discípulos em sede de autoria. Machado de Castro pese embora as múltiplas notícias de que as suas peças tiveram outras mãos particularmente do seu discípulo dilecto Faustino José, não partilha por norma a assinatura epigrafada nas esculturas. Aguiar, pelo contrário, deixa bem explícita essa marca nas esculturas da Ajuda – Acção Virtuosa, Clemência e Constância – onde identifica o respectivo ajudante J. Gregório Viegas. 13
Joaquim Machado de Castro, Descripção Analytica da Execução da Real Estátua Equestre… (Lisboa: na Impressam Regia, 1810), 167-168. “Se a figura for executada pela propria mão, que modelou o exemplar, pode com effeito ser semelhantissima; porem a ser feita por mãos diversas, de outro, ou mais operarios, só pode achar-se esta exacta semelhança nas actitudes, contornos, pannejamentos, e ainda mesmo na correcção do desenho; sendo trabalhada por Escultor de prestimo [...] Eis-aqui o que he impossível conseguir-se cabalmente nas obras em que o Author não pode fugir de entregar-se nas mãos, e sentimentos de outrem: esse fogo, e o zelo de o exprimir, achão-se unicamente no peito do criador da peça. E posto que do modelo com
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
151
A arte de Castro
Machado de Castro deu grande importância à questão da expressão posicionando-se contra os excessos14. No seu pioneiro Discurso... insistia na necessidade de imitar “com verdade os caracteres [...] sempre vigiando que movimentos, que gestos produzem o Amor, o Odio, a Ira, a Paciência, a Soberba, a Humildade [...]”15. Ilustra, em seguida, o seu pensamento através de uma completa gama de exemplos entre os quais cita “a famosa estátua de Laocoonte”, na qual os respectivos criadores “exprimirão de tal modo a dor, e agitação, que os espectadores párão... esperão para o ver levantar! Attendem... escutão para ouvir-lhe os gemidos!!!”16. Cita, igualmente, a Retorica como fonte auxiliar da expressão “não só para que as suas Imagens, e representações exprimão bem os affectos do animo, porém, para que os movão nos espectadores”17. O citado Discurso... teve a sua primitiva edição em 1788, próximo do intervalo cronológico do referido primeiro ciclo de obras, acentuando a respectiva coerência.
Noutro texto redigido já na fase final da vida a sua leitura sobre a expressão parece suavizada apresentando como paradigmas Rafael e Poussino – “o Rafael Francês”18 o que nos comunica uma clara opção estética sem, contudo, ferir a flexibilidade que as representações devem seguir em função do carácter e paixões a materializar.
Mas se neste domínio podemos admitir uma suavização da sua arte, noutros aspectos a fronteira consolida-se. A pesquisa da expressão das paixões constitui uma das temáticas de eleição dos artistas de referência do período barroco. Sendo um dos aspectos a que Machado de Castro concede particular atenção nos seus trabalhos literários, merecerá acentuarmos que esta preocupação ajuda a melhor definir o seu tempo artístico. Machado é ainda confessadamente um artista de Trento. A fidelidade a essa ortodoxia leva-o a apresentar uma interpretação de base teológica a partir da constatação das limitações estéticas da natureza e o necessário recurso à intervenção humana no conceito do belo reunido para reconstruir a beleza ideal perdida na sequência do pecado original19.
O artigo “Antigo” do seu Dicionário de Escultura... é fundamental na percepção das orientações que seguiu. O seu teor, exposto já em fase avançada da sua vida, representa um ponto de chegada. O ataque que faz à adopção acrítica dos modelos da Antiguidade demonstra o seu antagonismo aos
especialidade emane o que mais contribue para bem mostrar as paixões, e viveza das figuras; o modo com que se maneja a matéria, não concorre pouco para o alcance destes atendíveis requisitos. Além disto, as diversas intenções, os diversos prestimos dos operarios sobalternos, faltando-lhes os motivos de se lhes inflammar a imaginativa, trabalhando servilmente, com frialdade, e tambem a medo; todo o seu cuidado (se o tem) se limita a não desarranjar a peça que se lhes confia; em acabar muito, e muitas vezes em lugares desnecessarios; em articulações que degenerão em gosto secco, e deslustra, em certo modo, as mais partes da Arte, que a direcção do chefe na obra tem espalhado”. 14
Joaquim Machado de Castro, Discurso sobre as utilidades do Desenho (Lisboa: na Offic. de António Rodrigues Galhardo, 1788), 225-226: “Se hum Pintor ou Escultor exprime qualquer affecto com frieza, falta-lhe o que a paixão requer; e por conseguinte não chegou ao Bom-Gosto. Se representa esse affecto com exageração, excede os limites; tem o superfluo; deixou perder de vista o Bom-Gosto”. 15
Idem, 226. Esta lista de Paixões pode indiciar o conhecimento do texto relativo à célebre conferência proferida na Académie Royale de Peinture et de Sculpture por Charles Le Brun em 1668 e que teve primeira edição em 1698, ou da posterior edição de Jean Audran, Expressions des passions de l’âme, 1727. A Encyclopèdie pode ter sido também a ferramenta utilizada por Castro na sua aproximação à problemática da expressão das paixões. Veja-se a propósito da conferência de Le Brun, Jacqueline Lichtenstein e Christian Michel, Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, Tomo I, Vol. 1 (Paris: École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2007), 260 e seguintes. 16
Castro, Discurso sobre as utilidades do Desenho, 227. 17
Idem, 223. 18
Castro, Dicionario de Escultura, “Expressão”, 45. 19
Castro, Discurso sobre as utilidades do Desenho, 228.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
152
princípios da nova escola sobre a qual estava informado quanto baste para (querendo) a ela poder aderir20.
Apesar dos elogios que subscreve à estatuária grego-romana (“excelentissimos em carnes, bem que exaggeradas; mas nas femininas foram optimos, mostrando nellas o Bello reunido”), deixa claro os limites que auto-impõe à criação. O tratamento dos panejamentos serve de novo pretexto à reprovação21.
A rejeição categórica da “adoração cega” dos antigos tem deste modo tanto de preconceito religioso como de estético. As sucessivas alusões à “religião”, “boa moral” e “filosofia sã” indicam-nos outra fronteira na arte de Machado relativamente ao novo estilo, numa prolongada apologia da correcção das “carnes”, estabelecendo limites objectivos à liberdade do recurso ao nu no tratamento anatómico dos modelos. Esta defesa do pudor tempera os excessos permitidos na estatuária dos antigos e seus seguidores modernos autorizando o exercício do nu apenas dentro dos limites estabelecidos22.
Se no primeiro aspecto relativo à expressão podemos admitir uma evolução, no capítulo da gramática das formas, da construção à exposição anatómica, e à composição dos panejamentos, a sua fixação aos modelos barrocos revela uma intransigente constância na sua longa experiência artística.
As opções de Castro são, porém, sempre sustentadas no conhecimento dos novos usos dos que, na sua opinião, copiam cegamente a estatuária clássica, sendo neste sentido uma rejeição consciente e documentada23. O seu recurso selectivo ao antigo permitia-lhe momentos desalinhados de aproximação na construção do seu discurso24. A afirmação dessa autonomia de Machado de Castro fica bem patente no remate da referida declaração ao realçar a liberdade do artista no processo criativo, manifestação de uma vontade legítima que se sobrepunha à escola ou ao artisticamente correcto segundo a época: “Nas obras próprias cada hum se dirige pelo gosto, e circunstancias, que o movem”25.
20
Castro, Dicionario de Escultura, “Antigo”, 23-24: “Os supersticiosos d’Arte, (que não são poucos, tanto Artistas como Amadores d’ella) em qualquer Peça, tendo visos do antigo, adorão-na cegamente, e seguem-lhe o estilo, sem discernimento, nem filosofia de qualidade alguma”. 21
Idem, “[os gregos e os romanos antigos] longe de nós o seu estilo [...] que até chega a ser contrário á Religião, e boa Moral, á boa Razão, e sã Filosofia. [...] Alguns Modernos ha, que cégos do fanatismo pelo Antigo, desdenhão com insolente despreso dos pannejamentos de Carlos Maratti; mas porquê? Porque são muito mais difficeis de executar que os do Antigo, por conterem em si a reunião do Bello Natural. Na Escultura, os Corifeos deste verdadeiro estilo são – Angelo de Rossi, Camilo Rusconi e Maini. E na Pintura são o grande Rafael d’Urbino, e o Poussino, aos quais seguiu Maratti”. 22
Castro, Descripção Analytica, 26. 23
As suas opções pela tradição barroca estendem-se a outros aspectos como o desenho do globo ocular, nomeadamente na representação das pupilas. Mesmo admitindo “que os Antigos não praticarao no marmore esta individuação” dispõe-se a aceitar as críticas dos “Artistas, e Conhecedores demasiadamente ligados ás ninharias da Arte”, sustentando que “como assim faz melhor effeito, este he o que sempre se deve preferir”. Observando o conjunto de estatuária da Ajuda essa distinção encontra-se bem documentada entre as obras assinadas por Castro e as de autoria de Aguiar. Cf. Castro, Descripção Analytica, 26. 24
Liberdade que lhe franqueava, por exemplo, o uso da grega no manto da representação real de D. Maria I, hoje exposta na Biblioteca Nacional de Lisboa. Esta escolha reenvia-nos para a Europa de Aguiar integrada no conjunto monumental dedicado à mesma monarca instalado em Queluz, traduzindo a relatividade que nalguns aspectos encurta a distância entre as experiências artísticas dos dois mestres. 25
Cf. Castro, Descripção Analytica, 26.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
153
A arte de Aguiar
E é na Ajuda que se delimita o último território de Machado de Castro e se estabelece a fronteira. A cronologia das esculturas da Ajuda é esclarecedora: à data da colocação da última escultura de Machado – a Generosidade (1818) – sucede-se a primeira série de Aguiar datada de 181926. A obra deste último permite, porém, um exercício de catalogação mais linear. Contrariamente ao exercício de continuidade desenvolvido por Machado de Castro, Aguiar assume a rotura com a tradição. As suas inconfessadas referências – porque não escreve... – são evidentes: expressão, movimento, arquitectura anatómica, panejamentos, em todos os aspectos se detecta a mudança.
Olhando os testemunhos que se conservaram, concluímos que a reduzida produção e as limitações temáticas condicionaram o seu processo de pesquisa artística. No conjunto da sua obra inventariamos apenas duas figuras masculinas, além da já citada relativa ao príncipe D. João. Sem usufruir como Castro das representações de santos idosos, mártires ou povos vencidos, limitado à expressão alegórica das encomendas que lhe chegavam, dificilmente podemos aferir as opções de expressão e atitude impressas nas suas obras, limitadas a um espectro de pequena variação. Por outro lado, se são compreensíveis os condicionamentos que Machado sofria no recurso ao nu, o conjunto da Ajuda revela-nos igualmente as limitações de Aguiar, bem patentes nas obras em que arrisca maior exposição anatómica como a Acção Virtuosa e Anúncio Bom compreensivelmente ambas relativas a modelos masculinos. Neste plano é ainda mais visível a sua resposta conservadora no conjunto das estátuas alegóricas femininas. Neste caso revela a preferência, como já foi notado, “em vestir as suas figuras” utilizando “o vestuário como principal temática escultórica”27, funcionando este recurso como elemento identitário e quase como assinatura, não fugindo a um certo mecanicismo, de produção em série, penalizado pela repetição de soluções formais deixando antever um impasse criativo na sua pesquisa plástica. Entende-se, porém, nesta limitação mais a necessária convergência com o ambiente envolvente do que uma opção do autor, afastando-o de opções de rotura mais evidentes em concordância com a sua escola.
Assinalem-se, porém, as excepções que deixam antever o que podia ter sido o outro caminho de Aguiar. Percebendo as suas fontes que não renegam a filiação canoviana, identificamos, todavia, uma expressão personalizada que ganha forma nas suas melhores obras entre as quais elegemos uma trilogia composta pela África [Fig. 6] do monumento a D. Maria I, a estátua ao Regente [Fig. 7] e a Prudência da Ajuda [Fig. 8]. Nesses momentos Aguiar aproxima-se nalguns aspectos da arte grega e reencontramos afinidades com as ideias de “nobre simplicidade” e “grandeza tranquila” expressas, a propósito, nas reflexões de Winckelmann28. Aguiar, assumida a frieza própria à sua escola, e que lhe tem merecido referências críticas29, percorre caminhos diversos libertos do compromisso de emulação literal dos modelos gregos, conferindo às suas criações uma interpretação original dos princípios assimilados onde emerge um certo rusticismo que não lhe retira virtudes no confronto com as obras dos outros seguidores das ideias neoclássicas. Nesse compromisso identificamos, como tem sido reconhecido, a mais cosmopolita inspiração apolínea na estátua do Príncipe, mas igualmente uma sensualidade e um realismo etnográfico na África e na Prudência que não se contém nos limites convencionados da arte de Cánova.
26
Veja-se a cronologia proposta por Elsa G. Pinho, Poder e Razão: Escultura Monumental no Palácio Nacional da Ajuda (Lisboa: IPPAR, 2002), documento n.º 1, p. 123. As obras de Castro são datadas entre 1813 a 1818, seguindo-se as de Aguiar entre 1819-1830. 27
José Fernandes Pereira, “José João de Aguiar”, in Dicionário de Escultura Portuguesa (Lisboa: Editorial Caminho, 2005), 20. 28
Veja-se, a propósito, Guilhem Scherf, “‘Tout est bon dans le grec’: la sculpture et le goût grec (1750-1770)”, in L’Antiquité rêvée, dir. Guillaume Faroult, Christophe Leribault e Guilhem Scherf (Paris: Louvre Éditions/Gallimard, 2010), (catálogo de exposição), 80. 29
Cf. José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XIX, vol. I, 2.ª ed. (Lisboa: Livraria Bertrand, 1981), 74.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
154
O primeiro ciclo, que definiríamos como o dos monumentos reais, define a potencialidade artística de José João de Aguiar expressa na simplicidade erudita da sua obra-chave o citado D. João e na presença majestosa de D. Maria I – que qualidade mais impressiva se pode exigir a um monumento régio? – auspicioso início de carreira interrompido à falta de patrocínios. Note-se que o “grande monumento das cinco estátuas” chegou a ser acolhido, entre 1828 e 1830, no telheiro da Ajuda onde então ainda trabalhava30. Aguiar pôde dessa forma testemunhar o abandono da sua primeira obra. Simples acaso ou não esse imprevisto confronto coincide com o momento em que assina a sua última obra para o novo palácio real, e derradeira da sua carreira, com o sugestivo título Perseverança, final da série e do segundo ciclo já na fase de declínio, na espécie de autoplágio em que se viu enclausurado.
Conclusão
Os trabalhos de identificação das fontes de inspiração de Machado de Castro têm sempre conduzido à escola romana: José de Almeida, Alexandre Giusti, Giovanni Battista Maini, Giuseppe Rusconi, Giovanni Rossi31. Mas outros paralelismos têm também sido estabelecidos, como aquele que compara na sua “simplicidade” e “expressão séria” Maria Madalena de Pazzi da Estrela ao São Bruno de Jean-Antoine Houdon32. Acrescentaríamos, para a sua primeira fase Bernini, e para o conjunto da sua obra insistiríamos em Alexandre Giusti e Vieira Lusitano, seguindo, afinal, os próprios testemunhos do escultor. O que aprendeu finalmente Machado de Castro na escola de Giusti? Cremos que a frase em epígrafe ao presente trabalho, expressa já na fase final da sua vida, se refere, sobretudo, à metodologia de formação seguida pelo mestre em Mafra, princípios que terá depois desenvolvido na “escola de Lisboa” que criou no contexto da execução do monumento equestre a D. José I. Estamos, portanto, no plano didáctico. As afinidades estilísticas com as obras assinadas por Giusti são, porém, também assinaláveis sobretudo na moderação das expressões e atitudes e numa certa pesquisa da “graça”, na esteira das confessadas influências assimiladas por Castro nas obras de Rafael e Poussin conhecidas através das estampas. Nesta construção cabe ainda a assimilação do desenho de Vieira Lusitano, última referência visível que citamos mas não menos importante, fechando um leque de grande diversidade e influências múltiplas capitalizadas ao longo da sua vida activa.
A riqueza do processo de aprendizagem de Machado de Castro conferiu-lhe uma competência diversificada que nenhum outro escultor do seu tempo pôde reivindicar. Encontrava-se apto a qualquer trabalho, em todo o tipo de materiais, convivendo à vontade com ajudantes, aprendizes, canteiros e outros praticantes dos ofícios. Percorreu as formas mais populares da disciplina – da escultura em madeira na tradição dos santeiros à modelação em barro das figurinhas dos presépios – a par da expressão mais erudita da estatuária em mármore, sacra ou profana, do retrato à tumulária, até aos monumentos reais, sobretudo, a modalidade de expressão mais elevada, a “colossal” estátua equestre, que o próprio classificaria como a “Epopeia da Escultura”. Foi, em suma, artista e artífice o que distinguia de Aguiar, o escultor formado em Roma, quase quarenta anos mais novo, pertencente a outra geração com uma consciência mais estreita de classe, que o inibia de participar nas
30
Cf. Francisco Santana, “A Associação dos Arqueólogos Portugueses e Lisboa”, in Arqueologia e História, série X, vol. III (Lisboa: 1993), 134-141. 31
Veja-se, por exemplo, Teresa Leonor Vale, “O que de Itália Machado de Castro viu: olhares directos e indirectos sobre a escultura barroca italiana”, in Joaquim Machado de Castro: O Virtuoso Criador (Lisboa: MNAA/INCM, 2012), 54-57 ou Sandra Costa Saldanha, “A arte de inventar ou o ‘talento de bem furtar’: os arquétipos romanos na escultura portuguesa de Setecentos, in Lisboa Barroca e o Barroco de Lisboa, coord. Teresa Vale (Lisboa: Livros Horizonte, 2007), 61-75. 32
Cf. Anne-Lise Desmas, “‘Seus talentos o ponhão ao lado dos primeiros artistas de seu século.’ Machado de Castro e os escultores europeus do seu tempo”, in Joaquim Machado de Castro: O Virtuoso Criador (Lisboa: MNAA/INCM, 2012), 39.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
155
conferências da obra da Ajuda “porque se envergonha[va] de misturar-se com Pedreiros e Carpinteiros”. Além do necessário domínio da modelação, a experiência de Aguiar foi essencialmente forjada na estatuária em pedra, de temática profana, ainda que de cunho moralizante, acompanhando o processo de desacralização em curso no final do Antigo Regime, patente na série realizada sob a sua direcção na Ajuda. Ao generalismo da obra de Castro opõe-se uma certa especialização na actividade de Aguiar, sem concessões à expressão mais popular na tradição oficinal do país, sem trabalho conhecido em madeira nem de teor sacro – à excepção da banqueta que modelou para Mafra –, numa via mais erudita, académica e romanizante no contexto da nova geração neoclássica.
Machado de Castro insere-se nesse tempo longo do binómio Barroco/Absolutismo na sua tripla vertente, religiosa, ideológica e plástica. Aguiar representa a sucessão possível num período de extrema instabilidade que não permitiu a consolidação do neoclassicismo em Portugal na disciplina. No confronto das suas obras é evidente um choque de linguagens mas também bases comuns de reflexão e pesquisa. Mas não deixa de ser surpreendente o conteúdo do “atestado”, com que abrimos este trabalho, que Castro assina, em Junho de 1818, em defesa do seu discípulo dilecto Faustino José Rodrigues. A declaração, feita a pedido, só pode enquadrar-se na luta pela regência da Aula de Escultura. Seria necessário chegar ao final da vida para que Castro recorresse ao conceito de escola, que renegara explicitamente nos seus escritos33, para consolidar a sua linha sucessória. O referido confronto de escolas aprofundou a divergência pessoal ou o inverso? Desta equação, em que a ordem dos factores parece ser secundária, e mesmo indissociável, resultaram duas linhas de desenvolvimento da disciplina, sem cedências no seu percurso paralelo, emergindo a de Machado de Castro e respectivos sucessores na fundação da Academia Real de Belas-Artes em 1836, e extinguindo-se a de Aguiar na suspensão das obras da Ajuda desligando-o, de certa forma, da genealogia artística portuguesa. Compreende-se a “sentida homenagem de reabilitação”34 que lhe dedicou o seu ainda hoje único biógrafo, Diogo de Macedo, mas fica à vista a necessidade do aprofundamento da investigação sobre a sua vida e obra35.
33
Castro, Discurso sobre as utilidades do Desenho, 230: “Este louco enthusiasmo Escolastico; este verdadeiro, e detestavel fanatismo dos estudos, he pai da soberba, nutridor da ignorancia, e parcial intimo da insolencia. Em qualquer se revestindo deste ridiculo capricho, já despreza todos os que não seguem a sua Seita, persuadindo-se que, por ter sido discipulo de tal ou tal mestre, se acha constituido supremo Legislador da faculdade que professa, e decisivo contraste dos talentos alheios, especialmente daquelles que emanarão d’outra Escola [...]. Longe, longe de nós a paixao de Escola: os possessos de tal espirito, logo mostrão as contorsões da soberba, as visagens da ignorancia, e o orgulho da insolência”. 34
Diogo de Macedo, João José de Aguiar: Vida dum Malogrado Escultor Português (Lisboa: Revista Ocidente, 1944). 35
Aguarda-se neste contexto o estudo em curso de Cristina Dias sobre João José de Aguiar.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
156
Fig. 1 – Joaquim Machado de Castro. Fé sobre a Heresia. Palácio da Inquisição, Rossio. Aguarela sobre papel de Luis António Xavier. Séc. XIX. Museu da Cidade de Lisboa.
Fig. 2 – Joaquim Machado de Castro. Grupo lateral da Estátua Equestre de D. José I (detalhe). (Foto do Autor)
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
157
Fig. 3 – Joaquim Machado de Castro. Grupo lateral da Estátua Equestre de D. José I (detalhe). (Foto do Autor)
Fig. 4 - Joaquim Machado de Castro. Figura Masculina Reclinada. Réplica em poliéster platinado. Câmara Municipal de Oeiras, Quinta Real de Caxias.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
158
Fig. 5 – Joaquim Machado de Castro. São Teutónio. Baldaquino de São Vicente de Fora, Lisboa.
(Fotos do Autor)
Fig. 6 – João José de Aguiar. África.
Monumento a D. Maria I. Queluz. (Foto do Autor)
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
159
Fig. 7 – João José de Aguiar. Príncipe Regente D. João. Hospital da Marinha, Lisboa. (Foto do Autor)
Fig. 8 – João José de Aguiar. Prudência. Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa. (Foto do Autor)
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
160
BIBLIOGRAFIA
CASTRO, Joaquim Machado de. Descripção Analytica da Execução da Real Estátua Equestre…. Lisboa:
na Impressam Regia, 1810.
—. Dicionário de Escultura. Lisboa: Livraria Coelho, 1937.
—. Discurso sobre as utilidades do Desenho. Lisboa: na Offic. de António Rodrigues Galhardo, 1788.
CASTRO, José de. Portugal em Roma, vol. II. Lisboa: União Gráfica, 1939.
DESMAS, Anne-Lise. “‘Seus talentos o ponhão ao lado dos primeiros artistas de seu século.’ Machado
de Castro e os escultores europeus do seu tempo”, in Joaquim Machado de Castro: O Virtuoso
Criador, 39. Lisboa: MNAA/INCM, 2012.
FRANÇA, José-Augusto. A Arte em Portugal no Século XIX, vol. I, 2.ª ed. Lisboa: Livraria Bertrand,
1981.
LICHTENSTEIN, Jacqueline e Christian Michel. Conférences de l’Académie royale de Peinture et de
Sculpture. Tomo I, Vol. 1. Paris: École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2007.
LIMA, Henrique Ferreira. Machado de Castro: Escultor Conimbricense. Coimbra: Instituto de História
de Arte, 1989.
MACEDO, Diogo de. João José de Aguiar: Vida dum Malogrado Escultor Português. Lisboa: Revista
Ocidente, 1944.
—. Machado de Castro. Lisboa: Artis, 1958.
MACHADO, Cyrillo Volkmar. Collecção de Memórias... Lisboa: na Imp. de Victorino Henriques da Silva,
1823.
PEREIRA, José Fernandes. “José João de Aguiar”, in Dicionário de Escultura Portuguesa, 20. Lisboa:
Editorial Caminho, 2005.
PINHO, Elsa Garrett. Poder e Razão: Escultura Monumental no Palácio Nacional da Ajuda. Lisboa:
IPPAR, 2002.
SALDANHA, Sandra Costa. “A arte de inventar ou o ‘talento de bem furtar’: os arquétipos romanos na
escultura portuguesa de Setecentos”, in Lisboa Barroca e o Barroco de Lisboa, coord. Teresa Leonor
Vale, 61-75. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.
—. “A Escultura em São Vicente de Fora: Projecto, Campanha e Autores”, in Mosteiro de São Vicente
de Fora: Arte e História, coord. Sandra C. Saldanha, 199-204. Lisboa: Centro Cultural do Patriarcado
de Lisboa, 2010.
SANTANA, Francisco. “A Associação dos Arqueólogos Portugueses e Lisboa”, in Arqueologia e
História, série X, vol. III (1993): 134-141.
Actas do IV Congresso de História da Arte Portugesa em Homenagem a José-Augusto França
161
SCHERF, Guilhem. “‘Tout est bon dans le grec’: la sculpture et le goût grec (1750-1770)”, in
L’Antiquité rêvée, dir. Guillaume Faroult, Christophe Leribault e Guilhem Scherf, 80. Paris: Louvre
Éditions/Gallimard, 2010.
SORENSEN, Bent. “Sculpture”, in Dictionnaire européen des Lumières, dir. Michel Delon, 982. Paris:
PUF, 1997.
VALE, Teresa Leonor. “O que de Itália Machado de Castro viu: olhares directos e indirectos sobre a
escultura barroca italiana”, in Joaquim Machado de Castro: O Virtuoso Criador, 54-57. Lisboa:
MNAA/INCM, 2012.