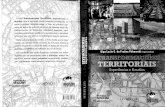Precedentes Judiciais, alguns apontamentos
Transcript of Precedentes Judiciais, alguns apontamentos
Gabriel Vinícius Zulli
Professores: Nelson Pinto e Renata Pinto
Disciplina: O novo processo civil e a Constituição Federal – Ações
e recursos constitucionais perante os tribunais superiores - 2015
Exposição in “Igualdade processual, segurança jurídica e
uniformização de Jurisprudência”
Precedentes, alguns apontamentos
Boa noite amigos. Como se vê, hoje é meu
dia de apresentação do tema da minha pesquisa do presente curso, é
o item II da sequência de seminários: “Igualdade processual,
segurança jurídica e uniformização de Jurisprudência.”
A minha pretensão é começar a partir de
um texto de lei da CF/88, que é tão enaltecida pela comunidade,
mas que muitos omitem um valor garantido extraído dessa norma.
Refiro-me ao artigo 5º1, caput, da nossa CF/88. Igualdade perante a
Lei. Note-se que tal artigo está consignado duas vezes a palavra
“igualdade”. O que entendemos por igualdade? O que é? Como é
entendida pela comunidade contemporânea?
Como é sabido pela turma, meu núcleo de
pesquisa não está tão ligado ao núcleo Direito Processual e1 Constituição Federal, art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”
tampouco tenho tanta prática nos Tribunais como os nobres Doutores
presentes. Mas o tema que proponho hoje é muito oportuno e
conveniente, na medida do novo traje que pretende o NCPC
introduzir, por isso pretendo edificar e justificar a tal ideia do
Precedente e um pouco de suas repercussões na processualística,
não cabendo, no entanto, pretensão de exaurir o tema, visto tão
profundo e rico que se apreende e também pelas limitações do autor
do presente.
Se antes não tinha tanta força processual
e jurídica o ato de decidir e fundamentar as decisões judiciais,
tanto 1º como 2º instâncias, por súmulas, precedentes ou
jurisprudência da corte de vértice, agora com a pretensão do NCPC,
torna-se necessária e nuclear para a devida prestação
jurisdicional. É nesse sentido o artigo 489 do NCPC e
especificamente seu § 1o , vejamos:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:I - o relatório, que conterá os nomes das partes, aidentificação do caso, com a suma do pedido e dacontestação, e o registro das principais ocorrênciashavidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará asquestões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá asquestões principais que as partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisãojudicial, seja ela interlocutória, sentença ouacórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou àparáfrase de ato normativo, sem explicar sua relaçãocom a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados,sem explicar o motivo concreto de sua incidência nocaso;III - invocar motivos que se prestariam a justificarqualquer outra decisão;IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos noprocesso capazes de, em tese, infirmar a conclusãoadotada pelo julgador;V - se limitar a invocar precedente ou enunciado desúmula, sem identificar seus fundamentosdeterminantes nem demonstrar que o caso sobjulgamento se ajusta àqueles fundamentos;VI - deixar de seguir enunciado de súmula,jurisprudência ou precedente invocado pela parte,sem demonstrar a existência de distinção no caso emjulgamento ou a superação do entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz devejustificar o objeto e os critérios gerais daponderação efetuada, enunciando as razões queautorizam a interferência na norma afastada e aspremissas fáticas que fundamentam a conclusão.§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada apartir da conjugação de todos os seus elementos e emconformidade com o princípio da boa-fé.” (grifonossos)
O fio condutor aqui utilizado decorrem
das ideias do Prof. Luiz Guilherme Marinoni in “A ética dos precedentes” e
“O STJ enquanto corte de precedentes. Recompreensão do Sistema Processual da Corte
Suprema” e da Profa. Maria Celeste Cordeiro Leite, quanto apontar e
demonstrar um apto raciocínio jurídico – raciocínio tópico, para
instrumentalizar e efetivar os problemas de Direito nesta nova
perspectiva. Nesse sentido os textos aqui utilizados são: “Tópica e
jurisprudência” – T. VIEHWEG; e “A tópica e o Supremo Tribunal Federal “– Paulo
Roberto Soares Mendonça, e alguns textos e ideias esparsas.
Numa segunda parte da exposição tenho
pretensão de expor duas experiências jurídicas. São dois v.
julgados publicados este ano, um oriundo do C. TST e outro do E.
TJ-SP. Em ambos, a pretensão é mais discutir acerca da moldura
empregada e fundamentada e menos discutir acerca da tessitura do
mérito da demanda. Ora, no primeiro, trata-se de v. decisão acerca
da impossibilidade de decretação e aplicação da prescrição ex officio
nesta Justiça Especializada, em que pese o CPC aduzir
manifestamente pela possibilidade e como a demanda do voto se
emoldurou, ordenou e interpretou “conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil”2. E outro v. julgado, trata-se de decisão não unânime
oriundo de um recurso de Apelação desta capital, por isso temos
dois votos acerca dum mesmo recurso. Trata-se de ação com pedidos
de responsabilidade civil e aplicação do CDC. Neste sentido, a
ideia é discutir o voto sob prisma da igualdade no processo, isto
é igualdade processual reconhecida nos próprios autos. Por isso,
como se vê, a segunda parte não é uma “continuação” da primeira.
A concretização legal3, ou concretização4
2 “Art. 1oO processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”, da Lei no 13105/15.
3 Art. 489 do NCPC: “§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”
4 “produzir, diante da provocação pelo caso do conflito social, que exige uma solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse caso no quadro de umaDemocracia e de um Estado de Direito.” in Muller, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional, 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005 p. 145-146. E prossegue: “Essa propriedade do direito, de ter sido elaborado de forma escrita, lavrado e publicado segundo um determinado procedimento ordenado por outras normas, não é idêntica à sua qualidade de norma. Muito pelo contrário, ela é conexa a imperativos do Estado de Direito e da democracia, característicos do Estado Constitucional burguês da modernidade. Mesmo onde o direito positivo dessa espécie predominar, existe praeter
judicial ou interpretação do artigo 5º revela que todos somos
iguais perante a lei. Ora, refiro-me não tanto da igualdade no
processo, isto é a partir da isonomia no tratamento reconhecido no
interior do processo ou, ainda, tampouco com a igualdade ao
processo, isto é um tanto do devido processo legal, quanto à
disponibilidade e faculdade paritária de técnicas processuais
pelas partes.
Refiro-me a uma igualdade tão in albis na
doutrina da nossa comunidade. Mas já levanto dois motivos:
evidentemente que muitos destes processualistas brasileiros têm
muito amor às ideias da clássica Escola Exegese, que é bem mais
conservadora e, no entanto, hoje reconhecida como “ultaprassada”,
mas que ainda tem repercussão prática no nosso civil law, onde a lei
(“norma”) deveria ser interpretada e submetida à razão expressa e
exata da Lei. Montesquieu para assegurar à tripartição dos poderes
aduziu: Juiz, boca da Lei e Voltaire: o juiz deve ser escravo da
Lei, o primeiro a ser escravo da Lei na sociedade.
Outros processualistas se vergam às
ideias de Calamandrei, Carnelutti ou Chiovenda. Apaixonados pelos
problemas de sua época, p. ex., se a natureza da sentença seria
constitutionem um direito constitucional consuetudinário com plena qualidade de norma. Além disso, mesmo no âmbito do direito vigente a normatividade que se manifesta em decisões práticas não está orientada lingüisticamente apenas pelo texto da norma jurídica concretizanda. A decisão é elaborada com a ajudade materiais legais, de manuais didáticos, de comentários e estudos monográficos, de precedentes e de material de Direito Comparado, que dizer, com ajuda de numerosos textos que não são idênticos ao e transcendem o teor literal da norma.” in MÜLLER, Friedrich. in Muller, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional, 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 55-56.”
constitutiva de direito ou que declara um direito? Ademais, o
ilustre mestre italiano Piero Calamandrei aduz que: “A fundamentação
da sentença é sem dúvida uma grande garantia da justiça quando consegue reproduzir
exatamente, como num levantamento topográfico, o itinerário lógico que o juiz percorreu
para chegar à sua conclusão, pois se esta é errada, pode facilmente encontrar-se, através
dos fundamentos, em que altura do caminho o magistrado se desorientou.” 5 (grifo
nossos) O que, à evidência, naquele tempo não era concebível a ideia
de precedentes. O Poder Judiciário “julgando”, e exarando
precedentes, acerca de Direito em casos fáticos que sequer
existem? Beiraria uma marcha para a volta do Ancien Régime, fato
destrutivo para o Direito e que Calamandrei repudiou in “Cassação
Civil”. O que Calamandrei não percebeu, embora presenciado o common
law inglês, época alias que não tinha instrumentos de revogação –
overruling, de precedente, que, todavia, só apareceu no sistema
inglês mediante um statement em 1966 que declarou a possibilidade de
decidir de forma diferente das anteriores mediante razoes que
parecesse correto à época circunscrita pela sociedade e cultura e
prossegue Marinoni: “A razão de ser dos precedentes, como também não percebeu
Calamandrei, nada tem a ver com a lei. O sistema de precedentes é uma técnica
indispensável quando se tem consciência da participação do Judiciário na construção do
direito. A estabilidade dos precedentes das Supremas Cortes, bem vista as coisas, é a
estabilidade do próprio direito. Portanto, ao contrário do que suponha a generalidade
dos juristas de civil law, a 'certeza do direito' não pode ser considerada privilégio da lei.
Atualmente, mais do que nunca no civil law, o respeito aos precedentes é fundamental
para a coerência do direito, a segurança jurídica e a igualdade. A eficácia obrigatória dos
precedentes, assim, não apenas tem significado diferente do de eficácia da lei, como é
necessária para dar estabilidade a um direito de nova consistência6.”5 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. São Paulo: Clássica
Editora,s/d, p. 78.6 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão
do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 135
Ora, por outro lado, p. ex., como é
sabido, o professor Nelson Nery Júnior aduz, quanto devido processo
legal, que: “Especificamente quanto ao processo civil, já se afirmou ser manifestação
do due process of law: a) a igualdade das partes; b) garantia do jus actions; c) respeito ao
direito de defesa; d) contraditório.”7
Ora, decisões jurídicas fundamentadas e
proferidas de modos diferentes para casos iguais, revelam além da
desigualdade processual, insegurança jurídica e, com as melhores
vênias, um Direito incoerente.
Com as melhores vênias, mas é devido
processo legal também a igualdade e garantia que a pessoa física e
jurídica no território nacional tenha dos efeitos e das decisões
judiciais, isto é, essa igualdade das decisões judiciais que temos
direito, garante estabilidade no direito8 e nas relações sociais,
por isso, trazendo consigo segurança jurídica, fortalecimento da
Instituição e responsabilidade social pessoal.
Todos somos iguais perante a Lei,
inclusive quanto reconhecimento e aplicação do mesmo Direito, de
forma isonômica, pelos Tribunais de Apelação e juízes, quando se
apresentado e instruído fatos e valores análogos.
7 NERY Júnior, Nelson. Princípios de processo civil na Constituição Federal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 39.
8 Tereza Arruda Alvin Wambier, Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law, RePro, n. 172; José Rogério Cruz e Tucci, Precedente Judicial como fonte de direito, São Paulo: Ed. RT, 2004, apud MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. 1o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
Estreitando tal problema acerca de
igualdade nas decisões judiciais para nós, operadores do direito,
surge o caráter de uniformidade na jurisprudência, unidade ao
Direito e demonstra Marinoni, a natureza dessa nova
jurisprudência: a universalidade da decisão como garantia da sua
racionalidade. Racionalidade da decisão interpretativa, “ou melhor, a
racionalidade do discurso judicial, sempre que ultrapassa a simples dedução lógica a
partir da norma geral para o caso particular, é dizer, sempre que põe em questão a
premissa da subsunção, envolve um discurso que vai além daquilo que tradicionalmente
concebe como jurídico – que extravasa o domínio restrito das `fontes do direito`”9 e
universalidade entendido como: “necessidade de que um argumento de validez
de uma conclusão seja capaz de sustentar igual resultado diante narrativas análogas,
constitui regra de racionalidade do discurso prático, de que o discurso jurídico é, como já
dito, um caso especial. A universalidade, portanto, é antes de tudo uma regra de
racionalidade do discurso (prático). Ninguém deve invocar um motivo para justificar uma
ação sabendo que não poderá utilizá-lo para justificar ações similares, como ninguém
pode invocar razão diversa para deixar de praticar ação com o mesmo conteúdo. Trata-
se, como se vê, de condição para evitar a arbitrariedade”10. Marinoni adverte,
porém: “ainda que a universalidade não seja critério suficiente para garantir a
racionalidade da decisão, uma vez que essa depende de outras variantes contidas nas
suas razões justificadoras, ela constitui fator da mais alta relevância para justificar a
racionalidade jurídica, legitimando o 'modo' de decidir e interpretar. Além de contribuir
para a racionalidade jurídica, a universalidade favorece a isonomia e inibe a parcialidade.
Ao decidir, a Corte sabe que não poderá proferir uma decisão que, considerando os fatos
e fundamentos jurídicos relevantes, tenha validade para todos os casos posteriores que se
enquadrem na mesma moldura. Significa que não poderá decidir o caso sob julgamento
9 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 100-101.
10 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 107-108
a não ser a partir de critérios que tenham validade para todos os casos. Assim, ficará
impedida de decidir de modo parcial, isto é, considerando particularidades que não são
relevantes para uma decisão universal e imparcial.”11
Com efeito, a uniformidade das decisões
judiciais traz só progressos para a sociedade, ou como aduz
Marinoni, “se é inquestionável a possibilidade de extrair – mediante a interpretação –
mais de uma norma jurídica de um texto legal e se é certo que a jurisdição tem a função
de colaborar com o legislativo para a frutificação de um direito adequado à regulação da
vida social, o Superior Tribunal de Justiça, ao definir o sentido do direito federal
infraconstitucional, objetiva garantir a igualdade de todos perante o direito”12.
Ora esse discurso prático envolvido no
discurso jurídico, do qual Marinoni apresenta e argumenta, baseia-
se em três argumentos: 1- a discussão jurídica, como a
argumentação prática geral, está voltada à solução de questões
práticas, a respeito do que é obrigado, proibido ou permitido. 2 –
levanta-se pretensão de correção tanto no discurso jurídico quanto
no discurso prático geral. 3 – a argumentação jurídica constitui
um caso especial, uma vez que a pretensão de correção no discurso
jurídico é distinta daquela presente no discurso prático13.
O Direito sofre mudanças conforme muda a11 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão
do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p 109.
12 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 18
13 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5 ed. alemã. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 532.
sociedade e seus anseios, o que contribui no agir e sua
modificação, frutos do constitucionalismo e teorias de
interpretação. Ora, tais elementos para se justificar decisão
judicial presentes no NCPC: “critério de subsunção: norma/fato” +
“justificativa valorativa universal”. Esta “justificativa
valorativa universal”, para nós, é onde encaixa, em parte, o
Precedente: a garantia de interpretar determinado termo de
cláusula constitucional aberta de forma única no presente e
futuro. Ademais, prossegue o professor C. Perelman, in verbis:
“O precedente desempenha um papel primordial na
argumentação cuja racionalidade é ligada à observação
da regra de justiça14, que reclama tratamento igual de situações
semelhantes. Ora, a aplicação da regra de justiça supõe a existência de
precedentes que nos instruam sobre a maneira pela qual foram
resolvidas situações semelhantes à que se apresenta. Tais precedentes,
assim como os modelos em que se inspira uma sociedade, fazem parte
de sua tradição cultural, que pode ser reconstruída a partir das
argumentações que os utilizaram. Invocar um precedente
significa assimilar o caso novo a um caso antigo,
significa insistir nas similitudes e desprezar as
diferenças. Se a assimilação não é imediatamente
aceita, uma argumentação pode mostrar indispensável.
Ora, para determinar quais argumentos são, no
assunto, relevantes, para determinar quando um
argumento será considerado forte ou fraco, a regra de
14 Perelman justapõe seis formulações de justo x justiça, na forma de tópicos: 1- A cada um o mesmo. 2 – A cada um segundo os seus méritos. 3 – A cada um segundo suas obras. 4 – A cada um segundo suas necessidades. 5 – A cada um segundo a sua posição. A cada um segundo o que lhe é devido por lei.
justiça intervém de novo”15 (grifos nossos)
Senhores, aqui está mais ou menos a
discussão que toda a presente comunidade jurídica e jusfilosofica16
discutem. Como justificar um valor de modo universal e
racionalmente justo, isto é como justificar um temo de cláusula
aberta constitucional, ou não: função social, boa-fé, declaração
de vontade, etc? “Qual é o sentido de um enunciado ou de um
signo?”
Ora, a função social, como sabemos, não
se encontra uma definição precisa e fechada sobre o que é em si.
Tornando necessário, além da justificação de direito –critério de
subsunção do fato a norma, também uma explicação racional in loco,
para se valer fazer legitima.
Assim como outros termos, p. ex.,
interesse social, interesse público, boa-fé, bem comum. Existem
diversos outros termos nesse sentido que se apresentam na nossa
CF/88 e legislação. Tais termos chamam-se de termos de cláusula
aberta constitucional, senão um topoi jurídico, sempre à luz dos
direitos e valores da nossa Carta Maior. E nesse sentido Paulo
Roberto Soares Mendonça aduz:
15 PERELMAN, Chaim. Retóricas. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 306.
16 Emil Lask, C. Perelman, St. E. Toulmin, R. Alexy, A. Aarnio, N. MacCormick,J. Wróblewski, R. M. Hare e J. Habermas . M. ATIENZA, F. MULLER e etc.
“conceitos de larga utilização no direito carregam um
flagrante conteúdo axiológico. Ao serem definidos,
conceitos como boa-fé, declaração de vontade,
enriquecimento sem causa, posse justa, entre outros,
traduzem uma valoração de fenômenos sociais, a luz do
conceito de justiça, que inegavelmente é parte
integrante do sistema. Dessa forma, aquilo que a
jurisprudência conceitual tratava como mero
instrumental de técnica jurídica guarda uma revelação
direta com a oporia fundamental da justiça, que é
revelada no momento da solução de problemas
concretos. (...) Talvez a permanente referencia a
aporia fundamental da justiça seja uma pista para a
harmonização entre o pensamento tópico e a visão
sistemática do ordenamento jurídico. É certo que o
sistema resultante não apresenta um perfil puramente
dedutivo, uma vez que incorpora novos elementos, a
partir de um processo indutivo, relacionado com a
busca de soluções para novos problemas, que acabam
por servir de orientação para solucionar casos
semelhantes17.
No entanto, esse tópico, ou como
revestido na juridicidade como termo de cláusula aberta
constitucional, como pretender pensá-lo?
Desde os tempos dos Gregos,
17 SOARES MENDONÇA. Paulo Roberto. A Tópica e o Supremo Tribunal Federal. Renovar: São Paulo, 2003, pp 209-210.
especialmente em Aristóteles, a tópica compõem-se em proposições
ou premissas prováveis/verossímeis e apresenta os lugares-comuns –
tópoi, de onde retira os entimemas. Entimemas são silogismos com
premissas implícitas, se a maior ou a menor, ademais, continua
Aristoteles, in verbis:
“O entimema [é] formado de poucas premissas e em
geral menos do que o silogismo primário. Porque se
alguma dessas premissas for bem conhecida, nem sequer
é necessário enunciá-la; pois o próprio ouvinte a
supre. Como, por exemplo, para concluir que Dorieu
recebeu uma coroa como prêmio da sua vitória, basta
dizer: pois foi vencedor em Olímpia18.”
Quanto aos entimemas, o estagirita
diferencia em dois tipos: o demonstrativo e o refutativo. No
primeiro, a conclusão é obtida através de premissas com os quais
os interlocutores concordam. No segundo também, porém a uma
conclusão que não é tida como aceita pelo adversário inicialmente.
Ora, a razão de ser do entimema, quanto seu “espaço” vazio, se na
premissa maior ou menor dentro do silogismo, é considerar que tal
vácuo é pretendido desde o início.
Esse é o fenômeno que foi considerado na
definição tradicional do entimema. Pode-se compreendê-lo como o
18 ARISTÓTELES, Rétórica. Trad. Manuel Alexandre Junior, Paulo Farmhouse Albertoe Abel do Nascimento Pena. Portugual: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998, I, 1357 a.
espaço deixado vago no discurso, como uma vacuidade que a
interpretação vem preencher.
O pensamento tópica, como aduz T.
Viehweg, como pensamento por problemas, é adequado e útil à
jurisprudência, visto que seria uma forma de procedimento de
discussões de problemas operados por problemas. Viehweg define
problema como: “toda questão que aparentemente permite mais de uma
resposta e que requer necessariamente um entendimento preliminar,
consoante o qual toma o aspecto de questão que há de se levar a
sério e para a qual há que se buscar uma resposta como solução.
Isto se desenvolve abreviadamente do seguinte modo: 'o problema,
através de uma reformulação adequada, é trazido para dentro de um
conjunto de deduções, previamente dado, mais ou menos explícito e
abrangente, a partir do que se infere uma resposta, Se a esse
conjunto de deduções chamamos sistema, podemos então dizer
brevemente que, para encontrar uma solução, o problema se ordena
dentro de um sistema19”.
Aristóteles, como vemos in Organon,
classifica os tópicos, proposições com verossimilhança e que é
reconhecida pela autoridade e comunidade, em lugares quanto ao
gênero, definição, acidente, e forma ou qualidade da predicação,
especialmente nos livros II a VII da referida obra. Cada qual
tipos de lugares – os quatro expostos, se subdividem cada um em
mais dez categorias. Ora, Aristóteles enumerou uma série de
tópicos para auxiliar, encaminhar os debates com fito de
19 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 34.
desenvolver-se racionalmente. Por isso, pelo meio de tal
pensamento, por quando a discussão enfrenta diversos “pontos de
vista” reconhecidos, ora se completam ou não, no entanto
analisados e desenvolvidos pela argumentação e complementa
Aristóteles: “é descobrir um método que nos capacite a raciocinar, a partir de
opiniões de aceitação geral, acerca de qualquer problema que se apresente diante de nós
e nos habilite, na sustentação de um argumento, a nos esquivar da enunciação de
qualquer coisa que o contrarie20”.
Ora, Viehweg se pergunta, porém, como
raciocinar topicamente, quanto os diversos meios e modos
apresentados por Aristóteles, por isso ele divide em dois relevos:
tópica de primeiro e segundo grau, vejamos:
“Tópica de primeiro grau: quando se depara, onde quer
que seja com um problema, pode-se naturalmente
proceder de um modo simples, tomando-se através de
tentativas, pontos de vistas mais ou menos casuais,
escolhidos arbitrariamente. Buscam-se, desse modo,
premissas que sejam objetivamente adequadas e
fecundas e que nos possam levar a consequências que
nos iluminem. A obervação ensina que na vida diária
quase sempre se procede dessa maneira. Nestes casos,
uma investigação interior e mais precisa faz com que
a orientação conduza a determinados pontos de vista
diretivos. Sem embargo, isso não se faz de maneira
explícita. Para efeito de uma visão abrangente,
20 ARISTÓTELES. Órganon. Trad. Edson Bini, Bauru,SP: EDIPRO, 2o ed., 2010 , p. 347.
denominamos tal procedimento de tópica de primeiro
grau. Tópica de segundo grau: sua insegurança (da
tópica de primeiro grau) salta aos olhos e explica
que se trate de buscar um apoio que se apresenta, na
sua forma mais simples, em um repertório de pontos de
vista já preparados de antemão. Desta maneira,
produzem-se catálogos de tópoi e a um procedimento
que se utiliza desse catálogo chamamos tópica de
segundo grau.”
É importante para nós, acadêmicos de
pós-graduação, conhecer um pouco desses referidos nomes e ideias
para cotejar a novel ideia acerca do futuro ingresso da
Jurisprudência de Valores21 no nosso território, operados pelos
precedentes obrigatórios. Se hoje a Jurisprudência de Interesses22 21 “É reconhecida sobretudo no domínio da atividade jurisprudencial. [...] É
manifesto que ao juiz não é possível em muitos casos fazer decorrer a decisãoapenas da lei, nem sequer das valorações do legislador que lhe incumbe conhecer. Este é desde logo o caso em que a lei lança mão dos denominados conceitos indeterminados ou de cláusulas gerais” in LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa. 2012, p. 164. E prossegue: “A passagem a uma Jurisprudência de valores só cobra, porém, o seu pleno sentido quando conexionada na maior parte dos autores com o reconhecimento de valores ou critérios de valoração supralegais ou pré-positivo que subjazem às normas legais e para cuja interpretação e complementação é legítimo lançar mão, pelo menos sob determinadas condições. Pode-se a este propósito invocar valores positivados nos direitos fundamentais, especialmente nos artigos 1º a 3º da Lei Fundamental, recorrer a uma longa tradição jusfilosófica, a argumentos linguísticos ou ao entendimento que a maior parte dos juízes tem de que é suamissão chegar a decisões justas. A quase totalidade dos autores envolvidos namais recente discussão metodológica partilha a concepção de que o Direito temalgo que ver com a justiça, com a conduta socioeticamente correta.” in LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa. 2012, pp. 167-168.
22 ”delimitado às representações da pretensão que as partes num litigio têm ou devem ter, quando se empenham na obtenção de efeitos jurídicos favoráveis. [...] A jurisprudência está na sua essência, mediante a aplicação das valorações legais, nos antípodas de uma valoração autónoma do juiz. As leis são, de acordo com esta concepção, pelo menos no âmbito do Direito privado,
encontra-se em seu limite operacional. Ou melhor, desde alguns
anos, a nossa jurisprudência já abandonou tal natureza, pelo menos
mais visivelmente a partir da EC nº 45/04, depois com as reformas
e surgimento de critério quanto ao julgamento de ações acerca de
demandas repetitivas, criação da repercussão geral e etc.
Nosso problema então será como a Corte
Suprema dá sentido a lei, como a Corte interpreta a lei, de como “a
ideia de interpretação que revela o sentido exato da lei é substituída pela de atribuição de
sentido ao direito, passando a ser essa a função das Cortes Supremas. Embora todos
juízes interpretem a lei, é a Corte Suprema quem define a sua interpretação e, nesses
termos, atribui-lhe sentido23.”
O juiz tem liberdade e autonomia na
condução do processo, no entanto (se) limitada numa perspectiva:
de como normatizar o caso/fato, isto é, o sentido ao Direito que
irá decidir, fundamentar e informar aos autos fica por um lado
fica restrito pelo Precedente, jurisprudência, súmula, se houver.
E se houver e a parte processual postular, fica mais evidente
ainda a necessidade.
Ora, quem define o sentido do Direitoinstrumentos de regulação de conflitos de interesses previsíveis e típicos entre particulares ou grupos sócias, de tal modo que um interesse tenha de ceder a outra, na exata medida em que este possa prevalecer. Esta prevalênciaconsubstancia uma valoração, para a qual o legislador pode ser determinado pelos mais diversos motivos.” in LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa. 2012, p. 163.
23 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 79.
são as cortes de vértice. Esse princípio tutela a Lei e a
Comunidade de eventuais arbítrios e desmandos que surgem nas
decisões judiciais, ou seja “os entendimentos morais que os Doutos Juízes e
Magistrados de Tribunais de Apelação entendem” e que mudam de “opinião”
conforme o caso, conforme verificamos num plano concreto.
É um grande avanço esse sistema que
obriga os precedentes. Com efeito, a uniformidade das decisões
judiciais traz só progressos para a sociedade. Logo, a
interpretação que pretende dar o sentido e unidade que favorece o
Direito, é função das cortes de vértice. O que, à evidência, não
torna-se uma interpretação “fechada em si”. A apreensão da norma
no texto de lei, concretização ou interpretar a lei também é um
processo aberto aos cidadãos, pessoas jurídicas, até mesmo pessoas
de direito público ou a mídia, silvícolas, etc. Ora, tais
destinatários da norma da Constituição configuram excelentes
forças produtivas de eventual vinculação a uma determinada forma
de agir. São interpretes constitucionais no sentido latu e por isso
são agentes conformadores da realidade constitucional. E, se mesmo
o legislador e as cortes de vértice tem jurisdição e função de
colaborar para frutificação e efetivação de um direito adequado e
justo para a comunidade, pois, se ambos tem “olhos” na conduta
desses agentes de realidade constitucional e dos bens jurídicos
tuteláveis, essa interpretação latu e vinculação no agir decorrido
daquela, torna aberta uma compreensão mais pontual da realidade
constitucional e suas necessidades circunscritas por determinado
espaço, tal círculo hermenêutico jurídico, como aponta Häberle24.
24 HÃBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre:
Nesta esteira, como aduz Gilmar Mendes acerca da tese de Häberle,
in verbis:
“Uma das virtudes da teoria de Häberle reside na
negação de um monopólio da interpretação
constitucional, mesmo naqueles casos em que se
confere a um órgão jurisdicional específico o
monopólio da censura. O reconhecimento da pluralidade
e da complexidade da interpretação constitucional
traduz não apenas uma concretização do princípio
democrático, mas também uma consequência metodológica
da abertura material da Constituição. Tem-se aqui uma
outra dimensão da proposta de Kelsen, que associava a
jurisdição constitucional à democracia, na medida em
que esta atuasse na defesa ou na proteção de
minorias25.”
Ora, a igualdade nas decisões judiciais,
sendo um valor e garantia de todo cidadão e pessoa, encontra
barreiras hoje, na processualística e na prática jurídica, para
sua efetivação. O magistrado imbricado de valores não só
decorrente de interpretações fechadas, mas como aponta e demonstra
Marinoni, diversos outros motivos. O Marinoni apresenta desde uma
tese jusfilosófica quanto estreitar tal conduta em razão da nossa
irracionalidade acoplada às nossas culturas e seu fundamento opera
Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 12 e 16.25 MENDES, Gilmar. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional
e revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial. Revista Jurídica Virtual – Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 1, n. 8, jan./2000.
em Sergio Buarque de Holanda in “Raízes do Brasil”, e resultante também
da nossa religião de maior expressão -catolicismo, que
potencializa nossas condutas para determinados fins, que
diversamente dum racionalismo operado pelo protestantismo que “deu
origem a um modo de vida em que os atos do cotidiano, particularmente os ligados ao
exercício do trabalho, deveriam conter um conteúdo que dignificasse a Deus. (...) A ética
protestante, além de ter feito do trabalho um dever religioso, teve grande acento sobre a
responsabilidade pessoal, de modo a ser possível confundir comportamento protestante
com comportamento pautado por uma quase que insuportável responsabilidade
pessoal”26, conforme Max Weber in “A ética protestante e o espírito capitalista”.
Ou como vemos na nossa cultura: a conduta
brasileira - o jeitinho brasileiro, ser amigo do rei, ou a cultura
do personalismo – o homem cordial. Ou quanto ao argumento do
magistrado e sua independência e autonomia na condução e decisão
da demanda justificadas na “liberdade de julgar” e “submissão
exclusiva à lei”. E complementa o Professor Marinoni: “No Brasil,
muitos juízes ainda imaginam que podem atribuir significado aos textos que consagram
direitos fundamentais a seu bel- prazer- como se a Constituição fosse uma válvula de
escape para a liberação dos seus valores e desejos pessoais – e, assim, decidir sem
qualquer compromisso com os precedentes constitucionais, numa demonstração clara de
ausência de compromisso institucional27”
Um sistema pautado pelo respeito aos
precedentes, foge muito da mera característica técnica. “Respeitar
precedente é uma maneira de preservar valores indispensáveis ao Estado de Direito,
26 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 114
27 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 90.
assim como de viabilizar um modo de viver em que o direito assume a sua devida
dignidade, na medida em que, além de ser aplicado de modo igualitário, pode determinar
condutas e gerar um modo de vida marcado pela responsabilidade pessoal28.”
Uma consequência imediata dum sistema
“ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil29” é dar unidade ao
direito, ou marchar para uniformização da jurisprudência, que
“reflete a coerência da ordem jurídica, viabilizando a previsibilidade e o tratamento
uniforme de casos similares. O precedente, portanto, é um valor em si, pois é algo
indispensável para que se tenha unidade do direito e uma ordem jurídica coerente,
requisitos para a racionalidade do direito. (...) Essa forma de desenvolvimento do direito é
muito mais sofisticada e efetiva do que qualquer outra. Quando o direito é desenvolvido
mediante abarcamento de novas realidades há um processo de formação paulatina,
gradual e lógica do direito. A solução de uma questão conexa a um precedente implica
novo passo que não pode negar o que foi originariamente definido. Há uma relação de
continuidade entre a solução da nova questão e o precedente, conferindo à atividade
judicial um modo de pensar que vai se desenvolvendo aos poucos, similar ao raciocínio de
um jurista que dá continuidade ao tratamento de um tema que engloba várias questões
que se relacionam e, portanto, podem ser tratadas em vários ensaios ou livros. A
diferença mais saliente é que, no caso dos precedentes, o raciocínio não é de uma mesma
pessoa, mas de juízes que, exatamente porque integram uma instituição, devem admitir,
sem contestar, o que já foi definido no precedente, dando prosseguimento ao discurso da
Corte para solucionar a nova questão. Em outras palavras, a ratio decidendi ou os
fundamentos determinantes são dados do discurso que se forma em torno da nova
28 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 102.
29 NCPC: Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição daRepública Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código
questão30.”
Portanto, para finalizar esta primeira
parte quanto exposição acerca dos Precedentes, eu pretendi expor
mais generalidades do tema e da forma mais neutra possível. Alguns
conceitos eu tive que fundamentar em determinadas linhas de
pensamento para manter a unidade interna do discurso, onde
pretendeu ser mais descrito que investigado e problemático. Esse
tema é tão novel nos círculos acadêmicos brasileiro, isto é
sequer temos um código operando sob tais trajes, em que pese a
política da Corte Suprema já se apresentar sob tal formato. Por
isso, como se vê, eu pretendi ficar mais no tema nuclear e sua
natureza e repercussões mais concretas que repercussões internas
de Direito, conforme a razão já dita, de não termos tal código em
operação oficial.
Bibliografia
30 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 103 e 104.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de
Virgílio Afonso da Silva da 5 ed. alemã. São Paulo: Malheiros,
2008.
ARISTÓTELES. Órganon. Trad. Edson Bini, Bauru,SP: EDIPRO, 2o ed.,
2010.
ARISTÓTELES, Rétórica. Trad. Manuel Alexandre Junior, Paulo
Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Portugual: Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 1998, I, 1357 a.
CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os
advogados. São Paulo: Clássica Editora,s/d.
HÃBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta
dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação
pluralista e “procedimental” da constituição. Trad. Gilmar
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.
MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes. 1. ed. - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes:
recompreensão do sistema processual da corte suprema. 2o ed. - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
MULLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional,
3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005
MENDES, Gilmar. Controle de constitucionalidade: hermenêutica
constitucional e revisão de fatos e prognoses legislativos pelo
órgão judicial. Revista Jurídica Virtual – Presidência da
República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 1, n.
8, jan./2000.
PERELMAN, Chaim. Retóricas. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado
Galvão. 2ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
SOARES MENDONÇA. Paulo Roberto. A Tópica e o Supremo Tribunal
Federal. Renovar: São Paulo, 2003.
VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução de Tércio
Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Departamento de Imprensa
Nacional, 1979.
LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José
Lamego. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa. 2012.































![Explicações sobre alguns pontos das "Orientações para a escrita do nosso idioma" [1982]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a17a078ed8e56c0a7fa2/explicacoes-sobre-alguns-pontos-das-orientacoes-para-a-escrita-do-nosso-idioma.jpg)