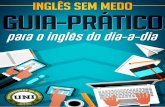Alguns aspectos de referenciação e tópico discursivo na fala (2000)
Transcript of Alguns aspectos de referenciação e tópico discursivo na fala (2000)
4o Encontro do Celsul
Retornar
ALGUNS ASPECTOS DE REFERENCIAÇÃO
E TÓPICO DISCURSIVO NA FALA
Milton Francisco da Silva - [email protected]
(Universidade Federal do Paraná)
Resumo: A referenciação de itens lexicais, em maior ou menor proximidade dotópico discursivo, constrói objetos-de-discurso capazes de referirem o mundo,tomando para tanto as informações cotextuais e extra-discursivas e a interaçãocolaborativa. Neste sentido, este estudo se propõe a testar as estratégias derelações anafóricas propostas por Marcuschi (1998).
Palavra-chave: Fala; referenciação; cadeia referencial; anáfora; tópicodiscursivo.
1. Introdução
A análise a seguir, que a propósito é um trabalho parcial e preliminar de dissertação demestrado em andamento nesta Universidade[1], pretende investigar o processo de referenciação emtexto oral não planejado, sobretudo o que diz respeito aos elementos que estabelecem relaçõesreferenciais em cadeias discursivamente constituídas, dando uma relativa atenção ao tópico dodiscurso. Para tanto, privilegia-se o que o Professor Luiz Antônio Marcuschi chama de estratégiasde relações anafóricas.
2. Exposição teórica
Como princípios básicos, toma-se de Marcuschi (1998:2-3) três pressupostos e seuscorolários, os quais esse autor considera de extrema importância para que se construa a noção dereferenciação de elementos discursivos. De forma sintetizada, apresenta-se os três:
1- pressuposto da indeterminação lingüística: a língua éheterogênea, histórica, social, variável, trabalho cognitivo quesupõe negociação. Para os processos referenciais isto significa queos itens lexicais só obtêm significação plena em sua realizaçãotextual, o que exclui aqui uma visão autônoma e essencialista dalíngua;
2- pressuposto de uma ontologia não-atomista: o mundo (realidadeextra-mental) não está definido, carece de uma elaboraçãocognitiva. Isto significa que a referência de itens lexicais a entidadesmundanas não está pronta, mas é construída no processo dedesignação na relação co(n)textual;
3- pressuposto da referenciação como atividade discursiva:necessário para correlacionar os dois primeiros pressupostos. Arealidade empírica existe discretizada no processo de designaçãodiscursiva e dependente de uma cognição realizada no discurso.
A partir destes pressupostos fica passível por parte dos interlocutores valorizar, numprocesso altamente discursivo e situado, os referentes como objetos-de-discurso. Em outraspalavras, a noção de referência que se defende não é extensional (que vê a realidade como objetiva eextra-mental) ou cognitiva (de caráter mental, representacional e prototípica), mas sim, discursiva einteracional.
Marcuschi (2000a:13), sobre esta condição discursiva da referência, diz o seguinte: liga-se
de modo especial às teorias sócio-interativas preocupadas de modo especial com o aspectodinâmico, histórico, social e não transparente da língua. Isto encontra um diálogo positivoquando Marcuschi (2000b:27) frisa que a referência diz respeito a relações que envolvem aspectos
externos ao texto (relação linguagem e mundo extra-lingüístico).
Este aspecto sociocultural suscita grande interesse de investigação no sentido de alcançara sua porção no processo referencial, contudo, para este estudo, contenta-se com a interaçãocolaborativa dos interlocutores que, como poder-se-á observar, manifesta-se nos objetos-de-discurso, em maior ou menor medida.
Grosso modo, pode-se dizer que a referência é a ponte que os itens e expressões lexicaisestabelecem entre o discurso e o mundo; enquanto a referenciação é o processo discursivo,interativo e sócio-cognitivo, que se dá por relações lingüísticas e extra-lingüísticas, o qualdesencadeia a concretização da referência.
Ao falar de referência aqui, quer-se evoluir ao conceito de progressão referencial,o qual Marcuschi (1998:1) oferece de forma consciente:
progressão referencial diz respeito à introdução, identificação,
preservação, continuidade e retomada de referentes textuais,correspondendo às estratégias de designação de referentes e
formando o que se pode denominar cadeia referencial. A progressãoreferencial se dá com base numa complexa relação entre linguagem,mundo e pensamento estabelecida centralmente no discurso.
Com base neste conceito, enfatiza-se, os elementos de uma cadeia têm uma relação decontinuidade entre si, às vezes sem retomada linear ou mesmo implícita, ao ponto de não mais poder-se pensar naquele referente anteriormente expresso. Os conceitos seguintes contribuem para aclareza disso.
Remissão: para Marcuschi (1998:5), remeter é uma atividade de processamento indicialna co(n)textualidade. Em outras palavras, remeter é uma indicação ou apontamento que umdeterminando item ou expressão lexical faz a outro, presente no cotexto, ou que faz a algum elementodo contexto, neste caso, nem sempre lingüístico.
O autor postula que toda remissão envolve algum tipo de relação semântica, cognitiva,pragmática ou outra qualquer, não necessariamente de correferenciação. Parece adequado pensá-la individualmente, isto é, apenas entre dois elementos, o que não implica impossibilidade de pensá-la em um conjunto, a exemplo disso, convém adiantar as relações possíveis dentro de uma cadeiareferencial.
Retomada: conforme as palavras de Marcuschi (1998:5), retomar é uma atividade decontinuidade de um núcleo referencial, neste caso, cotextualmente, sendo que essa continuidadedeve ser entendida implicando algum tipo de relação direta, seja de identidade (caso dacorreferenciação), ou então não identidade.
Tal como para esse autor, neste estudo o processo de retomada implica o de remissão.Enquanto a remissão pode-se manifestar entre um elemento do texto e outro do contexto, a retomadasomente se realiza entre dois elementos cotextualmente expressos. Por outro lado, essa categoria dizrespeito a uma atividade muito mais complexa do que uma simples indicação pontulalizada noco(n)texto. Ressalta que esta questão não diz respeito a nenhum grau de importância dessascategorias no discurso.
A esteira tomada aqui privilegia uma noção de anáfora no sentido amplo, o que oferece,citando Marcuschi (1998:6), as seguintes características:
a. nem toda anáfora é pronominal;
b. nem toda anáfora (pronominal ou não) é correferencial;
c. nem toda anáfora (pronominal ou não) é uma retomada;
d. nem toda anáfora (pronominal ou não) tem um antecedenteexplícito no cotexto;
e. nem toda a anáfora correferencial é cosignificativa.
Estas observações tratam-se de uma postulação que é mostrada ao longo da análise que sepretende.
Mais alguns conceitos fazem-se necessários:
Categorização: Marcuschi (2000a:21) diz que as categorias não são entidades naturais erealistas, mas constructos sócio-culturais de grande plasticidade. [...] as categorias acham-sedelineadas socio-interativamente em espaços experienciais heterogêneos e culturalmentesensíveis. Para Mondada & Dubois (1995), a atividade cognitiva individual, em nível psicológico, étambém uma atividade constante de categorização e não uma simples identificação ereconhecimento de objetos pré-existentes. Apesar destes três autores defenderem processosdiferentes de categorização, eles têm em comum o campo de construção das categorias: o discurso.
Significação: para Marcuschi (2000a:16), conhecer a significação de uma palavra éempregá-la referencialmente de modo correto, no discurso. Processo que implica raciocínio deinferenciação discursiva e interação colaborativa, sobretudo para que os interlocutores alcancem omodo correto, assim entende-se neste momento.
Para completar o conjunto de conceitos pertinentes, expõe-se agora outros três(Marcuschi, 1998:6-7):
Correferência: relação que retoma o referente como sendo o mesmo já introduzido(identidade de referentes);
Recategorização: é um aspecto co(n)textual antecedente que pode ser tanto um itemlexical como uma idéia ou um contexto que opera como espaço informacional (mental) para ainferenciação. Trata-se de uma retomada implícita que envolve referenciação, sem envolver co-
significação;
Co-significação: a relação de co-significatividade se dá como uma relação léxico-semântica dos elementos lingüísticos que constituem as relações anafóricas.
Agora sim, em consideração aos aspectos colocados em pauta até o momento, faz-senecessário apresentar as estratégias propostas por Marcuschi (1998:7), a serem aplicadas nasrelações anafóricas em análise.
QUADRO GERAL DAS RELAÇÕES ANAFÓRICAS
Relação anafórica Esquema categorial
{1} Retomada explícita de antecedente por repetição de itemou
construção lingüística com estabilidade / continuidade
referencial
{2} Retomada explícita do antecedente por pronome com
estabilidade / continuidade referencial
{3} Retomada implícita de antecedente por sinonímia,paráfrase,
associação, metonímia com estabilidade / continuidade
referencial
{1} + correferência
– recategorização
+ co-significação
{2} + correferência
– recategorização
– co-significação
{3} + correferência
+ recategorização
– co-significação
{4} Com remissão e retomada implícita de antecedentenão
pontualizado e com reorientação referencial realizadapor
dêiticos textuais
{5} Com remissão e retomada implícita de antecedente e
reorientação referencial por nominalização / verbo ou
hipo/hiperonímia
{6} Com remissão sem retomada de antecedente ereorientação
referencial por rotulações metalingüísticas ou de forçailocutória
{7} Sem remissão e sem retomada de antecedente, comconstrução
referencial induzida por pronome/nome ou construção
referencial
{4} – correferência
+ recategorização
– co-significação
{5} – correferência
+ recategorização
– co-significação
{6} – correferência
(?) recategorização
(?) co-significação
{7} (?) correferência
(?) recategorização
(?) co-significação
Neste quadro geral, conforme seu propositor, em alguns casosaparece a indicação (?) no esquema categorial da estratégia deprogressão referencial. Isto significa que não há propriamente umaprogressão na relação direta, mas indireta sem que as categoriassugeridas como parâmetro de comparação sejam pertinentes para aanálise[2] (p.7).
3. Cadeias referenciais
Toma-se para análise o critério de que as cadeias referenciais podem estar em maior oumenor proximidade com o tópico discursivo. O que permite classificá-las em cadeias centrais ecadeias periféricas.
Entende-se por cadeia central aquela formada por elementos que participam diretamente dotópico discursivo, além de serem formas nominais e pronominais, em sua grande maioria.
E dizer que uma cadeia é periférica significa que seus elementos não participam diretamentedo tópico discursivo. No entanto, podem contribuir para a referenciação de elementos de outrascadeias. Os elementos de cadeias periféricas podem ser tanto nominais quanto verbais.
Não se quer dizer que a cadeia periférica é de menor interesse ao tópico, mas sim, que nãoparticipam de forma direta e profunda do mesmo. E esse tópico é que possibilita classificardeterminado texto como x, e não como y[3].
Como parte de um projeto mais amplo, a escolha pelo texto[4] abaixo,de tópico discursivo “morte”, se deu ao pensar que uma maior oumenor carga emocional presente na fala pode estar determinandoescolhas, seqüências ou organização de estratégias de referenciação.Outro fator determinante em sua escolha é o grande número de formasnominais novas nas cadeias referenciais destacadas.
Texto 01
F Esse um outro irmão mora em Prudentópolis, é gerente da COPEL.E... tem um outro que é casado[1], tem dois filhinhos, aliás um filhinhoe uma filhinha, né? Até ele[2] ainda esse ano ele[3] perdeu um filho,né? com dez anos[4], (ruído) vítima de atropelamento[5].
E Nossa. Como?
F Foi... um rapazinho de menor[6] no volante, né? Foi naquela baixadaali perto na... naquela Rua da Santa ali onde que eles[7] falam. E o meusobrinho[8] estava de bicicleta, né? e esse de menor[9] estava numavelocidade... terrível[10], né? porque bateu[11] no meu sobrinho[12],jogou[13] ele[14] muito longe e... e, né? acabou fazendo váriasfraturas[15], né? praticamente... moeu[16], né? daí... acabou sendovítima de atropelamento[17]. Mas foi uma... uma coisa da vida[18],né? Falam em fatalidade tudo[19], né? mas eu num... A sociedade achaque as coisas[20] acontecem, né? mas eu não acho que seja por aí, né?Eu acho que cada pessoa tem a sua consciência, as coisas[21]acontecem se elas[22] mesmas causam, né? E... e meu irmão[23], o anopassado, acabou perdendo um de.. menino de dez anos[24], né? eagora tem um outro de doze e uma menininha que é tem... fez um anoagora.
E A família deve ficar desesperada, né?
F Ah, sim. Toda vida, né? Estão até hoje estão sofrendo, né? Não énada fácil, né? Então levou o menino[25] (ruído) Porque é aquelenegócio[26], né? Processo[27], né? tudo[28], justiça[29], né? então é ainfluência[30], né?
E Não esquece, né?
F Não esquece. E você fica encontrando aquela outra família que...que foram a causadora, né? da tragédia[31], né? Rapazinho demenor[32], menor de dezesseis anos, né? que causou isso, né? esegundo esse menor[33] que ele[34] já tem passado. Tudo isso, né? Jáandou batendo o carro várias vezes, né? então... na cidade do interioras coisas que você imagina[35] poxa que nunca vai acontecer umacoisa dessas[36] e de repente acontecem, né? Cidade pequena, né?você não espera que as coisas[37] aconteçam, mas de repenteacontecem, né? (PRIRT18 - 206 a 253) [5]
Cadeias referenciais destacadas:
Cadeia A: um outro que é casado[1] - ele[2] - ele[3] - meu irmão[23]
Cadeia B: um filho com dez anos[4] - vítima de atropelamento[5] - omeu sobrinho[8] - o meusobrinho[12] - ele[14] - vítima deatropelamento[17] - um menino de dez anos[24] - o menino[25]
Cadeia C: um rapazinho de menor[6] - esse de menor[9] - aquela outrafamília que foram a causadora da tragédia[31] - rapazinho de menor[32]- esse menor[33] - ele[34]
Cadeia D: uma velocidade terrível[10] - bateu[11] - jogou[13] - váriasfraturas[15] - praticamente moeu[16]
Cadeia E: aquele negócio[26] - processo[27] - tudo[28] - justiça[29] - ainfluência[30]
Cadeia F: uma coisa da vida[18] - fatalidade tudo[19] - as coisas[20] -as coisas[21] - as coisas que você imagina[35] - uma coisa dessas[36] -as coisas[37]
4. Cadeias periféricas
A cadeia A, que faz referência ao pai da vítima, apesar de servir de introdução ao tópicodiscursivo e de apoio à cadeia B, acaba sendo de menor importância ao episódio do acidenteenfatizado pelo falante. Entretanto, esta cadeia apresenta particularidades que merecem atenção,como se mostra na sequência.
Outra cadeia periférica na condução desta análise é a cadeia E, a qual dá indicações de umsubtópico. Esta cadeia estabelece relações referenciais com o contexto e com o mundo. Tratam-se deitens lexicais que, apesar de constituírem uma cadeia aparentemente estranha, permitem umadiscussão interessante ao estudo que se quer, além de privilegiarem estratégias de referenciação queprovavelmente não tornem patentes ao tratar as demais cadeias. Por ora, é uma questão que ficaadormecida.
Uma terceira cadeia, a cadeia F, pela posição de afastamento ocupada em relação aoaspecto narrativo do texto e, principalmente, ao tópico privilegiado pelos interlocutores, passa aocupar também nesta análise um espaço periférico. Trata-se de uma questão que diz respeito ao fatode esta cadeia residir em trechos do discurso de característica argumentativa, trechos que são,especificamente, por si sós, genéricos, caso também do nome coisa, que estabelece a cadeia nasuperfície destes trechos. Parece estar o caráter de coisa refletido nestes fragmentos, os quaisassumem o estatuto de subtópico neste momento.
Contudo, é certo que tanto esta cadeia quanto os fragmentos argumentativos alimentam-sede diversas partes do texto, sobretudo das referenciações das cadeias B, C e D, o que dá à cadeia Fuma significação e uma referenciação que é complementada pela interação colaborativa esociocultural dos interlocutores.
Não se trata aqui de postular que o discurso argumentativo se alimenta do narrativo, masuma investigação neste sentido, a partir de um conjunto de textos significativo, parece interessante,sobretudo pensando nas características que diferentes tópicos possuem, e que tipo de relação temcada variedade com as nuanças inerentes ao processo referencial.
5. Cadeias centrais
Quanto à cadeia D, esta ocupa exatamente o centro do tópico discursivo estabelecido, elachega a sintetizar a progressão tópica. Percebe-se que os seus elementos alimentam-se em outrascadeias e, simultaneamente, enriquecem outros elementos. Tanto os seus elementos nominaisquanto os verbais encontram sujeitos e predicações no decorrer do discurso, seja de formapontualizada ou não, o que permite pensar em uma significação e referenciação discursivamenteconstituída. Tudo isso que se tem indica que uma análise cuidadosa desta cadeia trariaconsiderações relevantes ao estudo da referenciação e da progressão discursiva. E este trabalhodeixa esta questão em aberto.
A investigação a seguir, portanto, centra-se apenas nas referenciações presentes nascadeias B e C, ambas de papel central, atentando-se também para o processo referencial da cadeia A,como já se adiantou.
Esta análise[6] é direcionada por três tópicos, conforme os elementos de cadeia referencialdesencadeadores de relação anafórica, a saber, forma pronominal, forma nominalrepetida/conhecida - FNR - e forma nominal nova/desconhecida - FNN. O emprego aqui de formanominal repetida se dá pelo fato dessa denominação expressar o caráter de instrumento lingüísticodesse tipo de relação anafórica, tal como o caso das expressões forma pronominal e forma nominalnova, enquanto repetição, expressão correspondente empregada na maioria dos trabalhos quetratem da coesão textual, expressa o processo lingüístico.
5.1. Forma pronominal
Acreditava-se encontrar uma maior incidência de pronome como elemento anaforizador, demodo especial nas cadeias A, B e C, visto que os seus objetos-de-discurso fazem referência a seresanimados, no entanto, o falante faz uso de pronome tal como de forma nominal repetida. Das 15relações[7] anafóricas apontadas, 5 se dão por forma pronominal, 4 por FNR e 6 por FNN, expressãodescritiva nos termos de Costa (2000).
Essa expectativa apoia-se em Costa ao explicitar que os textos ao tomarem como focoreferentes animados [escolhem] a [forma pronominal] como forma de marcar as retomadasreferenciais (p.5). O que estabelece um diálogo complementar com Marcuschi, quem diz que aestratégia {2} relativa à pronominalização anafórica ocorre na escrita em boa medida, mas não éa preferida nem é a mais comum. Tem maior incidência na fala (p.14).
Observa-se que nestas três cadeias, favoráveis à ocorrência de ele, o falante tem umapreocupação no sentido de ser claro, de evitar a ambigüidade, o que de fato se satisfaz. Vale dizerque, neste texto, o uso do pronome se dá, em geral, quando, entre o pronome e o seu antecedente,não ocorre nenhum outro elemento de outra cadeia. Outro comportamento observado em relação aouso do pronome é o distanciamento entre o pronome e o seu antecedente, que estaria dificultando omovimento de retomada nos critérios do falante. A razão para essas duas características semanifestarem pode não estar apenas em evitar a ambigüidade, e há indicações favoráveis ao uso daforma pronominal, como se verá a seguir.
Conforme o quadro proposto, o pronome anafórico diz respeito à estratégia {2}, queconsidera a retomada explícita do antecedente por pronome com estabilidade/continuidadereferencial, estabelecendo, assim, uma relação de correferência, mas sem uma co-significação.Estratégia que se aplica a todos os casos de referenciação pronominal aos quais dizem respeito estadiscussão, isto é, aos elementos ele[2], ele[3], ele[14], esse de menor[9] e ele[34].
No entanto, a progressão referencial oferece algo de especial em torno da formapronominal, sobretudo ele, trata-se de uma ocorrência privada da relação de correferencialidade etambém de co-significação, efetivando-se, assim, a estratégia {7}, caso de construção nominal.
Em relações que se concretizam por essa estratégia o antecedente não é sequerindiretamente especificado, isto é, não há retomada nem remissão a alguma entidade representadapor algum item antecedente específico, mas simples indução referencial fundada em aspectosdifusos da cotextualidade ou em processos cognitivos supondo partilhamento entre osparticipantes. Esta construção textual é mais rara na escrita e pode ser tida como típica (mas nãoexclusiva) da fala, postula Marcuschi (1998:15).
Exemplo disso é o caso de eles[7] no texto acima. O emprego de [7] exige dos interlocutoresuma interação colaborativa e um conhecimento de mundo específico de modo indispensável, pois ocotexto não dá nenhuma orientação segura para a sua referência. Veja que uma possível referência de[7] pode surgir de eles falam, no sentido de eles fazem comícios, discursos, ou atividades do gênero,naquela Rua da Santa, ou ainda, no sentido de eles nomeiam, chamam aquela Rua de Rua daSanta. Isso apenas são duas possíveis referências de [7]. Essa quase impossibilidade de seidentificar o seu referente pode ser atribuída à pouco importância que tem o local do acidente para osinterlocutores, isto é, o local não é privilegiado pelo/no tópico discursivo.
Caso semelhante é o elemento elas[22], que por sua vez recebe orientações cotextuais bemmais do que [7], o que lhe permite uma referência relativamente segura, sobretudo a partir daexpressão nominal cada pessoa, tão próxima expressa. Ou estaria [22] estabelecendo ambigüidade,neste caso retomando as coisas[21]? Aliás, expressão bem mais próxima a [22] do que cada pessoa.Parece que não. Acredita-se aqui que essa possível ambigüidade esteja resolvida pelo aspectosemântico de [21] e de cada pessoa, e também pela interação colaborativa.
Apesar da semelhança de [22] com [7], a referenciação de [22] se realiza sob os critérios daestratégia {2}. Pode-se observar que tanto cada pessoa quanto elas fazem, discursivamente,
referência a um conjunto de pessoas mundano, por isso, ocorrer relação de correferencialidade. Vejaque as características formais, singular-plural, não impedem a referenciação de [22].
Com estas observações, nota-se que há indicações de que a preferência em usar elas e nãouma FNR, pessoas por exemplo, não recai apenas no fator proximidade, tal como expostoanteriormente. Mas sim, em um fator de outra ordem, neste sentido, Costa[8] observa em seu estudoque o falante ao fazer as retomadas referenciais na oralidade, leva em conta as característicassemânticas do [objeto-de-discurso], mas não necessariamente a forma do sintagma nominalutilizado para colocá-lo em foco (p.11). Vale destacar que as características semânticas do objeto-de-discurso são atribuídas e alimentadas pelo discurso e pela colaboração de interlocutoressocioculturais.
5.2. Forma nominal repetida - FNR
Acredita-se neste momento, tal como Possenti (1988:99), que a repetição é umprocedimento que serve a mais de uma finalidade, mas sem dúvida, parece servir a esta: a clarezade interpretação. E, inegavelmente, optando pelas FNR nas cadeias B e C, o falante atende a estafinalidade, sobretudo com vítima de atropelamento [17], a qual não é intercambiável com uma formapronominal. No entanto, os elementos o meu sobrinho[12], o menino[25], rapazinho de menor[32],FNR intercambiáveis com o pronome ele, teriam a clareza mantida pelas informações cotextuais e pelainteração colaborativa, em caso de uso da forma pronominal.
Uma outra finalidade que se observa no uso desses quatro elementos é a ênfase, nemsempre de forma explícita, que se dá à referenciação de cada objeto-de-discurso. Por exemplo: [17],no sentido de manter o ‘aspecto eufemístico’ já introduzido por [5], o que de fato se sustenta aoperceber o caráter tabu expresso pelo falante em várias expressões cotextuais, entre outras, perdeuum filho e levou o menino.
Outro exemplo é [32], caso em que se deve atentar para o ‘caráter pejorativo’ sociocultural ediscursivamente atribuído a rapazinho de menor[32], e também a [6], que, conforme indicações docotexto, conduziu o falante à condição de reiterar esse caráter sempre que possível. O que se podedizer também acerca da forma pronominal esse de menor [9] e da FNN esse menor[33]. E quanto aoemprego de o menino[25], que retoma sem problemas o elemento [24], pode-se dizer que o processode repetição reside, em certa medida, no ‘aspecto afetivo’ exteriorizado pelo falante ao longo dodiscurso.
O falante em questão, ao optar pelo uso de FNR, prefere estabelecer no discurso umacontinuidade referencial que, em grande medida, encontra apoio nas finalidades anteriormenteexpostas, que são, ‘clareza de interpretação’, ‘aspecto eufemístico’, ‘caráter pejorativo’ e ‘aspectoafetivo’ da expressão em foco.
Estas ocorrências de FNR - [12], [17], [25] e [32] - estabelecem uma relação de retomadacorreferencial, efetivando-se sempre a estratégia {1}.
Enfatiza-se que a questão da repetição vai além do que se tem mostrado aqui, sendo quemuitas repetições não são simples retomada, mas reorientação referencial com construção deconjuntos diversos e novas referenciações, conforme Marcuschi (1998:14). Torna-se necessário umexemplo, e as cadeias em análise não oferecem nenhum caso capaz de reiterar essa proposição. Paratanto, recorre-se a um outro texto.
Texto 02
E E ela, assim, passou muito tempo no hospital?
F Ela esteve um... um mês e pouco no hospital. É, porque ela deu um...ela começou com uma alergia. Ela tinha ido tirar ostra, aqui embaixo,né? e ela, vez em quando ela gostava de ir, e ninguém sabe se foidisso, ou se foi da água, ou se foi da ostra que ela comeu, que ela foi...deu uma alergia, que ela ficou com o corpo a coisa mais horrível.Quando ela estava assim no hospital, assim, ficou assim, não tem? Tujá viste um... algum bicho assim largar o couro? Assim aquela... aquelecouro grosso? Ela ficou assim com a pele[1] como um bebê. Aquelapele[2] novinha que aque... aquela pele[3] dela, assim, foi largandotoda. Que ela ficou com o rosto inchado, ela ficou toda deformada. Edaí ela foi ao médico. [...].(SCFLP03 - 1107 A 1282)[9]
Nota-se que há correferência entre [1] e [2]. Mas a questão aqui recai na relação entre [1] e[3] ou entre [2] e [3]. Os elementos [1] e [2] referem-se a uma ‘nova pele’ e [3] a uma ‘pele que sesoltou’. Identifica-se assim estes elementos pelas informações cotextuais, neste caso, explícitas.
Como aponta Marcuschi, a ocorrência de FNR[10] não-correferencial é de fato comum emsituações informais em texto oral, e vários casos podem ser identificados nos demais textosselecionados de tópico “morte”. Ressalta-se que, em relações anafóricas desse tipo, não hápropriamente retomada dos mesmos referentes, mas remissão a um contexto mais amplo para aconstrução de referentes em cada caso identificáveis e inferíveis (Marcuschi, p.15).
Mesmo que de forma breve, é útil ao momento retomar a cadeia F, pelo fato de seuselementos se caracterizarem, em geral, como FNR. Parece ser uma indicação de que o falante ao optarpor determinado nome genérico quando de sua introdução, não consegue-se desvencilhar dele. Istopode ser atribuído à característica que esses nomes têm de significarem muito pouco extra-discurso ediscursivamente.
5.3. Forma nominal nova - FNN
Costa (p.7) aponta que o uso de [forma nominal nova] é muito pequeno como forma de
retomada referencial no texto oral não planejado. No entanto, no texto 01 o falante privilegia o seuemprego, e não o da FNR ou o da forma pronominal.
Quanto à opção do falante pelo uso da FNN, vale salientar que entre todas as ocorrênciasdesse tipo – meu irmão[23], vítima de atropelamento[5], o meu sobrinho[8], um menino de dezanos[24], aquela outra família que foram a causadora da tragédia[31] e esse menor[33] – [8], [24] e[33] são intercambiáveis com a forma pronominal ele, neste caso, de referenciação interativa ediscursivamente tranqüila.
Por sua vez, o elemento [23], na cadeia A, realiza em seu processo referencial uma retomadade um outro que é casado[1], caracterizando-se pela estratégia {3}, num processo de recategorizaçãoque se alimenta de esse um outro irmão mora em Prudentópolis. Ressalta-se, essa expressãoenriquece também, antes de mais nada e em maior medida, o elemento [1]. Somente a partir destacotextualidade de [23] e principalmente de [1], e os interlocutores a elegem, é possível [23] e [1] seremcorreferenciais. Esta particularidade presente na cadeia A faz com que ela venha para análise, nãoficando assim ‘esquecida’ no grupo das cadeias periféricas.
Processo semelhante ocorre com [5], aliás, expressão de caráter adjetivo, em relação a umfilho de dez anos[4], contudo, não mais se alimentando apenas de uma informação cotextual, nestecaso, de perdeu um filho. Pode-se notar que perdeu um filho, apesar de oferecer uma informaçãoinsuficiente para a referenciação e a significação de [5], possibilita que [5] retome [4]. Isto é, [5] temreferenciação e significação enriquecidas pelo item verbal perdeu e pelo elemento [4], num processode retomada desse mesmo elemento.
É relevante a [5] destacar que tanto a sua referenciação quanto a sua significação secompletam com o cotexto catafórico, com as informações socioculturais presentes no discurso e comas informações trazidas pelos interlocutores numa interação colaborativa. Em consideração a esseprocesso, seria como se o discurso estivesse dizendo algo do tipo: ‘esperem, já esclareço o que évítima de atropelamento’. E os interlocutores compartilham desse procedimento.
Outro caso de estratégia {3}, por sinal, que também se efetiva na relação anterior, se dácom [8] em relação a [4]. O elemento [8] se alimenta de [1] e do próprio elemento [4] e, sobretudo, doprocesso referencial desses elementos, para, assim, recategorizar correferencialmente [4]. E de formasemelhante se dá o processo referencial de [24] em relação a [4] e de [33] em relação a rapazinho demenor[32].
Uma ocorrência singular entre as FNN destacadas é a de aquela outra família que foram acausadora da tragédia [31]. Nesta expressão, o falante, a partir de um contexto sociocultural do qualele e sua família participam, faz referência e atribui a morte do sobrinho a toda a família do rapazinhode menor condutor do carro. Com isso, [31] faz uma remissão e retomada implícita do antecedenterapazinho de menor, claro, enriquecendo-se também de muitas outras informações cotextuais,ganhando, inclusive, uma reorientação referencial que se apresenta por nominalização-verbalização.Portanto, [31] trata-se de uma nova categoria, contudo sem estabelecer correferencialidade nem co-significação com o antecedente. Efetivando-se, deste modo, a estratégia {5}.
Por ora, a discussão em torno de [31] encerra-se, deixando em aberto uma questão para aqual se deve atentar e investigar, a qual diz respeito à expressão nominal definida a tragédia. Essaexpressão contribui significativamente para a reorientação referencial de [31] e, numa espécie deretribuição, para toda a referenciação discursiva, realçando assim a gravidade do acidente e de comoo falante, membro da família da vítima, vê o episódio. Neste sentido, percebe-se que a tragédia setrata de um subelemento expressivo de [31].
5.4. Relações intracadeia e intercadeias
Acredita-se, neste momento, que tomar qualquer cadeia referencial de forma individual éuma tentativa frustrada, a propósito, a qualquer nível de análise que queira privilegiar o discurso.Esta proposição diz respeito à alimentação enriquecedora que, por exemplo, uma expressão lexical,participante de cadeira ou não, e até mesmo uma cadeia completa, oferece a um elemento de outracadeia, ou oferece a toda uma nova cadeia. Fala-se aqui tanto em movimento anafórico quanto emcatafórico.
Todavia, a breve exposição a seguir aproxima-se desta forma parcial, uma vez que nãoaborda, de modo direto, as informações cotextuais catafóricas e as extra-discursivas (contextuais einteracionais). Apesar de que, como se sabe, são contribuições indispensáveis à referenciação dequalquer objeto-de-discurso quando se fazem presentes, o que em geral ocorre.
Tomando as cadeias A, B e C, o que se pretende é deixar claro que rede é tecida entre oselementos destas três cadeias, sem deixar de considerar as informações cotextualmente anafóricas. Euma nova atenção é despendida às estratégias propostas por Marcuschi, no sentido de se aproximardo provável conjunto formado por todas as manifestações das estratégias presentes nestas cadeias.
Cadeia A: um outro que é casado[1] - ele[2] - ele[3] - meu irmão[23]
[2] e [3] retomam [1] pela estratégia {2};
[23] retoma [1] por {3}. Por essa mesma estratégia retoma também [2]e [3], neste caso, porque [2] e [3] possuem uma referência altamentealimentada por [1], isto é, sozinhos, [2] e [3] estão impossibilitadosdesta referência e desta relação com [23]. Relembrando, [1] só seconstitui referencialmente ao se enriquecer de esse um outro irmãomora em Prudentópolis.
Cadeia B: um filho com dez anos[4] - vítima de atropelamento[5] - omeu sobrinho[8] - o meu sobrinho[12] - ele[14] - vítima deatropelamento[17] - um menino de dez anos[24] - o menino[25]
[4] estabelece com [1] uma relação anafórica do tipo associativa[11]que permite considerar discursivamente algo como ‘um homem casadotem filhos’.
[5] retoma [4] por {3}, isto apenas ao valorizar a informação oferecidapor perdeu um filho;
[8] e [12] retomam [4] e [5] por {3}, isto considerando a relação entre[5] e [4]. Esta retomada de [12] alimenta-se também da referenciação de[1] e [4]. Contudo, o processo referencial de [12] é mais tranqüilo doque o de [8], uma vez que se trata de uma FNR, o que significa que [12]retoma [8] por {1};
[14] retoma [8] e [12] por {2} de forma direta, isto é, a referenciaçãode [12] é que alimenta [14]. Considerando as relações anteriores, [14]retoma também [4] e [5], porém, a carga semântica de [14] diferencia-sedaquela recebida quando relacionava-se com [8] e [12];
[17] retoma não apenas um elemento da cadeia, mas toda a descriçãodo acidente, a qual está, em razoável medida, no processo referencialda cadeia D. Claro, considerando toda a rede até então exposta. Equanto à relação de [17] com [5]? Será mesmo retomada por {1}? Se setomar a significação de [5] pelo cotexto catafórico, com certeza. Noentanto, reitera-se, aqui não se privilegia estas informações cotextuais.Vale dizer que, neste ponto do discurso onde ocorre [17] o que está emvoga é a referenciação de [17] e não a de [5];
[24] e [25] retomam todos os demais elementos da cadeia como umconjunto, isto porque, para o discurso, seria insuficiente ter areferenciação de [24] ou de [25] ao pensá-los retomando um único equalquer elemento da cadeia. No entanto, pode-se notar que [24] e [25]retomam [8] e [12] por {3}. É certo também que [25] retoma [24] por{1}.
Cadeia C: um rapazinho de menor[6] - esse de menor[9] - aquela outrafamília que foram a causadora da tragédia[31] - rapazinho de menor[32]- esse menor[33] - ele[34]
[9] retoma [6] por {2};
[31] retoma toda a descrição do acidente, tornando impossívelpontualizar algumas informações sem desmerecer a importância deoutras. É certo que [31] retoma implicitamente [6] e [9] por {5}.Portanto, [31] é um elemento altamente enriquecido, com umareferenciação presente até o final do discurso;
[32] retoma [6] por {1}, e, devido à relação que [9] tem com [6],retoma também [9], por {3}. No entanto, [32] é enriquecidoanaforicamente pela descrição do acidente, inclusive, a referenciaçãode [31], em boa medida, manifesta-se em [32]. Vale dizer que estasinformações estão ausentes da referenciação de [6] e [9];
[33] retoma [32], [9] e [6] por {3}, em especial, o elementoenriquecido [32] é retomado de forma direta;
[34] retoma [33], [32] e [6] por {2}. De forma direta [32] e [33], dada aaproximação com esses elementos.
Esta clara preferência pelas estratégias {1}, {2} e {3}, nas cadeias A, B e C, dá indicação deque no texto oral o tópico as privilegiam. Não significa que se defende esta proposição aqui, o queseria possível apenas a partir da análise de um conjunto significativo de textos.
Acerca destas estratégias, Marcuschi (1998) apresenta duas considerações frente ao textoescrito e ao texto oral, as quais dialogam com o que se expôs acima, a saber:
a) a estratégia {2} relativa à pronominalização anafórica ocorre naescrita em boa medida, mas não é a preferida nem é a mais comum.Tem maior incidência na fala (p.14). Trata-se de uma proposição que,em partes, não se reitera nesta análise, uma vez que o falante do texto01 apresenta uma preferência pela FNN, aliás, com ocorrênciasintercambiáveis com a forma pronominal.
b) estratégia {3} muito comum na escrita, em especial por metonímiae mais rara na fala (p.10). A análise mostrou algo diferente com umnúmero significativo de ocorrências desta estratégia, portanto, {3}pode não ser tão raro como postula Marcuschi.
Contudo, dois pontos precisam ser relevados, o primeiro diz respeito ao fato de Marcuschicontrapor ‘escrita’ e ‘fala’, enquanto esta análise toma apenas a ‘fala’. Outro ponto é o fato destaanálise, apesar de apontar seis cadeias referenciais, tomar somente três delas, e ainda, tomar umúnico texto. Portanto, prefere-se considerar que o que há são indicações.
Curiosamente, esta teia de relações referenciais certifica que de fato o discurso apresentauma progressão referencial. À medida que o tópico discursivo vai-se desenrolando esta teia seenriquece ao ponto de não mais poder pensar um dos elementos ignorando qualquer outro. Oupoder, até mesmo, pensar que a ocorrência de dois elementos por repetição, isto é, por {1}, tem amesma referenciação: neste caso, o que se observa é que um elemento tem uma referenciação x eoutro tem y. E neste mesmo desenrolar do tópico não mais poder pensar uma cadeia referencialisoladamente.
Sabe-se, para que se tenha o discurso como tecido, tanto informações catafóricas quantoextra-discursivas devem ser relevadas. Portanto, tendo em mãos a teia acima, acrescente àreferenciação de todos os elementos anafóricos todas as informações catafóricas e as extra-discursivas. Aí sim, tem-se a teia referencial discursiva.
6. Considerações finais acerca de alguns pontos
Quanto ao caráter afetivo-emocional, em geral, inerente aos textos orais narrativos de tema“morte”, as observações apontadas aqui são insuficientes no sentido de postular que essacaracterística esteja determinando escolhas, seqüências ou organização de estratégias dereferenciação de um ou outro elemento discursivo, contudo, podem estar oferecendo indícios.
O critério tomado ao classificar as cadeias referenciais em centrais ou periféricas mostrou-se frágil, uma vez que o discurso deve ser visto como um todo, e isto, a própria análise caracterizouao se chegar à teia tecida pelas relações referenciais.
Quanto ao uso da forma pronominal, o falante ao empregá-la pode estar elegendo, porvezes, o fator proximidade em relação a seu antecedente, por vezes, o aspecto semântico de seuantecedente.
Se se pensar em uma escala de proximidade-distância do elemento anaforizador em relaçãoao seu antecedente mais próximo, o caso da forma pronominal estabelece uma maior proximidade e oda FNN uma maior distância, estando o da FNR entre ambos.
Os pontos suscitados aqui reiteram a afirmação de Marcuschi (1998:3): a referenciação éum processo realizado no discurso e resultante da construção de referentes, em que osinterlocutores elegem, em maior ou menor medida, informações cotextuais e informações mundanasde caráter sociocultural.
Referências bibliográficas
COSTA, Iara Bemquerer. 2000. Cadeias referenciais no português falado. In: Organon, no prelo.
KNIES, Clarice Bohn; COSTA, Iara Bemquerer. 1996. Banco de dados lingüísticos “Varsul”:Manual do usuário. Curtiba, Florianópolis, Porto Alegre: UFPR, UFSC, UFRGS, PUC/RS.
MARCUSCHI, Luiz Antônio Marcuschi. 1998. Aspectos da progressão referencial na fala e naescrita no português brasileiro. In: “COLÓQUIO INTERNACIONAL – A INVESTIGAÇÃO DOPORTUGUÊS EM ÁFRICA, ÁSIA, AMÉRICA E EUROPA: BALANÇO E PERSPECTIVAS” – Berlin,Alemanha, 23 a 25 de março. (mímeo).
MARCUSCHI, Luiz Antônio. 2000a. Quando a referência é uma inferência. Trabalho apresentadono “XLVIII Seminário do GEL - Grupo de Estudos Lingüísticos de São Paulo”. Assis, 18 a 20 de maio.Versão preliminar. (mímeo).
MARCUSCHI, Luiz Antônio. 2000b. Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras. Trabalhoapresentado no “IV Encontro do Celsul”. Curitiba, 16 e 17 de novembro. (mímeo).
MONDADA, Lorenza & DUBOIS, Danièle. 1995. Construction des objets de discours etcategorisation: une approche des processus de référenciation. In: Berrendonner, A. / M-J Reichler-Béguelin (eds). pp. 273-302.
POSSENTI, Sírio. 1988. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes.
Notas
[1] Universidade Federal do Paraná
[2] A presença da indicação (?) neste quadro suscita algumas indagações que merecem umainvestigação cuidadosa, mas que, por ora, não se realiza.
[3] Vale dizer que, do corpus dedicado à dissertação, 34 textos foram selecionados para análise porapresentarem-se de tópico “morte”, “política” e “trabalho”, dando assim uma preferência por umnúmero maior de textos em contrapartida a um número menor de tópicos/temas. Sendo 11 de tópico“morte”.
[4] O corpus referido anteriormente compreende um conjunto de 50 textos argumentativos e 50narrativos, que incluem falantes de escolaridade de 4a. a 5a. série do ensino fundamental e de nívelmédio, previamente selecionados do Bando de Dados Lingüísticos Varsul. Este Banco conta com umacervo composto de entrevistas tomadas de falantes de 12 centros urbanos da região Sul, no períodode 1990 a 1995. Acerca deste Bando de Dados informações detalhadas encontram-se em Knies &Costa (1996).
[5] A referência à entrevista é feita conforme a codificação adotada no Banco de Dados Varsul.PRIRT18: Paraná, Irati, entrevista 18 - linhas 206 a 253. Conforme Knies & Costa (1996), tem-se oseguinte perfil deste falante: sexo: masculino, idade: 26 anos, escolaridade: ensino médio, rede decomunicação: fechada (p.50). Rede fechada significa: pessoas fechadas, que não lidam com opúblico, não se comunicam com facilidade (guardião, digitador, dona de casa, agricultor, lixeiro,carteiro, entregador de gás) (p.56). Conforme informações de Knies & Costa (p.55), somente asentrevistas realizadas nas localidades de Irati e Londrina-PR tiveram a rede de comunicação inclusano perfil do informante.
[6] No decorrer deste trabalho, adota-se convencionalmente os seguintes sinais: {...} número entrechaves corresponde à estratégia empregada, e [...] número entre colchetes corresponde ao elementodiscursivo em análise.
[7] Estes números se distribuem assim: cadeia A, forma pronominal: [2] e [3], FNN: [23]; cadeia B,forma pronominal: [14], FNR: [12], [17] e [25], FNN: [5], [8] e [24]; cadeia C, forma pronominal: [9] e[34], FNR: [32], FNN: [31] e [33].
[8] Costa (2000) apresenta ainda uma discussão pertinente acerca da influência do fatorespecificidade [específico e não-específico] do [objeto-de-discurso] na escolha da forma deretomada referencial.
[9] Santa Catarina, Florianópolis, entrevista 03 - linhas 1107 a 1282. Perfil do falante: sexo: feminino,idade: 34 anos, escolaridade: 4a. a 5a. série do ensino fundamental (Knies & Costa, p.43).
[10] Curiosamente, os estudos que abordam a repetição em relação anáforica trazem como exemplosformas nominais somente. Não estariam as formas pronominais ou verbais também caracterizando arepetição? Um assunto instigante.
[11] Entre os estudos a respeito da anáfora associativa indica-se dois:
CHAROLLES, M. 1994. Anaphore associative, stéréotype et discours. In: Schnedecker, C. et alii(eds). L’anaphore Associative. Aspects linguistiques, psycholinguistiques et automatiques. Paris,Klincksieck, pp. 67-92.
KLEIBER, G.; SCHNEDECKER, C. e UJMA, L. 1994. L’anaphore associative, d’une conceptionl’autre. In: Schnedecker, C. et alii (eds). L’anaphore Associative. Aspects linguistiques,
psycholinguistiques et automatiques. Paris, Klincksieck, pp. 5-64.
© 2009 – CELSUL – Círculo de Estudos Linguísticos do Sul