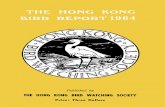PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E LEGITIMIDADE - A Experiência Brasileira de 1964/1967
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E LEGITIMIDADE - A Experiência Brasileira de 1964/1967
1
RAFAEL ALBERTINI ROMERA
PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E LEGITIMIDADE
A Experiência Brasileira de 1964/1967
CURITIBA
2009
2
RAFAEL ALBERTINI ROMERA
PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E LEGITIMIDADE
A Experiência Brasileira de 1964/1967
Monografia de Conclusão de Curso apresentada à FAE – Centro Universitário, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito. Orientador: Professor Fernando Muniz Santos
CURITIBA
OUTUBRO 2009
3
RAFAEL ALBERTINI ROMERA
PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E LEGITIMIDADE
A Experiência Brasileira de 1964/1967
Este trabalho foi julgado adequado para a obtenção de grau de Bacharel em Direito e
aprovado na sua forma final pela Banca examinadora, da FAE – Centro Universitário.
Curitiba, de de 2009.
BANCA EXAMINADORA
Professor Fernando Muniz Santos
Professor Sérgio Kalil
Professor Gabriel Placha
4
RESUMO
ROMERA, Rafael Albertini. Poder Constituinte Originário e Legitimidade: A Experiência Brasileira de 1964/1967. 80p. Monografia (Direito) - FAE - Centro Universitário. Curitiba, 2009. O poder constituinte, em sua forma originária, tem o condão de criar uma nova Constituição. Para isso, o poder constituinte tem de ser legítimo, possuindo, dentre outras, as seguintes características: a agente constituinte tem que ter seu poder ilimitado, os poderes políticos influentes no processo constituinte têm que ser legítimos, o povo tem que ter participação democrática nas decisões, os direitos fundamentais dos indivíduos têm que ser garantidos. O processo constituinte do movimento militar entre 1964 e 1967, como decorrência do golpe militar de 1964, teve um caráter essencialmente autoritário, que usurpou as características fundamentais que torna legítima a atuação do poder constituinte. O presente trabalho é uma análise do processo constituinte do movimento militar entre 1964 e 1967, demonstrando suas condutas autoritárias e ilegítimas. Palavras-chave: Poder Constituinte; Poder Constituinte Originário; Legitimidade; Movimento Militar; Golpe Militar de 1964; Autoritarismo.
5
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO......................................................................................................6
2.1 ORIGEM DO PODER CONSTITUINTE................................................................8
2.2 O PENSAMENTO DE SIEYÈS E O CONCEITO DE PODER CONSTITUINTE 11
ORIGINÁRIO.............................................................................................................11
2.3 O PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E DERIVADO...................................14
3 LEGITIMIDADE DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO ............................15
3.1 A TEORIA DO PODER CONSTITUINTE E A LEGITIMIDADE...........................15
3.2 A CONSTITUIÇÃO PARA FERDINAND LASSALLE ..........................................16
3.3 UMA CERTA CONCEPÇÃO DE PODER ...........................................................17
3.4 PODER POLÍTICO .............................................................................................19
3.4 POVO..................................................................................................................21
3.7 DEMOCRACIA....................................................................................................25
3.8 EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO ..................................28
3.9 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E REVOLUÇÃO...................................31
4 O PODER CONSTITUINTE DO MOVIMENTO MILITAR ENTRE 1967 E 1969.34
4.1 CONTEXTO HISTÓRICO, ORIGENS E FUNDAMENTOS PARA O GOLPE DE
1964 ..........................................................................................................................34
4.2 O GOLPE MILITAR E O INÍCIO DO AUTORITARISMO ....................................39
4.3 A EDIÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE 1967 .........................................................45
4.3 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E O AUTORITARISMO COMO
USURPAÇÃO DO PODER........................................................................................49
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........................................................................57
ANEXO 1 – ATO INSTITUCIONAL Nº 1...................................................................60
ANEXO 2 – ATO INSTITUCIONAL Nº 2...................................................................65
ANEXO 3 – ATO INSTITUCIONAL Nº 3...................................................................75
ANEXO 4 – ATO INSTITUCIONAL Nº 4...................................................................78
6
1 INTRODUÇÃO
O poder constituinte, em sua forma originária, tem o condão de criar uma
constituição. É o poder constituinte que cria e delimita as competências das funções do
Estado, quais sejam, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo.
O poder constituinte é invocado sempre que necessário, sempre que uma
determinada realidade de uma sociedade esteja em confronto com o direito vigente,
quando esta relação se torna insuportável. Quando a sociedade se depara com esta
situação, é preciso, de alguma forma, que o direito se amolde a presente situação.
Mas quem pode fazer isso? Em nome próprio ou representando uma
coletividade?
Seja como for, apenas se pode falar em poder constituinte se este for legítimo.
Para alcançar a legitimidade, o agente do poder constituinte tem por obrigação ser o
porta-voz da população, pois a Constituição deve ser o reflexo dos interesses do povo.
Ao analisar a história recente do Brasil, especificamente na formação da
Constituição de 1967, compreendendo como ela ocorreu, é um grande objeto de
estudo onde se podem verificar várias condutas autoritárias contrárias a qualquer
senso de legitimidade presente na situação atual do nosso país.
Na época do Golpe Militar de 1964, o Brasil se encontrava em uma turbulência
política. Nos 20 anos anteriores ao golpe, apenas dois presidentes terminaram seus
mandatos. A instabilidade tomou conta do país e a população não tinha noção de
qualquer diretriz que o Governo poderia tomar. Esta situação era decorrente, em
grande parte, da tensão mundial advinda após a Segunda Guerra Mundial, com a
chamada “guerra fria”.
A instabilidade política do Brasil era acompanha de perto por forças e influências
norte-americanas dentro do País, que tinham o interesse de difundir seu idealismo. Os
norte-americanos exerciam influências nos grandes empresários brasileiros e nos
militares, que eram seu principal agente de força.
Com uma série de episódios marcantes na história brasileira que resultaram na
presidência de João Goulart, em 1964, os militares, insatisfeitos com a gestão e com as
7
tendências esquerdistas do Presidente, armaram e efetivaram um golpe que depôs o
João Goulart.
Com os militares no poder, estes tinham que garantir a sobrevivência e a
estabilidade de seu Governo. Para atingir estes objetivos e para evitar que a resistência
ao novo Governo se organize e tome o poder novamente, foram editados Atos
Institucionais que centralizavam praticamente todo o poder no Executivo e,
conseqüentemente, davam liberdade para os militares agirem como queriam. Esta foi a
tônica para criação da Constituição editada em 1967.
Ao retomar uma realidade já superada em nosso país, o presente trabalho busca
analisar como ocorreu o processo de legitimação (ou a tentativa) dos militares a partir
do Golpe em 1964, expondo, primeiramente, quais são as características presentes
para um processo constituinte legítimo contrapondo como ocorreu nesta experiência
brasileira para que, ao final, seja possível compreender sobre a importância do
processo constituinte na formação de uma Constituição para o povo.
8
2 PODER CONSTITUINTE
2.1 ORIGEM DO PODER CONSTITUINTE
O Poder Constituinte originário é o poder que tem o condão de criar uma nova
Constituição. Para esclarecer este entendimento, faz-se necessário compreender qual
é a necessidade de uma Constituição e como foi a construção da idéia do que é
preciso para que esta organização fundamental do Estado se constitua. Para isto, nos
deparamos com o desenvolvimento das sociedades, desde a Antiguidade, até o
reconhecimento do valor jurídico das constituições no fim do século XVIII, onde
ocorreram as primeiras compilações escritas que consideravam regras fundamentais
para a sociedade.
Desde quando as primeiras tribos resolveram se organizar, estruturar e se
proteger mediante a outorga a um chefe desses poderes de governo, podemos dizer
que ocorre a existência de uma Constituição. Em decorrência desta atribuição, o chefe,
que era o mais velho, característica da sociedade patriarcal, tinha a incumbência de
garantir direitos conhecidos costumeiramente pelos indivíduos. Portanto, a existência
das normas nesta Constituição era oriunda de costume e de habitualidade, ou seja,
eram consuetudinárias.
Em consideração a importância das normas de coordenação da coletividade,
Ferreira Filho1 menciona que já Aristóteles considerava mais relevantes as leis que
eram concernentes à organização do governo do que as demais leis. Este pensamento
também era consoante em Atenas, uma das principais sociedades na Antiguidade.
Ainda segundo o autor, na Idade Média, surge a doutrina pactista medieval,
onde a vontade dos homens já se tornava importante para formação da base
governamental, mas que consideravam Deus como responsável por esta organização.
1 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 3-4
9
A doutrina apontava que a organização do governo ocorreria por intermédio do poder
político que nela era inserida.
A doutrina pactista medieval se aproxima com a do contrato social, a diferença é
que nesta ocorre a valoração do acordo de vontades dos homens que compõem a
sociedade para esta ser entendida e naquela o acordo seria apenas dos homens já
presentes no corpo político que tinham em Deus a justificativa de seu poder, sendo que
a vontade dos outros indivíduos eram tacitamente considerados2.
Os doutrinadores do contrato social objetivam justificar a organização da
sociedade. No tocante ao poder constituinte, este assunto torna-se importante para
levantarmos o avanço no reconhecimento do valor jurídico das constituições.
São três os principais doutrinadores do contrato social: Hobbes, no Leviatã, de
1651; Locke, no Segundo tratado do governo civil, da última década do século XVII; e
Jean-Jacques Rousseau, no Contrato social, de 1762. Também vale destacar a obra
de Montesquieu, que surgiu em 1748, em O espírito das leis. Embora com
fundamentações distintas sobre o contrato social, todos os autores apontam o acordo
livre entre os homens para que a sociedade seja entendida.
Hobbes escreve o Leviatã, logo após o surgimento da república na Inglaterra.
Hobbes acredita que o homem, para viver em sociedade, deveria abdicar de todos
seus direitos naturais. A preocupação de superar o estado de natureza vem no
interesse dos indivíduos em preservar seus bens e suas vidas. Somente assim
viveriam em paz. Para isso, o contratualista defende que deve existir uma lei
fundamental, no qual o soberano monarca comum assume todos os poderes para
preservar a sociedade, conforme os interesses desejados pelos seus componentes3.
Esta é uma teoria contratualista que justifica a monarquia absoluta.
Na Inglaterra, em 1688, ocorre a Revolução Gloriosa, no qual surge o Bill Of
Rights. Tal Revolução restringe os direitos reais na medida em que coloca o
2 Ferreira Filho, p. 5-6
3 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO; Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 182.
10
Parlamento inglês como responsável pelo legislativo, dentre outros atos que limitam o
poder do monarca. Já se instaura, então, uma divisão de poderes.
Um ano após esse movimento, em 1690, Locke publica o Segundo tratado do
governo civil.
Nesta obra, Locke molda e fundamenta o que ocorreu com a separação dos
poderes, entre legislativo e executivo, se opondo a monarquia absolutista. Ele acredita
que a sociedade política seria responsável por garantir o desfrute da propriedade. O
Poder Público deve garantir a tutela dos direitos já preexistentes ao Estado, que, com
um poder absoluto, estaria ameaçado.4
Locke também esclarece que o Legislativo teria apenas a função de editar leis,
pois se igualmente tiverem o poder de aplicá-las seria correr o risco de usurpá-lo,
amoldando as leis a seu próprio favor. Quanto ao Executivo, permanece com o poder
de julgar.
Montesquieu, em sua obra, O espírito das leis, publicada em 1748, divulga a
idéia de que liberdade política, todos os poderes do governo devem ser equilibrados,
para que “o poder freie o poder”. Segundo ele, os poderes devem ser três: o legislativo,
o executivo, e o de julgar. Assim, se evitaria o abuso de poder, limitando o poder
político, pois segundo ele todo homem que possui poder é tentado a abusar dele.
Rousseau, em sua obra Contrato social, publicado em 1762, anuncia a idéia de
que o poder soberano pertence diretamente ao povo, é o pacto social. O que diferencia
Rousseau dos outros contratualistas é que ele defende que a Constituição deve ser o
espelho da vontade do povo soberano, pois não a um modelo pronto e ideal para todos
os povos. Este é o princípio da soberania popular. Para ele, o Legislativo não deveria
ser limitado por nenhuma regra, pois é por este poder que a soberania do povo é
emanada, onde a vontade geral ganha força e onde é representado5.
Esta foi a tônica para a Revolução Francesa no final do século XVIII, onde os
revolucionários, ditos representantes do povo, assumem o Parlamento e fazem com
que este tenha supremacia frente ao monarca. Ocorre que, ao fortalecer o Parlamento
4 Mendes; Coelho; Branco. p. 183.
5 Mendes; Coelho; Branco. p. 186.
11
em detrimento do monarca, acabam se desvirtuando o que propunha Rousseau, uma
vez que os poderes não mais eram equilibrados.
Essa supremacia do Legislativo enfraqueceu a lei fundamental, a Constituição.
Isso porque esta não era protegida por aquela, uma vez faltavam mecanismos para
defender a Constituição.
Não havia como contrastar o que era decidido pelo Legislativo: o judiciário
atuava para aplicar exatamente o que constava na lei, sem margem para interpretação
e não havia controle de constitucionalidade efetivo, uma vez que era remetida ao
próprio legislativo eventuais lacunas e contrariedades das leis.
Diante do já exposto, vê-se que a construção da necessidade de uma fonte
normativa maior vem juntamente como um arrimo de uma situação social e política
presente em um determinado Estado. É perceptível que para cada circunstância da
história são criados entendimentos pela própria sociedade para melhor compreendê-la,
assim é como o a teoria dos contratualistas evolui e cada vez mais a discussão em
torno da relevância da constituição como organização do Estado foi se tornando
importante.
2.2 O PENSAMENTO DE SIEYÈS E O CONCEITO DE PODER CONSTITUINTE
ORIGINÁRIO
O tema de poder constituinte originário teve sua primeira abordagem em
Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), em seu livro Que é o Terceiro Estado.
O livro publicado foi um manifesto para a Revolução Francesa, em prol das
reivindicações da burguesia frente ao absolutismo.
O Terceiro Estado para Sieyès eram as pessoas que não pertencessem à
nobreza ou ao alto clero. Nesta definição incluía-se a burguesia. A burguesia era quem
produzia a riqueza do país e ainda exercia quase integralmente as funções públicas
que não geravam lucros nem títulos de honra. Embora fosse a burguesia quem
motivava toda a riqueza do país, ela não possuía qualquer direito. Para ele, a nação se
12
identificava com o Terceiro Estado e, portanto, teria que ter papel ativo na organização
do Estado.
Em seu livro, Sieyès demonstra uma forma representativa de Governo e forma o
conceito de poder constituinte originário.
O poder constituinte é o suporte para a Constituição e tem superioridade perante
qualquer outra norma. Face esta superioridade, a Constituição precisa sempre ser
reconhecida como valor máximo de um Estado e, por isso, precisa criar mecanismos
para assim se manter. Por isso, Sieyès ainda diferencia o poder constituído originário e
o poder constituído.
Celso Ribeiro Bastos6 define bem o conceito de poder constituinte originário e a
distinção entre poder constituinte e constituído para Sieyès:
A criação de um corpo de representantes necessita de uma Constituição, na qual sejam definidos os seus órgãos, as suas formas, as funções que lhe são destinados e os meios para exercê-las. As leis constitucionais regulam a organização e as funções dos poderes constituídos (corpos), entre os quais se encontra o Legislativo. Elas são leis fundamentais porque não podem ser tocadas pelos poderes constituídos: somente a nação tem o direito de fazer a Constituição. O poder constituinte é, assim, um poder de direito, que não encontra limites em direito positivo anterior, mas apenas e tão somente no direito natural, existente antes da nação e acima dela. Além disso, o poder constituinte é inalienável, permanente e incondicionado. A nação não pode perder o direito de querer e de mudar à sua vontade; não está submetida à Constituição por ela criada nem a formas constitucionais; seu poder constituinte permanece depois de realizada a sua obra, podendo modificá-la, querer de maneira diferente, criar outra obra, independentemente de quaisquer formalidades. Os poderes constituídos, ao contrário, são limitados e condicionados; recebem a sua existência e a sua competência do poder constituinte; são organizados na forma estabelecida na Constituição e atuam segundo esta.7
Portanto, o poder constituinte originário cria uma nova Constituição,
organizando-o e definindo os poderes que devem reger os interesses da comunidade.
É o poder constituinte originário distinto e anterior a autoridade dos poderes
constituídos, pois este somente possui poder porque lhe é concedido pela constituição.
6 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional; São Paulo: Saraiva, 1998
7 Sieyès, apud Bastos, 1998, p. 22-23
13
Sieyès entendia que o povo é o soberano da nação e, portanto o titular do poder
constituinte. Como não poderia se justificar usando um direito positivo, ele afirma que é
o direito natural da nação que embasa a renovação da ordem jurídica, pois este é um
direito superior que decorre da própria natureza humana. Nação, para Sieyès, “(...) é a
encarnação de uma comunidade em sua permanência, nos seus interesses constantes,
interesses que eventualmente não se confundem nem se reduzem aos interesses dos
indivíduos que a compõe em determinado instante”8.
Sieyès ainda aborda as características do poder constituinte originário, quais
sejam: inicial, ilimitado e incondicionado.
É inicial, pois é a raiz de todo o ordenamento jurídico, é sua base. É pelo poder
constituinte que ocorre o início da ordem jurídica.
Sieyès diz que o poder constituinte é ilimitado, pois não se vincula à ordem
anterior. No entanto, o abade afirma que é dever do poder constituinte respeitar o
direito natural.
O caráter incondicional se configura, pois, como não há previsão de sua criação,
também não é regulado por qualquer norma. É a nação que diz o que quer e é pela sua
vontade e sem qualquer influência que o poder constituinte atuará.
Sieyès deu um grande salto e desenvolveu o conceito do poder constituinte que,
em grande parte, vigora até a atualidade. Porém, uma característica interessante deste
poder, é de que não se deve encarar o pensamento de Sieyés como modelo para se
ter uma constituinte ideal, como o próprio abade proclama, o poder constituinte sempre
terá a vontade da nação como requisito para sua constituição.
8 Ferreira Filho, p. 23.
14
2.3 O PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E DERIVADO
Para José Afonso da Silva, “Poder constituinte é o poder que cabe ao povo de
dar-se uma constituição. É a mais alta expressão do poder político, porque é aquela
energia capaz de organizar política e juridicamente a Nação”9.
Este conceito de José Afonso da Silva refere-se ao poder constituinte originário,
onde há um caráter inicial, pois produz originariamente o ordenamento jurídico de um
Estado.
O poder constituinte originário ocorre na formação de um novo Estado ou em
uma hipótese revolucionária em que seja necessária uma nova Constituição para
legitimar uma situação política e social de uma determinada época.
O poder constituinte derivado refere-se ao poder de reforma da Constituição,
sendo por ela mesma prevista. Estas alterações são necessárias visto a evolução dos
fatos sociais. Esta reforma pode ser por modificações ou por adições aos textos
constitucionais, mas sempre previstos por estes. A reforma é realizada por poderes
constituídos, conhece limitações constitucionais e é passível de controle de
constitucionalidade.
Portanto, os dois poderes não podem ser confundidos, o poder constituinte
derivado não possui as características básicas do originário, quais sejam, não é inicial,
não é ilimitado, nem incondicionado. Este poder tem características contrárias, ele é
derivado, subordinado e condicionado.
A modalidade originária do Poder Constituinte é o que interessa para o presente
trabalho.
9 SILVA, Jose Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular. São Paulo: Malheiros, 2000. p.67
15
3 LEGITIMIDADE DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO
3.1 A TEORIA DO PODER CONSTITUINTE E A LEGITIMIDADE
A questão mais relevante para uma teoria do poder constituinte é o problema em
torno de sua legitimidade.
Poder constituinte, pelo seu termo e analisado formalmente, sempre existiu, pois
a cada momento que uma sociedade decide se organizar para estabelecer
fundamentos para sua organização, em qualquer tempo da história se pode dizer que
ocorreu o fenômeno constituinte, pois este é seu instrumento. O que se torna de
essencial importância é a legitimidade dessa constituinte, quem pode fazê-lo e quais
seus fundamentos.
Pelo que foi visto no primeiro capítulo deste trabalho, vários foram considerados
os titulares do poder constituinte durante a história. Na Idade Media era Deus
considerado como titular do poder constituinte. Com as monarquias absolutas, a
titularidade recaia ao monarca. Já durante a Revolução Francesa, com fundamento em
Sieyès, a titularidade passa à nação10.
A nação é titular, que, de acordo com o abade Sieyès, deve ser exercido de
forma representativa. Ocorre que os representantes podem ter sua autoridade
questionada, ou seja, pode ser que não haja mais legitimidade em seu poder, o que
enseja uma reavaliação da presença dos valores inerentes à sociedade que justificam
seu comando e a obediência dos governados11.
Deste juízo de Sieyés, se extrai a importância da legitimidade do poder
constituinte para, posteriormente, a Constituição ser efetiva. Porém, compreender
como ela é construída e quais são as influências que nela incorrem é de fundamental
importância para entender a questão da legitimidade do poder constituinte.
10 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. p.158
11 BONAVIDES, p.160
16
3.2 A CONSTITUIÇÃO PARA FERDINAND LASSALLE
Ferdinand Lassalle (1825-1864), em seu livro “A Essência da Constituição”,
resultado de sua conferência pronunciada em 1863 para intelectuais e operários da
antiga Prússia, foi o precursor da teoria crítica da ordem jurídica, onde se preocupa em
explicar o que é uma Constituição.
Neste livro, Lassalle aponta que as instituições jurídicas são os “fatores reais do
poder” que são transcritos em “folha de papel”, termo muito utilizado pelo autor. Ele tem
como base para sua análise a Constituição Prussiana, que era considerada
extremamente autoritária.
Lassalle diz que uma Constituição deve ser rígida, pois ela é uma lei
fundamental da nação, é mais do que uma simples lei. Ela deve ser firme e imóvel, não
deve ser alterada, ou se for necessário, deve ter dois terços do voto do Parlamento. A
lei fundamental deve ser a lei básica, como o próprio nome já diz, que constitua o
fundamento das outras leis. A Constituição é uma “força ativa” que todas as outras leis
e instituições jurídicas vigentes seguem. Esta “força ativa” se apóia nos fatores reais do
poder que regem a sociedade. Os fatores reais de poder influenciam todas as leis e
instituições jurídicas vigentes.12
Cada fator real do poder influencia o legislador para editar suas leis. São os
fatores reais: o monarca, a aristocracia, a grande burguesia, os banqueiros, a pequena
burguesia e a classe operária. Cada um é uma parte da Constituição: o monarca
porque detém o poder do exército; a aristocracia porque são a nobreza, grandes
proprietários de terras que exercem influência na corte; a grande burguesia, pois são
responsáveis pela indústria do Estado, possuem grande capital e empregam operários,
tendo um importante papel na sociedade; os banqueiros pois emprestam dinheiro ao
Governo; a pequena burguesia e a classe operária porque são a maioria da população
que, mesmo controlados pelo Governo, não aceitariam restrições em suas liberdades
pessoais, podendo se rebelar e causar problemas para o Governo. A partir do
12 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1988. p.5-11
17
momento que a soma dos fatores reais do poder adquirem expressão escrita, se
tornam direito e instituição jurídica13.
Na Prússia, na época da conferência feita por Lassalle, o rei tinha total controle
sobre o Exército e sobre a Marinha, e estas instituições não eram obrigadas a guardar
a Constituição e sim apenas ao monarca. Com isso, segundo o autor, o monarca tem
um poder muito superior ao restante da Nação inteira, demonstrando o tamanho da
força política que o rei tem em suas mãos. O autor ainda afirma que este poder do rei é
organizado, enquanto o poder da nação não. O poder organizado consegue se reunir a
qualquer tempo, o que não acontece com a nação, situação que impede resistência às
condutas do monarca, razão pela qual o rei se sustenta pelo decorrer dos anos14.
O autor afirma que as Constituições escritas são constituídas de acordo com os
fatores reais de poder que regem o país, somente assim ela se tornar efetiva. Se não
houver esta correspondência, a constituição escrita fatalmente sucumbirá a qualquer
momento. Segundo Lassalle, os problemas constitucionais são essencialmente de
poder e não de direito15.
3.3 UMA CERTA CONCEPÇÃO DE PODER
Partindo do entendimento de Lassalle, de que a constituição é resultado de um
conflito de poderes existentes em uma sociedade, resta compreender a extensão do
termo “poder” e também relacioná-lo com o direito.
A constituição como um complexo de normas que regem uma estrutura social e
política, se forma com um sistema de poderes. Nelson Saldanha afirma que toda
situação social é acompanhada como um aspecto de poder. Para o autor, todas as
espécies de poder, seja econômico, psicológico, militar ou político englobam o poder
13 Lassalle, p. 11-18
14 Lassalle, p. 22-25
15 Lassalle, p. 41-49
18
social, e só podem ser considerados como autêntico poder quando atuam em relações
de caráter social. Portanto, o poder tem um caráter pluralístico, sendo mais ou menos
sociais.16
Segundo o Nelson Saldanha:
Podemos considerar antes do mais as formas do poder que são espécies evidentes do poder social, ou setores seus: o poder econômico, o político, o militar, o jurídico. E há poderes não propriamente sociais, mas que melhor se manifestam quando aparecem em relações sociais, como o poder psicológico ou o biológico. Em verdade a “vantagem” resultante de qualquer espécie de poder é antes de tudo, num plano genérico, vantagem “social”: o possuidor de qualquer grande capacidade econômica, de qualquer grande prestígio religioso, de grande aptidão psíquica ou física, adquire uma amplitude de oportunidade de ação que tem em primeiro termo sentido social genérico.17
No entanto, apesar dessa grande amplitude do termo, tem-se que aproximar o
conceito de poder ao ponto de vista jurídico. Somente com esta compreensão,
percebe-se que a Constituição não é somente uma conjugação de poderes ou um
aglomerado de normas, é justamente com a interação destes dois fatores é que se
pode falar em Constituição.
Desta forma, tendo em vista o entendimento do poder social, pode-se dizer que
nada mais se une a ele do que o direito. Isto pelo motivo de que o poder social se
relaciona a todos os planos da sociedade, tendendo a se tornar direito. ”Na medida em
que o jurídico é prestigiado pelo social, os alcances do poder se aproximam do direito;
na medida em que o jurídico inclui o poder e o penetra, o poder se alça e adquire
investimento jurídico”18.
Neste sentido, deve existir uma sintonia entre a realidade social e o poder para
se formar uma Constituição. Desta forma, a Constituição não será apenas um conjunto
de normas, mas irá refletir e estará em conformidade com a sociedade e com os
poderes que nela atuam.
Tendo em vista que a Constituição é o reflexo das influências atuantes da
sociedade, ela deve ter a finalidade de limitar e definir o alcance destas influências. Isto
16 SALDANHA, Nelson. O Poder Constituinte. São Paulo: Revisto dos Tribunais, 1986. p.31-32
17 Saldanha, p. 38-39.
18 Saldanha, p. 50.
19
tem relação com a atuação do Estado. Segundo a concepção de Flávio Bierrenbach,
Estado “é uma nação com um governo institucionalizado”19. A estabilidade do governo
é mantida pela Constituição, que deve limitar suas competências para impedir o uso
arbitrário do poder estatal e definir o raio de ação do poder político para que este atue
nos conflitos entre classes, impedindo o arbítrio do poder econômico em face dos
demais cidadãos. Sem a existência desses freios para controlarem o poder, não se
pode falar em governo constitucional. Estas principais finalidades da Constituição têm o
objetivo de garantir a liberdade e a igualdade dos cidadãos20.
3.4 PODER POLÍTICO
O poder social para alcançar o direito tem como instrumento a política, esta é
entendida como o conjunto de meios utilizados para o acesso, exercício e manutenção
do poder.
Toda Constituição, como norma fundamental de um Estado e como resultado de
um conjunto de influências na sociedade, implica em uma ligação do que compreende
aspectos jurídicos e políticos. A política é usada para atingir finalidades de interesse da
sociedade, sendo que o modo como isto se procede é de caráter essencialmente
político, até chegar à sua inserção em uma ordem jurídica.
O poder político é a decorrência da capacidade de influência de seu corpo de
afetar a vida da sociedade, possibilitando o controle e o direcionamento do Governo. O
poder político visa à preservação dos valores fundamentais do indivíduo, da sociedade
e do Estado, e procura métodos adequados para atingir esses objetivos, ou seja,
procurar atingir o bem comum.
Dalmo de Abreu Dallari menciona três dualismos fundamentais para êxito
desses objetivos21:
19 BIERRENBACH, Flavio. Quem tem medo da Constituinte? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 23
20 Bierrenbach, p. 41
21 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2003. p.130
20
a) necessidade e possibilidade. É a verificação das necessidades do povo, de
forma a preservar seus valores, assegurando elementos compatíveis com a natureza
humana e a sua sobrevivência, e estabelecer, de acordo com as possibilidades, os
métodos para a consecução desses fins;
b) indivíduos e coletividade. É a conciliação das necessidades dos indivíduos e
da coletividade, tendo em consideração que, embora o indivíduo tem o valor mais alto,
deve ser analisado ele inserido no contexto da sociedade, de forma a não privilegiar um
ou alguns indivíduos em detrimento dos outros;
c) liberdade e autoridade. Trata-se da possibilidade de existir coerção por parte
do governo para manter a ordem e atingir os objetivos propostos, mas com cautela
para não ensejar demasiada restrição a este direito, que é um dos valores
fundamentais da pessoa humana.
Juntamente com a conceituação de poder político, faz-se necessário
compreender o entendimento de que esta condição (poder político) é estritamente
ligada à concepção de Lassalle, no qual a Constituição seria o resultado dos fatores
reais de poder, partindo do pressuposto de que quem detém poder político é capaz de
influenciar na edição da norma fundamental, mas com a distinção de que, se a
Constituição não mais atender completamente os interesses do poder político, nem
sempre suas normas não serão mais efetivas, isto porque a Constituição possui um
vigor normativo que pode atribuir regras para o poder político e este pode aceitar sem
uma necessária alteração na norma fundamental.
Contrapondo-se a Ferdinand Lassalle, o professor Konrad Hesse, elaborou um
trabalho em 1959 afirmando que a Constituição não deve ser encarada apenas como
um desfecho das influências dos fatores reais de poder, pois assim a Constituição
sempre será vista em uma forma negativa, como apenas um instrumento para justificar
as forças dominantes de um Estado em um determinado momento. Segundo Hesse, a
Constituição possui uma força própria, motivadora e ordenadora do Estado22.
Segundo o autor, a Constituição terá força ativa se as regras nela contidas forem
efetivamente realizadas. Para isso, ela deve ter vinculação com as tendências
22 HESSE, p. 11.
21
dominantes da situação atual do Estado, preservando as disposições culturais, sociais,
políticas e econômicas presentes.
Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional –, não só a vontade de poder, mas também a vontade de Constituição
23.
A vontade de Constituição, segundo Hesse, é caracterizado pela vontade de
manter o respeito à Constituição, mesmo que, em certo momento, seja necessária a
renúncia a alguns benefícios, ou até a algumas vantagens. A freqüente revisão ou
criação de novas Constituições sob alegação de suposta necessidade política
desvaloriza a eficácia da norma Constitucional, por isso a sua estabilidade é condição
fundamental24.
Assim, entendendo o que é poder político, pode-se dizer que a Constituição é
decorrente de uma força política apta a instituir e preservar o vigor normativo de seu
conteúdo. O poder constituinte, então, é a exteriorização da vontade política da nação
que “não pode ser entendido sem a referência aos valores éticos, religiosos, culturais
que informam essa mesma nação e que motivam suas ações”25.
3.4 POVO
Percebe-se que o detentor o poder político, ou pelo menos quem o exerce, não é
o povo como um todo, mesmo sendo ele o foco deste poder.
A palavra “povo” é uma constante nas Constituições modernas, seja em seu
texto, seja invocando o poder constituinte. Está na atual constituição brasileira, no §
único de seu art. 1º: “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. Está
23 Hesse, p. 19.
24 Hesse, p. 23
25 Mendes; Coelho; Branco. p. 197-199.
22
também na constituição alemã, em seu preâmbulo: “o Povo Alemão, por força do seu
poder constituinte”26.
Esta palavra é demasiadamente usada no vocabulário político e jurídico, sendo
preciso em grande esforço para se atingir uma noção aceita de seu sentido. Para isso,
tem-se que esclarecer algumas confusões quanto ao termo e aproximá-lo à sua
concepção jurídica.
Primeiramente, cumpre esclarecer a diferença entre povo e população.
População é apenas uma expressão numérica que cinge o conjunto dos indivíduos que
compõe um Estado. Povo não pode se resumir a esta concepção, o termo população
não abrange nenhuma vinculação jurídica entre o individuo e o Estado27.
Outra diferenciação importante ocorre entre povo e nação. Como já visto, nação
foi o grande termo utilizado por Sieyès em seu manifesto da Revolução Francesa,
sendo utilizado para exteriorizar o que se referisse ao povo na época. Desta forma,
ligava-se à nação como um sentido de Estado. No entanto, modernamente, a nação
não é mais entendida desta maneira. Este termo agora abarca apenas a origem do
indivíduo, como inserido em uma comunidade com ligações histórico-culturais, com
mesmos ideais e costumes. Portanto, a extensão deste termo também não abrange
conexão jurídica entre o individuo e o Estado28.
A conexão dos indivíduos com o Estado ocorre em duas situações: quando
estão em uma relação de subordinação ao Estado, sendo sujeito de deveres, e quando
se encontram em uma relação de coordenação com o Estado e com os outros
indivíduos, sendo, portanto, sujeito de direitos. Neste juízo de idéias, quando o
indivíduo se insere neste relacionamento, pode-se dizer que ele é um cidadão. No
entanto, para ser considerado um cidadão, pressupõe-se a participação do indivíduo na
constituição do Estado, pois é isso que vai consignar um caráter permanente dessa
26 MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? São Paulo: Max Limonad, 1998. p.47-48
27 Dallari, p. 95.
28 Dallari, p. 96.
23
relação, mesmo com o nascimento de outros indivíduos. Assim, considera-se um
cidadão com capacidade e direitos políticos, pois é atuante e participativo no Estado29.
Como Dalmo de Abreu Dallari afirma:
Todos os que se integram no Estado, através da vinculação jurídica permanente, fixada no momento jurídico da unificação e da constituição do Estado, adquirem a condição de cidadãos, podendo-se, assim, conceituar povo como o conjunto de cidadãos do Estado. Desta forma, o indivíduo, que no momento mesmo de seu nascimento atende aos requisitos fixados pelo Estado para considerar-se integrado nele, é, desde logo, cidadão.30
Müller amplia ainda mais o conceito do povo, dizendo que não são apenas os
cidadãos, pois ninguém está excluído do povo-destinatário, isto é, mesmo que a
pessoa perca temporariamente a capacidade de exercer os direitos civis, como os
doentes mentais ou os menores de idade, também estes tem sua pretensão normal aos
seus direitos fundamentais31.
Diante do exposto, há necessidade da participação do povo no processo
constituinte do Estado. Este deve ser a expressão da vontade popular, de forma a
realizar suas aspirações. Se não ocorrer deste modo, não há como falar em
legitimidade seja do corpo político, seja do governo, seja do processo constituinte por si
mesmo.
3.6 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO
A Constituição, como norma fundamental do Estado e com o objetivo de
guardar os interesses do povo, deve preservar um conjunto de princípios inerentes à
condição humana, decorrentes de suas condições e de seus desejos permanentes.
Pode-se afirmar isto, pois, como já visto, a Constituição somente se legitima com o
povo, e este possui direitos intrínsecos à sua categoria.
29 Dallari, p. 98-100
30 Dallari, p. 100
31 Müller, p. 79-80.
24
Esta preocupação se volta até a Antiguidade, onde as sociedades já se
preocupavam na preservação de direitos fundamentais, pois estes estão acima do
poder de qualquer governante. Os direitos fundamentais nesta época eram decorrentes
de uma combinação de preceitos jurídicos, morais e religiosos de uma determinada
sociedade. No entanto, o documento que é considerado o precursor destes resguardos
é a Magna Carta da Inglaterra, que majorou os direitos da igreja e dos nobres da época
em detrimento do poder absoluto do monarca. Em seu conteúdo, estabeleceu
princípios que tiveram uma consagração universal, como, por exemplo, o grande
instrumento contra a restrição da liberdade, o habeas corpus. Ainda na Inglaterra, no
ano de 1689, houve a criação pelo Parlamento do Bill Of Rights, que garantia liberdade
de expressão e liberdade política, os indivíduos podiam eleger seus representantes e
podiam também ter voz ativa no Parlamento32.
No ano de 1776, na intitulada Declaração de Virgínia, surgiu a primeira
declaração de direitos, que tinha como foco a preservação de direitos naturais do
indivíduo, cuja cláusula primeira proclamava “que todos os homens são por natureza
igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inerentes, dos quais, quando
entram em qualquer estado de sociedade, não podem por qualquer acordo, privar ou
despojar os pósteros; quer dizer, o gozo da vida e liberdade, com os meios de adquirir
e possuir propriedade, e perseguir e obter felicidade e segurança”33. Percebe-se, no
conteúdo desta primeira cláusula da declaração da Virgínia a prevalência dos direitos
naturais, que estão acima das próprias Constituições.
A Assembléia Nacional francesa, inspirada pelo feito em Virgínia, ocorreu em
1789, onde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada, que
compreendeu em dezessete artigos e um preâmbulo os ideais do liberalismo francês
na primeira fase da Revolução Francesa. Esta declaração representou o maior marco
para a preservação dos direitos e valores fundamentais da pessoa humana e tem um
caráter notável até os dias atuais. A declaração envolve direitos de liberdade de opinião
e política, igualdade, finalidade do poder político, propriedade, segurança, legalidade e
32 Dallari, p. 206.
33 Dallari, p. 207.
25
ainda proclama que se em uma sociedade não houver assegurado a garantia dos
direitos fundamentais, nesta não há constituição.
Uma idéia de uma nova declaração de direitos surgiu após a II Guerra Mundial,
decorrente dos abusos de Governos e visíveis desigualdades sociais frutos dos
princípios essencialmente individualistas do liberalismo, que favoreceu
demasiadamente a burguesia em detrimento dos indivíduos, que nada mais possuíam
do que a força de trabalho. O objetivo era proteger os homens para que pudessem ter
acesso aos bens sociais. Deveriam ser regidas normas para que seja possível o
alcance de uma justiça social. O documento que contemplava esta finalidade foi a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Proclama em seu artigo 22, a segurança
social, à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua
dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Esta declaração, por tratar
de direitos fundamentais inerentes à natureza humana, tem no próprio conteúdo de
suas normas o objetivo de torná-las efetivas a todo indivíduo, sendo que ninguém tem
legitimidade de retirá-las, seja governos, Estados, ou a própria Organização das
Nações Unidas.34
Isto tudo conduz à conclusão que nenhuma Constituição será legítima se não
conter direitos inerentes ao homem, como a liberdade e a igualdade. Faz-se necessário
um Estado de Direito, onde sejam previstas normas que contenham tutela aos direitos
fundamentais do indivíduo e que limitem a atuação do Governo com o objetivo de
prevenção a um poder absoluto que não respeita estes princípios.
3.7 DEMOCRACIA
A questão da legitimidade do poder constituinte adquire um aspecto
compreensível ao ser relacionada com uma concepção democrática de exercício do
poder.
34 Dallari, p. 209-211
26
Visto que o povo é o titular e é quem legitima o poder constituinte, aproxima-se o
poder constituinte com a democracia, pois esta é um regime político que se
fundamenta na vontade do povo.
O Estado Democrático surgiu com a finalidade de preservar os direitos
fundamentais do indivíduo em face do absolutismo, decorrente dos princípios já
expostos elaborados no Bill Of Rights, na Inglaterra, da Declaração de Virgínia, nos
Estados Unidos, e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França. A
democracia é o meio utilizado para que esses direitos sejam tutelados pelo Estado.
Segundo Dallari35, existem três pontos fundamentais que são exigências da
democracia:
a) supremacia da vontade popular. É a exigência da participação popular no
Governo, onde está inserido o modo representativo de Governo, o direito de sufrágio e
os sistemas eleitorais e partidários;
b) preservação da liberdade. É entendida como o direito de fazer tudo que não
incomode outros indivíduos e o direito de dispor de sua pessoa e de seus bens;
c) igualdade de direitos. É a isonomia de todos perante a lei.
A democracia, portanto, tem como essência a soberania popular, como resposta
aos poderes absolutos. Na democracia, os cidadãos aderem à autoridade de forma
livre e voluntária, pois governo atua para garantir o máximo de segurança e bem-estar
a todos36. “O poder, assim, será legítimo, na medida em que os meios de realização de
suas vontades, ou de seus comandos, integrem um processo democrático de tomada
de decisões”37.Deste modo, a democracia é a conexão entre o povo e o governo.
Agora, resta entender as formas com que o povo participa do poder. Para isso,
existem três espécies de exercício da democracia: a direta, a representativa e a
semidireta.
35 Dallari, p. 151
36 Silva, p. 45.
37 Bierrenbach, p.45
27
Democracia direta ocorre quando o povo atua editando leis, administrando e
julgando. Esta é uma realidade de difícil realização, pois é complicado imaginar todo o
povo exercendo tais funções do Estado diretamente.
Devido a impossibilidade prática da democracia direta, se tornou mais exequível
o exercício da democracia representativa, onde o povo elege representantes para
atuarem em seu nome, com mandatos periódicos.
Segundo José Afonso da Silva38:
A democracia representativa pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, que vêm a formar os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, os sistemas eleitorais, os partidos políticos, etc. Mas nela a participação é indireta, periódica e formal, por via das instituições eleitorais que visam a disciplinar as técnicas de escolha dos representantes do povo.
Na modalidade de democracia semidireta, ocorre uma de uma forma
representativa, mas são utilizados institutos que possibilitam ao povo uma participação
direta: a iniciativa legislativa popular, onde o povo ou parte dele apresenta projetos de
lei que devem ser submetidos à aprovação popular, após aprovadas pela Câmara
Legislativa, por meio de eleição; o referendo popular, que garante ao cidadão o voto
em projetos de lei aprovadas pelo Legislativo; o veto popular; que é a garantia do povo
em retirar vigor normativo à uma lei; a revocação (recall), onde, a requerimento de um
certo número de eleitores, o mandado de um cargo eletivo pode ser revogado, após
submetido ao voto popular. A democracia semidireta também pode ser chamada de
democracia participativa39.
A discussão em torno da democracia é relevante, pois induz a maneira da
participação do povo no processo constituinte. O povo deve ter participação na
elaboração do conteúdo básico da Constituição, bem como, após ser aprovado o
projeto constituinte, decidir, em referendo popular, se esta é a Constituição que atende
aos seus valores e as mudanças que almejam. Somente assim podemos dizer que ela
é legítima e é reflexo da vontade popular. “Na verdade, sem a plenitude da participação
38 Silva, p. 47.
39 Silva, p. 51.
28
do povo, o governo não será nunca um governo constitucional, mas governo de fato
dissimulado em aparências constitucionais ou sem essas aparências”40.
3.8 EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO
O exercício do poder constituinte é modo que o poder constituinte atingirá sua
constituição formal. Este assunto está ligado ao caráter incondicional do poder
constituinte, isto é, não há forma prefixada para seu exercício.
Por uma concepção democrática, somente com a participação popular será
criada uma constituição legítima e efetiva, onde o povo deve participar direta ou
indiretamente, para que seja a expressão de suas vontades e aspirações.
José Afonso da Silva aponta quatro formas democráticas de exercício do poder
constituinte:41
a) exercício direto, onde a constituição é preparada por um governo provisório
ou em transição e é submetida a referendo popular. Temos como exemplo mais
recente o referente em 1980 no Chile de Pinochet, que este método de exercício foi
usado para consagrar seu governo;
b) exercício indireto, onde é criada uma Assembléia Constituinte composta de
representantes do povo eleitos com poderes específicos para elaborar e promulgar
uma constituição;
c) exercício por forma mista, onde é formada uma Assembléia Constituinte nos
modos do exercício indireto e, quando criada a constituição, é submetida a referendo
popular. Esta foi a forma utilizada para a Constituição espanhola de 1978.
d) exercício pactuado, onde ocorre uma criação consensual da constituição por
representantes dos Estados ou províncias de um país. Este tipo de exercício ocorreu
40 FAORO, Raymundo. Assembléia Constituinte e Legitimidade Recuperada. São Paulo: Brasiliense, 1981. p.15
41 Silva, p. 70-71.
29
nos Estados Unidos em 1787, quando se reuniram delegados dos treze Estados
soberanos, que eram colônias inglesas, em uma convenção.
Atualmente, o modo típico de exercício do poder constituinte originário por
participação popular é por meio da Assembléia Constituinte.
Na Assembléia Constituinte, como já dito, a constituição provém da deliberação
de representantes do povo, realizado através de debates e votações. Para isto, se
torna de extrema importância a eleição de representantes constituintes em
consonância ao desejo da nação, para realmente propor para a nova constituição as
transformações aspiradas, em todos os âmbitos: político, econômico e social.
Ressalta-se a importância dos membros da Assembléia Constituinte ser
independente da atual composição do Poder Legislativo. Os dois poderes não podem
ser confundidos. Isto segundo José Afonso da Silva, garantiria a idéia de exclusividade
e autonomia da Assembléia Constituinte, sendo esta funcionando como um poder
paralelo às funções do Legislativo, Executivo e Judiciário durante um certo período de
tempo.42
Esta discussão é relevante, pois, se o Legislativo compusesse simultaneamente
o poder de criar uma nova constituição e de editar leis em consonância com a antiga
constituição seria uma total incoerência com as características básicas do poder
constituinte originário. O poder da Assembléia Constituinte deve ser soberano, pois é
decorrente da vontade do povo. Enquanto em funcionamento, a Assembléia deve ser o
único poder real existente. Melhor dizendo, os outros poderes estão condicionados a
atuação da Assembléia Constituinte, pois esta pode alterar o próprio funcionamento do
Legislativo, Executivo e Judiciário. Pelos motivos expostos, seria totalmente inaceitável
que os membros do Legislativo também fizessem parte da Assembléia Constituinte.
A Assembléia Constituinte tem a responsabilidade de atender a vontade da
nação, por isso deve ser soberana, o povo não pode reconhecer outro poder de maior
ou igual hierarquia, só ela deve decidir sobre assuntos da organização estatal e jurídica
em todos os níveis. A presença de qualquer outra instituição do Estado na Assembléia
42 Silva, p. 73.
30
Constituinte traria um conflito onde não mais se preservaria a legitimidade para qual foi
proposta.43
Essa é a idéia da doutrina francesa da soberania nacional, que tem como
princípio básico que o poder constituinte deve recair em um órgão distinto dos outros
órgãos já constituídos. O poder constituinte deve ser um poder em paralelo aos
poderes constituídos, pois estes já pressupõem uma constituição e já se fundamentam
nela para atuarem. Esta é uma garantia de natureza formal, pois assim há um
resguardo de interferências que restrinjam direitos de interesse da nação.44
Existe também o modo de outorga como exercício do poder constituinte. A
outorga consiste na edição da Constituição por declaração unilateral do próprio
detentor do poder, elaborada através de uma carta. Nesta caso, o a agente do poder
constituinte se sujeita a impor determinadas regras ao próprio poder, ao invés de deixá-
lo ilimitado. Este modelo é comum às monarquias absolutas e também pode ser
decorrente de revoluções onde seus líderes assumem o poder, como o ocorrido na
Constituição brasileira de 1937, originado de um golpe de Estado dado pelo Presidente
Getúlio Vargas.45
Esta é claramente um modo no qual não está presente a vontade do povo, pois
o poder constituinte está restrito a uma pessoa apenas.
Quanto ao caso da Constituição de 1967, com traços de exercício do poder
constituinte mediante outorga e mediante Assembléia Constituinte, é um estudo que faz
parte do presente trabalho e será exposto em momento oportuno.
43 Silva, p. 74.
44 Bonavides, p.153-154.
45 Ferreira Filho, p.64.
31
3.9 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E REVOLUÇÃO
Compreender este assunto se torna de fundamental importância para o
propósito deste trabalho, pois é a ligação entre o poder necessário para se estabelecer
uma constituição e o fenômeno social revolução, que é, na maioria das vezes, ponto de
partida para uma nova constituinte. De certo, desde já, pode-se dizer que a revolução
se caracteriza como um veículo do poder constituinte originário.
Em um sentido genérico, revolução é um ato ou efeito de revolucionar, é uma
insurreição, rebelião, é uma mudança radical na estrutura econômica, política e social
de um Estado, que acarreta total modificação das instituições, costumes e ideologias
dominantes.
Por meio de uma análise histórica, duas causas geram as grandes revoluções,
quais sejam, a causa política e a causa sócio-econômica. As revoluções ocorrem frente
a uma desarmonia entre as instituições e os valores fundamentais de uma sociedade
ou a repressão a esses institutos da sociedade e a impossibilidade de satisfazer as
necessidades vitais da maioria dessa sociedade. Compreendem este entendimento,
dentre outros, a má distribuição de riquezas, desigualdade de privilégios e conflito de
classes economicamente desiguais. Na revolução política, há interesse de um grupo
em promover alteração na composição do atual governo, por estar insatisfeita com a
gestão, sem se importar muito com a estrutura do Estado. Quanto à revolução social,
esta ocorre de forma muita mais profunda, pois trata-se de um movimento popular que
busca alterações sociais, de estrutura governamental, econômicas e também
políticas.46
No entanto, nem sempre uma revolução vislumbra uma alteração completa na
estrutura do Estado e de seu relacionamento com os cidadãos. Há a possibilidade de
ocorrer uma mera substituição de governantes, como a revolução política citada
anteriormente. Também é possível criar uma nova constituição e não haver mudanças
significativas em um contexto geral do Estado. Há possibilidade de unir as duas
hipóteses anteriores, o que não necessariamente é se configura uma revolução para o
46 SILVA, Heber Americano. Direito Constitucional. Bauru: Jalovi, 1971, p. 84-85.
32
povo. Transpondo essas duas hipóteses de revolução, pode-se chegar a um nível de
transformação que realmente se torne necessário um poder constituinte originário,
onde se forme uma nova escala de valores, onde o povo, o único titular do poder
constituinte originário, tenha seus interesses atendidos.
Quando a revolução se torna de interesse popular, da coletividade, surge de
forma decisiva para o seguimento do Estado e, conseqüentemente, para a estrutura
jurídica daquela nação. Por isso, a revolução passa de apenas um fenômeno social
para um fenômeno jurídico.
A revolução se caracteriza também por ter um resultado em curto prazo, tendo o
uso da violência muitas vezes inevitável. Isto ocorre pois é difícil que alguma mudança
significativa e rápida ocorra sem o uso da força bruta ou sem reação daqueles que
deixaram o poder pela insurgência ou ascensão revolucionária.
Porém, não é isso que garante o sucesso de uma revolução como poder
constituinte originário, como afirma o doutrinador Jorge Miranda47:
A revolução não é o triunfo da violência; é o triunfo de um Direito diferente ou de um diverso fundamento de validade do sistema jurídico positivo do Estado. Não é antijurídica; é apenas anticonstitucional por oposição à anterior Constituição – não em face da Constituição in fieri que, com ela, vai irromper.
Hans Kelsen, define o conceito jurídico de revolução. Para ele “é revolução toda
modificação ilegítima da Constituição, ou seja, toda modificação da Constituição que se
efetive por um caminho que não é o previsto nessa mesma Constituição para sua
própria modificação”.48 Para Kelsen, portanto, não importa o que como que essa
alteração foi efetivada. Revolução, juridicamente, é uma alteração ou uma total
substituição da Constituição que não foi previsto pela Constituição vigente.
De fato, a revolução é um ato antijurídico contra o direito vigente, mas nela está
presente um direito próprio, que busca consolidação.
Como já estudado, ao conceber uma nova idéia constituinte, com a quebra do
ordenamento jurídico em vigor, é imprescindível a presença de valores e princípios que
47 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra, 2000. p.83-84
48 Kelsen, apud Ferreira Filho, P. 37.
33
abarcam o direito natural do indivíduo em um contexto coletivo, somente assim o
veículo revolução vai ter a legitimidade necessária para desencadear efeitos
normativos direcionados a todos os ramos que a revolução social tem por escopo. São
somente os valores e princípios em questão que justificam um total rompimento da
ordem anterior para criação de uma nova e assim tornar efetivo o poder constituinte e a
nova Constituição.
A revolução tem na força, o ponto de apoio para o sucesso de tal empreitada,
que só necessitará disso até ter controle da situação que é o momento que passará de
uma fase destrutiva para uma construtiva, social e jurídica. Por isso a revolução ocorre
em caráter transitório, até a completa sua legitimação.
34
4 O PODER CONSTITUINTE DO MOVIMENTO MILITAR ENTRE 1967 E 1969
4.1 CONTEXTO HISTÓRICO, ORIGENS E FUNDAMENTOS PARA O GOLPE DE
1964
O início da década de 60 foi conturbado, foi um período de crise política para o
Brasil. Em lapso de apenas quatro anos, entre 1961 e 1965, tivemos três presidentes.
O primeiro eleito, Jânio Quadros, foi levado a renúncia; o segundo, João Goulart, teve
uma difícil sustentação de seu mandato e sucumbiu em 1964 em razão do movimento
revolucionário organizado pelos militares, que ergueram o militar Humberto Castelo
Branco à presidência do país no mesmo ano.
Essa perturbada história política teve origem desde os primeiros anos de
vigência da Constituição de 1946, principalmente a partir de 1954. Neste período,
apenas dois presidentes terminaram seus mandados: Eurico Gaspar Dutra, entre 1946
e 1951, e Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961.
Para sucessão do Governo Kubitschek, tivemos dois candidatos, que se
preparavam para a eleição em outubro de 1960. Eram eles Jânio Quadros e Henrique
Lott. Lott, que era o Ministro da Guerra, como exigência legal, deixou seu cargo para
formalizar sua candidatura pelo Partido Social Democrático (PSD). Jânio, seu opositor,
era considerado o maior fenômeno da política brasileira até então. Tinha 43 anos de
idade nas eleições sendo que, com 13 anos de vida pública, já tinha participado de
vários cargos públicos em São Paulo: vereador, deputado estadual, prefeito da capital
e governador do Estado. Jânio tinha uma imagem de ser populista com uma enorme
identificação com as massas. Além de ser extremamente populista, considerava-se que
Jânio era extremamente competente em seus cargos49.
No início de sua candidatura, que começou a partir de abril de 1959, um ano e
meio antes do pleito, Jânio não era filiado a nenhum partido político, fazia parte do
49 PILAGALLO, Oscar. A História do Brasil no Século 20 (1960-1980). São Paulo: Publifolha, 2004. P. 14-15.
35
Movimento Popular Jânio Quadros. Porém, como o candidato era o favorito, a União
Democrática Nacional (UDN) passou a cortejá-lo sendo que, em novembro do mesmo
ano, por grande interesse do deputado de maior expressão do partido, Carlos Lacerda,
foi oficializada uma aliança entre as partes. Porém, diante do da excessiva ingerência
do partido, Jânio renunciou a sua candidatura três semanas após formada a aliança. A
primeira vista, pareceu um ato impensado, mas se tratava de uma manobra política
praticada pelo candidato. Este ato, na verdade, o fortaleceu e, pouco tempo depois,
retornou ao partido e a sua candidatura.
Nesta eleição, havia uma peculiaridade interessante que pode ter alterado a
história dos episódios subseqüentes em nosso país: era possível a elegibilidade do
presidente e do vice em voto separado. Deste modo, tivemos quatro nomes nesta
eleição: Jânio Quadros (Presidente) e Milton Campos (Vice) pela UDN e Henrique Lott
(Presidente) e João Goulart (Vice) pelo PSD.
No dia 3 de outubro, pela primeira vez na história do país, foram eleitos
representantes por partidos diferentes. Jânio Quadros com larga vantagem sobre Lott e
João Goulart com pouca diferença de Milton Campos.
Em seu governo, Jânio se apresentava divergente do partido que fora eleito, a
UDN, principalmente no tocante à política externa do país. Enquanto seu partido tinha
clara identificação e influência dos Estados Unidos, Jânio se mostrava com tendência
socialista. No ato mais emblemático desta convergência, relevando sua negação de
apoio aos Estados Unidos à invasão de Cuba, em 1961, Jânio recebeu o líder
comunista e ministro cubano Ernesto “Che” Guevara, em agosto do mesmo ano, para
homenageá-lo.
Carlos Lacerda, então Governador do Estado da Guanabara, que foi o principal
cabo eleitoral de Jânio pelo partido UDN, estava desiludido com o andar do Governo
Jânio. Além do caráter emblemático do episódio citado, também foi o estopim para que
Carlos Lacerda se pronunciasse pelo rádio, a todo o país, demonstrado sua crítica a
homenagem feita. Carlos Lacerda também denunciou um golpe que o Presidente da
República poderia desferir frente às instituições. Os dois estavam em rota de colisão.
36
Devido às pressões, Jânio Quadros passou um ofício ao Congresso Nacional,
renunciando ao mandato de Presidente da República, sem muitas explicações, apenas
mencionando que haveria forças se levantando contra ele.
Diante da renúncia, João Goulart, o Jango, era o sucessor imediato. O problema
é que Jango tinha tendências esquerdistas maiores até do que as de Jânio. No
momento da renúncia, por exemplo, Jango se encontrava na China comunista, em
missão oficial. Portanto, os presidentes mudaram, mas o principal problema continuou.
Como visto, a tendência socialista era uma constante preocupação de Carlos
Lacerda e neste sentido também se postava às forças militares da época. O consenso
dos militares era que Jango não deveria tomar posse. Resta entender o motivo desta
inquietação.
A partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido em duas partes: o
ocidental, “democrático”, “cristão” e “livre”, que tinham como força principal os Estados
Unidos, e o oriental, “socialista” que tinham como líder União Soviética. Tamanho era o
antagonismo que, entre os países, não havia espaço para intermediários, ou se estava
a favor de um, ou a favor de outro. Devido a posição geográfica, os países ocidentais,
como o Brasil, se encontravam obrigados a acompanhar os Estados Unidos. Os norte-
americanos atuavam em enorme influência nestes países, proibindo-os de manter
relações diplomáticas com a União Soviética e seus aliados. Este foi o período da
“guerra fria”50.
No Brasil, logo após o início da “guerra fria”, para difundir o idealismo norte-
americano, foi criada a Escola Superior de Guerra, que deveria agrupar e doutrinar
convenientemente os altos chefes militares das forças armadas, os funcionários
graduados dos ministérios e instituições estatais e paraestatais e os grandes
empresários. Os Estados Unidos, na verdade, queriam influenciar os militares do país,
de modo a velar para que as bases impostas pelos norte-americanos fossem
50 SODRÉ, Nelson Werneck. Vida e Morte da Ditadura: 20 anos de autoritarismo no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1984. P. 22-23.
37
estabelecidas. Desta maneira, qualquer conduta contrária ao interesse norte-americano
poderia ser subjugada frente ás forças militares do Brasil51.
Os fatos comprovam esta influência. A instrução militar do Brasil passou a
modelar-se pelo adotado pelos norte-americanos. No período compreendido entre 1945
e 1965, os militares, no Brasil, depuserem quatro vezes os presidentes. Em todos os
casos, os presidentes eram acusados de tendências socialistas. Nas palavras de
Nelson Werneck Sodré52:
Após a Segunda Guerra Mundial, os golpes militares, no Brasil, apresentam curiosa alternância (e aqui são incluídos os pronunciamentos que não chegaram à fase de luta armada e conquista do poder): em 1945, Vargas é deposto, quando orientava a redemocratização do país, acusado de pender para solução “subversiva”; em 1951, retorna ao poder, garantido pelos militares, em conseqüência de sua consagração nas urnas; em 1954, é deposto e levado ao suicídio, ao inclinar-se a uma posição nacionalista; em 1955, entretanto, Kubitschek, apoiado em forças políticas antes organizadas por Vargas, tem sua posse assegurada pelos militares; em 1961, com renúncia do presidente Quadros, a tentativa de golpe militar aborta por força de resistência da própria força militar. Existe, assim, uma alternância, na seqüência dos golpes e pronunciamentos militares: ora eles se definem em defesa de soluções democráticas, ora contra a democracia... Em todos os casos, tais presidentes eram acusados de tendências esquerdistas. E todas as vezes, a propaganda do golpe militar alicerçou-se no anticomunismo.
Como citado em Sodré, houve uma tentativa de golpe à posse de Jango. De
pronto à renúncia de Jânio, os ministros militares ordenaram a prisão do Marechal Lott,
fracassado em sua candidatura à presidência, era favorável ao seu companheiro de
partido Jango. Do outro lado, havia os que defendiam a legalidade, que já faziam sua
organização armada, onde o principal foco era Rio Grande do Sul, com o atual
Governador, Leonel Brizola, cunhado de Jango, que o apoiava fielmente para sua
posse. Os dois eram convergentes em pensamentos, Brizola, durante seu mandato de
Governador, encampou uma filial de uma empresa norte-americana em seu Estado. Tal
fato provocou a hostilidade com as forças conservadoras do país. A tensão que surgiu
51 SODRÉ, p. 24-25.
52 Sodré, p. 27.
38
com o apoio de Brizola a Jango era tamanha, que o próprio governador do Rio Grande
do Sul andava com uma metralhadora a tiracolo53.
Em favor à posse de Jango, os esquerdistas contaram com o apoio do General
José Machado Lopes, comandante do III Exército, que era o mais bem equipado do
país. Diante desta situação, com a divisão dentro do próprio exército, a oposição a
Jango perdeu força, o que acarretou com a tão conturbada posse à presidência, em 7
de setembro, treze dias após a renúncia de Jânio Quadros.
Logo após a posse, o presidente Jango, para se estabilizar no poder, buscou o
apoio do centro, que era a favor do cumprimento da legalidade após a renúncia de
Jânio. Para isso, foi aprovada emenda constitucional na qual se firmou o sistema
parlamentar de governo, em que o primeiro-ministro seria Tancredo Neves. Era um
parlamentarismo híbrido. Ao presidente cabia apenas algumas atribuições de
representar a nação, enquanto ao Conselho de Ministros cabia toda a direção e a
responsabilidade da política de governo e da administração federal.
Porém, Jango queria o retornou ao presidencialismo, não era de seu interesse
permanecer com seus poderes diminuídos e o próprio Tancredo Neves e outros
ministros do conselho não estavam convencidos de que este regime seria o que mais
os agradaria. Desta forma, em decorrência de falta de interesse das partes e também
pela falta de estrutura e conflitos partidários da época, ficava claro que o regime duraria
pouco.
Assim, foi convocado um plebiscito para que fosse escolhido o regime para o
governo, que confirmou a volta ao presidencialismo. O período entre 1961 e 1964 em
que Jango se manteve como presidente, se caracterizou como um intervalo
democrático no país, onde se preservou direitos individuais e políticos dos cidadãos
que resultou em uma grande aprovação do governo, principalmente quando foi
aprovado o Plano Trienal, que se tornou a diretriz de gestão do governo Jango, com
planos antiinflacionários e desenvolvimentista. O Plano Trienal tinha como principal
objetivo conter a inflação e retomar o crescimento do PIB.
53 Pilagallo, p. 27.
39
No entanto, embora a população estivesse agradada com as intenções do
governo, Jango encontrava problemas para alcançar o sucesso de sua gestão. Para
fomentar o Plano Trienal, era necessária a entrada de capital estrangeiro que,
logicamente, viria dos Estados Unidos. Ocorre que o governo de Jango era visto com
extrema desconfiança pelos norte-americanos, por haver tendências socialistas do
presidente. No final, o plano proposto não conseguiu alcançar seus objetivos.
A tensão estava posta. As forças contra o presidente Jango começavam a se
articular veementemente. Logo após a posse de Jango, surgiu o Instituto de Pesquisas
e Estudos Sociais, o IPES, formado com integrantes da Escola Superior de Guerra,
reduto de interesses e influências norte-americanas, que defendia a doutrina de
segurança nacional contra o comunismo, foi a peça principal para a montagem da
operação deflagrada no Golpe Militar de 1964, com o pretexto de preservar à
Democracia e manter a segurança nacional.
4.2 O GOLPE MILITAR E O INÍCIO DO AUTORITARISMO
Jango travava uma batalha com o Congresso Nacional. Este não aprovava as
reformas que Jango propunha. O presidente, taticamente, realizava comícios para
conquistar apoio da população, com o fito de pressionar o Congresso.
No dia 13 de março de 1964, Jango iniciou uma série de atos públicos previstos,
aconteceu o que ficou conhecido como o Comício das Reformas, que ocorreu na
Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O Presidente referiu-se a reformas estruturais que
se convencionou chamar de reformas de base: eleitoral, administrativa, tributária,
agrária, urbana, bancária, cambial e universitária. Foi um sucesso total. Durante oito
horas e quarenta e cinco minutos o comício organizado por Jango foi acompanhada por
uma multidão, que estimavam ser em duzentos e cinqüenta mil pessoas. No entanto,
as reformas de base não tinham o apoio da classe média.
Carlos Lacerda, logo após o comício de Jango, incitou o Congresso a se
manifestar sobre o ocorrido, alegando que o comício foi um desrespeito à Constituição
e acusando Jango de preparar uma guerra revolucionária com ideologias comunistas.
40
Uma semana após o comício, como resposta, as forças conservadoras
organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Neste momento, os
planos de romper a ordem Constitucional eram atribuídos tanto à esquerda quanto à
direita.
A crise militar se agravava juntamente com as condutas do Presidente. Todas as
organizações militares, incluindo a Escola Superior de Guerra faziam contundentes
críticas à diretriz governamental e conspiravam para um golpe. As organizações
militares, porém, tinham várias frentes sendo que trabalharam em conjunto apenas
poucos dias antes do golpe. Os principais nomes do movimento que depôs o
Presidente são dois: o General Olympio Mourão Filho, comandante da região militar de
Juiz de Fora e o General Humberto Castello Branco, chefe do Estado-maior do
Exército, que se mostrava a iniciativa mais articulada, contando com o apoio de vários
outros militares de altas patentes, empresários de peso e representantes dos
interesses americanos.
O General Mourão foi quem apressou o movimento, que teve início na manhã do
dia 31 de março em Juiz de Fora e, após certa divergência para o momento da ação,
foi acompanhada pelo General Castello Branco. Castello Branco significava a garantia
de que o movimento contra Goulart não seria em vão.
Diante da situação, o Congresso Nacional, na noite de 31 de março, pelo
presidente do Senado Auro Moura Andrade, reconheceu que eclodira uma revolução e,
no dia seguinte, a queda do presidente Jango foi consumada oficialmente, declarando-
se vaga a Presidência da República.
A posição generalizada das pessoas em face da consumação do golpe foi de
perplexidade. As reformas de base, propostas por Jango, tinham o apoio popular,
mesmo sem entender exatamente como isso ocorreria e qual era sua extensão. Na
verdade, a população se encontrava desentendida, com três mudanças de governo no
período entre 1961 e 1964, todos tinham o consenso, ao menos, que a situação era de
uma verdadeira crise política. Por este motivo, as forças articuladas do golpe, se
justificavam afirmando as medidas tomadas para isso foram feitas com o objetivo de
estabilizar o governo.
41
O movimento militar de 1964, ao depor o Presidente, em um primeiro momento,
entregou ao seu sucessor previsto na constituição, o então Presidente da Câmara dos
Deputados, Ranieri Mazzilli, que ficaria no exercício do cargo até a realização das
eleições pelo Congresso Nacional. À primeira vista, a intervenção da normalidade
política teria o mesmo resultado de outras que ocorreram na vigência da Constituição
de 1946. Levavam a acreditar que apenas haveria uma substituição do corpo dirigente,
sem uma mudança estrutural abrupta no governo. Os indivíduos que iriam compor a
elite dirigente seriam aquelas que tomaram o poder. Porém, desta vez, ocorreu um
ruptura governamental mais profunda, em virtude da exaustão institucional da época e
da crise que custava a transpor54.
Primeiramente, antes de traçar novas diretrizes para o governo, era fundamental
a escolha de um novo Presidente. Formou-se um consenso em torno de Castello
Branco, que foi a figura mais influente do movimento militar para depor João Goulart.
Realmente foi isso que ocorreu, o Congresso Nacional o elegeu como o novo
Presidente da República em 5 de abril e tomou posse no dia 15 do mesmo mês.
Definido o novo Presidente da República, o movimento militar definiu seus
objetivos por meio da edição do Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, formado
pelo seu preâmbulo e por mais onze artigos. Essa medida viria para institucionalizar a
“revolução”, como assim o movimento se denominava:
“A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória.”55
Este trecho faz parte do preâmbulo do Ato Institucional nº 1, que foi subscrito
pelo general do exército Artur da Costa e Silva, pelo tenente-brigadeiro Francisco de
54 Faoro, p. 17.
55 BRASIL. Ato Institucional nº 1, disponível em http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_2.htm.
Data de acesso: 27/09/2009.
42
Assis Correia de Mello e o vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald. Ao
ler o presente trecho, é entendido que a revolução estava totalmente investida de
legitimidade. Mas não é o que ocorre. Os militares invocaram o nome do povo sem o
seu consentimento. Logicamente, tem-se que levar em consideração o grande distúrbio
em que os cidadãos estavam inseridos, sendo que era difícil imaginar qualquer
consenso da sociedade. A única coisa que estava clara era que a organização militar
concentrava um poder, graças ao interesse norte-americano e aos grandes
empresários brasileiros, que era improvável que uma oposição se consolidasse em
uma mesma proporção. De qualquer maneira, estes grupos faziam parte de uma
minoria que manifestou seus interesses em nome do povo como um todo. O Ato
Institucional foi elaborado para legitimar o movimento revolucionário, se auto-investindo
como poder constituinte, esquecendo de questionar o povo sobre isso.
Ora, as revoluções vitoriosas, se procuram a legitimidade democrática, como foi
o pretexto do movimento militar, não podem dispensar da assembléia constituinte, que
é a efetiva participação popular em um processo constituinte. A assembléia constituinte
é o método democrático de participação popular, onde o povo tem a oportunidade de
escolher os representantes que elaborarão a nova Constituição e, através do referendo
popular, a aprovarão ou não. Um grupo que se arrogue titular do poder constituinte
demonstra, de imediato, exatamente o contrário, que definitivamente não é legítimo
para possuir este poder, pois somente o povo pode decidir sobre isso.
Em atenção a este ponto, considerando que a assembléia constituinte é uma
forma de representação para atingir a plenitude da participação do povo na formação
da Constituição, isto já previsto na obra de Sieyès, o Que é o Terceiro Estado.
Segundo ele, somente com a forma representativa de Governo é que o poder
constituinte atingiria o seu objetivo principal, o atendimento da vontade da nação, como
visto no item 2.2.
Além do preâmbulo de extrema usurpação do poder constituinte, em seus
artigos, ocorreram mais demonstrações alarmantes em que estava presente a essência
autoritária dos novos governantes.
Em seu artigo segundo, retirou as eleições diretas para a escolha de um novo
presidente, definindo que as eleições do Presidente e do Vice-Presidente seriam
43
realizadas pelo Congresso Nacional. Esta foi a forma que foi eleito Castello Branco. Em
seu artigo quarto, estabeleceu que os projetos de lei enviados pelo Presidente da
República deveriam, necessariamente, serem apreciados, no prazo de 30 dias, pelo
Congresso Nacional, caso contrário, seriam tidos como aprovados automaticamente.
Pela redação do artigo quarto, percebe-se a superioridade que o ato institucional
deu ao Executivo: o Presidente poderia elaborar leis que provavelmente sequer seriam
apreciadas pelo Congresso para terem vigência. O Congresso, que ainda tinha em seu
corpo membros eleitos pelo povo, não teria nenhuma participação na edição e
aprovação destas leis.
Já em seu artigo 10º, possibilitava a suspensão de direitos políticos por dez
anos, com a cassação de mandatos federais, estaduais e municipais, sem qualquer
apreciação do Judiciário. Esta redação autorizou a cassação de mais de 102 pessoas,
em uma primeira lista, elaborada em 10 de abril de 1964, que incluía nomes como João
Goulart e Jânio Quadros.
Queremos devolver o Brasil à democracia, diziam os militares, mas antes vamos aproveitar o momento para introduzir algumas reformas e mudanças que possam garantir a longevidade de nossa “democracia” e a articulação do Brasil com a economia mundial. E, como todos sabemos, não havia prazo para o término da intervenção. Como argumentavam os militares, há sempre o perigo de retrocesso presente em todo processo revolucionário, sendo preciso tempo para que a revolução se consolidasse e apresentasse resultados (uma idéia de Francisco Campos introduziu na Carde de 37 e que, como co-autor do AI-1, manteve no movimento militar)56.
No primeiro momento após a edição do AI-1, se manteve a estrutura federal e
não houve alterações na administração.
Porém, com a edição do Ato Institucional nº 2, editado em 27 de outubro de
1965, acabaram-se as esperanças de que o regime democrático voltaria ao País. O
movimento militar dava continuidade ao seu golpe que ocorreu em 31 de Março de
1964, expondo o perigo do retorno à situação anterior já vencida.
56 BONAVIDES, Paulo; Andrade, Paes de. História Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. P. 429
44
Aos indivíduos que tiveram seus mandatos cassados, o governo poderia
restringir sua locomoção, proibindo-os de freqüentar certos lugares, além de qualquer
manifestação que envolva assuntos políticos.
Em seu artigo 19, excluíram de apreciação judicial os atos praticados pelo
Comando Supremo da Revolução e pelo Governo Federal.
O Presidente da República, por força do artigo 30 do presente ato institucional,
poderia editar decretos leis e atos complementares sobre matéria de segurança
nacional.
No cúmulo da usurpação do poder, por seu artigo 33, estabelece a vigência do
Ato Institucional nº 2, revogadas as disposições constitucionais ou legais em contrário,
demonstrando total desprezo pela Constituição vigente.
O AI-2, desta forma, foi editado para legalizar os atos autoritários do novo
regime, em detrimento do disposto na Constituição de 1946, isto é, foi criado ignorando
a Constituição, demonstrando o desprezo por uma norma fundamental legitimamente
formulada. Restou demonstrada que não havia formalidade para impor a ideologia
autoritária. A possibilidade de coerção, a violência deflagrada contra direitos individuais
era o bastante para manter o novo poder autoritariamente constituído. O Poder
Executivo já não encontrava barreiras, o Judiciário não pode atuar contra atos do
governo, e o Legislativo tinha um papel suprimido, podendo apenas formular leis em
conformidade com os interesses dos militares. Ninguém tinha mais força no país do
que o Executivo.
Toda evolução histórica das doutrinas construídas como forma de equilibrar os
poderes, como ensina Montesquieu, foram preteridos em prol de um poder autoritário
com uma ideologia de segurança nacional e equilíbrio político e social. Isto porque,
nesta altura, a democracia já havia caído no esquecimento.
Foram editados, ainda, o Ato Institucional nº 3, que teve como regulação mais
marcante a eleição indireta para o governo dos Estados e a nomeação, para os
próximos mandatos, para os Prefeitos dos Municípios da Capitais.
45
Sem muitos impedimentos para editar novas normas, no período compreendido
entre 1965 e 1966, o Presidente Castello Branco baixou três atos institucionais, 36
complementares, 312 decretos-leis e 3.746 atos punitivos57.
4.3 A EDIÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE 1967
A edição de uma nova Constituição já se tornava de fundamental importância
para os militares, uma vez que o texto de 1946 se encontrava inteiramente deformado,
razão pela qual era de interesse do “poder constituinte” instaurado, a formulação de
uma nova Constituição que atendesse os interesses e ideais do movimento militar.
Além do mais, “os atos institucionais eram a própria contestação de uma Carta
democrática como a de 1946 e seria impossível a convivência dos atos de arbítrio com
um texto constituinte de efetiva representação popular”58.
Segundo Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, dois eram os principais pontos
que a nova carta constitucional deveria abordar. Deveria amoldar as instituições
constitucionais aos novos fatores reais de poder e evitar que o país esteja sujeito a
novos golpes e soluções de força improvisadas e destinadas a curta duração59. Ocorre
que os novos fatores reais de poder foram constituídos de forma ilegítima, sem a
aprovação popular, e o próprio movimento de sua instauração foi um golpe apoiado
apenas pela força.
Se fosse o caso de uma revolução legítima, de interesse popular, se convocaria
uma Assembléia Nacional Constituinte para editar a nova Constituição. Mas não foi
assim que se procedeu. Foi com a edição do AI-4, que o Presidente da República
convocou o Congresso Nacional para se reunir de forma extraordinária para discutir e
votar uma nova Constituição, estabelecendo o dia de 24 de janeiro de 1967 como limite
57 Bonavides; Andrade, p. 432.
58 Bonavides; Andrade, p. 435.
59 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. História Breve do Constitucionalismo no Brasil. Curitiba, 1970. P. 63.
46
para sua promulgação e o dia 21 para que o Congresso apresente a nova carta
devidamente aprovada.
Os militares tinham ciência que, neste momento, já não mais contavam com
qualquer apoio popular, os traços autoritários do regime eram visíveis a toda a
população e a cada ato institucional criado isso se tornava mais evidente.
Já foi discussão do presente trabalho, no item 3.8, a necessidade de constituir
um poder apartado dos poderes já constituídos para a elaboração de uma nova
Constituição. Isto é de extrema importância, pois a Assembléia Constituinte deve ser
soberana, é ela que irá definir o grau de atuação dos outros poderes do Estado,
portanto, esta acima de qualquer outro poder. Somente assim será alcançada a
desvinculação necessária das instituições constituídas para que seja impetrada a nova
Constituição de acordo com a vontade popular. Logicamente que, para isso, o corpo da
Assembléia Constituinte deverá ser escolhido pelo povo.
Para a edição da Constituição de 1967, além de convocar o próprio Congresso
Nacional, este se encontrava coagido pela constante ameaça aos seus membros de
terem seus mandatos cassados, caso o Presidente da República não concordasse com
alguma atitude60. Isto porque, nesta altura, o poder já estava completamente
centralizado no Poder Executivo.
A atribuição do Congresso Nacional de editar a Constituição foi chamado pelo
Presidente Castello Branco de Poder Constituinte Congressual. Desta forma,
cerceados pelos atos institucionais e pela coerção exercida pelo Executivo, mesmo se
os membros do Congresso Nacional tivessem intenções democráticas, a ele não era
garantido uma mínima autonomia para criação da Constituição, o único resultado
possível era um retrato dos ideais militares. Restou evidente que o Congresso aceitou
a promulgação de uma Constituição com enorme concentração do poder político61.
Como visto no item 3.4, para construir um Constituição que tivesse força
normativa e que respeita-se os valores presentes na sociedade, é necessário uma
vontade de Constituição, como garantia de sua legitimidade. Vontade de Constituição,
60 Silva, p. 105
61 Bonavides; Andrade, p. 433-435
47
com entendido por Hesse, certamente não houve em 1967. É evidente que a
Constituição foi criada apenas para manter justificar o arbítrio dos militares.
Para enfatizar a ilegitimidade da forma em que seria editada a nova
Constituição, José Afonso da Silva relata o episódio burlesco que ocorreu no prazo
fatal para sua aprovação pelo Congresso Nacional, em 21 de janeiro de 1967:
Aproximava-se da meia-noite e a votação do projeto ainda não tinha terminado. Faltando um minuto para terminar o prazo fatal, o Presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, determinou que fossem parados todos os relógios do recinto, para que, pelos relógios da Casa, não se esgotasse o tempo, enquanto não se encerrasse a votação da matéria, com o argumento, um tanto ridículo, de que o tempo do Congresso, agora Constituinte, se marcava pelos seus relógios... E, assim, concluída a votação já na manhã do dia seguinte, ele mandou reativar os relógios. E tudo ficou como se tivesse sido feito dentro do prazo62.
Sendo assim, no dia aprazado, 24 de janeiro de 1967, foi promulgada a nova
Constituição do Brasil, para entrar em vigor no dia 15 de março de 1967.
O modo em que foi editada a Constituição de 1967, se aproxima a modalidade
de outorga de exercício do poder constituinte. A outorga, como já foi visto, consiste na
declaração unilateral do detentor do poder. Tem caráter limitado às regras impostas
pelo detentor do poder, sendo que o agente do poder constituinte é obrigado a cumpri-
las. No caso brasileiro de 1967, embora não seja apenas uma pessoa que dita as
regras, foi o “grupo revolucionário” que impôs ao “Poder Constituinte Congressual” às
diretrizes para a elaboração da Constituição para o novo Governo.
A Influência era clara. O poder constituinte perdeu seu caráter ilimitado e
incondicionado, isto porque, mesmo não vinculado a uma ordem anterior, ele não livre,
a extensão de seu poder era determinado pela elite detentora do força.
As principais características da Constituição de 1967, são: Eleição indireta do
Presidente da República, com voto a descoberto; ampliação dos poderes do Executivo
com a supressão de parte das prerrogativas do Legislativo; aprovação dos projetos do
Executivo por decurso de prazo, independentemente da apreciação pelo Legislativo;
reforma do Sistema Tributário Nacional, com centralização vertical na União; Outorga
de poderes ao Presidente da República para legislar mediante decretos-leis” acerca de
62 Silva, p. 106.
48
assuntos de segurança nacional e finanças públicas; institucionalização da “Doutrina da
Segurança Nacional”; decretação do Estado de Sítio sem prévia autorização do
Congresso; nomeação, por parte do Presidente da República, dos Prefeitos das
Capitais e dos Municípios declarados áreas de segurança nacional; ampliação das
hipóteses de intervenção federal nos Estados e Município63.
No parágrafo primeiro de seu primeiro artigo, a Constituição de 1967 proclama:
“todo poder emana do povo e em seu nome é exercido”. Torna-se difícil crer que uma
Constituição criada sem nenhuma participação popular, com essência autoritária, com
o poder centralizado no executivo, tenha o poder “emanado do povo”. O povo, na
realidade, é uma mera justificativa formal no texto constitucional para embasar os
propósitos dos militares, que eram, preservar a estabilidade do governo e garantir a
“doutrina da segurança nacional”.
Embora a garantia da segurança nacional tantas vezes expressa pelos militares
tenha o propósito de afastar qualquer hipótese de oposição do Brasil frente ao Estados
Unidos, que era uma situação que poderia se tornar extremamente maléfica para o
país no cenário mundial da época, esta justificativa não poderia fazer com que o
Governo usurpa-se os outros fatores reais poder, inclusive os cidadãos do país,
cerceando suas liberdades políticas.
Note-se, pelas características expostas da Constituição de 1967, que ela
aproveitou os quatro já editados atos institucionais, e reforçou alguns outros pontos.
Mas o traço autoritário que desde o início do movimento é marcante estava cada vez
mais evidente.
Com o vigor da nova Constituição, houve uma interrupção na edição de novos
atos institucionais, período compreendido entre 6 de dezembro de 1966 e 13 de
dezembro de 1968. Neste lapso, a população, diante do autoritarismo exercido, já se
manifestava intensamente contra o Governo. Houve passeatas gigantescas,
concentrações populares, agitações estudantis, greves operárias e, também, um início
de luta armada, iniciada por alguns grupos, numericamente pouco expressivos64.
63 Bierrenbach, p. 87
64 Bierrenbach, p. 89
49
Qualquer manifestação contra o atual governo era extremamente reprimida pelo
Governo. Como exemplo da intolerância militar, em uma manifestação pacífica de
estudantes do Rio de Janeiro, em junto de 1968, os jovens foram reprimidos a tiros
pela polícia, resultando em quatro mortos, 20 feridos e mais de mil estudantes detidos,
demonstrando que o governo não suportaria qualquer organização que se voltasse
contra ele.
Embora a Constituição de 1967 tenha atendido as intenções dos militares na
época, foi editado, dois anos mais tarde, a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, onde
foi alterada boa parte do conteúdo da Constituição. Isso vai exatamente de encontro
com o esclarecido por Hesse: não se pode atribuir qualquer vigor normativo a uma
Constituição que seja alterada por qualquer necessidade política ou diretriz de
Governo.
Infelizmente, essa experiência brasileira se enquadra exatamente nos aspectos
negativos de formação de Constituição expostos por Lassalle. Os militares eram um
dos fatores reais de poder e apenas se mantiveram no Governo pois mantinham força
suficiente para construir uma Constituição que atendesse seus interesses.
4.3 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E O AUTORITARISMO COMO
USURPAÇÃO DO PODER
Tendo em consideração que a Constituição se forma a partir da conjugação de
poderes presentes na sociedade, sempre se tem o risco de ocorrer situações em que
esses poderes não são devidamente exercidos, como o ocorrido nesta experiência
brasileira.
O Constitucionalismo teve origem justamente com o objetivo de controle do
poder, na luta contra poderes absolutistas e autoritários. Para a efetivação deste
controle, com o poder constituinte originário, faz-se necessário o uso adequado do
poder político, tendo o povo como foco. Deve ser feito com o consentimento dos
destinatários do poder e deve ser fiel à finalidade em que o poder constituinte a criou.
Se não for desta maneira, há carência de legitimidade.
50
Primeiramente, faz-se necessário mencionar que a força política, como forma de
manifestação dos fatores reais de poder, pode atuar de forma ilegítima. Tendo o
condão de afetar a vida da sociedade, o poder político pode ser exercido com o
consenso dos governantes, ou através da coação, do medo e da força. Isto exprime
que os regimes que atuam sustentados apenas pela força, impondo suas ordens sem a
aceitação dos governados, carecem de legitimidade. Esta é a consoante dos regimes
autoritários do poder, onde um grupo, convencido de que expressa a vontade popular,
produz e impõe normas à coletividade, pois detém o monopólio da violência
representada pelas Forças Armadas ou pela Polícia65.
Como já dito, a força tem estrita ligação com o fenômeno revolução, que pode
ser usado indevidamente. Em uma rápida percepção, verifica-se que os militares têm
maior probabilidade em obter êxito nos movimentos revolucionários, pelo fato de
controlarem a força. O que é possível nesta situação é que o movimento revolucionário
pode ser obra do interesse de apenas uma minoria. Neste caso, um grupo, apenas em
seu nome, mas presumindo de que expressa a vontade popular, impõe sua autoridade,
porque dispõe dos instrumentos de coação política.
Advindo uma revolução vitoriosa, não se pode prescindir da assembléia
constituinte, bem como do referendo popular. Esta é a forma democrática do processo
constituinte. O povo tem que escolher seus representantes. As assembléias
constituintes são meios preventivos para limite e controle do poder. Um poder
constituinte que se julgue legítimo deve passar pelo crivo popular. Ao tardar este
procedimento constituinte, o grupo revolucionário estará prolongando sua
provisoriedade, uma vez que somente com a Constituição que se atinge a legitimidade
do poder revolucionário66.
Neste sentido, o poder constituinte originário não pode ser invocado somente
através do uso da força, isto é destoante com suas próprias características. Só é
possível falar em poder constituinte originário se o grupo que o representa é detentor
da anuência do povo. “Quem tenta romper a ordem constitucional para instaurar outra e
65 Bierrenbach, p. 26.
66 Faoro, p. 21-22
51
não obtém adesão dos cidadãos não exerce poder constituinte originário, mas age
como rebelde criminoso”67. O poder revolucionário que quebra a ordem vigente e apela
unicamente para a força como forma de manutenção do poder é a consagração do
governo de fato.
Governo de fato é governo sem legitimidade. Utilizando-se da constituinte de
forma arbitrária, um poder autoritário, mesmo com respaldo na Constituição que criou
não pode ser considerada legítima. O autoritarismo não precisa de uma Constituição,
uma vez que esta tem o objetivo de delimitar o poder frente ao seu uso arbitrário.
Em um Estado em que ocorra uma usurpação do poder constituinte originário,
por quanto tempo este consegue se manter no poder? Ora, este regime ilegítimo se
mantém no poder enquanto sua força de coação for suficiente para conservar a
obediência dos governados. Este regime não tem um poder de persuasão, detém
apenas o poder da força. O problema desta situação é que o regime jamais será
estável, sempre haverá poderes sociais em confronto com sua autoridade. Estes
regimes justificam o uso da força e da violência para manter uma suposta segurança
que levará ao crescimento econômico. Na verdade, com o uso da violência e a
conseqüente cerceamento dos direitos de liberdade e igualdade, irá acarretar um
rompimento na vida social, o que, em sua maioria das vezes, ocorre bruscamente, de
uma forma que os cidadãos não esperam, sendo verdadeiramente um choque, que traz
consigo um sentimento de indignação social.
Como mencionado, a supressão dos direitos individuais do homem, como a
liberdade e a igualdade, quem também é uma característica da legitimidade, é uma
constante nos regimes autoritários, que restringem esses direitos para se manterem no
poder.
O autoritarismo está presente não em um Estado de Direito, onde o governo
está adstrito a princípios, que se destinam, sobretudo ao povo, presentes na
Constituição. Este regime não é Constitucional, uma vez que usurpam o poder
constituinte. Não há respeito por suas competências, é um Estado onde o governo não
permite críticas ou contestações ás suas condutas. Há repressão contra as livres
67 Mendes, Coelho, Branco, p. 199.
52
manifestações públicas. Há um controle cultural na qual limita os cidadãos de
expressarem e de adquirirem conhecimento. Estão preocupados apenas como que vão
prolongar este período. E o pretexto para isso é a segurança nacional e o
desenvolvimento econômico.
Se nos apregoarmos na forma que o poder autoritário se mantém, estaremos
nos aproximando dos Estados Totalitários, no nazismo e na ditadura soviética.
Segundo Hannah Arendt, um Estado Totalitário suprime as liberdades
democráticas, pois tem no apoio das massas seu sustentáculo, organizando toda a
população para que acreditem em uma mesma ideologia de seus líderes. Para
alcançar isso, o totalitarismo deve estar presente em todas as ações dos indivíduos, de
modo a possibilitar a lealdade total para seu regime. Eles são induzidos a serem
isolados da convivência com a família, ou com amigos, pois devem estar sempre
ligados à ideologia do regime. Esta situação do indivíduo é chamado de atomização
social68.
Embora talvez seja um dos objetivos de um governo autoritário, a “atomização
social” não ocorre em relação aos governados. Pois a crença na ideologia, como
objetivo do totalitarismo, é substituída pelo objetivo de desenvolvimento econômico e
segurança nacional. O que é uma falácia, pois somente com a garantia dos direitos do
homem é que podemos garantir o verdadeiro desenvolvimento de uma Nação. O que
acontece, na verdade, é a completa separação da Sociedade Civil com o Governo.
O Totalitarismo tem no terror a essência de seu movimento. O Terror, para
Hannah Arendt, é a forma que o Totalitarismo atinge se mantém no poder, é a
atomização social e o desaparecimento de qualquer oposição. Os nazistas, para
alcançar a atomização social, matavam integrantes de partidos opostos, ao invés de
grandes líderes políticos, pois tinham como objetivo mostrar à população o perigo que
podia acarretar o simples fato de pertencerem a um partido inimigo. É a “propaganda
da força”69.
68 ARENDT, Hanna. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 372-373.
69 Arendt, p. 393.
53
De certa forma, em uma analogia, está também é a tônica dos regimes
autoritários. Pois neste regime, a supressão dos direitos individuais em prol de seus
objetivos, leva a sanções estarrecedoras, como prisões ilícitas e até a mortes, embora
nem sempre sejam evidentes.
Outro ponto interessante na analogia entre o autoritarismo e o totalitarismo,
ocorre na forma de manutenção do poder. A ideologia criada pelo totalitarismo nada
mais é do que um mundo fictício, que é a maneira utilizada para que as massas
permaneçam em um estado de atomização social. Hannah Arendt afirma que o líder
totalitário tem duas tarefas básicas: tem de estabelecer o mundo fictício envolto em sua
ideologia e, em contrapartida, evitar que este mundo criado não adquira uma
estabilidade que faça confundir o Estado Totalitário com um governo absoluto, pois o
equilíbrio de suas instituições certamente extinguiria o próprio movimento. Desta
maneira, o Governo Totalitário deve evitar que a normalização de seu movimento atinja
um nível que poderia surgir um novo modo de vida, deixando de parecer tão falso e se
comparando aos modos de vida de outras nações do mundo70. Em um Estado
Autoritário, a manutenção do poder não é tão complexa, pois se baseia apenas no uso
da força, e só se mantém enquanto seus instrumentos de coação perdurarem.
Tanto no autoritarismo como totalitarismo, como se percebe, não tem a
prevalência do povo como titular do poder constituinte ou como destinatário de seus
objetivos. Para garantir uma congruência entre poder e povo, como já foi visto, utiliza-
se da democracia, uma vez que é um regime político em que a vontade do povo é
atuante no governo.
A legitimidade somente atinge sua plenitude com a participação dos cidadãos
nas decisões políticas. Somente com uma solução democrática isto é possível, “na
medida em que a liberdade individual se harmoniza com a vontade coletiva,
concretizada numa ordem social”71.
Nas Constituições de Estados democráticos o termo “povo” é usado para
demonstrar legitimidade. É a expressão normativa para afirmar a participação do povo
70 Arendt, p. 439-441.
71 Faoro, p. 49.
54
no processo constituinte com o objetivo de evidenciar a legitimação do Sistema Político
Constituído.
Segundo Friedrich Muller72:
A idéia fundamental da democracia é a seguinte: determinação normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo. Já que não se pode ter o autogoverno, na prática quase inexeqüível, pretende-se ter ao menos a autocodificação das prescrições vigentes com base na livre competição de opiniões e interesses, com alternativas manuseáveis e possibilidades eficazes de sancionamento político.
Esta é a aproximação entre povo e democracia na concepção do autor. O autor
se preocupa em demonstrar se o termo “povo” é devidamente utilizado nas
Constituições. Afirma que em sistemas autoritários, o “povo” é fartamente utilizado
como tentativa de instância de atribuição, isto é, afirmando que o poder “emana” do
povo. Ocorre que isto não reflete a realidade. Na verdade, em regimes autoritários, este
termo é usado apenas como um ícone, pois é apenas uma “padroeira tutelar abstrata”,
é a simples justificação para o regime impor suas condutas repressivas, dizendo que
está fazendo isso em nome do povo73.
Como já vimos, em um Estado autoritário, o povo está longe de ter algum poder
ou influência no governo, a palavra “povo” é usurpada e só utilizada nos textos
constitucionais como uma auto-afirmação de legitimidade.
É incrível como todos estes meios de usurpação do poder constituinte está
presente no caso brasileiro exposto no presente trabalho. É impossível visualizar uma
congruência entre poder autoritário e poder constituinte legítimo.
72 Müller, p.57
73 Müller, p. 67.
55
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para atingirmos a plenitude da concepção do poder constituinte originário
legítimo, a agente atuante tem que ter seu poder ilimitado, os poderes políticos
influentes no processo constituinte têm que ser legítimos, o povo tem que ter
participação democrática nas decisões, os direitos fundamentais dos indivíduos têm
que ser garantidos, de forma a ter o povo como foco do trabalho que será realizado.
Esta é uma rápida compilação de características inerentes ao poder constituinte
originário.
No presente estudo, foi evidente a distorção quanto às características expostas
no processo constituinte do movimento militar a partir do golpe em 1964 até a edição
da Constituição em 1967.
Os militares tomaram o poder sem o consentimento da população. Está certo
que isso poderia mudar, se as condutas subseqüentes respeitassem a sociedade, mas
não foi isso que ocorreu. Foram baixados atos institucionais que deflagraram a
essência autoritária do movimento, a superioridade do Executivo frente os outros
poderes deram a ele liberdade para editar leis sem apreciação pelo Congresso
Nacional, era possível retirar direitos políticos de qualquer pessoa caso se
manifestasse contra a “segurança nacional”, situação que o indivíduo não tinha tutela
jurisdicional, poderia assumir prefeituras e estados caso fosse do entendimento do
Governo, qualquer manifestação contra o Governo Militar era brutalmente reprimida. Ao
formular uma nova carta constitucional, não convocaram sequer uma Assembléia
Nacional Constituinte.
O fato é que um poder autoritário jamais será legítimo, por sua própria essência.
O autoritarismo no Governo acaba por se configurar em um Estado de Fato que,
mesmo se apregoando há justificativa de que há direitos que devem ser suprimidos ou
cerceados, para tornar possível a consecução dos seus ideais, a segurança e o
desenvolvimento, não pode tomar o povo como prejudicado nisso tudo. A segurança a
ser garantida deve ser a segurança da pessoa, com preservação de seus direitos
fundamentais, como liberdade e igualdade, e o desenvolvimento deve caminhar em
consonância a isso. É necessário lembrar sempre que a Constituição deve ser o reflexo
56
dos interesses do povo e este deve ter participação na sua formação. Somente assim
poderemos dizer que estamos em um Estado de Direito.
O exposto no presente trabalho, apenas uma análise do processo constituinte
dos militares a partir de 1964 até 1967, por sua extensão, deixou de englobar uma
série de atos até mais autoritários do que foi visto, que ocorreram a partir de 1967,
principalmente com a edição do Ato Institucional nº 5 e com a Emenda Constitucional
nº 1 de 1969, o que resultou em 20 anos de ditadura em nosso país, até a formulação
da Constituição de 1988, que teve um exemplo de processo constituinte e que, por
suas normas, atendeu as expectativas da população e é um exemplo para vários
países no mundo atual. Mas uma análise das possíveis deficiências em um processo
constituinte foi válida para podermos ampliar o conhecimento, concebendo uma
hipótese totalmente contrária do que se pode esperar hoje na formação de uma
constituição.
Atualmente, em decorrência da Constituição de 1988, tem-se clara que, para a
constituição das normas fundamentais de um Estado, a participação democrática é
essencial. Não é possível a separação desses dois pontos: democracia e Constituição.
Mas nem sempre foi assim, e o Brasil teve uma lenta formação, muitas vezes em
sentido contrário, até ter um revés em 1964 e com a ditadura que sucedeu, onde toda a
sociedade vagarosamente começou a se organizar para alcançar o grande feito de
1988: a promulgação da nova Constituição da República Federativa do Brasil.
57
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARENDT, Hanna. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Editora Companhia das
Letras, 1989.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 19ª ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 1998
BIERRENBACH, Flavio. Quem tem medo da Constituinte? Rio de Janeiro: Editora
Paz e Terra, 1986.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Editora
Malheiros, 2003. p.141-169
BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra, 1991. P. 427-447
BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004. p.
315-365
BRASIL. Ato Institucional nº 1, disponível em
http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_2.htm. Data de acesso: 27/09/2009.
BRASIL. Ato Institucional nº 2, disponível em
http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_3.htm. Data de acesso: 27/09/2009.
BRASIL. Ato Institucional nº 3, disponível em
http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_4.htm. Data de acesso: 27/09/2009.
BRASIL. Ato Institucional nº 4, disponível em
http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_5.htm. Data de acesso: 27/09/2009.
58
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm. Data de acesso: 27/09/2009. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 24ª ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2003. p.51-159
FAORO, Raymundo. Assembléia Constituinte e Legitimidade Recuperada. 5ª ed.
São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5ª ed. São Paulo:
Editora Saraiva, 2007.
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. História Breve do Constitucionalismo no
Brasil. 2ª ed. Curitiba: [s.i.] 1970. P. 55-99.
GARCIA, Marilia. O que é Constituinte? 1ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora
Liber Juris, 1988.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO; Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p.
147-229.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4ª ed. Coimbra: Editora
Coimbra, 2000. p.7-129.
MÜLLER, Friedrich. Fragmento (sobre) o Poder Constituinte do Povo. 1ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais LTDA, 2004.
59
MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? São Paulo: Editora Max Limonad, 1998.
PILAGALLO, Oscar. A História do Brasil no Século 20 (1960-1980). São Paulo:
Publifolha, 2004.
SALDANHA, Nelson. O Poder Constituinte. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1986
SILVA, Jose Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular. 1ª ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2000. p. 11-113.
SILVA, Heber Americano. Direito Constitucional. 2ª ed. Bauru: Editora Jalovi, 1971, p.
19-123.
SILVA, Hélio. 1964: Golpe ou Contragolpe? Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira, 1975.
SODRÉ, Nelson Werneck. Vida e Morte da Ditadura: 20 anos de autoritarismo no
Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1984.
60
ANEXO 1 – ATO INSTITUCIONAL Nº 1
Disponível em http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_2.htm. Data de acesso:
27/09/2009.
ATO INSTITUCIONAL (Nº 1)
À NAÇAO
É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir
ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver
neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na
opinião pública nacional, é uma autêntica revolução.
A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se
traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da
Nação.
A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se
manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e
mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder
Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a
capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa, inerente
ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela
normatividade anterior à sua vitória. Os Chefes da revolução vitoriosa, graças à ação
das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representam o Povo e em seu
nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único titular. O Ato Institucional
que é hoje editado pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação na
sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios
indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil,
de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes
problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional
61
da nossa Pátria. A revolução vitoriosa necessita de se institucionalizar e se apressa
pela sua institucionalização a limitar os plenos poderes de que efetivamente dispõe.
O presente Ato institucional só poderia ser editado pela revolução vitoriosa,
representada pelos Comandos em Chefe das três Armas que respondem, no momento,
pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir.
Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que
deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela revolução, só a esta
cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os
poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do Poder no
exclusivo interesse do Pais. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o
processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a
modificá-la, apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de
que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e
financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja
purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas
dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se
acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso
Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato
Institucional.
Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do
Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder
Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação.
Em nome da revolução vitoriosa, e no intuito de consolidar a sua vitória, de
maneira a assegurar a realização dos seus objetivos e garantir ao País um governo
capaz de atender aos anseios do povo brasileiro, o Comando Supremo da Revolução,
representado pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
resolve editar o seguinte.
ATO INSTITUCIONAL
Art 1º - São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e
respectivas Emendas, com as modificações constantes deste Ato.
62
Art 2º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, cujos mandatos
terminarão em 31 (trinta e um) de janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta
dos membros do Congresso Nacional, dentro de 2 (dois) dias, a contar deste Ato, em
sessão pública e votação nominal.
§ 1º - Se não for obtido o quorum na primeira votação, outra realizar-se-á no mesmo
dia, sendo considerado eleito quem obtiver maioria simples de votos; no caso de
empate, prosseguir-se-á na votação até que um dos candidatos obtenha essa maioria.
§ 2º - Para a eleição regulada neste artigo, não haverá inelegibilidades.
Art 3º - O Presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos de
emenda da Constituição.
Parágrafo único - Os projetos de emenda constitucional, enviados pelo Presidente da
República, serão apreciados em reunião do Congresso Nacional, dentro de 30 (trinta)
dias, a contar do seu recebimento, em duas sessões, com o intervalo máximo de 10
(dez) dias, e serão considerados aprovados quando obtiverem, em ambas as votações,
a maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso.
Art 4º - O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei
sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado
Federal; caso contrário, serão tidos como aprovados.
Parágrafo único - O Presidente da República, se julgar urgente a medida, poderá
solicitar que a apreciação do projeto se faça, em 30 (trinta) dias, em sessão conjunta
do Congresso Nacional, na forma prevista neste artigo.
Art 5º - Caberá, privativamente, ao Presidente da República a iniciativa dos projetos de
lei que criem ou aumentem a despesa pública; não serão admitidas, a esses projetos,
em qualquer das Casas do Congresso Nacional, emendas que aumentem a despesa
proposta pelo Presidente da República.
Art 6º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição,
poderá decretar o estado de sítio, ou prorrogá-lo, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias;
o seu ato será submetido ao Congresso Nacional, acompanhado de justificação, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.
63
Art 7º - Ficam suspensas, por 6 (seis) meses, as garantias constitucionais ou legais de
vitaliciedade e estabilidade.
§ 1º - Mediante investigação sumária, no prazo fixado neste artigo, os titulares dessas
garantias poderão ser demitidos ou dispensados, ou ainda, com vencimentos e as
vantagens proporcionais ao tempo de serviço, postos em disponibilidade, aposentados,
transferidos para a reserva ou reformados, mediante atos do Comando Supremo da
Revolução até a posse do Presidente da República e, depois da sua posse, por decreto
presidencial ou, em se tratando de servidores estaduais, por decreto do governo do
Estado, desde que tenham tentado contra a segurança do Pais, o regime democrático
e a probidade da administração pública, sem prejuízo das sanções penais a que
estejam sujeitos.
§ 2º - Ficam sujeitos às mesmas sanções os servidores municipais. Neste caso, a
sanção prevista no § 1º lhes será aplicada por decreto do Governador do Estado,
mediante proposta do Prefeito municipal.
§ 3º - Do ato que atingir servidor estadual ou municipal vitalício, caberá recurso para o
Presidente da República.
§ 4º - O controle jurisdicional desses atos limitar-se-á ao exame de formalidades
extrínsecas, vedada a apreciação dos fatos que o motivaram, bem como da sua
conveniência ou oportunidade.
Art 8º - Os inquéritos e processos visando à apuração da responsabilidade pela prática
de crime contra o Estado ou seu patrimônio e a ordem política e social ou de atos de
guerra revolucionária poderão ser instaurados individual ou coletivamente.
Art 9º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, que tomarão posse
em 31 de janeiro de 1966, será realizada em 3 de outubro de 1965.
Art 10 - No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na
Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente Ato, poderão
suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos e cassar mandatos
legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos.
Parágrafo único - Empossado o Presidente da República, este, por indicação do
Conselho de Segurança Nacional, dentro de 60 (sessenta) dias, poderá praticar os atos
previstos neste artigo.
64
Art 11 - O presente Ato vigora desde a sua data até 31 de janeiro de 1966; revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro-GB, 9 de abril de 1964.
ARTHUR DA COSTA E SILVA Gen.-Ex.
FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DE MELLO Ten.-Brig.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD Vice-Alm.
65
ANEXO 2 – ATO INSTITUCIONAL Nº 2
Disponível em http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_3.htm. Data de acesso:
27/09/2009.
ATO INSTITUCIONAL Nº 2
À NAÇÃO
A Revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para
atender às suas aspirações mais legítimas: erradicar uma situação e uni Governo que
afundavam o País na corrupção e na subversão.
No preâmbulo do Ato que iniciou a institucionalização, do movimento de 31 de
março de 1964 foi dito que o que houve e continuará a haver, não só no espírito e no
comportamento das classes armadas, mas também na opinião pública nacional, é uma
autêntica revolução. E frisou-se que:
a) ela se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que traduz, não o
interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação;
b) a revolução investe-se, por isso, no exercício do Poder Constituinte, legitimando-se
por si mesma;
c) edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua
vitória, pois graças à ação das forças armadas e ao apoio inequívoco da Nação,
representa o povo e em seu nome exerce o Poder Constituinte de que o povo é o único
titular.
Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. Assim o seu Poder
Constituinte não se exauriu, tanto é ele próprio do processo revolucionário, que tem de
ser dinâmico para atingir os seus objetivos. Acentuou-se, por isso, no esquema
daqueles conceitos, traduzindo uma realidade incontestável de Direito Público, o poder
institucionalizante de que a revolução é dotada para fazer vingar os princípios em nome
dos quais a Nação se levantou contra a situação anterior.
66
A autolimitação que a revolução se impôs no Ato institucional, de 9 de abril de
1964 não significa, portanto, que tendo poderes para limitar-se, se tenha negado a si
mesma por essa limitação, ou se tenha despojado da carga de poder que lhe é inerente
como movimento. Por isso se declarou, textualmente, que "os processos
constitucionais não funcionaram para destituir o Governo que deliberadamente se
dispunha a bolchevizar o País", mas se acrescentou, desde logo, que "destituído pela
revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo
Governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o
exercício do poder no exclusivo interesse do País".
A revolução está viva e não retrocede. Tem promovido reformas e vai continuar
a empreendê-las, insistindo patrioticamente em seus propósitos de recuperação
econômica, financeira, política e moral do Brasil. Para isto precisa de tranqüilidade.
Agitadores de vários matizes e elementos da situação eliminada teimam, entretanto,
em se valer do fato de haver ela reduzido a curto tempo o seu período de indispensável
restrição a certas garantias constitucionais, e já ameaçam e desafiam a própria ordem
revolucionária, precisamente no momento em que esta, atenta aos problemas
administrativos, procura colocar o povo na prática e na disciplina do exercício
democrático. Democracia supõe liberdade, mas não exclui responsabilidade nem
importa em licença para contrariar a própria vocação política da Nação. Não se pode
desconstituir a revolução, implantada para restabelecer a paz, promover o bem-estar
do povo e preservar a honra nacional.
Assim, o Presidente da República, na condição de Chefe do Governo
revolucionário e comandante supremo das forças armadas, coesas na manutenção dos
ideais revolucionários,
CONSIDERANDO que o País precisa de tranqüilidade para o trabalho em prol
do seu desenvolvimento econômico e do bem-estar do povo, e que não pode haver paz
sem autoridade, que é também condição essencial da ordem;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte da Revolução lhe é intrínseco, não
apenas para institucionalizá-la, mas para assegurar a continuidade da obra a que se
propôs,
Resolve editar o seguinte:
67
ATO INSTITUCIONAL Nº 2
Art 1º - A Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas emendas
são mantidas com as modificações constantes deste Ato.
Art 2º - A Constituição poderá ser emendada por iniciativa:
I - dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - das Assembléias Legislativas dos Estados.
§ 1º - Considerar-se-á proposta a emenda se for apresentada pela quarta parte, no
mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por
mensagem do Presidente da República, ou por mais da metade das Assembléias
Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus
membros.
§ 2º - Dar-se-á por aceita a emenda que for aprovada em dois turnos na mesma
sessão legislativa, por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
§ 3º - Aprovada numa, a emenda será logo enviada à outra Câmara, para sua
deliberação.
Art 3º - Cabe, à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a iniciativa dos
projetos de lei sobre matéria financeira.
Art 4º - Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados e do Senado e dos
Tribunais Federais, no que concerne aos respectivos serviços administrativos, compete
exclusivamente ao Presidente da República a iniciativa das leis que criem cargos,
funções ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou a despesa pública e
disponham sobre a fixação das forças armadas.
Parágrafo único - Aos projetos oriundos dessa, competência exclusiva do Presidente
da República não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.
Art 5º - A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República
começará na Câmara dos Deputados e sua votação deve estar concluída dentro de 45
dias, a contar do seu recebimento.
§ 1º - Findo esse prazo sem deliberação, o projeto passará ao Senado com a redação
originária e a revisão será discutida e votada num só turno, e deverá ser concluída no
68
Senado Federal dentro de 45 dias. Esgotado o prazo sem deliberação, considerar-se-á
aprovado o texto como proveio da Câmara dos Deputados.
§ 2º - A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados se
processará no prazo de dez dias, decorrido o qual serão tidas como aprovadas.
§ 3º - O Presidente da República, se julgar urgente a medida, poderá solicitar que a
apreciação do projeto se faça em 30 dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional,
na forma prevista neste artigo.
§ 4º - Se julgar, por outro lado, que o projeto, não sendo urgente, merece maior debate
pela extensão do seu texto, solicitará que a sua apreciação se faça em prazo maior,
para as duas casas do Congresso.
Art 6º - Os arts. 94, 98, 103 e 105 da Constituição passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 94 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I - Supremo Tribunal Federal;
II - Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais;
III - Tribunais e Juízes Militares;
IV - Tribunais e Juízes Eleitorais;
V - Tribunais e Juízes do Trabalho."
"Art. 98 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da República e jurisdição
em todo o território nacional, compor-se-á de dezesseis Ministros.
Parágrafo único - O Tribunal funcionará em Plenário e dividido em três Turmas de cinco
Ministros cada uma."
"Art. 103 - O Tribunal Federal de Recursos, com sede na Capital Federal, compor-se-á
de treze Juízes nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha
pelo Senado Federal, oito entre magistrados e cinco entre advogados e membros do
Ministério Público, todos com os requisitos do art. 99.
Parágrafo único - O Tribunal poderá dividir-se em Câmaras ou Turmas."
"Art. 105 - Os Juízes Federais serão nomeados pelo Presidente da República dentre
cinco cidadãos indicados na forma da lei pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 1º - Cada Estado ou Território e bem assim o Distrito Federal constituirão de per si
uma Seção judicial, que terá por sede a Capital respectiva.
69
§ 2º - A lei fixará o número de Juízes de cada Seção bem como regulará o provimento
dos cargos de Juízes substitutos, serventuários e funcionários da Justiça.
§ 3º - Aos Juízes Federais compete processar e julgar em primeira instância.
a) as causas em que a União ou entidade autárquica federal for interessada como
autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência e acidentes de trabalho;
b) as causas entre Estados estrangeiros e pessoa domiciliada no Brasil;
c) as causas fundadas em tratado ou em contrato da União com Estado estrangeiro ou
com organismo internacional;
d) as questões de direito marítimo e de navegação, inclusive a aérea;
e) os crimes políticos e os praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas, ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral;
f )os crimes que constituem objeto de tratado ou de convenção internacional e os
praticados a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça
Militar;
g) os crimes contra a organização do trabalho e o exercício do direito de greve;
h) os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando a coação
provier de autoridade federal não subordinada a órgão superior da Justiça da União;
i) os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, excetuados, os casos
do art. 101, I, i, e do art. 104, I, b."
Art 7º - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Juízes vitalícios com a
denominação de Ministros, nomeados pelo Presidente da República, dos quais quatro
escolhidos dentre os Generais efetivos do Exército, três dentre os Oficiais Generais
efetivos da Armada, três dentre os Oficiais Generais efetivos da Aeronáutica e cinco
civis.
Parágrafo único - As vagas de Ministros togados serão preenchidas por brasileiros
natos, maiores de 35 anos de idade, da forma seguinte:
I - três por cidadãos de notório saber jurídico e reputação ilibada, com prática forense
de mais de dez anos, da livre escolha do Presidente da República;
II - duas por Auditores e Procurador- Geral da Justiça Militar.
Art 8º - O § 1º do art. 108 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
70
"§ 1º - Esse foro especial poderá estender-se aos civis, nos casos expressos em lei
para repressão de crimes contra a segurança nacional ou as instituições militares."
§ 1º - Competem à Justiça Militar, na forma da legislação processual, o processo e
julgamento dos crimes previstos na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1963.
§ 2º - A competência da Justiça Militar nos crimes referidos no parágrafo anterior com
as penas aos mesmos atribuídas, prevalecerá sobre qualquer outra estabelecida em
leis ordinárias, ainda que tais crimes tenham igual definição nestas leis.
§ 3º - Compete originariamente ao Superior Tribunal Militar processar e julgar os
Governadores de Estado e seus Secretários, nos crimes referido no § 1º, e aos
Conselhos de Justiça nos demais casos.
Art 9º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente, da República será realizada pela
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão pública e votação
nominal.
§ 1º - Os Partidos inscreverão os candidatos até 5 dias, antes do pleito e, em caso de
morte ou impedimento insuperável de qualquer deles, poderão substituí-los até 24
horas antes da eleição.
§ 2º - Se não for obtido o quorum na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios até
que seja atingido, eliminando-se, sucessivamente, do rol dos candidatos, o que obtiver
menor número de votos.
§ 3º - Limitados a dois os candidatos, a eleição se dará mesmo por maioria simples.
Art 10 - Os Vereadores não perceberão remuneração, seja a que título for.
Art 11 - Os Deputados às Assembléias Legislativas não podem perceber, a qualquer
título, remuneração superior a dois terços da que percebem os Deputados federais.
Art 12 - A última alínea do § 5º do art. 141 da Constituição passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de subversão, da ordem ou de
preconceitos de raça ou de classe."
Art 13 - O Presidente da República poderá decretar o estado de sítio ou prorrogá-lo
pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, para prevenir ou reprimir a subversão da
ordem interna.
71
Parágrafo único - O ato que decretar o estado de sítio estabelecerá as normas a que
deverá obedecer a sua execução e indicará as garantias constitucionais que
continuarão em vigor.
Art 14 - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade,
inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por tempo certo.
Parágrafo único - Ouvido o Conselho de Segurança Nacional, os titulares dessas
garantias poderão ser demitidos, removidos ou dispensados, ou, ainda, com os
vencimentos e as vantagens proporcionais ao tempo de serviço, postos em
disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, desde que
demonstrem incompatibilidade com os objetivos da Revolução.
Art 15 - No interesse de preservar e consolidar a Revolução, o Presidente da
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na
Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo
de 10 (dez) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais.
Parágrafo único - Aos membros dos Legislativos federal, estaduais e municipais, que
tiverem seus mandatos cassados não serão dados substitutos, determinando-se o
quorum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos.
Art 16 - A suspensão de direitos políticos, com base neste Ato e no, art. 10 e seu
parágrafo único do Ato institucional, de 9 de abril de 1964, além do disposto no art. 337
do Código Eleitoral e no art. 6º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acarreta
simultaneamente:
I - a cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;
II - a suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;
III - a proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de natureza política;
IV - a aplicação, quando necessária à preservação da ordem política e social, das
seguintes medidas de segurança:
a) liberdade vigiada;
b) proibição de freqüentar determinados lugares;
c) domicílio determinado.
72
Art 17 - Além dos casos previstos na Constituição federal, o Presidente da República
poderá decretar e fazer cumprir a intervenção federal nos Estados, por prazo
determinado:
I - para assegurar a execução da lei federal;
II - para prevenir ou reprimir a subversão da ordem.
Parágrafo único - A intervenção decretada nos termos deste artigo será, sem prejuízo
da sua execução, submetida à aprovação do Congresso Nacional,
Art 18 - Ficam extintos os atuais Partidos Políticos e cancelados os respectivos
registros.
Parágrafo único - Para a organização dos novos Partidos são mantidas as exigências
da Lei nº 4.740, de 15 de julho de 1965, e suas modificações.
Art 19 - Ficam excluídos da apreciação judicial:
I - os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução e pelo Governo federal,
com fundamento no Ato Institucional de 9 de abril de 1964, rio presente Ato
Institucional e nos atos complementares deste;
II - as resoluções das Assembléias Legislativas e Câmara de Vereadores que hajam
cassado mandatos eletivos ou declarado o impedimento de Governadores, Deputados,
Prefeitos ou Vereadores, a partir de 31 de março de 1964, até a promulgação deste
Ato.
Art 20. - O provimento inicial dos cargos da Justiça federal far-se-á pelo Presidente da
República dentre brasileiros de saber jurídico e reputação ilibada.
Art 21 - Os projetos de emenda constitucional, enviados pelo Presidente da República,
serão apreciados em reunião do Congresso Nacional, dentro de 30 (trinta) dias, e serão
considerados aprovados quando obtiverem em ambas as votações, a maioria absoluta
dos membros das duas Casas do Congresso.
Art 22 - Somente poderão ser criados Municípios novos depois de feita prova cabal de
sua viabilidade econômico-financeira, perante a Assembléia Legislativa.
Art 23 - Constitui crime. de responsabilidade contra a probidade na administração, a
aplicação irregular pelos Prefeito da cota do imposto de Renda atribuída aos
Municípios pela União, cabendo a iniciativa da ação penal ao Ministério Público ou a
um terço dos membros da Câmara Municipal.
73
Art 24 - O julgamento nos processos instaurados segundo a Lei nº 2.083, de .12 de
novembro de 1953, compete ao Juiz de Direito que houver dirigido a instrução do
processo.
Parágrafo único - A prescrição da ação penal relativa aos delitos constantes dessa Lei
ocorrerá dois anos após a data da publicação incriminada, e a da condenação no dobro
do prazo em que for fixada.
Art 25 - Fica estabelecido a partir desta data, o princípio da paridade na remuneração
dos servidores dos três Poderes da República, não admitida, de forma alguma, a
correção monetária como privilégio de qualquer grupo ou categoria.
Art 26 - A primeira eleição para Presidente e Vice-Presidente da República será
realizada em data a ser fixada pelo Presidente da República e comunicada ao
Congresso Nacional, a qual não poderá ultrapassar o dia 3 de outubro de 1966.
Parágrafo único - Para essa eleição o atual Presidente da República é inelegível.
Art 27 - Ficam sem objeto os projetos de emendas e de lei enviados ao Congresso
Nacional que envolvam matéria disciplinada, no todo ou em parte, pelo presente Ato.
Art 28 - Os atuais Vereadores podem continuar a perceber remuneração até o fim do
mandato, em quantia, porém, nunca superior à metade da que percebem os Deputados
do Estado respectivo.
Art 29 - Incorpora-se definitivamente à Constituição federal o disposto nos arts. 2º a 12
de presente Ato.
Art 30 - O Presidente da República poderá baixar atos complementares do presente,
bem como decretos-leis sobre matéria de segurança nacional.
Art 31 - A decretação do recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas
e das Câmaras de Vereadores pode ser objeto de ato complementar do Presidente da
República, em estado de sítio ou fora dele.
Parágrafo único - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente,
fica autorizado a legislar mediante decretos-leis em todas as matérias previstas na
Constituição e na Lei Orgânica.
Art 32 - As normas dos arts. 3º, 4º, 5º e 25 deste Ato são extensivas aos Estados da
Federação.
74
Parágrafo único - Para os fins deste artigo as Assembléias emendarão as respectivas
Constituições, no prazo de sessenta dias, findo o qual aquelas normas passarão, no
que couber, a vigorar automaticamente nos Estados.
Art 33 - O presente Ato institucional vigora desde a sua publicação até 15 de março de
1967, revogadas as disposições constitucionais ou legais em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1965; 144º da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juracy Montenegro Magalhães
Paulo Bossisio
Arthur da Costa e Silva
Vasco Leitão da Cunha
Eduardo Gomes
75
ANEXO 3 – ATO INSTITUCIONAL Nº 3
Disponível em http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_4.htm. Data de acesso:
27/09/2009.
ATO INSTITUCIONAL Nº 3
À NAÇÃO
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte da Revolução lhe é intrínseco, não
apenas para institucionalizá-la, mas para assegurar a continuidade da obra a que se
propôs, conforme expresso no Ato institucional nº 2;
CONSIDERANDO ser imperiosa a adoção de medidas que não permitam se
frustrem os superiores objetivos da Revolução;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a tranqüilidade e a harmonia
política e social do Pais;
CONSIDERANDO que a edição do Ato institucional nº 2 estabeleceu eleições
indiretas para Presidente e Vice-Presidente da República;
CONSIDERANDO que é imprescindível se estenda à eleição dos Governadores
e Vice-Governo de Estado o processo instituído para a eleição do Presidente e do Vice-
Presidente da República;
CONSIDERANDO que a instituição do processo de eleições indiretas
recomenda a revisão dos prazos de inelegibilidade;
CONSIDERANDO, mais que e conveniente à segurança nacional alterar-se o
processo de escolha dos Prefeitos dos Municípios das Capitais de Estado;
CONSIDERANDO, por fim, que cumpre fixar-se data para as eleições a se
realizarem no corrente ano.
O Presidente da República, na condição de Chefe do Governo da Revolução e
Comandante Supremo das Forças Armadas,
Resolve editar seguinte:
ATO INSTITUCIONAL Nº 3
76
Art 1º - A eleição de Governador e Vice-Governador dos Estados far-se-á pela maioria
absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, em sessão pública e votação
nominal.
§ 1º - Os Partidos inscreverão os candidatos até quinze dias antes do pleito perante a
Mesa da Assembléia Legislativa, e, em caso de morte ou impedimento insuperável de
qualquer deles, poderão substituí-los até vinte e quatro horas antes da eleição.
§ 2º - Se não for obtido o quorum na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios até
que seja atingido, eliminando-se, sucessivamente, do rol dos candidatos, o que obtiver
menor número de votos.
§ 3º- Limitados, a dois os candidatos ou na hipótese de só haver dois candidatos
inscritos, a eleição se dará mesmo por maioria simples.
Art 2º - O Vice-Presidente da República e o Vice-Governador de Estado considerar-se-
ão eleitos em virtude da eleição do Presidente e do Governador com os quais forem
inscritos como candidatos.
Art 3º - Para as eleições indiretas, ficam reduzidos à metade os prazos de
inelegibilidade estabelecidos na Emenda Constitucional nº 14, de 3 de junho de 1965 e
nas letras m , s e t do inciso I e nas letras b e d do inciso, II do art. 1º da Lei nº 4.738,
de 15 de julho de 1965.
Art 4º - Respeitados os mandatos em vigor, serão nomeados pelos Governadores de
Estado, os Prefeitos dos Municípios das Capitais mediante prévio assentimento da
Assembléia Legislativa ao nome proposto.
§ 1º - Os Prefeitos dos demais Municípios serão eleitos por voto direto e maioria
simples, admitindo-se sublegendas, nos termos estabelecidos pelos estatutos
partidários.
§ 2º - É permitido ao Senador e ao Deputado federal ou estadual, com prévia licença
da sua Câmara. exercer o cargo de Prefeito de Capital de Estado.
Art 5º - No corrente ano, as eleições de Governadores e Vice-Governadores de Estado
realizar-se-ão em 3 de setembro; as de Presidente e Vice-Presidente da República,
em, 3 de outubro; e as de Senadores e Deputados federais e estaduais, em 15 de
novembro.
77
Art 6º - Ficam excluídos de apreciação judicial os atos praticados com fundamento no
presente Ato institucional e nos atos complementares dele.
Art 7º - Este Ato Institucional entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mem de Sá
Zilmar Araripe
Decio de Escobar
Juracy Magalhães
Eduardo Gomes
78
ANEXO 4 – ATO INSTITUCIONAL Nº 4
Disponível em http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_5.htm. Data de acesso:
27/09/2009.
ATO INSTITUCIONAL Nº 4
Convocação do Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do
Projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República.
CONSIDERANDO que a Constituição federal de 1946, além de haver recebido
numerosas emendas, já não atende às exigências nacionais;
CONSIDERANDO que se tornou imperioso dar ao País uma Constituição que,
além de uniforme e harmônica, represente a institucionalização dos ideais e princípios
da Revolução;
CONSIDERANDO que somente uma nova Constituição poderá assegurar a
continuidade da obra revolucionária;
CONSIDERANDO que ao atual Congresso Nacional, que fez a legislação
ordinária da Revolução, deve caber também a elaboração da lei constitucional do
movimento de 31 de março de 1964;
CONSIDERANDO que o Governo continua a deter os poderes que lhe foram
conferidos pela Revolução;
O Presidente da República resolve editar o seguinte Ato Institucional nº 4:
Art 1º - É convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12
de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967.
§ 1º - O objeto da convocação extraordinária é a discussão, votação e promulgação do
projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República.
§ 2º - O Congresso Nacional também deliberará sobre qualquer matéria que lhe for
submetida pelo Presidente da República e sobre os projetos encaminhados pelo Poder
Executivo na última sessão legislativa ordinária, obedecendo estes à tramitação
solicitada nas respectivas mensagens.
79
§ 3º - O Senado Federal, no período da convocação extraordinária, praticará os atos de
sua competência privativa na forma da Constituição e das Leis.
Art 2º - Logo que o projeto de Constituição for recebido pelo Presidente do Senado,
serão convocadas, para a sessão conjunta, as duas Casas do Congresso, e o
Presidente deste designará Comissão Mista, composta de onze Senadores e onze
Deputados, indicados pelas respectivas lideranças e observando o critério da
proporcionalidade.
Art 3º- A Comissão Mista reunir-se-á nas 24 horas subseqüentes à sua designação,
para eleição de seu Presidente e Vice-Presidente, cabendo àquele a escolha do relator,
o qual dentro de 72 horas dará seu parecer, que concluirá pela aprovação ou rejeição
do projeto.
Art 4º - Proferido e votado o parecer, será o projeto submetido a discussão, em sessão
conjunta das duas Casas do Congresso, procedendo-se à respectiva votação no prazo
de quatro dias.
Art 5º - Aprovado projeto pela maioria absoluta será o mesmo devolvido à Comissão,
perante a qual poderão ser apresentadas emendas; se o projeto for rejeitado, encerrar-
se-á a sessão extraordinária.
Art 6º As emendas a que se refere o artigo anterior deverão ser apoiadas por um
quarto de qualquer das Casas do Congresso Nacional e serão apresentadas dentro de
cinco dias seguintes ao da aprovação do projeto, tendo a Comissão o prazo de doze
dias para sobre elas emitir parecer.
Art 7º- As emendas serão submetidas à discussão do Plenário do Congresso, durante
o prazo máximo de doze dias, findo o qual passarão a ser votadas em um único turno.
Parágrafo único - Aprovada na Câmara dos Deputados pela maioria absoluta será, em
seguida, submetida à aprovação do Senado e, se aprovada por igual maioria, dar-se-á
por aceita a emenda.
Art 8º - No dia 24 de janeiro de 1967 as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal promulgarão a Constituição, segundo a redação final da Comissão, seja a do
projeto com as emendas aprovadas, ou seja o que tenha sido aprovado de acordo com
o art. 4º, se nenhuma emenda tiver merecido aprovação, ou se a votação não tiver sido
encerrada até o dia 21 de janeiro.
80
Art 9º - O Presidente da República, na forma do art. 30 do Ato institucional nº 2, de 27
de outubro de 1965, poderá baixar Atos Complementares, bem como decretos-leis
sobre matéria de segurança nacional até 15 de março de 1967.
§ 1º - Durante o período de convocação extraordinária, o Presidente da República
também poderá baixar decretos-leis sobre matéria financeira.
§ 2º - Finda a convocação extraordinária e até a reunião ordinária do Congresso
Nacional, o Presidente da República poderá expedir decretos com força de lei sobre
matéria administrativa e financeira.
Art 10 - O pagamento de ajuda de custo a Deputados e Senadores será feito com
observância do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto Legislativo nº 19, de
1962."
Brasília, 7 de dezembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Carlos Medeiros Silva
Zilmar Araripe
Ademar de Queiroz
Manoel Pio Corrêa
Eduardo Gomes