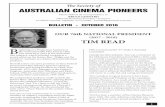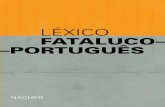Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema Português (2012)
Transcript of Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema Português (2012)
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do NovoCinema Português (1949-80)
Paulo CunhaUniversidade de Coimbra
NO SEGUIMENTO DO TRABALHO que apresentei aqui nas Jornadas Ci-nema em Português de 2010 sobre as alterações verificadas no modo
de produção das curtas-metragens portuguesas entre os anos 1950 e 1970, oque pretendo para esta breve apresentação é tecer algumas considerações so-bre a internacionalização do cinema português entre 1949 e 1980, partindodo estudo da participação de filmes portugueses em festivais de cinema in-ternacionais, sobretudo na Europa e na América Latina. Procuro identificarprojetos e os seus protagonistas e reflectir sobre a circulação internacional doNovo Cinema Português e a forma como isso contribuiu para uma mudançade paradigma cultural e estético no cinema português desse período.
Em suma, pretendo confirmar, como suspeito, se os dados que consul-tei nos processos de participação em festivais de cinema geridos pelo próprioSNI/SEIT, depositados no fundo do Secretariado Nacional de Informação pre-servado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, demonstram uma nova es-tratégia de promoção internacional tentada por jovens produtores, nomeada-mente António da Cunha Telles, e se o Novo Cinema Português terá mesmopromovido uma mudança de paradigma no cinema português ao propor umarutura com os projetos anteriores de um cinema nacional para um público por-tuguês (ou luso falante) e uma aproximação estética ao cinema moderno dasnovas vagas europeias e ao seu crescente circuito de divulgação que passavaessencialmente pelos festivais de cinema.
Contexto
A 1 de Fevereiro de 1958, César Moreira Baptista (1915-1981) foi nome-ado responsável máximo pelo Secretariado Nacional de Informação, CulturaPopular e Turismo (SNI). Em 1968, seria reconduzido enquanto responsá-vel máximo pela Secretaria de Estados da Informação e Turismo (SEIT) que
Cinema em Português: IV Jornadas , 187-199
ii
ii
ii
ii
188 Paulo Cunha
substituiu o anterior SNI e permaneceria no cargo até 1973. Depois de ter de-sempenhado diversos cargos de responsabilidade intermédia em vários órgãoscorporativos (Ó, 1996: 88), César Moreira Baptista foi responsável máximopela política cultural do Estado Novo durante praticamente todo o período deafirmação do novo cinema (1958-73). Enquanto titular do SNI/SEIT, MoreiraBaptista teve responsabilidade por um esforço de promoção de tímidas so-luções para a crise do cinema português (financiamento do curso de cinemado EUCE, atribuição de bolsas de estudo em escolas estrangeiras a diversosjovens valores do cinema e televisão portuguesas), mas também pelo silencia-mento do movimento cineclubista e de luta contra outras formas de oposiçãocinéfila. A responsabilidade pela alteração da política de subsídios do Fundo,que passou a apoiar um novo tipo de documentarismo, é geralmente atribuídaa Moreira Baptista, assim com uma falta de confiança na “geração dos assis-tentes” que condenou o velho cinema à falência (Costa, 1991: 114).
César Moreira Baptista, “que fizera carreira política à sombra de Ferro ede Marcello Caetano” (Ibidem) pretendia impor um alento renovado ao orga-nismo. Com a saída de António Ferro da direção do SPN/SNI, em 1949, oorganismo perdeu importância política e atravessou uma fase de menor prota-gonismo. Em 1955, quando Marcello Caetano passou a tutelar o Ministro daPresidência, uma das competências que herdou passava pelo controlo do SNI,que se encontrava “caído no marasmo e os contratos com os seus quadrosdavam a impressão de se estar a lidar com amadores”. Para acompanhar osnovos tempos, o organismo responsável pela informação do regime “cresceu,absorveu novas tarefas, admitiu muito pessoal que já não tinha o fogo, o en-tusiasmo, a imaginação (e até a fidelidade ideológica...) das primeiras horas eapenas procurava ganhar a vida”. A missão de Caetano consistia em “organi-zar a casa, tarefa difícil devido aos muitos chefes vitalícios que era impossíveldesalojar, e imprimir-lhes novo dinamismo” (Caetano, 1977: 460-461).
A condução de Moreira Baptista na liderança do SNI/SEIT parece repre-sentar um certo esforço de recuperação do fôlego inicial da política culturaldo Estado Novo. Esta escolha promovida pelo sector mais liberal do regimepermitiu uma inflexão em relação ao marasmo da última década. Como con-clui Paulo Filipe Monteiro, esta inflexão da política cultural do regime “foiao reencontro do vanguardismo estético de António Ferro” (Monteiro, 2000:311).
Até 1958, com a chegada de César Moreira Baptista à direção do SNI,
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema... 189
não havia qualquer estratégia de circulação de filmes pelos festivais de cinemaeuropeus. No fundo, a presença de filmes portugueses dependia muito do di-namismo dos seus produtores ou distribuidores, que apostavam sobretudo napresença em festivais para rentabilizar comercialmente o filme e tentar vendê-lo para mercados estrangeiros. Uma das exceções aconteceu a propósito daparticipação de Portugal no Festival Internacional de Cinema de São Pauloem 1954. Dada a importância histórica desse evento, o SNI organizou a pre-sença portuguesa e a delegação que viajaria, optando pela escolha da longa-metragem O Cerro dos Enforcados (1954), de Fernando Garcia, sobretudopor adaptar um conto de Eça de Queiroz. Outra das exceções aconteceu noFestival de Cannes de 1959, quando Portugal apostou fortemente na apresen-tação de Rapsódia Portuguesa, uma realização de João Mendes e escrita porFernanda de Castro a partir de uma ideia de António Ferro. A presença destefilme em Cannes foi acompanhada por uma significativa operação de marke-ting que incluía oferta de brindes (barretes de campinos, chinelos e vinho doporto), figuração folclórica, publicidade nos jornais locais e a preparação deuma importante delegação com a presença de Amália Rodrigues e AntónioVilar.
Em Julho e Outubro de 1961, o SNI enviou a diversos festivais de ci-nema internacionais uma nota oficiosa que esclarecia os organizadores que,ao abrigo do decreto-lei 31.134 (de 24 de Novembro de 1944), qualquer par-ticipação de filmes portugueses em eventos cinematográficos internacionaisteria de ser mediada pelo SNI. De acordo com o diploma, no seu artigo 19.a,“a exportação de filmes portugueses para o estrangeiro” dependia “de autori-zação do Secretariado, do seu parecer favorável ou da aprovação prévia dosargumentos e elencos técnicos e artísticos” (. . . ).
Por alguma razão que não consegui ainda apurar, o SNI sentiu necessidadede, quase 20 anos após a publicação desse diploma, lembrar aos organizadoresdos eventos cinematográficos internacionais que queria tutelar a exportação docinema português, quer fosse de carácter permanente (vendas de cópias parao circuito comercial) como temporária (empréstimo de cópias para o circuitonão-comercial).
ii
ii
ii
ii
190 Paulo Cunha
Corpus
A minha análise centra-se no conteúdo de 14 caixas com 261 processos rela-cionados com organizadores de festivais de cinema internacionais depositadasno fundo do Secretariado Nacional de Informação preservado no Arquivo Na-cional da Torre do Tombo. Até à data da elaboração do presente texto, foramesses os processos localizados, mas acredito que com o desenvolvimento daminha pesquisa seja possível localizar novos processos referentes ao períodoposterior a 1968.
Cronologicamente, os processos dizem respeito ao espaço temporal 1955-1968, assim distribuídos:
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema... 191
Geograficamente, os processos dividem-se pelos seguintes países:
Itália – 61 (Bérgamo, Génova, Trento, Veneza, Florença, Cortina D’Am-pezzo, Salerno, Milão, Trieste, Tirrena, Roma, Novara e Páduva)
França – 41 (Cannes, Paris, Tours, Rolle, Marselha, Asniéres e Carcas-sone)
Espanha – 38 (San Sebastian, Valladolid, Bilbau, Barcelona, Santander,Benidorm, Corunha, Saragoça, Múrcia, Le Felguera, Cala D’Or)
RFA – 21 (Berlim, Manheim e Salzgitter)Canadá – 12 (Vancouver)Austrália – 11 (Sidney e Melbourne)Bélgica – 10 (Bruxelas, Antuérpia e Ostende)EUA – 9 (San Francisco e Los Altos Hills)Escócia – 8 (Edimburgo)Irlanda – 8 (Cork)Japão – 6 (Tóquio)Áustria – 5 (Viena)México – 5 (Cidade do México e San Angel)
ii
ii
ii
ii
192 Paulo Cunha
Suiça – 4 (Genebra e Nyon)África do Sul – 3 (Durban e Bleomfontein)Andorra – 3Colômbia – 3 (Cartagena)Angola – 2 (Luanda e Lobito)Brasil – 2 (Rio de Janeiro)Inglaterra – 2 (Londres e Oxford)Suécia – 2 (Estocolmo)Uruguai – 2 (Montevideu)Argentina – 1 (Mar del Plata)Chile – 1 (Santiago)Paquistão – 1Do corpus fazem ainda parte 11 processos relativos a pedidos de apoio a
festivais portugueses, assim distribuídos:Guimarães – 3 (Festival Nacional de Cinema de Amadores, 1966-67-68)Lisboa – 3 (Festival de Cinema de Lisboa, 1966; Concurso Nacional de
Cinema de Amadores, 1967; Festival Internacional de Arte Cinematográficade Lisboa, 1968)
Barreiro – 1 (Concurso Internacional de Cinema Amador, 1968)Coimbra – 1 (Festival Internacional de Filme Amador, 1968)Leiria – 1 (Semana do Filme Religioso de Amador, 1968)Porto – 1 (Festival Internacional de Filmes de Amadores, 1967)Taveiro – 1 (Festival Ibérico de Cinema Amador, 1968)
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema... 193
Tematicamente, os processos dividem-se da seguinte forma:
Para além destes processos de participação oficial, tenho vindo a inven-tariar outras participações feitas à margem do SNI/SEIT, por iniciativa dosprodutores ou realizadores. Cito apenas alguns exemplos:
• a participação de O Pintor e a Cidade de Manoel de Oliveira em Cork(Irlanda);
• a participação de Os Verdes Anos de Paulo Rocha em Locarno (Suiça)e Acapulco (México);
• a participação de Belarmino de Fernando Lopes em Pesaro (Itália);
• a participação de Mudar de Vida de Paulo Rocha em São Paulo (Brasil);
• a participação de Nojo aos Cães de António de Macedo em Bérgamo(Itália);
No entanto, aqui tratarei apenas do trabalho desenvolvido com os proces-sos do SNI/SEIT depositados na Torre do Tombo.
ii
ii
ii
ii
194 Paulo Cunha
Festivais
Na década de 60, realizavam-se na Europa quatro importantes festivais classi-ficados, pela FIAPF (Federação Internacional das Associações de Produtoresde Filmes), como categoria A: Veneza, Cannes, Berlim e San Sebastian.
Em torno desses quatro festivais funcionavam dezenas de outros de médiae pequena dimensão que, geralmente, se especializavam num tema, géneroou formato específico. Desses, os mais mediáticos seriam Bérgamo, Pesaro,Firenzi, Tours, Manheim, Oberhausen, Locarno, Bruxelas e Cork.
Ainda paralelo a este segundo núcleo, identificam-se outros festivais emáreas geográficas ou ideológicas distintas: Karlovy Vary e Moscovo no mundosocialista; Acapulco e Mar del Plata na América Latina; Calcutá e Nova Dhelina Ásia; Nova Iorque, Montreal e Los Angeles na América do Norte.
Voltemos então aos quatro grandes e à participação portuguesa durante operíodo em estudo.
a) Veneza – era o mais antigo, criado em 1932, ligado à Bienal de Artede Veneza. Durante o regime fascista de Mussolini foi usado comoinstrumento de propaganda e chegou a premiar um filme de Leitão deBarros: Ala-Arriba (1942). Depois da Segunda Guerra Mundial, perdeuprotagonismo devido a diversas polémicas relacionadas com a figura deLuigi Chiarini, seu director artístico até 1968.
Entre 1959 e 1965, Portugal apresentou 11 filmes: Imagens de Portugal;Actualidades de Angola; Actualidades de Moçambique, Fabricação de Car-ruagens, Janela Aberta, Lisboa vista pelas suas crianças (1959); As Pedrase o Tempo (1961); Acto da Primavera (1962); Verão Coincidente, Dom Ro-berto (1962); Domingo à tarde (1965); em 1960 e 1964, o SNI informou aorganização que não estaria em condições para enviar representante oficial.
b) Cannes – criado em 1938, com apoio oficial do governo francês comfins de promoção turística da região Côte d’Azur, este festival tornou-se o mais importante com a afirmação internacional da nouvelle vague.Também viveu tempos conturbados sobretudo durante o Maio de 1968mas soube renovar-se criando seções paralelas como a Quinzena dosRealizadores ou o Mercado do Filme.
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema... 195
Entre 1858-62, Portugal apresentou três filmes: Sintra (1958), RapsódiaPortuguesa (1959) e As Pedras e o Tempo (1961). Em 1960 e 1962 não par-ticipamos. Entre 1960-68, Portugal participou, também em Cannes, nos Ren-contres Internationales du film pour la jeunesse em quatro edições: Açores(1960), Aniki-Bóbó (1961), Sintra (1962) e Pedro, o pequeno burguês (1965).
c) Berlim – criado em 1951, com fins políticos, não exibia filmes do blocosoviético. O seu director Alfred Bauer apostou em jovens realizadorese na privatização do festival, o que lhe trouxe enorme prestígio no finaldos anos 60.
Entre 1958-65, Portugal apresentou oficialmente 9 filmes: Pescadores deAmangau (1958); Amadeo Souza-Cardoso (1960); Paixão de Cristo na Pin-tura Antiga Portuguesa (1961); Barqueiros do Douro (1962); Retalhos daVida de um Médico, Faianças Portuguesas (1963); Nicotiana (1964); Domin-go à Tarde, Sobre a Terra e Sobre o Mar (1965). Em 1959, Portugal apre-sentou o filme Rapsódia Portuguesa mas o filme foi rejeitado porque já tinhasido exibido em Cannes. Em 1964, os responsáveis do SNI ainda ponderaramapresentar Os Verdes Anos, “por representar uma nova tendência no nossopanorama cinematográfico", mas acabaram por desistir da ideia.
d) San Sebastian – criado em 1953, perderia a classificação de categoriaA entre 1958-66. Voltou a ser reconhecido pela FIAPF sob direção deMiguel de Echarri.
Entre 1958 e 1964, Portugal apresentou como representantes oficiais qua-tro filmes: Flores, Mundo de Beleza (1958); A Luz vem do Alto (1959); Raça(1961) e Aço Português (1962). Em 1964, a organização não selecionou OsVerdes Anos. Em 1963-64, o SNI pensou em enviar Retalhos da Vida de umMédico e Acto da Primavera mas não chegou a concluir o processo.
No início da década de 1970, goradas todas as expectativas de triunfarcomercialmente no mercado interno, o circuito cinematográfico internacionalsurgiu como uma forma de viabilização económica e de legitimação artísticapara o Novo Cinema português. Entusiasmados com o reconhecimento in-ternacional de Manoel de Oliveira e com a boa receção crítica que diversosnovos cinemas receberam nos mais importantes festivais de cinema interna-cionais (cinema novo brasileiro, nova vaga polaca, jovem cinema jugoslavo,
ii
ii
ii
ii
196 Paulo Cunha
entre outros), o Novo Cinema português optou definitivamente pelo caminhode internacionalização, que passava pela radicalização das propostas, e pro-moveu uma mudança de paradigma cultural e estético no cinema português.O cinema português abandonava definitivamente o velho projeto cultural deAntónio Ferro, abdicando da sua vocação nacional e reclamando uma fami-liaridade com as renovadoras e jovens cinematografias europeias e mundiais.
Não foi portanto estranho que, reconhecendo a importância da receçãocrítica internacional, uma das preocupações do Centro Português de Cinema(CPC), e posteriormente do Instituto Português de Cinema (IPC), passassepela aposta na internacionalização de um certo cinema português, organizandomostras e sessões de divulgação de autores de referência para o cinema por-tuguês. Mais do que as presenças nos principais festivais internacionais – quedependiam sempre da “boa vontade” dos júris de seleção, raramente recom-pensavam os custos das representações e poucas menções ou prémios con-quistavam –, o CPC decidiu apostar na promoção e divulgação em iniciativasnão-competitivas e massificada das suas produções, nomeadamente mostras eciclos.
A primeira experiência mais significativa foi a organização, em colabo-ração com o festival cinematográfico local, da Semaine du Jeune CinemaPortugais em Março de 1972: uma seleção de filmes que incluía produçõesrecentes do CPC, filmes das Produções António da Cunha Telles, filmes deJoão César Monteiro, António Campos, Cunha Telles e Rogério Ceitil (queainda não pertenciam à cooperativa), e uma retrospetiva apreciável de Manoelde Oliveira. Mais do que uma simples mostra, esta iniciativa deu uma visi-bilidade mediática ao novo cinema no mercado internacional que o cinemaportuguês nunca tinha tido até então.
O sucesso foi tal, do ponto de vista da repercussão crítica e da coberturamediática, que o CPC voltaria a apostar neste tipo de iniciativas (Barcelona em1973, Cinemateca Francesa em Paris em 1974) e o próprio IPC, que assumi-ria maior destaque após 1974-75, também privilegiou este modelo realizandomostras em Liége (Março de 1977), Poitiers (Abril de 1977), Madrid (Abrilde 1977), Londres (Outubro de 1977), Manheim (Outubro de 1977), Ames-terdão (Novembro de 1977), Leipzig (Dezembro de 1977) e Orense (Marçode 1978).
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema... 197
Algumas conclusões
Os dados relevam claramente que a entrada de Moreira Baptista para a direçãodo SNI representou uma mudança de política para o cinema português. Emtermos de representação portuguesa no estrangeiro, os resultados não se fize-ram esperar: aumento significativo das presenças de filmes portugueses emfestivais internacionais; maior atenção na seleção de festivais a participar, pri-vilegiando os que tinham maior cobertura mediática; e uma alteração graduale significativa do tipo de filme selecionáveis para exportação, das encomen-das públicas ou dos filmes turísticos convencionais1 para propostas de jovensrealizadores com intuitos renovadores2.
Os dados revelam também que o SNI mantinha relações privilegiadas comcertos produtores, nomeadamente António da Cunha Telles, Felipe de Solmsou Francisco de Castro. Em 1962, o SNI foi convidado para participar noFestival de Melbourne (Austrália) e contatou os produtores António da CunhaTelles e Felipe de Solms com a proposta de custear apenas 50 por cento decópias com legendas em inglês de Os Verdes Anos e Retalhos da Vida de umMédico. Em 1964, após a não-seleção de Os Verdes Anos para San Sebastian,o produtor António da Cunha Telles conseguiu negociar com o SNI e a or-ganização do certame o envio de Belarmino mas, à última hora, acabou pordesistir por falta de condições financeiras. Em 1965, depois de assegurar apresença de Domingo à tarde em Veneza, o produtor António da Cunha Tellestentou convencer, sem sucesso, o SNI e a organização do certame a aceitartambém As Ilhas Encantadas. No mesmo ano, o mesmo produtor tenta, outravez sem sucesso, levar As Ilhas Encantadas e Belarmino a Berlim. Em 1968,o SNI contatou António da Cunha Telles para propor o envio de As Ilhas En-cantadas ao Certamen International de Cortometrages en Color de Barcelona,mas o produtor convenceu o organismo público a apresentar Os Caminhos doSol.
1Janela Aberta (1958) de Silva Brandão; Henrique o Navegador (1960) de João Mendes;Azulejos de Portugal (1958) de Baptista Rosa; Lisboa vista pelas suas crianças (1958) deAntónio Lopes Ribeiro; Paixão de Cristo nos Primitivos Portugueses (1961) de Baptista Rosa;Rapsódia Portuguesa (1959) de João Mendes.
2As Pedras e o Tempo (1961) de Fernando Lopes; Verão Coincidente (1962) de António deMacedo; Os Caminhos do Sol (1966) de Carlos Vilardebó; Os Verdes Anos (1963) de PauloRocha; Domingo à Tarde (1965) de António de Macedo.
ii
ii
ii
ii
198 Paulo Cunha
Finalmente, também parece claro que esta nova estratégia de Moreira Bap-tista parecia apostar significativamente no reforço do prestígio internacionaldo próprio SNI. Entre campanhas publicitárias, subsídios para financiar oucomparticipar viagens de atores e técnicos a festivais ou apoio para a legenda-gem de filmes expressamente realizadas para festivais, é notório um esforçode investimento financeiro e político para melhorar a representação de filmesportugueses em certames internacionais. Em alguns casos, em nome dessarepresentação de qualidade, o SNI entrava mesmo em certas contradições,como a autorização excecional de participação de filmes proibidos em Portu-gal (Nojo aos cães de António de Macedo) ou de filmes produzidos fora da“esfera de influência” do SNI e do próprio Estado Novo ou mesmo declarada-mente contra a sua política cultural (D. Roberto de Ernesto de Sousa).
Fontes e Referências bibliográficas
Arquivo Nacional Torre do Tombo. Fundo do SNI – Secretariado Nacional deInformação (1929-74). Caixas 11, 28, 73, 138, 543, 1019, 1360, 1487,1554, 1606, 1760, 2092, 2112, 2127.
Caetano, Marcello (1977). Minhas Memórias com Salazar. Lisboa: Verbo.
Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Naci-onal Casa da Moeda.
Cunha, Paulo (2005). “Os filhos bastardos”. Afirmação e reconhecimento doNovo Cinema Português (1967-74). Coimbra: FLUC.
De Valck, Marijke (2009). Film Festivals: From European Geopolitics toGlobal Cinephilia. Amesterdão: Amsterdam University Press.
Kovács, András Balint (2007). Screening Modernism. European Arte Cinema1950-80. Chicago: The University of Chicago Press.
Monteiro, Paulo Filipe (2000). «Uma margem no centro: a arte e o poder do‘novo cinema’». In Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar deSalazar. . . Lisboa: Círculo de Leitores.
ii
ii
ii
ii
Os festivais de cinema na internacionalização do Novo Cinema... 199
Ó, Jorge Ramos do (1996). «SPN/SNI/SEIT». In Dicionário de História doEstado Novo. Lisboa: Círculo de Leitores.