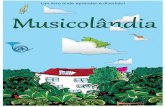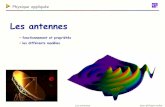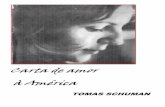El amor qu'es fino amor en la lírica medieval ... - Portal AmeliCA
Onde andarà o meu amor?
Transcript of Onde andarà o meu amor?
Onde Andará o meu Amor?1
Para Ricardo Soares
"Não diria que estava feliz.Não era nada assim tão simples. Euestava apenas presente, talvez pelaprimeira vez na minha vida adulta. Omomento não era extraordinário. Maseu tinha o momento, eu o possuía porcompleto. Ele me habitava. Senti quese morresse logo teria conhecidoisso, uma conexão com a minha vida,com seus erros e tortos sucessos"
Michael Cunninghan
Nos anos 80, urbanóide, intelectualizado, tímido, pop,
trazendo no corpo e nos silêncios os ecos de uma abertura
política lenta e gradual, não me via no cinema brasileiro,
na sua história. Aprendi a gostar de filmes brasileiros não
pelo Cinema Novo nem pelo Cinema Marginal, mas pelo chamado
Neon-Realismo, nome que prefiro a outros mais localistas
como novo cinema paulista ou “cinema da Vila Madalena” (ver
BERNARDET, J. C.: 1985, 66). Me vi na solidão geracional do
1 Partes deste ensaio foram publicadas em Cinemais, 28, março/abril 2001
e em Aletria, 8, 2001, Centro de Estudos Literários da Faculdade de Letras
da UFMG.
156
adolescente de “Nunca Fomos Tão Felizes” de Murilo Salles
(1983). Peguei ansiosamente a fila no Festival de Cinema de
Brasília pra ver a estréia de “Anjos da Noite” de Wilson
Barros (1987). Houve troca de rolo. Não importou. Me
apaixonei por Shirley Sombra/Carla Camuratti em “Cidade
Oculta” de Chico Botelho (1986). A felicidade estava no
cinema, ainda mais em meio aos desencantos após o fracasso
da campanha pelas Diretas Já. Aquele era meu cinema, não
Glauber nem Bressane, que aprendi a respeitar e gostar
depois. Desses filmes eu não precisei aprender nada. Esses
filmes eram meus, os filmes que faria se fosse cineasta.
Curiosamente, dos realizadores da trilogia “Anjos da
Noite”/”Cidade Oculta”/”A Dama do Cine Shangai” (1987),
Guilherme de Almeida Prado foi o único a sobreviver e fazer
outros filmes2. Mais de uma década depois, com seu “Hora
2 Destoando do silêncio da crítica brasileira sobre este período e para
uma visão mais abrangente deste momento, ver os ensaios de Fernão Ramos
(1991), José Carlos Avellar (1994) e Renato Pucci (2001). André Parente
(1998) reafirma o mal-estar diante dessa produção, chamando esta geracão
de “cinema de replicantes” (p.131), meros “dubladores colonais” (p.132),
“pseudo-cineastas que pretendiam fazer uma nova indústria” (p.133).
157
Mágica” (1998), ele reafirma na apresentação de seu filme em
outro Festival de Cinema em Brasília o que tanto irritava
cinemanovistas, experimentais, marginais, críticos ou
cineastas, de então: cinema é ilusão, magia, fantasia. Hoje,
quando ele fala, não noto reação, a não ser um
distanciamento frio. Parece antigo, parece anos 80, cinema
publicitário, cinema de cinema. Mas com esse filme,
Guilherme está dando mais um passo rumo à afetivização das
imagens, através da nostalgia do noir, das divas e de homens
viris que acabam traídos. Os espaços urbanos e envelhecidos,
as cidades feitas de filmes não foram abandonados. O que
antes era uma saída, uma alternativa às banalizações da
procura do novo parece ter sofrido um sutil deslocamento.
Não mais espectador, não mais a voz de um outro, não mais
ser “ventriloqist” (Gerald Thomas). O final não é apenas
bem-feito, dramaticamente acabado. Ele é uma virada. O
dublador (Raul Gazzola) mostra a cara. O tom não é o
agridoce esperançoso de “Melhores Dias Virão” de Cacá
Diegues. Guilherme não fala diretamente do Brasil, nem se
encaixa no discurso fácil, quase hegemônico da crítica e do
158
cinema que deu certo no Brasil dos anos 90 de volta à
realidade, ainda que não necessariamente ao Neo-Realismo,
fazendo alianças ambíguas com o Cinema Novo, como podemos
ver na polêmica quando do lançamento de “Central do Brasil”
de Walter Salles.
Para os que gostam de coerência, Guilherme com sua
“Hora Mágica” retoma o trilho de “A Dama do Cine Shangai”.
Há inclusive auto-referências. O restaurante chinês. Maitê
Proença aparece no mesmo papel. Esse mundo já não me seduz
tanto quanto antes mas me leva a problemas não resolvidos. O
fascínio pelas divas é um deles. Mas não é só sobre elas que
quero falar. O que incomoda aqui é que a pose tem o tom frio
do pastiche, das meta-estrelas. A relação de desejo, como o
olhar de Gloria Swanson no final de “Crepúsculo dos Deuses”
de Billy Wilder, não se faz. Não há mais tensão, nem entrega
ao olhar para o público, ao olhar para a câmara. Ao caminhar
para a câmara, Gloria Swanson desaparece como uma imagem. A
nostalgia de tempos áureos é redimida por uma farsa. Em
Guilherme, não há farsa, não há paródia, mas também não há
deslumbramento, parece algo mais neutro como o pastiche, que
159
não busca tirar o fascínio pelas imagens. Ao contrário, elas
se ampliam. Mas há algo suspeito, para além da trama
policialesca. Mulher fatal acaba por enganar homem vivido.
Ao invés do assassinato da diva, temos o homem ocupando seu
lugar como diva, deixando de ser dublador. Curioso como os
homens viris nos filmes de Guilherme parecem falsos,
exagerados na sua imagem de uma masculinidade antiquada. Mas
não é só a voz de Raul Gazzola, seu rosto substitui
irrealisticamente o do ator protagonista. Vitória na
fantasia, no mundo da imagem. Nem ressentimento, nem
conquista. O lugar é um lugar na cena. O filme começa e
termina com uma cena de dublagem, recheadas por clichês
novelescos. Se, no ínício, a frase do protagonista é “Chega
de enigma, eu quero a verdade”. No final, a verdade aparece,
como uma decisão. “Eu sei que vou me arrepender, mas eis
minha resposta” e beija a heroína na última cena.
Seria interessante fazer um contraponto com a obra de
Caio Fernando Abreu, em que é recorrente a espetacularização
do cotidiano, particularmente no que se refere à identidade
feminina, com nos contos “Fotografias” em Morangos Mofados,
160
“Dama da Noite” e “Os Sapatinhos Vermelhos” em Os Dragões não
Conhecem o Paraíso. Em “Mel e Girassóis” (também em Os Dragões
não Conhecem o Paraíso), um despudorado sentimentalismo ecoa o
fascínio que o melodrama exerce junto a um público feminino
mas também junto a um público gay3, criando um espaço
paradisíaco, de férias na praia, em que as emoções não são
corroídas pela ironia, mas suavizadas num espaço de
artifício, com num cenário de filme hollywoodiano, repleto
de músicas sentimentais e falas espirituosas: “Lugar-comum,
sonho tropical: não é excitante viver?” (p. 101) ou “Virou
de costa, debruçou-se na janela, feito filme: Doris Day,
casta porém ousada. Então ele veio por trás: Cary Grant,
grandalhão porém mansinho” (p. 113).
Para além do culto às divas, o que interessa é uma
novelização da realidade que coloca em pauta os fãs, o
público, este que escreve. Sabemos pelos estudos de Wayne
Koestenbaum (1993), entre outros, do estreito vínculo entre
homens gays e divas, especialmente mulheres de personalidade
3 O que ainda pode ser observado em textos imaturos de Caio, como o
melodrama assumido de “A Maldição dos Saint-Marie” e o anti-conto de
fadas “O Príncipe Sapo”, ambos publicados na coletânea Ovelhas Negras.
161
forte, que impõem sua excentricidade, sua diferença ao
mundo, mesmo ao custo da solidão, como uma forma de ir além
do silêncio e do estigma. Os eventos em torno destas divas
criam espaços homossociais, espaços de encontros e de
reconhecimentos, da ópera ao teatro e shows de música. Mesmo
agora, em épocas de multiplicação de espaços gays tal culto
não parece ceder. Mudam as divas. O desejo de fantasia, de
prazer permanece mesmo entre os mais politizados. Não se
trata, necessariamente, de ser uma diva da primeira à ultima
hora do dia, de viver uma outra vida, de fugir da realidade,
mas de afirmar uma presença, por mais patética, ridícula que
ela possa ser, afirmar possibilidades de mudança, mesmo de
utopia, do sublime, para além do arco-íris ou na vida
cotidiana. Não só ter personalidade, mas ter caráter.
Repito. As divas são apenas uma parte da estória. Hoje,
o cinema brasileiro me pertence ainda menos do que nos anos
80. O que me fascina no cinema não encontro entre nós.
Cansado do excesso de referências e citações explícitas, o
voyeurismo cede lugar a uma ética dos sujeitos e das
imagens, particular e concreta, construída por filmes como
162
“Sexo, Mentiras e Videotapes” de Soderbergh, “O Fim de Um
Longo Dia” de Terence Davies, “Confiança” de Hal Hartley,
“Segredos e Mentiras” de Mike Leigh, “Traídos pelo Desejo”
de Neil Jordan, “O Doce Amanhã” de Atom Egoyam, “Anjos
Caídos” de Wong Kar Wai, “A Flor do Meu Segredo” de
Almodóvar, entre outros, e o que eles representaram. “Ter
por ponto de partida não as imagens mas as emoções”
(PEIXOTO, Nelson B.: 1997, 365), sem que seja necessário
negar o mundo das imagens, como ainda em veteranos como
Ettore Scola e Eric Rohmer. Mas nesta guinada rumo a uma
experiência afetiva mais direta, ainda assim me senti
excluído no Brasil, pelo tipo de filme e por suas estórias.
É como se tivesse que traduzir o tempo todo. Não haveria
cineastas gays no Brasil? Como cineastas engajados, parece
que não. Talvez possamos entender a trajetória de Djalma
Limongi Batista dentro de uma estética camp. Mas a
afetividade entre homens só seria colocada no espaço da
violência (“Matadores” e “Ação entre Amigos” de Beto Brant),
na relação de amizade (“Alma Corsária” de Carlos
Reichenbach) ou nos espaços anônimos (“Romance” e
163
“Cronicamente Inviável” de Sérgio Bianchi)? Seria tão fora
de lugar o amor entre homens no horizonte do cinema
brasileiro? E pensar afetividade, identificação e
envolvimento é pensar as possibilidades de um cinema
narrativo contemporâneo, dentro de uma estética que
privilegia uma maior comunicação com o público e com o
mercado, ao invés de estabelecer uma relação de ruptura, de
choque com o público. Teria que recolher fragmentos, cenas
para que, como os espectadores gays da era clássica do
cinema hollywoodiano, no auge da censura moralista, pudesse
ir além dos assasssinos, michês, travestis e afetados que
aqui e acolá aparecem? Por que filmes como “Aqueles Dois” de
Sérgio Amon (1984) não tiveram herdeiros? Ou eu teria que
procurar fora do universo dos longa-metragens? Nos vídeos do
Festival Mix?
Como não me interesso por estudar a representação da
homossexualidade no cinema brasileiro4 e sim pelas relações
entre afetividade e narrativa, na busca de uma obra, ao
mesmo tempo, comercial e polissêmica, o veio das comédias
4 Trabalho já introduzido por Antonio Moreno (1995).
164
românticas ou dramas familiares poderia ser um caminho.
“Pequeno Dicionário Amoroso” e “Amores Possíveis” de Sandra
Werneck, “Como ser Solteiro no Rio de Janeiro” de Rosana
Svartman, “Bossa Nova” de Bruno Barreto, “Até que a Vida nos
Separe” de José Zaragoza. Nada muito animador. Mesmo o
competente “Amores” de Domingos Oliveira5. Nada, nem de
longe, perto do cinema de Cristopher Münch, na sua delicada
sutileza. É uma sensação que a realidade é um peso tão
sufocante que não podemos lidar com ela a não ser para
retratar sua dureza ou exasperá-la pela alegoria, pelo
grotesco, pelo ceticismo e/ou cinismo. Ou então, a realidade
vira paisagem de cartão-postal, de classe média mtvizada, em
que a afetividade não é forma de pertencimento ao mundo.
5 “Um exemplo interessante de um cinema urbano sem crispações, disposto
a fazer da conversa informal e da fala direta para o espectador os
canais de fluência que dão o tom, é “Amores” (98) de Domingos de
Oliveira. Ele funciona, nesse contexto, como se tivesse sido programado
para negar ponto a ponto essa pauta das frustrações, ressentimentos,
retaliações, vinganças” (XAVIER, I.: 2000, 133). Lembro ainda que Ismail
Xavier denominou a presença de uma dramaturgia do macho ressentido como
elemento importante no cinema brasileiro contemporâneo em palestra no
Festival de Cinema de Brasília de 1999.
165
Não me contento mais em revisitar clássicos como
Visconti, Cocteau, Pasolini, mesmo Warhol e Anger, nem me
sinto próximo de um cinema demasiado político como o de
Marlon Riggs, nem da brilhante e desconstrutora revisitação
do melodrama empreendida por Fassbinder e Almodóvar (SILVA,
W.da: 1999). Me sinto desamparado, eles não me satisfazem.
Seria, seguindo o lema punk de faça você mesmo, o caso de
realizar o filme que não encontro no cinema? Parece que se o
cinema brasileiro me empurra para fora dele, a literatura
não faz o mesmo. É nela, em particular na obra final de
Caio Fernando Abreu, que encontro uma pessoal mistura de
ética, homoafetividade e sublime. “O destino das imagens não
está sendo jogado no experimentalismo de vanguarda nem no
engajamento ideológico, discursos completamente integrados
no sistema de produção de clichês. O futuro das imagens está
no procura do sublime” (PEIXOTO, N.B.: 1997, 318). O
discurso do sublime ainda pode ser contraposto ao do
simulacro, que fala em desaparecimento da arte na sua
incapacidade de propor uma outra cena6. Sublime que não está6 O que no cinema, para Baudrillard (1997, 80/1), seria colocado pela
valorização dos efeitos: “O cinema atual não conhece mais nem a alusão
166
necessariamente em um Deus ou numa religião, mas no
cotidiano, nas pequenas alegrias diante de uma situação
inesperada, um gesto, uma paisagem que emerge. Sublime não
como volta de fundamentalismos, certezas incontestáveis
sobre que se apoiar, mas de leveza e delicadeza. Sublime
associado a uma ética ambivalente, pluralista, concreta,
calcada numa experiência reencantadora do mundo, para além
do cinismo e da solidão.
O protagonista de Onde Andará Dulce Veiga? começa onde o de
“Hora Mágica” termina. Ele vai buscar se livrar pouco a
pouco de um mundo das imagens. As referências a estrelas,
filmes, a sensação de ser filmado vão desaparecendo. No
entanto, o último capítulo, o encontro com Dulce Veiga, se
não é filtrado diretamente pelas poses e artifícios de uma
diva da canção, tudo parece filtrado por uma outra luz.
Efeito do chá que o protagonista toma? Os capítulos se
tornam curtos e poéticos. O cotidiano se faz sublime e, na
nem a ilusão, ele encadeia tudo de um modo hipertécnico, hipereficaz,
hipervisível. Sem branco, sem vazio, sem elipse, sem silêncio, não mais
do que na televisão, com a qual o cinema se confunde cada vez mais,
perdendo a especificidade de suas imagens: vamos cada vez mais no
sentido da alta definição, isto é, da perfeição inútil da imagem”.
167
despedida, Dulce aparece de branco, envolta em luz. Será que
mesmo o sublime aqui não mantém os clichês da cultura de
massa, a estética B, evocada no subtítulo do romance? Frases
de impacto, impostura em cena. Ela atua como uma diva
recolhida, afastada de seu público, mas ainda assim uma
diva. O filme continua também apesar do desejo de vida
simples, estórias simples, da experiência concreta. A
possibilidade de redenção não se confunde com certa
nostalgia ou ingenuidade de autores contemporâneos que
apostam numa ética que abandona as imagens, como o
salvacionismo de certo trabalho de Wim Wenders (“Tão longe,
tão perto”) ou o encontro mítico com o pai em “Central do
Brasil” de Walter Sales e “Paisagem na Neblina” de
Angelopoulos, encontro este anunciado no primeiro filme e
apresentado, num misto de sonho e realidade, no segundo.
Como no primeiro mandamento de Kieslowski em que a
imagem última do filho morto aparece na televisão ou no
final de “A fraternidade é vermelha”, não se trata de
denunciar simplesmente a banalidade midiática, escapar do
excesso informacional. O protagonista de Caio, como em
168
“Central do Brasil”, também viaja para o norte, de São Paulo
para uma comunidade esotérica, não no Nordeste, mas em
Goiás. Também as metáforas religiosas abundam, mas no
romance de Caio elas são híbridas, não só católicas, são
ecléticas, afro, orientais, rápidas como imagens, como as
aparições de Dulce, momentos de sublime ou clichê de filme
de suspense? A possibilidade de redenção se dar num ícone da
música popular tira qualquer hieratismo e imponência que as
imagem da multidão de peregrinos têm em “Central do Brasil”.
O protagonista de Caio quer acreditar, mas o escritor filtra
esse olhar. Em “Central do Brasil”, personagens e diretor
vão na mesma direção, um olhar reafirma o outro, no mesmo
impasse, mas na mesma crença. O distanciamento de Caio não é
do descrente, do realista, é de quem não consegue abandonar
o mundo das imagens, não consegue pensar o mundo sem beleza.
A imagem traz, ao mesmo tempo, o sublime e a dúvida.
· “Should I wait for you· My substitute for love· And now I find· I’ve changed my mind· This is my religion”· Madonna ·
169
A capa de Onde Andará Dulce Veiga? de Caio Fernando Abreu
remete a uma representação fake. Bonecos de papel com que
crianças em outras eras menos tecnológicas se divertiam.
Aparece supostamente a própria Dulce, ladeada por onças e
palmeiras. A mistura entre o artifício e o mau gosto ganha
um suporte no subtítulo: romance B. O que não deve ser
entendido como mero elogio do trash, do lixo, de um deboche
que reúne desde o cinema marginal até fascínio de um certo
público jovem que ri de filmes de terror mal-feitos. Há
menos um deboche do que um olhar que não pode ser virgem
diante do mundo das imagens. Ecoa o bordão dos velhos anos
80: tudo já foi dito, só podemos falar de cinema ou de
literatura. Mas o passado nunca volta tal qual ele foi,
restam ruínas de cenários já usados em filmes A, citações
que tiveram outro sentidos. Obras-primas e medianas se
misturam e se constituem num imenso “museu imaginário”, para
usar o termo conhecido de Malraux, mas o que mais me fascina
é o que vai além do simples imobilismo de ser um espectador
do mundo.
170
Há um sutil contraponto entre o subtítulo, a estética
B, e as epígrafes, no início e no fim do romance. A
primeira, de John Fante, remete à pobreza material e à
fragilidade do escritor. Evocando deus e um escritor, o
começo do livro é um ato de necessidade, de vida e de fé:
“Please God, please Knut Hamsum, don’t desert me now. I
started to write and I wrote” (p. 7)7. A escrita como uma
necessidade se traduz no próprio movimento existencial do
protagonista: “Eu precisava falar de Dulce Veiga. Dela, de
mim, do tempo” (p. 30). O livro termina com Clarice
Lispector, novamente pedindo auxílio: “Ah Força do que
Existe, ajudai-me, vós que chamam de o Deus” (p. 215).
Poderíamos pensar numa saída de redenção do mundo, mas paira
uma dúvida se esta possibilidade de redenção ainda é
possível. Em meio a esta dúvida, a escrita se faz, o
protagonista-jornalista busca voltar a escrever “ao querer
desesperadamente dar forma através de palavras a algo que só
existe, sem face nem nome, nessa região longínqua do cérebro
7 Por favor Deus, por favor Knut Hamsum, não me abandonem agora. Eu
comecei a escrever e eu escrevi.
171
onde a fantasia cruza com a memória e a intuição cega” (p.
54).
As imagens mais cinematográficas e menos televisivas
são o horizonte de constituição do mundo do protagonista, de
sua forma de ver o mundo. Gradualmente, um mundo
desencantado vai se reencantar, as imagens não são só
internalizadas, mas afetivizadas, para além de uma inflação
metatextual. Resta saber se este encantamento ainda está sob
o signo do artifício, mesmo no final. Ou ainda, o afetivo
está predestinado ao clichê8? O tempo faz de tudo um lugar
comum?
A dedicatória feita a todas as cantoras do Brasil pode
nos dar uma pista. Dulce Veiga nunca existiu mas parece uma
síntese das damas da MPB e do cinema clássico hollywodiano,
ora mulher fatal de filme noir, ora heroína melodramática. O
8 Vai ao encontro de que Eucanãa Ferraz (2000) fala sobre Morangos
Mofados: “O subliterário e o lugar-comum contaminam a escrita de tal
modo que já não podemos diferenciar com total segurança a ironia, a
paródia e o puro fluxo do pensamento, despido então de travas seletivas,
e, quanto mais intenso e apaixonado, mais propenso a um amplexo que
generosamente abraça e aceita a contribuição milionária de todos os
clichês, desde que possam exprimir um desejo, uma verdade, um espinho
íntimo”.
172
título do romance de Caio é também o título do livro-
reportagem (p.106) que o patrão do protagonista sugere sobre
Dulce, a cantora desaparecida vinte anos atrás, quando
justamente ia fazer o show que a colocaria entre os grandes
nomes da música popular para não ser só uma cantora cultuada
por poucos.
O livro poderia ser situado num intervalo entre romance
e jornalismo, traduzindo, a partir de diferentes
depoimentos, a ascensão e queda de um ícone contemporâneo,
procedimento recorrente, desde o clássico “Cidadão Kane” de
Orson Welles até “Velvet Goldmine” de Todd Haynes. Mas
sobretudo num filão que vai refletir sobre a presença das
divas e de suas existências trágicas, fora das telas, longe
do palcos. É só lembrar das várias versões de “Nasce uma
Estrela”. Ou entre nós, Ester Góes em “Stelinha” e a atriz
decadente que Marília Pera interpreta em “Anjos da Noite”.9
9 Uma constante na obra de Guilherme de Almeida Prado, a quem também o
livro de Caio é dedicado. A presença de Caio tem outras curiosidades.
Ele aparece como figurante em “Perfume de Gardênia”. Sua personagem
Dulce Veiga é mencionada em “A Hora Mágica”. Um exemplar de sua peça
“Maldição do Vale Negro” também aparece em cena. Retribuição da
dedicatória ou uma afinidade artística maior?
173
A diferença com os filmes brasileiros contemporâneos é
que neste romance de Caio, a diva, responsável por uma
presença aurática em meio a uma sociedade marcada pela
reprodutibilidade técnica e eletrônica das imagens, não fica
apenas como um objeto de culto, ser por excelência do mundo
do simulacro, em que imagens e realidade não se dissociam. O
romance de Caio é um elo entre os pastiches e as metaficcões
que saturaram os anos 80 e o desejo de narrativas simples,
despojadas de referências explícitas. Não se trata de um
fascínio vazio, mas de uma busca desesperada de sentido e
afeto num mundo empobrecido. O que começa como simples
obrigação profissional, a procura de Dulce Veiga, traduz-se
num acerto de contas com o passado. Foi com ela que o
protagonista fez sua primeira entrevista. É também nessa
procura policialesca que seu passado afetivo vai se
constituindo como questão ética.
O protagonista é apresentado, na segunda-feira, quando
vai começar um novo trabalho. Jornalista, de meia-idade,
autor de um livro de poemas que ninguém leu, descrente em si
e no mundo, sozinho, sem amigos (p. 74), pouco sexo, pouco
174
amor (p. 76), morando num apartamento minúsculo (p. 11), de
um “edifício doente, contaminado, quase terminal” (p. 37),
vivendo numa São Paulo “infernal” (p. 11), sufocante (p.
16), à beira da explosão (p. 81). Uma vida em crise, em que
o simples ato de conseguir emprego num jornal de quinta
categoria é visto por ele como um milagre.
Este mundo empobrecido, em que a presença da AIDS
aparece como uma metáfora de personagens infelizes, é
marcado por uma construção cinematográfica, repleta de
clichês, lugares-comuns, simulacros e é redimido pela música
como possibilidade de recuperar uma memória, uma
possibilidade de afetividade, de sublime, de pertencimento
ao presente. A cidade doente é também o espaço de uma
busca. Não mais o tom libertário de outros momentos, como em
“Anotações sobre um Amor Urbano” (em Ovelhas Negras): “Não vê
que é isso que eles querem que você sinta? medo, culpa,
vergonha — eu aceito, eu me contento com pouco — eu não
aceito nada nem me contento com pouco — eu quero muito, eu
quero mais, eu quero tudo” (p. 205). Há o desejo de
desaparecer como Dulce Veiga: “Eu não tinha nada especial.
175
(...) Uniforme de guerra, ou de quem quer ficar invisível. E
eu queria, há tanto.” (p. 23). Aos poucos, ir além de
sobreviver, do se negar. É uma outra invisibilidade que vai
surgir, não esta negação, esta ausência.
Mais singular é a forma como a questão ética — o que
fazer? — se articula desde o início com a música. “Eu
deveria cantar. Rolar de rir ou chorar, eu deveria, mas
tinha desaprendido essas coisas” (p. 11). O uso do verbo
dever ressalta não uma obrigação, mas uma necessidade, uma
premência. E o não saber cantar é associado a esta perda de
expressar sua afetividade: “Eu sorri. Quer dizer, contraí os
músculos da face para mostrar os dentes” (p.16) e
“...ternura, sensibilidade, emoção: eu não gostava nem um
pouco dessas palavras” (p. 83). Trata-se de reaprender a
sentir, a acreditar, sem idealização, nem cinismo. Estar à
margem sem vitimização, autocomiseração, ainda quando estes
sentimentos sejam justos. O ressentimento é um veneno maior
para quem o sente do que para quem o causa. Não desistir,
mesmo diante do cansaço. Posicionar uma voz, mas não ter a
voz. O protagonista sem nome sente uma nostalgia de outros
176
tempos em que tinha fé e alegria, reage à pose, à afetação,
recusa um mundo referencializado e vigiado pelo cinema:
“Sem juiz nem platéia, sem close nem zoom” (p. 11). Mas ao
buscar negar o simulacro, nasceria uma outra pose, a da
autenticidade? Não importa. Há muito a cultura pop constitui
nossos afetos e vivências. Não há nada escandaloso, nem é
simplesmente colonização do imaginário, é só cotidiano o
cruzamento das fronteiras ente erudito, pop e popular. O que
importa talvez seja o imperativo da alegria (p. 12), na
deriva entre um real “sem nada por trás além dele mesmo”(p.
40), “bem menos retórico”, direto, o mundo de fatos
jornalísticos, sem afeto, sem memória, imagens substituindo
umas as outras, parecendo com outras, e o mundo da ilusão.
Como diz uma música: “A realidade não importa, o que importa
é a ilusão” (p. 13). Mundo repleto de lembranças. O
invisível revelado pela música. O cinema reafirma a
banalidade do mundo da cidade, “chatíssimo roteiro” (p. 13),
transformada em imagem, ao mesmo tempo, caos e diversidade.
É a música, ouvida no cotidiano ou lembrada, a presença de
Dulce Veiga é que vão dar um foco ao personagem,
177
afetivizando o mundo da informação. Quando ouve uma música
pelo rádio é que se coloca o desafio de como mergulhar no
passado sem voltar com clichês, como contar esta estória,
como viver esta vida.
É possível contar a estória de alguém? “Perdera o vicio
paranóico de imaginar estar sendo sempre filmado ou avaliado
por um deus de olhos multifacetados(...), mas não o de estar
sendo escrito” (pags. 12/3). Poderia a escrita ainda
conseguir o que as imagens não conseguem mais? Não se trata
da afirmação do papel da escrita contra as imagens, mas
simplesmente uma forma do protagonista lidar com a escrita,
voltar a escrever, sem temor da afetividade, do seu
ridículo, do seu mau gosto, da sua pobreza. Uma escrita não
mais associada à dor, nem fruto da dor (p.53).
A voz ouvida no rádio é reconhecida depois, voz de
Márcia Felácio, vocalista da banda Vaginas Dentatas, filha
de Dulce Veiga, “voz de vidro moído, áspera e aguda, girando
dentro de um liquidificador, nem feia nem desafinada, mas
incômoda na maneira como ocupava espaço dentro do cérebro da
gente, aquela voz que, independente do que cantasse, dava a
178
impresão de sair do fundo de ruínas atômicas, não as ruínas
falsificadas daquele cenário de papelão, mas as de
Hiroshima, as de Köln, depois do bombardeio” (p. 27).
Márcia, nova diva, “sereia radioativa” (idem), canta “Nada
além”, canção que Dulce também cantava. Novamente, o
protagonista move os lábios, mas não canta (idem). A
felicidade estaria só na ilusão momentânea de uma música?
Dulce volta pela imagem da filha.
No limite, não sei como proceder, ou me encanto ou vejo
a ironia. Mas aqui, o humor nunca nega a afetividade. Não
resisto à imagem de Dulce Veiga, na sua aparição, “toda
vestida de vermelho, uma rosa branca aberta, presa na gola
do casaco” (p. 30), toda composta numa pose, feita para ser
vista, contemplada, mesmo que não houvesse ninguém para ver.
“Como se depois de todos aqueles anos, esperasse por mim”
(p. 31). E que termina por desaparecer após um raio de
prata (p. 31).
“Dulce Veiga, a melhor de todas. A maiselegante, a mais dramática, a maismisteriosa e abençoada com aquela vozrouca que conseguia dar forma a qualquersentimento, desde que fosse profundo. E
179
doloroso, Dulce cantava a dor de estarvivo e não haver remédio nenhum paraisso. E era linda, tão linda. Não só avoz, mas a maneira como se debruçavasobre o piano com um cálice de dry-martini na mão, mexia lenta a azeitona epegava devagar o microfone com a outra.Não, por favor, não pense nenhumavulgaridade” (pags. 48/9).
Fascínio é o que pede Castilhos, diretor do Diário da
Cidade, ao protagonista, a nós leitores. É algo para além da
relação desigual e de adoração estabelecida entre fâ e
ídolo. O caráter mágico e religioso que vai constituir o
culto às estrelas de cinema, na análise clássica de Edgar
Morin, pode dar uma sugestão do que está em jogo. Do cinema
mudo até os nossos dias, a indústria de imagens reproduzidas
tecnicamente inundou o planeta com uma quantidade nunca
antes vista de informação rápida. É uma verdadeira proeza se
manter no topo. A indústria é voraz, descarta pessoas como
fatos envelhecidos. Por isso, a surpresa, uma cantora
desaparecida há vinte anos suscita emoções ocultas e
inesperadas em Castilhos, na contracorrente do esquecimento.
Refulge fragilmente uma lembrança, um momento, estrelas que
lembram um passado. Fala o protagonista: “De repente,
180
lembrei de Jayne Mansfield nos bailes do Copacabana Palace,
eu era muito antigo. Ou não havia mais estrelas, como
antigamente” (p. 144).
Uma das aparições de Dulce conduz o jornalista ao
pianista que a acompanhava, Pepito Moraes. A fantasia e o
acaso emolduram a realidade e o encontro do que se
procurava, mesmo que se encontre uma outra coisa. Não há
lógica racional, engenhosa a ser descoberta, como em
romances policiais tradicionais, em que o mistério é
revelado no fim, o criminoso punido. A ambiência é noir, mas
há algo além. As aparições camp de Dulce oscilam entre um
recurso banal de filme policial e o sublime no cotidiano, o
sublime no artificial. “Faz mal lembrar das coisas que se
foram e não voltam” (p. 65), fala Pepito, agora pianista de
bar. Para o protagonista, “o pior não seria nunca a morte
real, o nada e o nunca, pior era não lembrar, não poder ou
não querer lembrar” (p. 69). “Tudo aquilo que eu esquecia ou
negava, soube vagamente, em plena queda, era o que eu mais
era” (idem), como estava escrito num poema de Cecília
Meireles, enviado por Lídia, sua ex-companheira. Esta
181
lembrança que tentava esquecer, revelava “um vazio que nem
todas as obscenidades que Jacyr continuava dizendo poderiam
preencher, tornar engraçado ou mais leve, dentro daquela
saudade que não ia embora por mais que o tempo passasse e
dentro dele, mesmo sem lembrar, apenas agindo” (p. 78). Um
“dia de cão” o tira da autocomiseração, evita que ele
momentaneamente se lembre do que não queria lembrar (p. 79)
A lembrança de Dulce vem como “num filme qualquer, em
preto e branco, da década de 40 ou começo dos 50” e, como
fundo musical, a voz de Billie Holiday (p. 33). Há um desejo
de pureza, de uma imagem forte, mas irremediavelmente no
passado. “Tudo isso que agora parece clichê banal, naquele
tempo — repito e não me canso, porque é belo e mágico na sua
melancolia: naquele tempo — tudo era novo, eu nem suspeitava
das marcas pelo caminho” (p. 34), relembra o protagonista da
primeira entrevista que fizera, justamente com Dulce Veiga.
A entrevista é um encontro de duas vidas, como o que
acontece com Márcia. Sem nostalgia, Márcia parecia compor
sua vida, “futura cinebiografia de artista quando jovem”.
“Ela soava falso ao contar essas coisas, mas essa falsidade,
182
percebi aos poucos, não passava de um jeito de esconder a
emoção, porque no fundo, além de todos os filtros
glamourosos, algum coisa daquela história verdejante devia
mesmo ser verdadeira. Pelo menos, a voz dela, às vezes, era
realmente assim como buscara” (p. 93). Nesse ato de se falar
para outro, no que pode haver de falso, montado, composto,
se revela a verdade do jogo, do simulacro da subjetividade e
da confissão.
Através do fascínio por Márcia, mas sobretudo por
Dulce, por sua voz, o passado conduz o protagonista no
resgate do que foi perdido, encarnado sobretudo na lembrança
de Pedro. Com um mês separado de Lídia, acontece Pedro. As
oscilações das escolhas sexuais do protagonista, que de
resto ecoa com a transitividade de gêneros, a ambigüidade de
outros personagens, não impede que falemos de
homossexualidade, recusada numa fala de Márcia como
limitadora (p. 168), mas certamente se trata de uma
homoafetividade10. Ao lembrar Pedro, não se trata de
esconder a homossexualidade atrás de uma pansexualidade
10 Ver em “Escritor, Gay”
183
difusa, que reafirma preconceitos. É a partir desta
homoafetividade que emerge uma experiência, uma ética e
estética da amizade11, fundadas não a partir de códigos
morais impostos e universais, mas condutas e modos de vida
particulares, mas sobretudo um caminho mesmo para um sublime
ou mesmo uma espiritualidade homossexual.
Se a fragilidade institucional e histórica da amizade
entre homens é decorrente do Cristianismo e seu pânico da
homossexualidade (ERIBON, D.: 1996, 200), esta relação,
atualmente, não é um artificio compensatório, um ornamento
afetivo a que reservamos um lugar espremido e residual entre
as obsessões amoroso-sexuais e os deveres cívicos (COSTA,
J.: 1999, 11); representa algo inquietante e perigoso, que
possui um caráter inesperado e intenso, jogo agonístico e11 Ver o romance Aimer de René de Ceccatty ou a fotógrafa Nan Golding
(1986, 6/7) falando de sua “família de amigos” que ela retratou por anos
e anos numa espécie de diário visual: “Pessoas partem. Pessoas retornam,
mas estas separações não são rupturas na intimidade. Nós estamos ligados
não por vínculos de sangue, nem pelo lugar, mas por uma moralidade
semelhante, a necessidade de viver a vida completamente e no presente,
uma descrença no futuro, um respeito pela honestidade, uma necessidade
de quebrar limites e uma história comum. Nós vivemos uma vida sem levá-
la a sério, mas levando-a a sério. Há entre nós uma habilidade em ouvir
e compartilhar que ultrapassa a definição normal de amizade”.
184
estratégico (idem,12), nunca uma coisa dada no presente, ela
faz parte da experiência da espera, da promessa ou do
compromisso (Jacques Derrida apud ORTEGA, F.: 2000, 7), não
exclui o desejo sexual12, tornando-se um espaço de constante
experimentação e, ao mesmo tempo, uma base para positivizar
os encontros casuais e curtos, bem como para apreender uma
gama enorme de sentimentos, necessidades e redes afetivas
que se formam para além ou no lugar da família patriarcal ou
nuclear urbana.
A identidade se traduz em, se define por experiências:
“O beijo de Pedro não era desses de amigo bêbado, encharcado
de álcool e solidariedade masculina, carência etílica ou
desespero cúmplice. A língua de Pedro dentro da minha boca
era a língua de um homem sentindo desejo por outro homem”
(...) “Eu gostava de mulher, eu tinha medo. Todos os medos
12 “O problema não é de descobrir em si a verdade do sexo, mas sobretudo
de agora em diante usar a sexualidade para chegar a multiplicidades de
relações. É esta, sem dúvida, a razão pela qual a homossexualidade não é
uma forma de desejo mas algo de desejável. Portanto, nós devemos nos
bater para nos tornar homossexuais e não nos obcecar para reconhecer que
o somos. É nesta direção que vão os desenvolvimentos do problema da
homossexualidade: o problema da amizade” (FOUCAULT, M.: 1994, 163).
185
de todos os riscos e desregramentos” (p. 113). Do pouco e
mau prazer com as mulheres à alegria: “Só alegria, eu senti
com Pedro. Uma alegria que era o avesso daquela que tinham
me treinado para sentir” (p. 115). Quando Pedro sumiu,
“desde esse dia, perdi meu nome. Perdi o jeito de ser que
tinha antes de Pedro, não encontrei outro. Eu queria que
voltasse, não conseguia viver outra vez uma vida assim sem
Pedro. (...) Parei de trabalhar. Parei de ser e de fazer
qualquer outra coisa além de esperar que ele voltasse. Mas
Pedro não voltou, eu não voltei” (p. 116). Pedro e Dulce
voltam não como no passado, mas para serem outros. A
lembrança de Pedro não o traz de volta. Ele pode até ter
morrido. O protagonista tem que aprender a viver, e não só a
sobreviver, sem Pedro. E diante de Dulce, no fim, que este
aprendizado se afirma. Mas o seu sentido é como um exercício
de meditação, em que o essencial é vivenciado, não
transmitido. O leitor deve, se quiser, ser tocado.
Durante todo o romance, aparece o fascínio do
protagonista pela música e por Dulce Veiga, que o tira de um
certo mal-estar, ainda que o fato de não saber cantar
186
retorne (p. 76). Se as aparições de Dulce o retiram, às
vezes, de situações em que o sexo pode acontecer (com
Filemon, nas pags. 59/61, ou na conversa com o jovem
português no bar, na p. 135), trata-se menos de fuga do que
posicionar o desejo em outro foco. Dulce Veiga representa,
ao mesmo tempo, algo que ele não tem, talvez tenha tido, e
algo que pode acontecer quando menos se espera. Algo belo,
algo importante. Algo oculto. Não é à toa que na procura
jornalística e memorialista atrás de Dulce, é o nome de
Pedro que vai aflorar também pouco a pouco.
A associação entre Dulce Veiga e Pedro, a diva e seu
grande amor, não só afetiviza um ícone do universo pop(ular)
mas dramatiza, espetaculariza um encontro privado. As
aparições fantasmagóricas de Dulce Veiga na cidade se
equivalem às lembranças de Pedro. Umas e outras se
indissociam. Amar Pedro. Amar Dulce. Algo se perdeu. Ao
lembrar quando Dulce desaparecera, o protagonista se
pergunta onde andaria naquela época (p.56). Algo pode ser
reconquistado? Não se trata de proceder o luto, mas reavivar
187
mais o passado até que sua força passada lance a beleza
sobre o presente, lance perspectivas sobre o desamparo.
Estrelas, lembranças, pessoas. Não resisto também a
Pedro. “Pedro era tão claro que, no escuro, quando estava
nu, eu ficava olhando para ele à espera de que sua pele
fosforecesse como roupa branca na luz negra” (p. 100). Tanto
Pedro como Dulce se descorporificam, perdem em materialidade
e ganham em espiritualidade. Em Dulce Veiga, não só está uma
homenagem às cantoras do Brasil, mas a cada gesto seu, ecoam
imagens, a que o protagonista não resiste associar a
Isabella Rosselini e seu charme cult (p. 55) ou a Rita
Hayworth em “Gilda” com seus cabelos louros, a Silvinha
Telles (p.57) ou a uma espiã de filme dos anos da Guerra
Fria (p. 62). Dulce retorna em fragmentos, imagens e frases,
como Pedro. O canto para Dulce, segundo sua provável última
entrevista, cria um sentido, embora seja inútil. O canto,
numa sociedade mercantilizada, traz vantagens materiais, mas
Dulce procura uma outra coisa, “maior que eu mesma ou que
qualquer canção” (p. 56).
188
Da obtenção do emprego, como mudança do “pântano de
depressão e autopiedade onde refocilava há quase um ano” (p.
12), ao encontro com Dulce Veiga, objetivo de seu artigo, o
protagonista religa seu passado a um vislumbre de futuro. Na
parte final, mais curta e sintética do livro, a realidade de
Estrela do Norte, no centro do Brasil, se apresenta quase
mágica. A presença do caos paulistano e das referências
cinematográficas cedem lugar a uma comunidade esotérica,
onde o protagonista toma uma bebida para relaxar. Duas
irrealidades? Duas fugas? Duas possibilidades de
sobrevivência, de busca de alguma alegria, alguma beleza. Da
sobrevivência ao encantamento. O ciclo se fecha em aberto. O
impasse persiste, mas houve um caminho, encontros e
desencontros, uma experiência foi constituída. Não mais só
“confundir experiência e devastação” (p. 12), mas relatar
nossa experiência da guerra cotidiana, ultrapassar um
silêncio que insiste em nos desqualificar, nos isolar (ver
BENJAMIN, W.: 1985). Não mais só imagens alucinadas,
extasiantes ou entediantes. Algo mais. Nada além. Desejo de
desaparecer no anonimato. Desejo de ser invisível na
189
multidão das diferenças, como o de Dulce Veiga de
desaparecer, numa fala inesperada, na sua última entrevista
(p. 56). Aprender a só ser. “Fechei a gaveta, eu não podia
lembrar. Era preciso encontrar Dulce Veiga, manter aquele
emprego, continuar a viver. Mesmo sem encontrá-la, mesmo que
Pedro jamais voltasse” (...) Ninguém virá em meu socorro.
Faz tanto tempo que invento meus próprios dias. Preciso
começar por algum ponto” (p. 120).
E este ponto vai se dar pela viagem, fora de São Paulo.
A procura por Dulce Veiga incorpora um clichê de romance
policial, o desejo de desvendar um segredo, revelar o
desconhecido, que se transforma em viagem de busca
existencial, de aprendizado: “Qual o caminho para a morada
da luz, e em que lugar encontram-se as trevas?” (Jó: 38,
19). Do estrangeiro de molde existencialista, se comparando
ao inseto de Kafka (p. 53), o protagonista assume a condição
real de estrangeiro, seja na margem contracultural, seja
pela errância entediada, mudando por vários lugares. Uma
vida em flashes de lugares e atividades. “À medida que o
tempo passava, eu fugia, jamais um ano na mesma cidade, eu
190
viajava para não manter laços — afetivos, gordurosos —, para
não voltar nunca, e sempre acabava voltando para cidades que
já não eram as mesmas, para pessoas de vida lineares,
ordenadas, em cujo traçado definido não haveria mais lugar
para mim” (p. 56).
Ao chegar ao fim de sua procura, no centro do Brasil, é
novamente a música que o conduz a Dulce Veiga. Súbito ouve
uma voz de mulher. Acompanhando sem cantar, “comecei a
caminhar mais depressa para encontrar aquela voz, e por
falar em você, em razão de viver, você bem que podia me
aparecer, e eu sempre tivera certeza que, desde o início,
embora tudo pudesse continuar a ser somente loucura, vontade
de voar, eu nada tinha a perder perseguindo uma canção,
razão de viver” (p. 198). A música muda a própria recepção
do mundo, nem inferno, nem paraíso. Aceitar a vida na sua
contingência. Dulce se confunde com o próprio protagonista.
Ao falar de uma das últimas aparições de Dulce, antes da
viagem, é de si que parece falar. “Ela não sente, não vê nem
ouve nada além da própria canção que canta, endereçada a
algo que já não existe nem está mais ali. Como um réquiem”
191
(p. 179). A busca da canção se traduz na busca de uma
estória. É o que Dulce diz ao protagonista: “São tudo
histórias, menino. A história que está sendo contada, cada
um a transforma em outra, na história que quiser. Escolha,
entre todas elas, aquela que seu coração mais gostar, e
persiga-o até o fim do mundo. Mesmo que ninguém compreenda,
como se fosse um combate” (pags. 203/4). “Ao recusar dizer
que o outro deve fazer, ao silenciar sobre isto, sua fala
inquieta o outro” (NAZAR, S.: 2000). Sem ser exemplar, Dulce
é mestre para o protagonista, no seu desejo de integridade:
“chegar ao centro, sem partir-se em mil fragmentos pelo
caminho. Completo, total. Sem deixar pedaço algum para trás”
(p. 180).
No último capítulo, domingo, dia de aniversário e
renascimento do protagonista, ele encontra Dulce, mas só
após passar pelo enfrentamento do temor da homoafetividade,
ao beijar o ex-amante de Dulce, Saul, transformado em
grotesco travesti da cantora (p. 154), como numa referência
ao antológico fim de “Beijo no Asfalto” de Nelson Rodrigues,
encenado anteriormente no próprio livro. “É preciso beijar
192
meu próprio medo, pensei, para que ele se torne meu amigo”,
“é preciso ser capaz de amar meu nojo mais profundo para que
ele mostre o caminho onde eu serei inteiramente eu” (p.190).
E é Saul que revela o paradeiro de Dulce.
Dulce “não era mais bela, tornara-se outra coisa, mais
que isso — talvez real” (p. 199). No entanto, há ainda uma
luz que a rodeia na sua última aparição, em carne e osso, em
Estrela do Norte (p. 213). É ela que grita alto o nome do
protagonista. “Parecia meu nome. Bonito, era meu nome. E eu
comecei a cantar” (idem). Ele se transformara nela. Agora,
ele era uma estrela. Me ajoelho.
Não há mais boa ou má literatura, bons ou maus filmes.
Ou se há, não me importa mais. Há experiência e uma beleza
impura. Há o protagonista. Há eu e você que me lê, que me
ouve. Isto não basta, mas é um começo. Como a frase num
calendário Seicho-No-Ie, os limites entre o sublime e o
banal são frágeis: “Agora é o momento decisivo para
renascer” (p. 17). Não há mais nomes. Nomes sempre lembram
outros nomes, não traduzem identidades, são máscaras na
internet, aparências no mercado, ficções na noite e no dia,
193
heterônimos frenéticos, sem história e densidade. O
protagonista canta seu nome no final, mas não o diz. O
escritor não o diz. Dulce e Márcia e Pedro, tantos outros
personagens saem de cena. Agora é a sua vez ou qual é a sua
voz?
Referências
ABREU, Caio Fernando. Os Dragões não Conhecem o Paraíso. São
Paulo, Companhia das Letras, 1988
____________________. Ovelhas Negras. 2a. ed., Porto Alegre,
Sulina, 1995.
____________________. Onde Andará Dulce Veiga?. 2a. reimpressão, São
Paulo, Companhia das Letras, 1997.
AVELLAR, José Carlos. “O Cego às Avessas”, Cinema, 1, 1994,
Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro.
BAUDRILLARD, Jean. A Arte da Desaparição. Rio de Janeiro, Ed.
UFRJ, 1997.
BENJAMIM, Walter. “Experiência e Pobreza” in in Magia e
Técnica, Arte e Política. São Paulo, Brasiliense, 1985.
194
BERNARDET, Jean Claude. “Os Jovens Paulistas” in O Desafio do
Cinema. São Paulo, Jorge Zahar, 1985.
COSTA, Jurandir Freire. “Prefácio” in ORTEGA, Francisco.
Amizade e Estética da Existência. Rio de Janeiro, Graal, 1999.
ERIBON, Didier. Michel Foucault e seus Contemporâneos. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar, 1996.
FERRAZ, Eucanãa. “Morangos com Creme” in MORICONI, Ítalo
(org.). Op. Cit.
FOUCAULT, Michel. “De l’Amitié comme Mode de Vie” in Dits et
Écrits. Vo. 4. Paris, Gallimard, 1994.
GOLDING, Nan. The Ballad of Sexual Depedency. New York, Aperture
Foundation, 1986.
HALPERIN, David. Saint Foucault. Oxford, Oxford University
Press, 1995.
KOESTENBAUM, Wayne. Queen’s Throat. New York, Vintage, 1993.
MORENO, Antonio. A Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro.
Dissertação de Mestrado. Campinas, Unicamp, 1995.
MORICONI, Ítalo. Caio Fernando Abreu — Palavra e Pessoa. Manuscrito.
2000.
195
MORIN, Edgar. As Estrelas. Mito e Sedução no Cinema. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1989.
NAZAR, Sérgio. “Mais Além da Ilusão” in MORICONI, Ítalo
(org.). Op. Cit.
ORTEGA, Franciso. Para uma Política da Amizade. Rio de Janeiro,
Relume Dumará, 2000.
PARENTE, André. Ensaios sobre o Cinema do Simulacro. Rio de Janeiro,
Pazulin, 1998.
PEIXOTO, Nelson Brissac. “Ver o Invisível: a Ética das
Imagens” in NOVAES, Adauto (org.). Ética. 5a. reimpressão,
São Paulo: Companhia das Letras, 1997
PUCCI, Renato. “Pós-Modernismo no Cinema Brasileiro: De
Khouri à Vila Madalena” in RAMOS, Fernão et al. (orgs.).
Estudos de Cinema 2000- Socine. Porto Alegre, Sulina, 2001.
RAMOS, Fernão. “A Dama do Cine Shangai” in LABAKI, Amir
(org.). O Cinema dos Anos 80. São Paulo, Brasiliense, 1991
SILVA, Wilson da. Uma Poética do Desejo: O Cinema de Pedro Almodóvar
na Transição Espanhola. Tese de Doutorado. São Paulo,
Universidade de São Paulo, 1999.
196